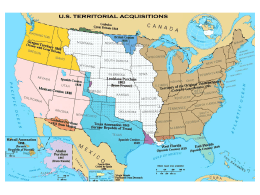ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. A adequação técnico -linguística dos textos é de responsabilidade dos autores. Anais: V CBPN – Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mesqtrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. (16 a 20 de novembro de 2015: Jequié-BA/Marise de Santana (Coordenadora). Jequié:UESB, 2015. 1950 p. ISSN 2316-7386 1.Legados africanos 2. Afro-brasileiros 3. Indígenas 4. Quilombolas I. Santana, Marise de II. Santana, Manoel da Silva III. Título CDD – 306.6 1 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. Prof. Dr. Reinaldo José de Oliveira/UEFS Prof. Dr. Fábio Félix Ferreira/UESB Prof. Ms. Lúcio André Andrade Conceição/IFBahia Profª. Drª. Marluce de Lima Macedo/UNEB Profª. Drª Rosemere Ferreira da Silva/UNEB Profª. PhD. Andréia Lisboa de Sousa/APNB Prof. Esp. Wesley Matos Cidreira/IFBA-Jequié Prof. Dr. Djalma Menezes de Oliveira/UESB Prof. Ms, Natalino Perovano Filho/UESB Prof. Dr. Valmir Henrique de Araújo/UESB Profª. Ms. Caroline Barreto de Lima/UFBA Prof. Ms. Jailson Cesar Borges dos Santos/UFBA Profª. Ms. Alda Fátima de Souza/UESB Profª. Drª. Margarete de Souza Conrado/UNEB Profª. Drª. Amélia Vitória de Souza Conrado/UNEB Prof. Dr. Ricardo Barreto Biriba/UFBA Prof. Dr. Luis Vitor Castro Junior/UEFS Profª. Drª. Ivanilde Guedes de Mattos/UEFS Profª. Ms. Caroline Barreto de Lima/UFBA Prof. Ms. Jailson Cesar Borges dos Santos/UFBA Profª. Ms. Alda Fátima de Souza/UESB Profª. Drª. Margarete de Souza Conrado/UNEB Profª. Drª. Amélia Vitória de Souza Conrado/UNEB Prof. Dr. Ricardo Barreto Biriba/UFBA Prof. Dr. Luis Vitor Castro Junior/UEFS Profª. Drª. Ivanilde Guedes de Mattos/UEFS Profª. Ms. Maria da Anunciação da Conceição Silva/UNEB Profª. Drª. Maria Anória de Jesus Oliveira/UNEB Prof. Dr. Silvio Roberto dos Santos Oliveira/UNEB Profª. Drª. Zilda de Oliveira Freitas/UESB Prof. Dr. Alexandre de Oliveira Fernandes/IFBA-Porto Seguro Prof. Ms. Edelvito Almeida do Nascimento/SEC Prof. Dr. Ricardo Tupiniquim Ramos/UNEB Caetité Prof. Dr. Jorge Augusto Alves da Silva/UESB Prof. Ms. Jorge Augusto de Jesus Silva/UNEB Profª. Drª.Maria Nazaré Mota de Lima/UNEB Prof. Dr. Jesiel Ferreira de Oliveira Filho/UFBA Profª. Drª. Suely Santana/UNEB COMITÊ CIENTÍFICO Profª. PhD. Marise de Santana/UESB Profª. PhD. Zoraya Maria de Oliveira Marques/UNEB Prof. Dr. Benedito Eugênio/UESB Profª. Drª. Rachel de Oliveira/UESC Profª. Drª. Leliana Sousa/ UNEB Prof. Ms. Otto Vinicius Agra Figueiredo/UEFS Profª. Ms. Luciana Oliveira Correia/UNEB-Caetité Profª. Ms. Livia Jessica Messias de Almeida/UEFS Profª. Ms. Maria Rita Santos/UEFS Profª. Ms. Hellen Mabel Santana Silva/ODEERE Profª. PhD Zelinda dos Santos Barros/UFRB Prof. Dr. Edson Dias Ferreira/UEFS Prof. Ms. Antonio Argolo da Silva Neto/ODEERE Cineasta Antonio Olavo/Portifolium Prof. Pesquisador Manuel da Silva Santana/ODEERE Prof. Dr. Wilson Roberto de Mattos/UNEB Prof. Ms. Juvenal de Carvalho Conceição/UFRB Prof. Ms. Denilson Lessa/UNEB Profª. Ms. Cristiane Batista/UNEB Profª. Ms. Silene Arcanja Franco/UNEB Prof. Ms. Dirceu do Socorro Pereira/DIREC Profª. Drª. Joceneide Cunha dos Santos/UNEB-Eunápolis Profª. Ms. Antonieta Miguel/UNEB-Caetité Prof. Ms. Edmar Ferreira Santos/UNEB-Caetité Profª. Ms. Luiza Nascimento dos Reis/UESC Prof. Dr. Acácio Sidnei Almeida dos Santos/UFABC Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza/UESB Profª. Drª. Ana Claudia Lemos Pacheco/UNEB Profª. Esp. Francismeire Santos Ferreira/PPGCS-UFBA Profª. Drª. Raquel Souzas /UFBA Profª. Drª. Núbia Regina Moreira/UESB Profª. Drª. Maria de Fátima Araújo Di Gregório/UESB Profª. Ms. Valdineia Oliveira dos Santos/IAT Profª. PhD. Edna Maria de Araújo/UEFS Profª. Ms. Emanuelle Freitas Goés/ODARA Profª. Drª. Ana Angelica Leal Barbosa/UESB Profª. Drª. Regina Marques de Souza Oliveira/UFRB Profª. Drª. Denize Almeida Ribeiro/UFRB Prof. Dr. Nilo Rosa Santos/UEFS Prof. Dr. Ivo de Santana/APNB Prof. Dr. Francisco Carlos Cardoso da Silva/UESB Profª. Ms.Rosângela Souza da Silva/UFRB Profª. Drª. Dyane Brito Reis Santos /UFRB Profª. Ms. Lilian Almeida dos Santos/ UNEB 2 3 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. COMISSÕES COMISSÃO RECEPÇÃO Magali Oliveira (PPGREC-UESB) Jaqueline Maria (PPGREC-UESB) Martha Nogueira (PPGREC-UESB) Antonio Marcos (PPGREC-UESB) Lúcia Aguiar (PPGREC-UESB) Emily Moy (PPGREC-UESB) Isabele Pires Santos Soler (PPGREC-UESB) Adriana Sampaio (PPGREC-UESB) Eva Machado (PPGREC-UESB) COMISSÃO ORGANIZADORA GERAL Profª. PhD Marise de Santana (Presidente - ODEERE-UESB) Hellen Mabel Santana Silva (ODEERE) Natalino Perovano Filho (ODEERE-UESB) COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO Antonio Argolo Silva Neto (PPGDCI/UEFS) Hellen Mabel Santana Silva (ODEERE) Emily Moy (PPGREC/UESB) Tamires Lima (PPGDCI/UEFS) Diego Santos Bito (ODEERE/UESB) Lucian Brandão (NEABI-Itiruçú) Edelvito de Almeida Nascimento (SEC/BA) Maria Rita Santos (UEFS) Natalino Perovano Filho (ODEERE-UESB) COMISSÃO DA SECRETARIA Ozeias Pires Silva (ODEERE) Beatriz Rodrigues Lino dos Santos (ODEERE) COMISSÃO DE MINICURSOS E OFICINAS Profª. PhD Marise de Santana (Presidente - ODEERE-UESB) Hellen Mabel Santana Silva (ODEERE) Natalino Perovano Filho (ODEERE-UESB) COMISSÃO ARTÍSTICA Jamile Santos de Sena (PPGREC-UESB) José Luiz Souza de Jesus (ODEERE) Alda Fátima de Souza (UESB) Vânia Silva Oliveira (UESB) Pablo Luis dos Santos Portella (PPGDCI/UEFS) COMISSÃO DO CANTINHO DO GRIÔ Antonia Ferreira (ODEERE) Michele (ODEERE) Ivana Caroline (PPGREC-UESB) COMISSÃO DE PATROCÍNIO Adriana Cardoso Sampaio (PPGREC-UESB) Flávia Querino da Silva (PPGREC-UESB) Milena Lima Tamborriello (PPGREC-UESB) Cláudia Moreira Costa (PPGREC) Idalia Lino dos Santos (ODEERE e SEC/BA) Angela Eça de Oliveira Almeida (SEC/BA) Adriana Batista Santos Chacha (PPGREC-UESB) Prof. PhD Marcos Lopes de Souza (ODEERE/UESB) COMISSÃO DE INFRA ESTRUTURA Manoel da Silva Santana (ODEERE) Eudes Batista Siqueira (PPGREC-UESB) Ivana Karoline Novaes (PPGREC-UESB) Edelvito Almeida do Nascimento (SEC/BA) Vitor Soares (ODEERE) COMISSÃO DE MONITORIA Abílio Mendes de Almeida (PPGREC-UESB) Camila Pina Brito (PPGREC-UESB) Danilo Dias (PPGREC-UESB) Epaminondas Reis Alves (PPGREC-UESB) Rita de Cássia Santos Côrtes (PPGREC-UESB) Tamiz Lima Oliveira (PPGREC-UESB) 4 5 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. Sumário DESAFIOS E AVANÇOS NA APLICABILIDADE DAS LEIs 10639/2003 e Lei 11645/2008 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ITIRUÇU BAHIA ...................................................................................................................... 180 GT 01 – EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICAS: CURRÍCULO, FORMAÇÃO E TRABALHO DOCENTE . 22 TEXTOS DA COORDENAÇÃO DO GT 01....................................................................................................................... 22 QUESTÕES ÉTNICAS RACIAIS NO EXERCICIO ‘MEMORIANDO’: HÁ IDENTIDADE(S) EM CONFLITO OU O SILENCIAMENTO DE SI? ................................................................................................................................................. 22 AS RELAÇÕES ETNICORRACIAIS NO PROCESSO DE ESCOLHA DO LIVRO DIDÁTICO NA ............................. 27 ESCOLA: APROXIMAÇÕES, TESSITURAS E DIVERGÊNCIAS.................................................................................. 27 PRÉ-UNIVERSITÁRIOS PARA AFRODESCENDENTES: UM ESTUDO SOBRE AS “MANEIRAS DE FAZER” DE PROFESSORES VOLUNTÁRIOS ...................................................................................................................................... 38 DIÁLOGOS ENTRE HISTORIA E CULTURA AFROBRASILEIRA E INDÍGENA E DIDÁTICA NA FORMAÇÃO INICIAL: ALGUMAS REFLEXÕES INICIAIS ................................................................................................................. 48 TEXTOS COMPLETOS - COMUNICAÇÕES ORAIS DO GT 01 .................................................................................... 49 “PARA A INFÂNCIA NEGRA, CONSTRUIREMOS UM MUNDO DIFERENTE”: EM QUE A NOÇÃO DE RAÇA PODE CONTRIBUIR PARA COMPREENDERMOS A(S) INFÂNCIA(S) BRASILEIRA(S)? ....................................... 49 A APROXIMAÇÃO DA FILOSOFIA COM A TEMÁTICA ÉTNICA NEGRA ............................................................... 56 A DESCOLONIALIDADE DO SABER CRÍTICO: EM DEFESA DE UMA GEOPOLÍTICA E CORPO-POLÍTICA DO CONHECIMENTO ANTROPOLÓGICO SOBRE RAÇA NO BRASIL............................................................................ 62 A INFÂNCIA DA CRIANÇA CANDOMBLECISTA ........................................................................................................ 70 A LEI 10.639/03 E OS DESAFIOS DA GESTÃO EM UMA ESCOLA DO SUDOESTE DA BAHIA ............................ 76 A LEI FEDERAL 10.639/2003: A DISCIPLINA “AFRO” E ANÁLISE DA PRÁXIS PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PORTO SEGURO - BA ...................................................... 84 A LEI Nº 10.639/2003 E A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: DISCUTINDO AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NO ESPAÇO ESCOLAR .................................................................................................................... 92 DESCONSTRUCIONISMO: INTERFERÊNCIAS NA E PARA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOS ALUNOS NEGROS NA BAHIA ........................................................................................................................................................ 187 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO MULTICULTURAL ...................... 197 EDUCAÇÃO DOS ENJEITADOS: AS AÇÕES EDUCATIVAS NO ASILO DOS EXPOSTOS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA (1862-1900) ...................................................................................................................... 205 EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: DESAFIOS NO ENFRENTAMENTO DO RACISMO NA ESCOLA ............................................................................................................................................................................. 211 EDUCANDO PARA A DIVERSIDADE: REJEIÇÃO, ADAPTAÇÃO E ESTRATÉGIAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES EVANGÉLICOS .................................................................................................................................... 215 FORMAÇÃO DOCENTE E RACISMO NAS AULAS DE HISTÓRIA .......................................................................... 224 IDENTIDADE E ANCESTRALIDADE: VISIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO NEGRA EM UMA ESCOLA DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA............................................................................................................................................ 228 IDENTIDADE ÉTNICA NO CONTEXTO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA: UM PROCESSO EDUCACIONAL E POLÍTICO ....................................................................................................................................................................... 236 LEI 10.639/2003 E FORMAÇÃO DOCENTE: INDÍCIOS DE ENFRENTAMENTO AO DISCURSO DA DEMOCRACIA RACIAL? ................................................................................................................................................ 243 O DESAFIO DE APRENDER E ENSINAR RELAÇÕES ÉTNICAS: REFLEXÕES DE UMA EDUCANDA /EDUCADORA SOBRE SUA PRÁTICA ......................................................................................................................... 250 O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO BRASILEIRA E AFRICANA: APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS ENTRE A LEI 10.639/2003 E O COTIDIANO DE UMA ESCOLA PÚBLICA EM IPECAETÁ BA ....................................................................................................................................................................................... 257 O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA: UM DESAFIO PARTIR DA HISTÓRIA ORAL..... 265 A LITERATURA INFANTIL COM ÊNFASE NA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA: UMA EXPERIÊNCIA TRAVÉS DO PIBID. ................................................................................................................................ 99 O MUSEU AFRO-BRASILEIRO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA: CONTEXTOS DE SEU SURGIMENTO .................................................................................................................................................................. 273 A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR COMO UMA DIMENSÃO DO CURRÍCULO ESCOLAR .................. 104 O NEGRO NO IMAGINÁRIO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO NO CEMAS EM TEIXEIRA DE FREITAS .... 280 A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NAS ESCOLAS NOTURNAS BAIANAS NO FINAL DO SÉCULO XIX ......... 114 A PEDAGOGIA DO TERREIRO DE CANDOMBLÉ ..................................................................................................... 122 OS CADERNOS DE EDUCAÇÃO DO ILÊ AIYÊ: REFERENCIAIS PARA O ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRICANA E AFROBRASILEIRA – UMA ANÁLISE INTRODUTÓRIA ................................................................... 286 A TEORIA ANTROPOLÓGICA DO DIDÁTICO NA COMPREENSÃO DO VAZIO DIDÁTICO PARA O ENSINO DE HISTÓRIA DO 6º ANO CONFORME A LEI 10639/03 ............................................................................................ 128 PARA NÃO CALAR OU “DEIXAR A SALA COM VELUDO NOS TAMANCOS” - RELAÇÕES ETNICO-RACIAIS, HISTÓRIA DA ÁFRICA E PRÁTICAS DE ENSINO ...................................................................................................... 292 APONTAMENTOS SOBRE PRÁTICAS DE DISCRIMINAÇÃO RACIAL NA ESCOLA: SENTIDOS DE PROFESSORAS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ..................................................................... 135 POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS E O DIÁLOGO COM A UNIVERSIDADE NO SÉCULO XXI ................. 300 AS RELAÇÕES ETNICO-RACIAIS NO LIVRO DIDÁTICO DE SOCIOLOGIA ......................................................... 144 PROJETOS PEDAGÓGICOS E EDUCAÇÃO PARA RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: COMO AS PROFESSORAS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ENXERGAM O RACISMO NA ESCOLA ............................ 307 CARURU DO ODEERE: DESAFIOS E POSSIBILIDADES SOBRE OS ESTUDOS DE ETNICIDADE .................... 149 RACISMO CONTRA NEGROS NUMA PERSPECTIVA FREIREANA: CATEGORIAS FUNDANTES .................... 314 COMUNIDADE QUILOMBOLA DA PIMENTEIRA: ENTRE MEMÓRIAS SILENCIADAS E IDENTIDADES NEGADAS ......................................................................................................................................................................... 157 RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA ................ 322 CURRICULO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS DE LÍNGUAS PARA EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS ............................................................................................................................................................ 163 CURRÍCULO E FORMAÇÃO DOCENTE EM UMA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICORACIAIS A DISTANCIA .................................................................................................................................................. 170 6 RELAÇÕES INTERÉTNICAS E PROCESSOS IDENTITÁRIOS ENTRE AS COMUNIDADES RURAIS DA CIDADE DE RIO DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA ............................................................................................................ 329 REPRESENTAÇÃO DO NEGRO NOS LIVROS DIDÁTICOS DE GEOGRAFIA UTILIZADOS NO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO ESTADUAL DE SERROLÂNDIA-BA .................................................................................................... 336 7 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. RESQUÍCIOS DOS PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO DE AFRO-BRASILEIROS NA EDUCAÇÃO ESCOLAR: APONTAMENTOS E REFLEXÕES ................................................................................................................................. 343 A RESSIGNIFICAÇÃO DA CULTURA POPULAR NO UNIVERSO MIDIÁTICO EM SÃO LUIS DO MARANHÃO: O CASO DO BUMBA-MEU-BOI NOS ANOS 1990 ....................................................................................................... 414 SABERES QUILOMBOLAS: UM DIÁLOGO POSSÍVEL COM OS SABERES CURRICULARES ........................... 351 ALFABETIZAÇÃO VISUAL: AS LINGUAGENS VISUAIS COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO À DESRACIALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES NO PROJETO UNIVERCIDADES, RELATO DE EXPERIÊNCIA .................................................................................................................................................................. 422 UMA REFLEXÃO SOBRE O ENSINO DE HISTÓRIA E O USO DA HISTÓRIA LOCAL COMO POSSIBILIDADE PARA APLICAÇÃO DA LEI 10.639/03 EM CACHOEIRA BA ..................................................................................... 359 RESUMOS - PÔSTERES DO GT 01................................................................................................................................. 367 A ÁFRICA DESCONHECIDA: OS DESAFIOS E TENSÕES NA FORMAÇÃO DOCENTE PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 10.639/2003 ....................................................................................................................... 367 A CAPOEIRA COMO ESTRATÉGIA DE FORMAÇÃO DOCENTE E TRABALHO EM SALA DE AULA.............. 367 A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A PROMOÇÃO DA EQUIDADE RACIAL ......... 368 A LEI 10639/03 SUA APLICABILIDADE NA REALIDADE DAS ESCOLAS DE CÂNDIDO SALES: EM UMA PERSPECTIVA CULTURAL-RELIGIOSA ..................................................................................................................... 369 A TRADIÇÃO ORAL AFROBRASILEIRA E O ENSINO DE HISTÓRIA: POR UMA NOVA EPISTEMOLOGIA... 372 BRINCADEIRA É COISA SÉRIA: O ENSINO DA CULTURA AFRO BRASILEIRA ATRAVÉS DOS JOGOS E BRINCADEIRAS POPULARES ....................................................................................................................................... 373 CRENÇA NA AUSÊNCIA DO RACISMO NAS PRÁTICAS E AÇÕES DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM: IMPLICAÇÕES NA FORMAÇÃO E TRABALHO DOCENTE...................................................................................... 374 EDUCAÇÃO INFANTIL E FORTALECIMENTO DA IMAGEM DA CRIANÇA NEGRA: UM ESTUDO DE CASO ............................................................................................................................................................................................ 375 EMPREENDEDORISMO DE RAIZ UMA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO PARA O EMPODERAMENTO DA JUVENTUDE NEGRA ...................................................................................................................................................... 375 AS CARETAS DE ACUPE – MEMÓRIA E CULTURA POPULAR .............................................................................. 427 BENS CULTURAIS QUILOMBOLAS – METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DE INVENTÁRIO MUSEOLÓGICO 434 CONTAS E OJÁS: LENDO AS VESTIMENTAS AFRO-BRASILEIRAS DO ACERVO FÉ E FESTA NOS JANEIROS DA CIDADE DA BAHIA: SÃO SALVADOR ...................................................................................................................... 440 CULTURA VISUAL E REPRESENTAÇÕES DO NEGRO NA LITERATURA INFANTIL DE MONTEIRO LOBATO ............................................................................................................................................................................................ 448 FILMES MOÇAMBICANOS PÓS-COLONIAIS: FERRAMENTAS DE RESISTÊNCIA AO REGIME COLONIAL PORTUGUÊS E DE MANUTENÇÃO DA MEMÓRIA - MUEDA, MEMÓRIA E MASSACRE (1979).......................... 456 REPRESENTATIVIDADE DAS CRIANÇAS NEGRAS NOS DESENHOS DE ANIMAÇÃO ..................................... 462 TRAJETÓRIAS AUSENTES, HISTÓRIAS PENDENTES: REFLETINDO SOBRE A INVISIBILIZAÇÃO DE NEGRAS E NEGROS NAS ARTES PLÁSTICAS ........................................................................................................... 470 UMA EXPERIÊNCIA DE CRIAÇÃO DE VÍDEO A PARTIR DE FOTOGRAFIAS DIGITALIZADAS PARA ANALISE POR MENORES ATRAVÉS DAS FERRAMENTAS ADOBE ..................................................................... 478 RESUMOS – PÔSTERES DOS GT’s 02 E 07 .................................................................................................................. 485 AUTOMATIZAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR QUILOMBOLA ................................................................ 485 CAMINHÃO DE LIXO CONSTRUIDO COM LEGO ..................................................................................................... 485 EXPERIÊNCIAS EM EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA- BA . 377 DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA VIRTUAL DE ROBÓTICA PARA A DIVERSIDADE ÉTNICA487 NOVEMBRO NEGRO: RACISMO À BRASILEIRA, RACISMO À AMERICANA ..................................................... 378 DOMÓTICA PARA COMUNIDADE QUILOMBOLA ................................................................................................... 488 O LÚDICO AFRO-BRASILEIRO E A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE DE CRIANÇAS NEGRAS.......................... 379 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARROCAS................................................. 489 PROJEO – EDUCACIONAL DAS RELAÇÕES ÉTNICAS: O USO DO JOGO MANCALA NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E APRENDIZAGEM........................................................................................... 380 HÉLIO DE OLIVEIRA: AS PRIMEIRAS IMPRESSÕES DA CULTURA AFRICANA ................................................ 490 UM ESTUDO ETNOGRÁFICO ACERCA DA IDENTIDADE ÉTNICA DE ESTUDANTES QUILOMBOLAS DA PIMENTEIRA .................................................................................................................................................................... 381 GT 02 – LINGUAGENS VISUAIS, IMAGENS E CULTURAS E GT 07 – MÍDIA, TECNOLOGIAS E QUESTÕES RACIAIS ..................................................................................................................................................... 382 TEXTOS DA COORDENAÇÃO DOS GT’s 02 E 07 ....................................................................................................... 382 RÁDIO: A INTERFACE HUMANA ENTRE O MITO E A CULTURA ......................................................................... 382 TEXTOS COMPLETOS - COMUNICAÇÕES ORAIS DOS GT’s 02 E 07..................................................................... 385 “BELEZA PURA”: DESENROLANDO OS ESTEREÓTIPOS PARA UMA AUTENTICIDADE CRESPA ................ 385 A IMPORTÂNCIA DA LEITURA CRÍTICA DAS LINGUAGENS VISUAIS SOBRE AS AFRICANIDADES PARA A EDUCAÇÃO ...................................................................................................................................................................... 393 A PRINCESA É O SAPO: IMAGENS E IMAGINÁRIOS QUE REFORÇAM A VIOLÊNCIA SOFRIDA POR PESSOAS NEGRAS .......................................................................................................................................................... 397 A PROJEÇÃO DA IMAGEM DO NEGRO PELA MÍDIA A PERCEPÇÃO SOCIAL E DAS AGÊNCIAS POLICIAIS E SEUS REFLEXOS CRIMINALIZANTES ........................................................................................................................ 404 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS ....................................................................... 491 OLHARES PROTAGONISTAS: IDENTIDADE E AFIRMAÇÃO ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO AUDIOVISUAL.... 492 SEGURANÇA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE RESIDÊNCIA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS ...... 493 TECNOLOGIA SOCIAL EM COMUNIDADE QUILOMBOLA .................................................................................... 494 TÚNICAS, TURBANTES & CHITÕES/CHITAS: POR UMA NARRATIVA VISUAL AUTOBIOGRÁFICA AFROREFERENCIADA ................................................................................................................................................... 495 ZAMBIAPUNGA E A MÁSCARA ANCESTRAL: NOS CAMINHOS DA IDENTIDADE E CULTURA................... 496 GT 03 – HISTÓRIA DA ÁFRICA, ENSINO E HISTORIOGRAFIA......................................................................... 496 TEXTOS DA COORDENAÇÃO DO GT 03..................................................................................................................... 496 AFRICANIDADES E PRÁTICAS DE CURA : UM OLHAR SOBRE AS PRÁTICAS DE CURAS DAS PARTEIRAS EM SALVADOR E LAURO DE FREITAS ...................................................................................................................... 496 A morte para alguns africanos e seus descendentes: alguns apontamentos sobre os registros de óbitos, Santo Amaro, Província de Sergipe, 1802-1835. ....................................................................................................................................... 503 EDUCAÇÃO E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: UM DESAFIO HISTÓRICO............................................................ 520 9 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. A ÁFRICA DO SUL DO “UBUNTU” E AS AÇÕES AFIRMATIVAS NA UNEB: BUSCA DE UM SUBSÍDIO CONCEITUAL CAPAZ DE ORIENTAR OS FUNDAMENTOS DA COOPERAÇÃO ENTRE O BRASIL E OS PAÍSES AFRICANOS. ...................................................................................................................................................... 529 “Porque a vida é mais difícil para os homens!” – intersecções entre masculinidades racializadas e abandono escolar entre os rapazes de ensino médio................................................................................................................................................. 659 TEXTOS COMPLETOS - COMUNICAÇÕES ORAIS DO GT 03 .................................................................................. 538 A BUSCA PELA “COR” DO “NEGÃO”: REFLEXÕES SOBRE OS PROCESSOS DE EROTIZAÇÃO DO NEGRO 665 A DIVERSIDADE SEXUAL EM PAUTA NO CONTEXTO ESCOLAR ....................................................................... 670 A LITERATURA NO ENSINO DE HISTÓRIA: DIÁLOGOS SOBRE A MULHER MOÇAMBICANA NO ROMANCE NIKECHE: UMA HISTÓRIA DE POLIGAMIA .............................................................................................................. 538 A Não Relação entre Mulheres Africanas e Mulheres Negras Brasileiras em São Paulo .................................................. 677 A SAÚDE DA POPULAÇÃO AFRICANA DO SUL DE MOÇAMBIQUE NO TEMPO COLONIAL (C.1927-1970). 543 ALÉM DO CORPO, UM REDESENHAR DO DESEJO NEGRO FEMININO NA POÉTICA DE LÍVIA NATÁLIA, MEL ÁDUN E RITA SANTANA...................................................................................................................................... 683 ANOTAÇÕES SOBRE A “ARTE AFRICANA” A PARTIR DE UMA EXPOSIÇÃO NO BRASIL ............................. 551 AS MÚSICAS AFRO-BRASILEIRAS INTERPRETADAS POR CLARA NUNES NO ENSINO DE HISTÓRIA ....... 558 BATUQUE, HISTÓRIA E EDUCAÇÃO: BANDA QUILOMBO DO RIO DAS RÃS ................................................... 563 BRASIL, PAÍS DA IMIGRAÇÃO, MAS QUAL? RASCUNHOS DE UMA IMIGRAÇÃO RACISTA ........................ 570 CONTRIBUIÇÕES DE WALTER BENJAMIN E MARC FERRO PARA O ESTUDO DE HISTÓRIA DA ÁFRICA NO BRASIL .............................................................................................................................................................................. 580 JOGO RPG ROLE PLAYING GAME DIGITAL PARA O ENSINO DE HISTÓRIA: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA SOBRE O TRÁFICO DE ESCRAVIZADOS .................................................................................................................... 585 NAS ENTRELINHAS DE MAYOMBE: uma análise das dificuldades dos guerrilheiros nas guerras em Angola .......... 592 NÓS DE NOVO NO SOLO DO RECÔNCAVO: Nossos desafios e estratégias para a integração .................................. 599 O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFROBRASILEIRA E AFRICANA MANAUS: CAMINHOS E DESCAMINHOS ............................................................................................................................................................... 605 O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA DA ÁFRICA NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE BRUMADO – BAHIA. ...................................................................................................................................................... 609 O LEGISLATIVO E A HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA EM SERGIPE: ANTECEDENTES DA LEI 10.639/03 ............................................................................................................................................................................ 617 O Lugar Social e Político da Diversidade Étnica Frente aos Estados Modernos na África Subsaariana. .......................... 624 O olhar da Frelimo sobre a emancipação feminina ............................................................................................................ 632 O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA COSTA DO OURO..................................................................... 639 RESUMOS – PÔSTERES DO GT 03 ................................................................................................................................ 645 “PASSEANDO PELAS DÓRCADES ENCANTADAS: UM ESTUDO SOBRE AS PRÁTICAS CULTURAIS DA ETNIA BIJAGÓ NA GUINÉ BISSAU.” ........................................................................................................................... 645 Histórias de Resistência Escrava em Recife - Um estudo das transgressões cotidianas de escravizados:1837-1842 ........ 645 O Candomblé em Ilhéus: Repressão e resistência (1900-1950) ......................................................................................... 646 União Aduaneira da África Austral e sua Relação com o MERCOSUL .......................................................................... 646 GT 04 - GÊNERO, DIVERSIDADE SEXUAL E RAÇA ............................................................................................................. 647 TEXTOS DA COORDENAÇÃO DO GT.......................................................................................................................... 647 MEMÓRIA, SABER E MULHERES NEGRAS: um olhar a partir da violência,, ........................................................................ 647 TEXTOS COMPLETOS - COMUNICAÇÕES ORAIS DO GT 04 .................................................................................. 659 “I DON’T PLAY NO GAMES...”: REPRESENTAÇÕES DE MASCULINIDADES NEGRAS NOS VIDEOCLIPES DO RAPPER 50 CENT ............................................................................................................................................................. 659 10 AS QUESTÕES DE GÊNERO DENTRO DO CANDOMBLÉ ........................................................................................ 689 COM A MINHA COLHER TAMBÉM SOU DOUTORA ................................................................................................ 695 CORPOREIDADE E EXPRESSÃO DA ESTÉTICA NEGRA: O CORPO NEGRO E O CABELO CRESPO NO COTIDIANO DA ESCOLA ............................................................................................................................................... 704 CORPOS ESTRANHOS: FIANDO E DESFIANDO A PRÁTICA SEXISTA NO ESPAÇO ESCOLAR...................... 711 DA ESCOLA PARA O MUNDO: perspectivas curriculares em defesa da menina negra à mulher empoderada ............. 718 DA INVISIBILIDADE JURÍDICA DAS TRABALHADORAS DOMÉSTICAS À LEI COMPLEMENTRAR Nº 150/2015: NO MEIO DO CAMINHO TINHA SEXISMO, TINHA RACISMO INSTITUCIONAL NO MEIO DO CAMINHO ......................................................................................................................................................................... 724 DEBATES ENTRE HOMOSSEXUALIDADE E DISCURSO HETERONORMATIVO NO COTIDIANO ESCOLAR: UM ESTUDO SOBRE CONTRIBIUIÇÕES AO TEMA OCORRIDO NO SEMINÁRIO ENLAÇANDO SEXUALIDADES .............................................................................................................................................................. 732 SANTOS (2011); BRAZ (2013); GARCIA (2013); NASCIMENTO e SANTOS (2013)................................................. 736 Feminismo Negro em primeira pessoa: Contribuições dos pensamentos de mulheres negras para a teoria feminista....... 740 FUTEBOL FEMININO NA ESCOLA DO CAMPO......................................................................................................... 748 GÊNERO E RAÇA NAS VIVÊNCIAS DE MULHERES TRANS NEGRAS NOS ESPAÇOS FORMAIS DE EDUCAÇÃO ...................................................................................................................................................................... 756 GÊNERO, RAÇA, IDENTIDADE E AFETIVIDADE NAS ASSOCIAÇÕES FEMININAS: MANDJUANDADES NA GUINÉ-BISSAU E A IRMANDADE DA BOA MORTE EM SÃO GONÇALO DOS CAMPOS .................................. 764 INSTRUÇÃO FEMININA NUMA PERSPECTIVA HISTÓRICA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA – MA ........... 770 MULHERES GRIÔS QUILOMBOLAS: A RELEVÂNCIA DE PESQUISAS DE GÊNERO SOBRE MULHERES NEGRAS ............................................................................................................................................................................ 778 Mulheres negras e guerreiras|: identidade(s), marcas e lutas coticianas entre o público e o privado ................................. 785 Mulheres Negras e Racismo: um debate atual. ................................................................................................................... 795 MULHERES NEGRAS MANTENEDORAS DO LAR: CIDADES E MENTES ............................................................ 801 NEGRITUDE E TRANSGENERIDADE: Os impactos da patologização e do racismo na construção da identidade das pessoas trans negras ............................................................................................................................................................ 809 O DILEMA DAS ATRIZES NEGRAS NA TELENOVELA BRASILEIRA ................................................................... 817 O LUGAR SOCIAL DE RIOBALDO E AS IMPLICAÇÕES NA SUA SAÚDE MENTAL........................................... 826 O PASSADO NEGADO E O PRESENTE AXIOLÓGICO DE MULHERES NEGRAS: MUDANÇAS SÓCIO – ANTROPOLÓGICAS NA HISTÓRIA .............................................................................................................................. 835 O TRÁFICO DE MULHERES E A IMPORTÂNCIA DOS MARCADORES SOCIAIS DE RAÇA E GÊNERO PARA SUA ANÁLISE .................................................................................................................................................................. 843 11 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. OPRESSÃO, PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO: UMA BREVE ANÁLISE DAS TEORIAS RACIAIS NO BRASIL .............................................................................................................................................................................. 850 INSEGURANÇA ALIMENTAR EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS .................................................................... 956 PARTO, MULHER NEGRA E VIOLÊNCIA: corpos invisíveis? ..................................................................................... 855 O IMPACTO SELETIVO DO MEIO SOBRE O DESEMPENHO COGNITIVO: FALANDO SOBRE VULNERABILIDADE SOCIAL ....................................................................................................................................... 957 PRÁTICAS SOCIAIS E A POPULAÇÃO QUILOMBOLA: REFLEXÕES SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OS QUILOMBOLAS NA PARAÍBA ................................................................................................................................ 863 PANORAMA DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA MULHER NO TERRITÓRIO QUILOMBOLA DA GRACIOSA, TAPEROÁ – BA .......................................................................................................................................... 965 Representações na mídia: Onde estão os (as) LGBTTs negros e negras? .......................................................................... 871 PREVALÊNCIA DA ANEMIA FALCIFORME NO ESTADO DA BAHIA ................................................................... 973 SABERES ÉTNICOS COMO FORMA DE EMPODERAMENTO: TRAJETÓRIA E MEMÓRIAS DE DONA DIÓ DO ACARAJÉ NA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA – BAHIA ............................................................................ 879 RAÇA, ETNIA E MORTE MATERNA: ASPECTOS DA PESQUISA E DO COTIDIANO DE MULHERES NEGRAS ............................................................................................................................................................................................ 977 UM CORPO QUALQUER: Os Corpos Cinza Ganham Luz ou Como as Mulheres Negras Tornam-se Objeto de Desejo ............................................................................................................................................................................................ 886 Residência Multiprofissional em Saúde da Família com Ênfase em Saúde da População do Campo: uma interface com a saúde da população negra ................................................................................................................................................... 984 UMA ANÁLISE DAS PRODUÇÕES SOBRE O FUTEBOL FEMININO NO BRASIL: O GÊNERO COMO MARCADOR DE DESIGUALDADES ............................................................................................................................. 891 RESUMOS – PÔSTERES DO GT 05 ................................................................................................................................ 994 UMA REFLEXÃO SOBRE GÊNERO, SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA ............................. 895 UMA SOCIEDADE DE HOMENS NEGROS: NOTAS DE PESQUISA SOBRE A SOCIEDADE PROTETORA DOS DESVALIDOS ................................................................................................................................................................... 901 RESUMOS – PÔSTERES DO GT 04 ................................................................................................................................ 907 “ELES QUERIAM UM MUNDO SÓ DE AZUL” UM GRITO DE DENUNCIA EM PROL DA TRANSFORMAÇÃO SOCIAL NO REGGAE DE EDSON GOMES (1988) ....................................................................................................... 907 A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DA MULHER NEGRA: ANÁLISE SOBRE UMA TRAJETÓRIA DE VIDA 908 AINDA SOBRE A CARISMÁTICA BAILARINA DO POVO: QUESTÕES DE GÊNERO, RAÇA E SEXUALIDADES ............................................................................................................................................................................................ 909 DA PROSTITUIÇÃO AO EVANGELHO: A NARRATIVA DA HISTÓRIA DE VIDA DA EX-PROPRIETÁRIA DO ‘BREGA DE AMENADE’ ................................................................................................................................................. 909 MULHER NEGRA: A FORÇA QUE SE EXPLICA ......................................................................................................... 910 PATERNIDADE E MASCULINIDADE: INSERÇÕES NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE RIO DE CONTAS BAHIA............ 912 TRAJETÓRIAS INTERSECCIONAIS: A PARTICIPAÇÃO DE HOMENS NEGROS HOMOSSEXUAIS NO MOVIMENTO GAY SOTEROPOLITANO. .................................................................................................................... 913 UM TEATRO FEMININO NA DÉCADA DE SETENTA: NARRATIVAS DE RE(EXISTÊNcia) ............................... 913 GT 05 – SAÚDE DAS POPULAÇÕES NEGRAS ......................................................................................................... 914 TEXTOS DA COORDENAÇÃO DO GT 05..................................................................................................................... 914 FORMAÇÃO EM SAÚDE, POPULAÇÃO NEGRA E PSICOLOGIA NO RECÔNCAVO DA BAHIA ....................... 914 ASSISTÊNCIA E ATENÇÃO FARMACÊUTICA PRESTADA AOS PORTADORES DE DOENÇA CRÔNICA DIABETES E HIPERTENSÃO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA BARROCAS. ................................................... 994 Contribuições de práticas racistas na militarização e evangelização de comunidades periféricas ..................................... 995 PLANTAS MEDICINAIS DE MAIOR VALOR DE USO NA COMUNIDADE DE AFRODESCENTES DO BAIRRO PAU-FERRO EM JEQUIÉ-BA. ......................................................................................................................................... 995 PLATAFORMA ICAMIABA: SIMULADOR ELETROMECÂNICO DE AUTOEXAME EM MAMA FEMININA ... 996 RACISMO: IMPACTO NO DESEMPENHO OCUPACIONAL E NA CORPOREIDADE NEGRA ............................. 997 RADIAÇÃO IONIZANTE E A SAÚDE DA MULHER NEGRA .................................................................................... 998 GT 06 - DESENVOLVIMENTO LOCAL E ARRANJO SOCIOECONÔMICO ...................................................... 999 TEXTOS DA COORDENAÇÃO DO GT 06..................................................................................................................... 999 Negros em Ascensao Social: “Já me vi bem triste em determinados espaços pensando : - Poxa !!!, meus irmãos e sobrinhos bem que poderiam estar aqui.” .......................................................................................................................... 999 Influência da Discriminação na Economia de Salvador ................................................................................................... 1019 A Racionalidade Ética no Desenvolvimento Civilizatório: Ciência e Religião no ponto de vista étnico-racial afrobrasileiro ........................................................................................................................................................................... 1041 TEXTOS COMPLETOS - COMUNICAÇÕES ORAIS DO GT 06 ................................................................................ 1058 E quem carrega o tabuleiro da baiana? ............................................................................................................................. 1058 OS ESTUDOS DE COMUNIDADE EM RIO DE CONTAS-1950 E SEU DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO E CULTURAL ........................................................................................................................................ 1064 RAÇA, GÊNERO E AS PRÁTICAS DE SAÚDE ............................................................................................................. 920 VIVÊNCIAS DE PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO DE MULHERES NEGRAS EM SEU PROCESSO DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO .............................................................................................................. 1071 Raça em pesquisas na área de saúde ................................................................................................................................... 926 GT 08 - POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS E RELAÇÕES RACIAIS ....................................................... 1079 TEXTOS COMPLETOS - COMUNICAÇÕES ORAIS DO GT 05 .................................................................................. 928 TEXTOS DA COORDENAÇÃO DO GT 08................................................................................................................... 1079 ALBINISMO, IDENTIDADE E SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA: Vamos “escurecer” essa conversa? .................. 928 PROJETO AFIRMAÇÃO - ACESSO E PERMANÊNCIA DE JOVENS DE COMUNIDADES NEGRAS RURAIS NO ENSINO SUPERIOR - UM RELATO DE EXPERIÊNCIA ........................................................................................... 1079 BRANQUITUDE, RACISMO E SAÚDE.......................................................................................................................... 934 CÁRCERE, SAÚDE E NEGRITUDE: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NAS SÍNDROMES HIPERTENSIVAS GESTACIONAIS DAS MULHERES DO SISTEMA PRISIONAL BAIANO ................................................................. 942 DIREITO À MORADIA E RELAÇÕES RACIAIS NO BRASIL.................................................................................. 1086 TEXTOS COMPLETOS - COMUNICAÇÕES ORAIS DO GT 08 ................................................................................ 1096 EXPERIÊNCIAS EM EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA: ASPECTOS DA SAÚDE MENTAL ...................... 949 A EXCLUSÃO A FLOR (COR) DA PELE ..................................................................................................................... 1096 12 13 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. A IDENTIDADE NEGRA E A SUA CONSTRUÇÃO PELO ESTADO BRASILEIRO ............................................... 1103 A MÚSICA DE CANDOMBLÉ COMO UM ELEMENTO DA CULTURA E DA IDENTIDADE NO TERREIRO .. 1236 AS POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS E O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UFRB: RELATOS DE UMA EXPERIÊNCIA............................................................................................................................. 1110 A REINVENÇÃO DAS RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA: O HIBRIDISMO CULTURAL-RELIGIOSO NO BRASIL ............................................................................................................................................................................ 1244 Cotas raciais: atestado de incompetência ou ações afirmativas? ...................................................................................... 1119 A religiosidade na literatura brasileira: por uma outra independência ............................................................................. 1252 Direito, Epistemologia e Racismo* .................................................................................................................................. 1127 AGÔ MOJUBA ÈSÙ: ABRINDO CAMINHOS PARA O ASÈ NA PESQUISA EDUCACIONAL .............................. 1260 MOVIMENTO NEGRO NO BRASIL: movimento de esquerda a partir da ótica de Eric Hobsbawm ........................... 1131 COMBATE A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA EM SALVADOR: UMA ABORDAGEM DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL ..................................................................................... 1268 O ESTADO E AS POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS: UMA ABORDAGEM DE SUA NATUREZA PARA A POPULAÇÃO NEGRA.................................................................................................................................................... 1137 Da Guiné-Bissau à Colômbia. Benkos Biohó, resistência e (é) palenque. Um caso da diáspora africana. ...................... 1276 OS QUILOMBOS EDUCACIONAS E A ENTRADA DE JOVENS NEGROS E NEGRAS NO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO EM SALVADOR............................................................................................................................................ 1143 ESCALDADO DE BACALHAU DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS PRETOS DO PELOURINHO: UMA TRADIÇÃO ROSARIANA........................................................................................................ 1283 PEDAGOGOS (AS) NEGROS (AS): ENTRE IDENTIDADE E AFIRMACÃO SOCIAL............................................ 1149 Espaços de matriz africana na cidade de Salvador-Bahia: a Feira Dominical do Nordeste de Amaralina e a Pedra de Xangô................................................................................................................................................................................ 1291 Políticas de ação afirmativa: processos atuais e apontamentos futuros ............................................................................ 1157 PRÉ-VESTIBULAR QUILOMBOLA VITÓRIA DA CONQUISTA: De projeto comunitário territorial a política pública municipal de igualdade racial ........................................................................................................................................... 1168 PROGRAMA DE ACOLHIMENTO E INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTRANGEIROS- PAIE-UNILAB Uma proposta de integração e cooperação. ............................................................................................................................. 1176 RELAÇÕES RACIAIS NOS MATERIAIS DIDÁTICOS DO PNAIC: CONCEPÇÕES E REPRESENTAÇÕES ....... 1183 ESTUDO DA MANTENÇA DA TRADIÇÃO ORAL NO CANDOMBLÉ DE ANGOLA NA BAHIA - O SEGREDO E O SAGRADO: UMA BREVE ANÁLISE DO DISCURSO DE MEMBROS E SACERDOTES DO NZÓ MAIALATERREIRO DE SANTA LUZIA ..................................................................................................................................... 1297 IMAGENS E ELEMENTOS SIMBÓLICOS “AFRICANOS” NAS COMUNIDADES NEGRAS RURAIS BRASILEIRAS CONTEMPORÂNEAS: UM OLHAR SOBRE O “QUILOMBO DOS VICENTES” ......................... 1306 Intolerância Religiosa: Uma discussão a partir da experiência do Centro de Referência Nelson Mandela ..................... 1313 RESERVA DE VAGAS NA UESC: análise de concorrência e a relação entre aspectos socioeconômicos e a escolha do curso universitário dos cotistas negros, ano 2011............................................................................................................. 1190 JOÃOSINHO DA GOMÉIA E OS SENTIDOS DO CANDOMBLÉ EM SUA VICISSITUDE .................................... 1321 RESUMOS - PÔSTERES DO GT 08............................................................................................................................... 1199 LIBERDADE RELIGIOSA, DIREITO ANIMAL E O SACRIFÍCIO DE ANIMAIS EM RITUAIS DO CANDOMBLÉ: RESSIGNIFICANDO O DEBATE. ................................................................................................................................. 1329 CONSOLIDAÇÃO DE POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS: CENÁRIO ATUAL E PESPECTIVAS NAS UNIVERSIDADES ESTADUIAS BAIANAS................................................................................................................. 1199 O JORNAL A TARDE E A PERSEGUIÇÃO DOS CANDOMBLÉS EM SALVADOR (1912-1937) ......................... 1336 COTAS PARA NEGROS NOS CONCURSOS PÚBLICOS E A PRESENÇA DE BRANCOS ENTRE OS COTISTAS RACIAIS: UMA ANÁLISE SOBRE O ESTADO PARANÁ E O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO .............................. 1200 QUESTÕES AFIRMATIVAS E COTAS PARA NEGROS NO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO ........................ 1200 GT 09 – COMUNIDADES TRADICIONAIS E RELIGIÕES ................................................................................... 1201 TEXTOS DA COORDENAÇÃO DO GT 09................................................................................................................... 1201 ASPECTOS POLÍTICOS DA EDUCAÇÃO QUILOMBOLA: CURRÍCULO E PRÁTICA PEDAGÓGICA EM DISCUSSÃO .................................................................................................................................................................... 1201 LEI 10.639 – DIVISOR DE ÁGUAS CONTRA A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA .................................................... 1207 Escola, parentesco e território: o que nos dizem os Tupinambá de Olivença/BA ........................................................... 1212 O Complexo da Jurema: fronteiras e cruzamentos étnicos entre os Povos Indígenas do Nordeste Brasileiro ................. 1213 QUE INTERPRETAÇÕES SÃO PRODUZIDAS PELOS MEMBROS SOBRE OS SABERES DO CANDOMBLE NA ATUALIDADE?............................................................................................................................................................... 1214 TEXTOS COMPLETOS - COMUNICAÇÕES ORAIS DO GT 09 ................................................................................ 1221 A CHEGANÇA EM PALMEIRINHA: das motivações à constituição social de uma comunidade rural no interior da Bahia, sob a perspectiva das teorias raciais. ..................................................................................................................... 1221 A cura que se crê, e as práticas que se temem: Análise do processo criminal de Antonio Lessa da Silva (Caetité- 1967) .......................................................................................................................................................................................... 1228 14 ODIN D’IRÊ ODÉ PISANDO NA AREIA BRANC Princípios Civilizatórios Africano-brasileiro em Tempos de Contemporaneidades......................................................................................................................................................... 1343 Quem tem medo de feitiço? Saber médico e perseguição às práticas de cura do candomblé em Itabuna (1930-1950) .. 1353 Território Negro X Propriedade: a necessidade de questionar um sistema jurídico parcial ............................................. 1361 TRAJETÓRIA DAS BANDAS MUSICAIS DE BONFIM DE FEIRA, BAHIA ........................................................... 1369 VERSOS E VOZES QUILOMBOLAS: POR QUEM CANTAM OS TAMBORES E AS MULHERES EM HELVÉCIA .......................................................................................................................................................................................... 1376 VOZES NEGRAS: DESAFIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO QUILOMBOLA NA COMUNIDADE SANTO INÁCIO .............................................................................................................................................................. 1383 RESUMOS – PÔSTERES DO GT 09 .............................................................................................................................. 1393 Conhecendo os quilombos simõesfilheses: Da teoria a realidade..................................................................................... 1393 História e Memória do “ Yiê Oyó Mecê Alaketu Axé Ogum” 1963 ................................................................................ 1397 Histórias do povo de santo, feiticeiras e curandeiros da Bahia. (1930-1960) ................................................................... 1398 MATERIALIDADE E CONSUMO NOS TERREIROS DE CANDOMBLÉ E AS PRÁTICAS DOS SEUS ADEPTOS .......................................................................................................................................................................................... 1399 MOUROS E CRISTÃOS: narrativas orais e manifestação popular em Helvécia, comunidade remanescente de quilombo .......................................................................................................................................................................................... 1399 O LUGAR DA ESCOLA NA FORMAÇÃO DO TUPINAMBÁ CRIANÇA: UM ESTUDO ETNOGRÁFICO .......... 1400 15 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. O religioso e o lúdico: diálogo entre sambas num terreiro de nação Ketu ....................................................................... 1400 Manutenção da Resistência: Ações para buscar o olhar do poder público para identificar áreas públicas com características Quilombolas na Bahia. .............................................................................................................................. 1513 Ser quilombola no sertão: Tijuaçu, lutas e resistências no processo de construção identitária ........................................ 1401 Zuela, memória e identidade étnica .................................................................................................................................. 1401 GT 10 - PENSAMENTOS E INTELECTUAIS NEGROS ......................................................................................1404 TEXTOS DA COORDENÇÃO DO GT 10 ..................................................................................................................... 1404 Pensamento Intelectual como Base para a Igualdade ....................................................................................................... 1404 INTELECTUAIS NEGROS E O RACISMO PRODUZIDO NAS INSTITUÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NO BRASIL. ........................................................................................................................................................................... 1408 MEMÓRIA E (RE)CONFIGURAÇÃO EM ABDIAS DO NASCIMENTO: PERSEGUINDO UMA TRADIÇÃO INSURGENTE ................................................................................................................................................................. 1417 TEXTOS COMPLETOS - COMUNICAÇÕES ORAIS DO GT 10 ................................................................................ 1425 TEXTOS COMPLETOS - COMUNICAÇÕES ORAIS DO GT 11 ................................................................................ 1514 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E RELAÇOES ÉTNICO-RACIAIS NO CURRÍCULO DE ESCOLAS DE ASSENTAMENTOS DE MOVIMENTO DE TRABALHADORES SEM TERRA: UMA ABORDAGEM TEÓRICA .......................................................................................................................................................................................... 1514 ESCOLA INDÍGENA E OS CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS A LUZ DOS REFERENCIAIS CURRICULARES .......................................................................................................................................................................................... 1521 ETNOMATEMÁTICA NA ELETROTÉCNICA: UMA REFLEXÃO SOBRE A NECESSIDADE DE SE REPENSAR AS PRÁTICAS DE ENSINO ........................................................................................................................................... 1527 MULHERES QUILOMBOLAS: UM RECORTE TEÓRICO SOBRE GÊNERO, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL............................................................................................................... 1536 A RUA QUE NASCE... QUE SE DESENHA NA CIDADE: UMA PRODUÇÃO PARADIDÁTICA SOBRE HISTÓRIA LOCAL ............................................................................................................................................................................. 1425 RESUMOS - PÔSTERES DO GT 11............................................................................................................................... 1545 ALOÍSIO RESENDE: O PROTAGONISMO INTELECTUAL DE UM POETA NEGRO NO PÓS-ABOLIÇÃO (BAHIA, 1938-1940) ........................................................................................................................................................ 1431 CHATTERBOT CRIOULO: Um conversador quilombola das terras de preto do território litoral sul – BA.................. 1546 AQUECEDOR SOLAR EM RESIDÊNCIA QUILOMBOLA ........................................................................................ 1545 As múltiplas linguagens poéticas: um estudo comparado das poesias de Luiz Gama e Castro Alves ............................. 1438 INTERFACE GRÁFICA TRIDIMENSIONAL DE MÓDULOS CRIATIVOS PARA A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA .......................................................................................................................................................................................... 1547 CADERNOS NEGROS E O COELHO CONSELHEIRO: RESSIGNIFICAÇÃO DAS CULTURAS AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA EM SALA DE AULA ATRAVÉS DA LITERATURA .............................................................. 1445 RESPONSABILIDADE SOCIAL DO ENGENHEIRO ELETRICISTA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS ..... 1548 Clóvis Moura e a sociologia do negro brasileiro: uma perspectiva de dialética radical para a transformação das relações étnico-raciais e sociais ...................................................................................................................................................... 1454 GT 12 – MODA, ARTES E PERFORMANCES NEGRAS ........................................................................................ 1549 Hemetério dos Santos: um intelectual negro no Pós-Abolição carioca ............................................................................ 1462 Intelectuais negras na academia e as infâncias negras brasileiras: reflexões a partir do feminismo negro ...................... 1470 INTELECTUAIS NEGRAS: UMA REFLEXÃO SOBRE O DIREITO A MEMÓRIA DA INTELECTUALIDADE FEMININA NEGRA NO ESTADO DE PERNAMBUCO.............................................................................................. 1480 INTRODUÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DA LITERATURA NEGRA NO CONTEXTO ESCOLAR ATRAVÉS DE CONTOS ANGOLANOS E AFRO-BRASILEIROS ...................................................................................................... 1491 ROBÓTICA EDUCACIONAL NA CULTURA QUILOMBOLA .................................................................................. 1548 TEXTOS DA COORDENAÇÃO DO GT 12................................................................................................................... 1549 A BAIXA REPRESENTATIVIDADE DE MODELOS NEGRAS NA MODA: TRAÇOS DE UMA REALIDADE ... 1549 CHEGANÇAS E NEGOS FUGIDOS: ARTES DO CORPO COMO PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO NÃO ESCOLAR ....................................................................................................................................... 1552 Literatura modernista e epistemologia colonial: pensando rasuras nas obras modernistas .............................................. 1564 Pedagogia da Performance: imagem, identidade, conflitos e convergências ................................................................... 1571 NOTAS SOBRE AFETIVIDADE E SOLIDÃO DE MULHERES NEGRAS EM SALVADOR, BAHIA.................... 1500 CORPOS DANÇANTES E NEGRITUDE: ARTE, EDUCAÇÃO E HISTÓRIA AFRO-BRASILEIRA ...................... 1574 TEXTO LITERÁRIO AFRO-BRASILEIRO NO ENSINO FUNDAMENTAL: RELAÇÕES ETNICORRACIAIS E FORMAÇÃO IDENTITÁRIA EM QUARTO DE DESPEJO ......................................................................................... 1505 TEXTOS COMPLETOS - COMUNICAÇÕES ORAIS DO GT 12 ................................................................................ 1583 RESUMOS – PÔSTERES DO GT 10 .............................................................................................................................. 1511 A POESIA DE ÉLE SEMOG CONTRA O RACISMO* ................................................................................................ 1511 INFIEL DE AYAAN HIRSI ALI: (DES) LUGARES DA INTELECTUAL NEGRA NA ESCRITA AUTOBIOGRÁFICA CONTEMPORÂNEA .................................................................................................................. 1511 REPRESENTAÇÃO DO NEGRO NA OBRA “MENINO DE ENGENHO” Um tema problemático para o romance de 30 .......................................................................................................................................................................................... 1512 Subversão e Resistência: cante com Fela Kuti ................................................................................................................. 1512 GT 11 - ETNOCIÊNCIA, AUTO-SUSTENTABILIDADE E QUESTÕES RACIAIS ............................................ 1513 TEXTOS DA COORDENAÇÃO DO GT 11.................................................................................................................. 1513 A HISTÓRIA DA ÁRVORE COGNITIVA DO BANDO DE TEATRO OLODUM ..................................................... 1583 BOTA A FALA: cantando o futuro, reconhecendo o passado ......................................................................................... 1591 Design de superfície têxtil: análise do tecido estampado no âmbito da cultura baiana .................................................... 1600 O CONTO QUE SE CONTA COM O CORPO CULTURA AFRO-BRASILEIRA E DANÇA NA ESCOLA ............. 1608 OFICINA DE DANÇA AFRO: UMA POSSIBILIDADE DE TRABALHO DAS RELAÇÕES ÉTNICAS E RACIAIS .......................................................................................................................................................................................... 1615 QUEM É O PATRÃO? PERFORMANCE E ESTÉTICA. ............................................................................................... 1623 A JUVENTUDE NEGRA CONSTRUINDO AÇÕES LIBERTÁRIAS COM O RAP NAS PERIFERIAS ................... 1629 CABELOS E IDENTIDADES - SOBRE O QUE VAI NA CABEÇA DAS MULHERES EM SALVADOR ............... 1630 Expressividade e gestualidade nas danças afro-brasileiras ............................................................................................... 1631 16 17 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. O ENCANTARTE: FORMAÇÃO IDENTITÁRIA E PERTENCIAMENTO ÉTNICO................................................. 1632 Reflexões sobre o Mysterium tremendum et fascinans: a verdade nos mitos .................................................................. 1778 GT 13 - QUESTÃO URBANA E RACISMO............................................................................................................... 1633 VIOLÊNCIA E CONTRA-VIOLÊNCIA NOS CONTEXTOS INDEPENDENTISTAS DE ANGOLA, MOÇAMBIQUE E GUINÉ-BISSAU: RENOVANDO OBJETOS E PERSPECTIVAS PARA A CRÍTICA FANONIANA ................... 1783 TEXTOS DA COORDENAÇÃO DO GT 13................................................................................................................... 1633 O subalterno pode falar? Um estudo sobre a construção do personagem Balduíno, na obra Jubiabá de Jorge Amado .. 1633 RACISMO, AUTORITARISMO E VIOLÊNCIA NA SOCIEDADE BRASILEIRA: REPENSANDO O ESPAÇO URBANO E AS DESIGUADADES COTIDIANAS ....................................................................................................... 1640 TEXTOS COMPLETOS - COMUNICAÇÕES ORAIS DO GT 13 ................................................................................ 1651 A MÚSICA E AS LUTAS POR INCLUSÃO DOS NEGROS EM SALVADOR -BA : OS BRASILAN BOYS .................................... 1651 Concepções sobre raça e racismo e a Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial .... 1656 DA FAVELA AO ESTADO: SEGREGAÇÃO E ESPAÇOS DE RESISTÊNCIAS DO NEGRO NO BRASIL ........... 1664 LEGISLAÇÃO QUILOMBOLA E A GOVERNAMENTALIDADE ............................................................................. 1672 O MOVIMENTO NEGRO NA CONTEMPORANEIDADE: PAUTAS E REIVINDICAÇÕES POLÍTICAS NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX........................................................................................................................ 1679 O RACISMO BRASILEIRO: REFLEXÕES E RESISTÊNCIA DE UM POVO............................................................ 1684 O SIGNIFICADO DO BELO NOS OUTDOORS DE ITABUNA (BA) ......................................................................... 1691 Relações de gênero no espaço urbano: RACISMO, Linguagens do corpo E violências na escola .................................. 1699 Sarau JACA de Poesia: Literatura, Cultura e Resistência Negra na Periferia .................................................................. 1707 RESUMO - PÔSTER DO GT 13 ..................................................................................................................................... 1716 A estética negra como ato político: uma abordagem através da arte ................................................................................ 1716 GT 14 - JUVENTUDE E VIOLÊNCIA NO CENÁRIO ATUAL ...........................................................................1716 TEXTO DA COORDENAÇÃO DO GT 14 ..................................................................................................................... 1716 Implicações e Reflexões sobre juventude negra e violência ............................................................................................. 1716 TEXTOS COMPLETOS - COMUNICAÇÕES ORAIS DO GT 14 ................................................................................ 1722 CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE ETNICORRACIAL DOS(AS) ALUNOS(AS) NEGROS(AS), EM ESCOLAS PÚBLICAS DE JEQUIÉ, BAHIA.................................................................................................................................... 1722 LITERATURAS DA GUINÉ-BISSAU: Abdulai Sila no Contexto das Literaturas Africanas de Língua Portuguesa .... 1784 TEXTOS COMPLETOS - COMUNICAÇÕES ORAIS DO GT 15 ................................................................................ 1799 “A COISA À VOLTA DO TEU PESCOÇO” QUE ASFIXIA E ROUBA A VOZ -NARRATIVAS TRAUMÁTICAS DE AKUNNA? ....................................................................................................................................................................... 1799 A CULTURA AFRICANA NO RECÔNCAVO BAIANO: UM ESTUDO TOPONÍMICO .......................................... 1807 A literatura infantil afro-brasileira no cotidiano escolar ................................................................................................... 1816 AS DIFERENTES FORMAS DE VIOLÊNCIAS EXISTENTES NO ROMANCE DE FORMAÇÃO PONCIÁ VICÊNCIO ....................................................................................................................................................................... 1823 AS PALAVRAS NEGROAFRICANAS REFERENTES À SEXUALIDADE NO PORTUGUÊS DO BRASIL .......... 1832 EDUCAÇÃO, LITERATURA, RELIGIOSIDADE DE MATRIZ AFRICANA E DESCOLONIZAÇÃO .................... 1840 ENTRE FEITIÇOS E MAGIAS: UMA ANÁLISE LEXICAL DA CARTA FEITICEIRO DO APFB E ALS .............. 1846 GÊMEOS X MABAÇO: UM ESTUDO DIATÓPICO ENTRE OS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE .................... 1855 LITERATURA INFANTIL: A INVISIBILIDADE DO PROTAGONISTA NEGRO E OS IMPACTOS NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DAS CRIANÇAS NEGRAS. ............................................................................ 1862 LOBO ANTUNES NOS LIMIARES DA GUERRA COLONIAL EM ANGOLA: TRAUMA, DISCURSO, REPRESENTAÇÃO E EXPERIÊNCIA .......................................................................................................................... 1868 O PONTO E A ENCRUZILHADA: A POESIA NEGRA RASURANDO A LITERATURA OFICIAL ATRAVÉS DA INTERTEXTUALIDADE ................................................................................................................................................ 1876 PASSADO HISTÓRICO: REPRESENTAÇÃO DE MULHERES ESCRAVIZADAS EM FE EN DISFRAZ DE MAYRA SANTOS-FEBRES ........................................................................................................................................................... 1885 QUARTO DE DESPEJO: DENÚNCIAS E REFLEXÕES NA VOZ DE CAROLINA MARIA DE JESUS.................. 1892 QUILOMBOS POÉTICOS: REPERCUSSÕES IDENTITÁRIAS NA COMUNIDADE DE LAGOINHA-BA............ 1899 SÍMBOLOS E SIGNOS NAS NARRATIVAS DOS CONTOS DE MESTRE DIDI ..................................................... 1905 ESTADO DA ARTE SOBRE JUVENTUDE QUILOMBOLA NA UNIVERSIDADE: UM OLHAR NOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO .......................................................................................... 1729 RESUMOS – PÔSTERES DO GT 15 .............................................................................................................................. 1913 GENOCÍDIO DE JOVENS NEGROS NA BAHIA E A “IN”TERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. ................................. 1737 Cartografias da palavra: identificação e inventario de gêneros textuais da tradição oral quilombola .............................. 1914 INTELECTUALIDADE, ESTADO, MOVIMENTO SOCIAL E RACISMO: UMA FUSÃO DECISIVA NA FORMAÇÃO DA POLÍTICA CRIMINAL BRASILEIRA............................................................................................. 1745 Cor preta, preconceito e inferiorização do Outro no conto “As mãos dos pretos”, de Luis Bernardo Honwana ............. 1914 REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL: UM RECORTE SOBRE O MENOR INFRATOR NEGRO ....................... 1750 RESUMO - PÔSTER DO GT 14 ..................................................................................................................................... 1757 AFIRMAÇÃO CULTURAL NA OBRA DE LUIZ GAMA ............................................................................................ 1913 MAFINGHARAWÉ?..: OS DESMANTELAMENTOS DA PÓS-INDEPENDÊNCIA ................................................. 1915 Mulher negra e Direito à Literatura: de Maria Firmina dos Reis à Cristiane Sobral ........................................................ 1915 MULHER NEGRA E DIREITO À LITERATURA: Uma análise dos livros didáticos................................................... 1916 A Chacina do Cabula, o neocolonialismo e genocídio da juventude negra ...................................................................... 1757 GT 15 – LITERATURA, DIVERSIDADE LINGÜÍSTICA E LINGUAGEM ......................................................... 1758 TEXTOS DA COORDENAÇÃO DO GT 15................................................................................................................... 1758 POLÊMICAS LINGUÍSTICAS E MILITÂNCIA NEGRA NAS REDES SOCIAIS ..................................................... 1758 A CASA DA FORÇA: RESSACRALIZAÇÃO POÉTICA EM DEUS É NEGRO, DE WESLEY CORREIA .............. 1767 18 19 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. especialmente as africanas, afro-brasileiras e indígenas; 2) identificar e coletar informações, acerca das populações africanas, afro-brasileiras e indígenas; 3) incentivar o desenvolvimento de pesquisas que possam ampliar os conhecimentos e subsidiar a execução de políticas educacionais para as comunidades negras, seja por parte dos docentes, assim como, de discentes nos diversos níveis de ensino; 4) ampliar o acervo documental, cartográfico e bibliográfico com títulos que tratem das Relações Étnicas; 5) incentivar produções APRESENTAÇÃO realizadas por docentes e discentes participantes do grupo de pesquisa e de atividades dos cursos de formação continuada; 6) sugerir nos colegiados dos diversos cursos da instituição reformulações dos currículos, indicando Faz dois anos que ao se encerrarem as atividades do IV Congresso Baiano de Pesquisadores Negros em Cruz das Almas- Ba, Universidade Federal do recôncavo Baiano - UFRB, assumimos o compromisso de sediar a quinta edição do evento. O ambiente da Assembleia da Associação Baiana de Pesquisadores Negros - ABPN serviu de referência para tal credenciamento, estava então selado o acordo, dali em diante começamos a pensar na realização V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros. disciplinas ligadas ao estudo das Relações Étnicas; 7) investir em projetos que busquem recursos financeiros para consolidar experiências de pesquisa e extensão que contribuam na formação de docentes e de outros segmentos da sociedade; 8) organizar espaço com peças africanas e afro-brasileiras para visitação de todos aqueles que sejam interessados pela cultura material e imaterial afro. Tudo isto se alia a perspectiva anual de realização de eventos cujo principal objetivo é potencializar o alcance das ações do ODEERE junto à Por ocasião da decima edição da Semana de Educação de Pertença Afro-brasileira em novembro de 2014, apresentamos a proposta com tema e calendário de organização e realização do congresso. A esta altura já tínhamos em mente que outros eventos regulares realizados pelo Órgão de Educação e Relações Étnicas da UESB - ODEERE teriam foro também durante a realização evento. comunidade regional. Em 2014 O ODEERE- UESB aprovou Junto ao CTC da Capes o Programa de Pós-Graduação em Relações Étnicas e Contemporaneidade que vem para consolidar as ações do Orgão no tocante à produção de conhecimento voltados para relações étnicas e como esta produção se mostra na contemporaneidade. Com duas A experiência acumulada com as ações do ODEERE no que concerne a realização de eventos, a cada ano, aliado à referencia temática com a qual lidamos como base dos estudos e pesquisas aqui realizadas respaldaram a escolha. turmas em curso e uma terceira sendo selecionada no presente momento, o Programa estima para os próximos trinta meses ao menos quarenta dissertações defendidas e, pelo menos, trinta projetos em andamento. Este cenário predispõe à UESB, do ponto de vista institucional e ao ODEERE do ponto de vista operacional Com as diretrizes curriculares para o ensino da educação das relações étnicas cria-se um horizonte fértil para discussões que envolvam o tema da história e cultura africana e afro-brasileira. O Parecer CNE/CP 003/2004 ressaltava que todas as IES - Instituições de Ensino Superior deveriam: a) responsabilizar-se por elaborar uma pedagogia anti-racista e anti-discriminatória; b) capacitar profissionais; c) incluir nos programas dos cursos a temática étnicorracial; d) organizar bibliotecas, museus e outros meios que divulgassem o pensamento africano e afro-brasileiro. assumirem o compromisso de sediar o V Congresso Estadual de Pesquisadores Negros em Jequié- Bahia. No que concerne à estrutura o V CBPN Congresso Baiano de pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade contemplam inúmeras atividades que se estruturam a partir da dinâmica de Grupos de Trabalho - GTs. Nos 15 Grupos de Trabalho criados para acolher as discussões do V CBPN e demais eventos a ele vinculados serão contempladas 28 mesas redondas, com cerca de 100 O que a relatora do citado parecer chamava de “Núcleos de Estudos Afro-brasileiros” NEABs eram os centros de estudos e/ou pesquisas já implantados em várias cidades do Brasil. O Órgão de Educação e Relações Étnicas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - ODEERE nasce nesse contexto. Traz com sua criação, entre outras, a difícil missão de organizar-se fisicamente em função das atividades e ações que propõe. Havia e ainda há uma significativa demanda gerada pelos cursos de extensão e pós-graduação. Frente às varias reivindicações feitas para solucionar o problema de falta de salas de aulas, a Universidade resolveu dispor do espaço de uma escola pertencente ao Estado, na qual implantamos a sede do Orgão, em 2005, no bairro da pesquisadoras e pesquisadores convidados; bem como 05 conferências. Além destas atividades propostos 36 de minicursos, 23 oficinas, foram também submetidas e aprovadas aproximadamente foram 400 comunicações entre trabalhos completos e resumos. Este panorama dá conta de uma estrutura que deve envolver aproximadamente 2000 pessoas que atuarão direta ou indiretamente na organização, colaboração e participação nas várias atividades oferecidas ao longos de cinco dias de 16 a 20 de novembro de 2015. Apresentamos aqui, com os anais, o resultado dessa produção. Sejam bem vindos! periferia de Jequié/BA, chamado de Pau Ferro próximo ao campus . Esta ação institucional possibilitou elaborar um programa de Políticas de Ações afirmativas, no seu bojo Jequié, 16 de novembro de 2015 propostas de cursos para Formação Continuada de professores/as com os seguintes objetivos: 1) incentivar as pesquisas e as reflexões acerca dos processos educativos voltados para o conhecimento de matrizes culturais, 20 Profa. Dra. Marise de Santana. 21 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. Prof. Dr. Edson Dias Ferreira parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera: outra parte delira. Uma parte de mim almoça e Prof. Ms. Natalino Perovano Filho janta: outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente: outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim Profa. Ms. Hellen Mabel Santana Silva Santana é só vertigem: outra parte, linguagem. Traduzir-se uma parte na outra parte - que é uma questão de vida ou morte, será arte? (GULLAR, 1991, p.309). GT 01 – EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICAS: CURRÍCULO, FORMAÇÃO E TRABALHO DOCENTE Para tanto, a turma é orientada a exercitar com afinco, a capacidade de síntese e objetividade, mas cuidando que a emoção, a subjetividade, a ousadia e o impacto, não sejam deixados de lado, ao relatar um fato TEXTOS DA COORDENAÇÃO DO GT 01 marcante das suas vidas que identificam como um “divisor de águas”. Ocorre que causa estranheza, que praticamente nenhum dos estudantes negros3 assume que, QUESTÕES ÉTNICAS RACIAIS NO EXERCICIO ‘MEMORIANDO’: HÁ IDENTIDADE(S) EM CONFLITO OU O SILENCIAMENTO DE SI? determinados fatos relatados, desvela sérias questões raciais subjacentes. Alias, nem mesmo as construções conceituais que têm debatido ao longo do curso, que poderiam ter favorecido a problematização destas ZORAYA MARIA DE OLIVEIRA MARQUES1 situações cotidianas, parecem estar ajudando em tais identificações ou assunções. Obviamente, não é possível ignorar tais ocorrências, haja vista que este ocultamento indica que há Que a força do medo que tenho, não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo em que acredito. Não me tape os ouvidos e a boca. Porque metade de mim é o que eu grito. Mas a outra metade é silêncio [...]. Que as palavras que eu falo. Não sejam ouvidas como prece e nem repetidas com fervor. Apenas respeitadas. Como a única coisa que resta a um homem inundado de sentimentos [...]. Por que metade de mim é a lembrança do que fui. A outra metade eu não sei [...]. Que a arte nos aponte uma resposta. Mesmo que ela não saiba. E que ninguém a tente complicar. Porque é preciso simplicidade pra fazê-la florescer (Osvaldo Montenegro). identidade(s) em conflito, ou mesmo um silenciamento com o que ocorreu consigo em meio às experiências veladas de racismo que foram vivenciadas ao longo das construções identitárias no âmbito escolar. Outrossim, “a identidade não é um dado imutável nem externo, mas se dá em processo, na construção do sujeito historicamente contextualizado” (PIMENTA, 2002). Em assim sendo, como busca investigativa, tenho selecionado para entrevistas individualizadas alguns estudantes afrodescendentes que compartilharam narrativas implicadas com o tema, ainda que não as tenham Há um ano, entre outras Pesquisas, o Projeto de Experiências Criadoras – PEC tem se interessado em caracterizado deste modo. estudar no âmbito da Investigação Formação “Eu Pedagoga”: quais elementos e produção de sentidos, os Estagiários do 5º semestre, do Curso de Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia – UNEB (Campus XI/Serrinha) tem, ou não, explicitado sobre questões étnicas de origem racial. Ao convidá-los, portanto, tenho a intenção de provocá-los para se posicionarem sobre os não ditos observados no que se refere às questões de etnia racial, uma vez que na apresentação do ‘Memoriando’ não explicitaram (ou nem mesmo perceberam) a existência de implicações e impactos causados em seus processos E este mapeamento se iniciou, especificamente, com o Exercício Vivencial ‘Memoriando’ que integra o identitários. acervo produzido pelo PEC e, consequentemente o conjunto de teorias e práticas propostas pela disciplina ‘Pesquisa e Estágio em Espaços Não Escolares’, ministrada2 pela própria Pesquisadora. O que é mesmo o ‘Memoriando’... A atividade, em síntese, consiste no planejamento e apresentação individual de uma breve narrativa oral de caráter (auto) biográfico, que consiste em dizer de si a partir de um fragmento de fato marcante ocorrido consigo, e que pode ter mudado radicalmente o rumo da existência, seja no campo familiar, escolar e /ou profissional. Na realidade, o ‘Memoriando’ em alguns aspectos, inspira-se no memoriale (memorial), pois também se refere a uma produção implicada onde o sujeito narra fatos memoráveis da sua vida. Então apenas neste sentido, poderíamos dizer que tem algo semelhante ao Memorial de Formação, uma vez que o sujeito – autor – estagiário é ao mesmo tempo: o narrador e principal personagem da sua própria história. E o palco, onde faz isso durante 05 minutos, é elaborado e organizando unicamente por ele. Do mesmo jeito que é dele, o desafio de encontrar um modo em formato e conteúdo, de ‘traduzir-se’ sem reducionismos, O que se configura como um diferencial de suma importância, dado que “a história de vida é o terreno no qual se constrói a formação” (DOMINICÉ, 1990). visto que como disse o poeta: Entendido isto, para realizar o ‘Memoriando’ o estagiário precisa refletir sobre os principais Uma parte de mim é todo mundo: outra parte é ninguém: fundo sem fundo. Uma parte e mim é multidão: outra acontecimentos ou ‘impactos’ que ocorreram na sua vida, com vistas a selecionar apenas um deles para a sua apresentação. 1 Profª. PhD. Zoraya Maria de Oliveira Marques. Professora Adjunta da Universidade do Estado da Bahia/UNEB. O Exercício ‘Memoriando’ integra o acervo didático do Projeto de Experiências Criadoras – PEC, coordenado pela referida docente, desde 1995.2 desenvolvido com base numa ampla coletânea de saberes e práticas que considera a pesquisa, o ensino e a extensão como dimensões indissociáveis. 2 22 3 Utilizo o termo “negro” no sentido observado por Ferreira (2000), como uma identificação positiva e valores étnicos dos afrodescendentes (p. 81). 23 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. E faz isso, inspirado (a) na perspectiva do que Josso (2004) nomeia como ‘Momento Charneira’, quando ... percebia sim o racismo da minha pro... ainda me sinto muito humilhada por aquelas coisa se refere aos acontecimentos formadores e/ou de conhecimento, presentes nas itinerâncias pessoais e /ou de todas que ela fazia com a gente, por ela não tratar ninguem assim, eles eram todos brancos, escolarização, por se tratar de mudanças e situações onde o sujeito confronta-se consigo mesmo: de preta só tinha nós duas na sala (Entrevistada 01). A descontinuidade que vive impõe-lhe transformações mais ou menos profundas e amplas. Surgem-lhe perdas e ... jogavam na minha cara o tempo todo que eu era repetente... me sentia inferiorizada na cor ganhos e, nas nossas interações, interrogamos o que o sujeito fez consigo próprio ou o que de si mesmo para se e pela dificuldade de aprender como os outros (Entrevistada 02). adaptar à mudança, evita-la ou repetir-se na mudança (JOSSO, 1988, p.44). Neste sentido, para localizar e se exprimir - através de um dos seus ‘Momentos Charneira’ - ele deve ... a diretora me chamava de preto endiabrado... me levava pra sala dela como se fosse empreender uma extensa pesquisa em documentos pessoais, fotos, diários [...] que acumulou nos seus provado que a culpa era minha antes de eu abrir a boca e contar o que houve... (Entrevistado guardados. Ou pode tentar, inclusive - e se desejar - conversar com membros da sua família, amigos de 03). infância, relacionamentos afetivos, do colégio, professores, colegas da profissão [...] para ajudá-lo a levantar ... tinha vezes que eu perguntava alguma coisa e a resposta era o silêncio era como se eu não outros fatos/ imagens / recortes, e materiais significativos que queira incluir na sua produção. É importante destacar que a apresentação individual (cena de 05 minutos) deve ter um título interessante existisse... eu era a única menina de cor da minha sala (Entrevistada 04) e sugestivo, que nos deixe curiosos e interessados mesmo antes de iniciar o que deseja relatar. De todo modo, é ele quem decide sobre a forma de apresentação (o formato), e se irá utilizar recursos didáticos (cartaz, imagens, slides, transparências, fotos, texto, vídeo...) elementos cênicos (música, dramatização, dança, fantasia, ...) e a seleção do conteúdo a tratar: - irá preferir compartilhar algo do seu processo de escolarização? Indubitavelmente, nos armazéns de suas memórias e como parte do tecido experiencial social e coletivo, o que foi preservado e o que foi “esquecido”, sofreu forte influência da ideia de que “é melhor deixar de lado aquilo que é doloroso lembrar”, como disse um dos estagiários (Entrevistado 05). Porem acontece que, “a identidade étnica não deve ser compreendida como algo constituído, - da infância ou adolescência? naturalizado, e sim como um processo identitário (...) em permanente movimento” (HALL, 1997, p. 75), o que - uma experiência profissional? torna pouco produtiva, simplista e até ingênua a atitude de ignorar ou minimizar, o racismo que se deveria - algo inesquecível no âmbito pessoal? combater. - um acontecimento marcante na família? Obviamente, trabalhamos aqui na perspectiva de afrodescendência como um “conjunto de referenciais - uma decisão importante na sua vida? sóciohistóricos e culturais, que remetem às matrizes africanas” (FERREIRA, 2000), o que nos exige remete a - uma perda? confirmação de que é preciso continuar, neste estudo, a sacudir os afrodescendentes matriculados na disciplina - um dilema enfrentado? em direção a este necessário confronto consigo, a partir do reavivamento da memoria afetiva que diga respeito às questões étnicas, entre outras esferas formativas e identitárias. Elementos e sentidos que (não) têm explicitado, quanto às questões étnicas raciais... Durante os relatos no ‘Memoriando’ que trazem a tona situações ocorridas no âmbito escolar e nas entrevistas decorrentes, a investigação tem se defrontado com a alarmante despreocupação dos estagiários com relação ao comportamento veladamente racista a que foram expostos em determinados momentos de suas escolarizações, bem como das consequências trazidas para a construção da sua autoestima. Com isso, a pesquisa tem elencado depoimentos que, no ‘Memoriando’ foram omitidos propositadamente ou não, e que dizem respeito ao modo como os pesquisados lidam com as formas de tratamento preconceituosas, vivenciadas em seus percursos iniciais de escolarização: Concluindo, mas sem pretensão alguma de Concluir... Longe de ser dada como concluída, esta investigação tem gradualmente exposto, muito do que parecia ter sido esquecido ao longo do tempo, na história de vida dos estagiários, favorecendo que uma diversidade de significativas lembranças e reminiscências sejam resgatadas ativamente. E, até onde se vê, por ser contado na 1ª pessoa do singular, o registro e a exposição da própria experiência favorece, desta forma, que a (auto) reflexão acerca de determinados acontecimentos, sentimentos, experiências de formação e práticas exercidas (mesmo sem serem lembradas de modo cronológico) provoque no protagonista do exercício uma necessidade de revisão do que pensa ter deixado para trás, sem maiores 24 25 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. consequências. De fato, nem sempre é simples, nem fácil, visitar o passado, como parece na bela melodia “hoje eu vou mudar fazer limpeza do armário. Jogar fora sentimento e ressentimentos tolos (Vanusa)”. É que isso exige voltar no tempo para encarar vivencias familiares, escolares, histórias e acontecimentos marcantes de infância, AS RELAÇÕES ETNICORRACIAIS NO PROCESSO DE ESCOLHA DO LIVRO DIDÁTICO NA ESCOLA: APROXIMAÇÕES, TESSITURAS E DIVERGÊNCIAS adolescência ou vida adulta, que até certo ponto, nos influenciaram a ser quem somos. Para alguns, tentar relembrar determinadas passagens da escola e dos professores, experiências e amigos Almeida, Lívia Jéssica Messias de4 Trinchão, Gláucia Maria da Costa5 que os influenciaram, e que até certo ponto, motivaram a estar onde estão, significa ir atrás de fatores ‘afetivossocio-economicos-politicos-religiosos-culturais’ que podem machucar. Não é por outro motivo que, ao longo do tempo, sem nenhum alarde, muito do que nos acontece é propositadamente ‘esquecido’. Acontecimentos INTRODUÇÃO As reflexões tecidas ao longo deste artigo integram os resultados da investigação realizada no Mestrado cotidianos importantes são deixados de lado, quase sem reflexão ou clara consciência do que aprendemos em Educação, na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Tal pesquisa teve como um dos seus vivendo. Por outro lado, é na ampliação da consciência de indivíduo coletivo, fruto “das mais diversas combinações para configurar uma identidade como uma totalidade - uma totalidade contraditória, múltipla e objetivos discutir de que forma as relações etnicorraciais são abordadas no processo de escolha dos livros didáticos escolares, a partir da implantação da lei nº 10.639/03. mutável” (CIAMPA, 1984) - que o estagiário se confronta com uma fecunda oportunidade, capaz de fazê-lo se Para realizar a pesquisa, optamos pela aplicação de um questionário a oito professoras de uma escola reconhecer, se estranhar, ou até mesmo se desconhecer, e por isso mesmo passar a se conhecer um pouco municipal de Itabuna-BA, contendo questões abertas e fechadas. Além disso, realizamos uma sessão de grupo melhor do que antes do ‘Memoriando: pensar no próprio jeito de ser, estar, e sentir a vida, e em como a vive. focal como forma de coleta e produção de dados, escolha que ocorreu pelo fato de as professoras demonstrarem Em particular, nas questões que dizem respeito diretamente as etnias raciais, as teorias e práticas que receio ao falar das relações etnicorraciais na escola, cuja aplicação tornou possível a fruição dos discursos por têm dado suporte aos conhecimentos que estamos revisitando e ampliando no ‘Memoriando’ podem auxiliar oferecer a ideia do diálogo e da participação coletiva. Vale ressaltar que, na análise dos discursos raciais das que os sujeitos compreendam melhor o que lhes marcou, positiva ou negativamente, propiciando maior abertura referidas professoras, não privilegiamos uma análise criticista, mas uma perspectiva que abordasse seus de si, e até possíveis superações se houver disponibilidade às mudanças. Obviamente, nós não somos o nosso discursos dentro de um contexto histórico e social, apontando fragilidades no sentido de contribuir para a passado. Mas o que somos se deve, em grande medida, ao que fazemos dele. construção de reflexões e percepções que respeitem a diversidade etnicorracial no espaço escolar. REFERENCIAS perspectiva de transcender a cisão recorrente nos textos acadêmicos entre análise de dados e teoria. Dessa CIAMPA, A.C. Identidade. In: W. Codo & S. T. M Lane (Orgs.). Psicologia social: o homem em movimento. forma, lançamos mão dos recursos da Análise do Discurso como forma de tratamento dos discursos São Paulo: Brasiliense, 1984. provenientes dos questionários e do grupo focal, que foram organizados em sequências discursivas (SD), ou DOMINICÉ, Pierre. O processo de formação e alguns dos seus componentes relacionais. In: NÓVOA, António; seja, “unidades cujo tamanho é igual ou superior a uma frase, extraídas da continuidade dos textos de acordo FINGER, Matthias (Orgs.). O método (auto)biográfico e a formação. Lisboa: Ministério da Saúde. Depart. de com as regularidades enunciativas” ((MAINGUENEAU, 1998, p. 128) que apontam para o funcionamento das RH da Saúde, 1988. formações discursivas nas quais se insere o corpus a ser analisado. Nesse processo, trabalhamos intercalando concepções teóricas com os discursos recortados numa Desse modo, as SDs foram agrupadas e selecionadas a partir do objeto de análise deste artigo, sendo que FERREIRA, Ricardo Franklin. Afrodescendente: identidade em construção. São Paulo: Pallas, 2000. GULLAR, Ferreira. Traduzir-se. In: GULLAR, Ferreira. Toda Poesia. 5ª ed. Rio de Janeiro, José Olympio, essa forma de recorte do corpus não influencia no entendimento das formações discursivas devido ao discurso 1991. se fazer presente “em cada uma de suas enunciações, por mais ínfimo que pudesse ser seu objeto, isto é, o HALL, Stuart. A identidade cultural na pós modernidade. Rio de Janeiro, DP&A Editora, 1997. discurso investe tudo”, pois se trata de “um espaço de regularidades enunciativas” (MAINGUENEAU, 1998, p. JOSSO, Marie Christine. Experiências de vida e formação. Lisboa: Educa, 2004. 128). PIMENTA, S. G. Formação de professores: Identidade e saberes da docência. In: PIMENTA, S. G. (Org). Saberes Pedagógicos e Atividade Docente. São Paulo: Cortez, 2002. 4 5 26 Mestre em Educação. Professora do Departamento de Educação da UEFS. Contato: [email protected] Doutora em Educação. Professora-Adjunta do Departamento de Letras e Artes da UEFS. Contato:gaulisy@ gmail.com 27 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. 2. Entrelaçamentos das abordagens conceituais: lei nº 10.639/03, habitus, processo de escolha do livro didático na escola Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da A lei nº 10.639/03 estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana instituída para esse fim, os/as titulares/as de direitos autorais habilitados/as para proceder à negociação de na educação básica, pois a escola, enquanto instituição social, responsável por assegurar o direito à educação a preços, visando adquirir os livros e as coleções a serem produzidas, conforme especificações técnicas mínimas todo e qualquer cidadão, deve se posicionar politicamente contra toda e qualquer forma de discriminação. A contidas no Anexo VIII do Edital do PNLD e, postados/entregues, conforme as instruções operacionais a serem luta pela superação do racismo e da discriminação racial é, pois, tarefa de todo e qualquer educador, fornecidas no momento da negociação (EDITAL DO PNLD 2007 e 2010). Educação (FNDE) foram estabelecidos critérios de atendimento e convocados, por meio de comissão especial, independentemente do seu pertencimento etnicorracial, crença religiosa ou posição política. O racismo, Após a escolha realizada pelos/as professores/as e envio pelo site do PNLD, segue-se a etapa de segundo o artigo 5 da Constituição Brasileira, é crime inafiançável e isso se aplica a todos os cidadãos e produção, que se inicia com a assinatura dos contratos. Assim, os/as titulares de direitos autorais participantes instituições, inclusive, à escola (BRASIL, 2004). do PNLD 2010 estarão aptos/as a iniciarem a produção dos livros a serem distribuídos aos/as alunos/as da rede Essa lei surge no sentido de promover uma reflexão sobre as relações etnicorraciais, pois a carência no pública do País, de acordo com as especificações técnicas previstas no edital. planejamento escolar, na própria concepção de currículo e de construção da identidade dos sujeitos tem dificultado a promoção de relações interpessoais democráticas e igualitárias entre os agentes que integram o ambiente escolar. Nesse sentido, uma das formas de interferir pedagogicamente na construção de uma pedagogia da diversidade e garantir o direito à educação é saber mais sobre a história e a cultura africanas e afro-brasileiras. Esse entendimento poderá nos ajudar a superar opiniões preconceituosas sobre os negros, a África, a diáspora; a denunciar o racismo, a discriminação racial e a implementar ações afirmativas, rompendo com o mito da democracia racial (CAVALLEIRO, 2005). ENTRE APROXIMAÇÕES E DIVERGÊNCIAS: PROCESSO DE ESCOLHA DO LIVRO DIDÁTICO AS RELAÇÕES ETNICORRACIAIS NO Desde o sancionamento da lei 10.639/03, a escola foi obrigada a refletir sobre a forma como trata as relações etnicorraciais nos aspectos normativos e práticos, inclusive no processo de escolha do livro didático, já que ele é tido como um recurso de grande relevância no contexto educacional e, consequentemente, deve estar consoante com as prerrogativas da lei. Nesse sentido, por compreender que o livro didático exerce um papel importante nesse processo educativo de combate ao racismo e de construção de uma educação de respeito à diversidade etnicorracial, trataremos de uma das fases mais importantes da política nacional do livro didático: o processo de escolha na Iniciamos os trabalhos a partir de questionamentos sobre a lei nº 10.639/03, marco temporal e um dos amparos legais desta pesquisa, acreditando que a abordagem significativa na prática pedagógica cotidiana da lei torna-se pressuposto para a adoção de seus princípios no processo de escolha do livro didático na escola. escola. Ao tratar dessa fase, consequentemente, abordaremos as compreensões dos professores sobre a política. Para tanto, utilizaremos o conceito de habitus, teorizado por Bourdieu (2005 a), o qual é visto como uma espécie de senso prático sobre o que se deve fazer em dada situação, consistindo em uma matriz geradora de SD01: Solange – Eu acho que, de acordo com a educação, onde a gente tem feito o possível nos projetos pedagógicos e vem trabalhando normal de acordo com a lei mesmo. Vem trabalhando sem nenhuma discriminação, nem complicação nos projetos. comportamentos, visões de mundo e sistemas de classificação da realidade que se incorporam aos indivíduos. No desenvolvimento desta pesquisa, a abordagem do habitus significa perceber que as professoras são agentes que atuam a partir de suas preferências e princípios formulados a partir das condições objetivas que lhes são colocadas, podendo acatar as disposições ou rechaçá-las, uma vez que desconsidero a ideia da determinação dos sujeitos. Nessa lógica, o processo de escolha das obras pelos professores ocorre, conforme edital do PNLD 2010, em tese: SD02: Maria – Bom, eu acho que assim...a gente fala muito, mas trabalho específico mesmo não tem nenhum, a gente faz leituras, mas um trabalho específico mesmo[...] mas não tem um trabalho específico mesmo. Eu acho que a gente nunca fez nenhum projeto específico voltado mesmo para essa questão[...] SD03: Luzia – Mas, de acordo com o que a lei fala que não é assim...especificamente que a escola trabalhe, assim, faça um projeto que trabalhe em cima da questão, não que a gente trabalhe na escola visando o racismo de modo geral, essa questão racial[...] Embora a lei tenha sido normatizada há quase dez anos, a concretização de práticas pedagógicas da sua [...] em consenso e com base na análise das resenhas dos títulos contidos no Guia, escolherão as obras a serem utilizadas em sala de aula de acordo com a proposta pedagógica da escola. Após a escolha dos professores, implementação ainda é difusa, devido ao pouco conhecimento ou a falta de formação para o trabalho ficará a cargo do diretor da escola o preenchimento e encaminhamento dessa escolha ao FNDE, via internet ou relacionado com a educação das relações etnicorraciais. É possível observar que essas professoras trabalham formulário impresso (p. 9). com a lei como ponto de partida, mas não sabem se deve ser um trabalho específico ou envolvendo todo o currículo. Com base na escolha dos/as professores/as e no censo escolar realizado pelo Instituto Nacional de 28 Observamos, nos enunciados das duas professoras, que existem concepções diferenciadas de como deve 29 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. ocorrer o trabalho com a lei 10.639/03 na escola, mesmo dez anos após o seu sancionamento. Isso significa que necessidade de realização de um trabalho diferenciado fica evidente na sequência discursiva abaixo: o trabalho pedagógico, no tocante à referida lei, ainda apresenta inseguranças e dúvidas, ocasionando SD09: Luzia [...] mas eu acho que está sendo feito um trabalho, todo mundo está se preocupando, ninguém está deixando o aluno pintar e bordar com o outro sem estar chamando, sem você falar, sem dar...e eles estão percebendo também. dificuldades na sua implementação. Apesar das inseguranças e dúvidas, percebemos que a escola desenvolve um trabalho, mesmo ainda tímido, de combate ao racismo e ao preconceito: Por outro lado, convém também destacar algumas posturas observadas nas sequências discursivas que não contribuem para o desenvolvimento de um trabalho significativo com a lei nº 10.639/03: SD04: Maria – [...]A gente faz cartazes, a gente já trabalhou livros, a gente já procurou trabalhar aqueles livros Cabelo de Lelê, As tranças de Bintou que até sumiu o livro daqui, Menina bonita do laço de fita e outros, veio uma menina fez a leitura de um livro de um príncipe que no final os meninos que ficaram assim... porque o príncipe era negro, porque ninguém tem na cabeça que existe um príncipe negro, quando chega no final da história o príncipe é um negro. SD10: Margarida – É, por mais que faça, quem é discriminado, o próprio negro se discrimina, porque às vezes ele se isola, então a discriminação já vem daí dos próprios negros, às vezes. A ideia de que o próprio negro se discrimina é um equívoco que deve ser superado para a adoção de SD05: Luzia – [...]No projeto da escola, a gente está sempre trabalhando. uma pedagogia que forje novas relações etnicorraciais na escola. Evidencia-se um discurso ideologicamente O relato das próprias professoras demonstra que o trabalho ainda é insuficiente para questões tão marcado pelo racismo, numa estratégia de culpabilização da vítima. É preciso compreender que pessoas negras vivem em uma sociedade racista e adquirem o mesmo habitus racial e, por isso, são influenciadas do mesmo importantes na formação de uma criança. modo que as brancas e tendem, muitas vezes, a reproduzir a estrutura racista da qual é vitimada. SD06: Luzia – Eu acredito que na escola a gente tem trabalhado um pouquinho, tem trabalhado os projetos que as coordenadoras colocam na escola. Para a desconstrução de equívocos como esse, o trabalho educativo deve se pautar, segundo Munanga (2005), em mostrar que a diversidade não constitui um fato de superioridade ou inferioridade entre os grupos humanos, mas sim, ao contrário, um fator de complementaridade para ajudar o aluno discriminado, no sentido SD07: Solange – Toda escola é assim mesmo, porque nenhuma faz. de que ele possa assumir com orgulho e dignidade os atributos de sua diferença, sobretudo quando ela foi Ao assumir, mesmo que timidamente, esse trabalho, as professoras têm consciência de que não podem negativamente introjetada. As professoras abaixo relatam, em seus discursos, intervenções nos casos de discriminação presentes na marginalizar essas relações na escola, uma vez que a educação escolar deve contribuir para que os alunos compreendam as diferenças entre pessoas, povos e nações, valorizando-as de modo a garantir a democracia que, escola. entre outros princípios, significa respeito pelas pessoas e nações, tais como são, com suas características próprias e individualizadoras (MUNANGA, 2005). A consciência de trabalhar com a educação para as relações etnicorraciais conduz ao reconhecimento do próprio preconceito: SD11: Luzia – [...] Quando a gente vê um aluno em uma situação, vai lá, na mesma hora, faz a intervenção e até colocando na cabeça deles que isso dá cadeia, que isso a gente não tinha essa concepção quando a gente era pequeno e hoje a gente já tem... que isso dá cadeia e eles já sabem, se eles não praticam, mas eles já sabem, bullying dá cadeia, não sei o que...então eles já têm essa noção, então isso tudo é passado dentro da sala de aula. De acordo com Cavalleiro (2001, p. 158), toda e qualquer reclamação de ocorrência de discriminação e SD08: Luzia – Todos nós somos preconceituosos, todos nós temos essa coisa enraizada. preconceito no espaço escolar deve servir de pretexto para reflexão e ação. As vítimas e os protagonistas dessas Essa postura de reconhecimento torna-se um passo fundamental para a mudança de postura da realidade, transcendendo uma visão de mundo limitada e preconceituosa na busca de uma percepção a favor de um trabalho pedagógico consciente. Para Munanga (2005), a escola, como parte integrante dessa sociedade que se sabe preconceituosa e discriminadora, mas que reconhece que é hora de mudar, está comprometida com a necessidade de mudança e precisa ser um espaço de aprendizagem onde as transformações devem começar a situações não são culpados por tais acontecimentos, visto que são resultados das relações em nossa sociedade. Quem ofendeu, ironizou ou discriminou o outro indivíduo é levado a entender a sua atitude como negativa. É imperativa a interferência dos educadores. Alegam, ainda, o fato da negligência dos pais, quando se trata dessa questão. ocorrer de modo planejado e realizado coletivamente por todas as pessoas envolvidas conscientemente. A SD12: Luzia – Muitas vezes os pais em casa não se incomodam nem um pingo com essas questões e aí os meninos vêm para a escola, a gente vê que eles vêm cheios e que daqui a pouco eles já estão falando. 30 31 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. SD13: Ana – Mesmo com tudo isso, não deixa de haver o preconceito. questão na escolha do livro didático. Por isso, nas sequências discursivas 18, 19 e 20 da regularidade discursiva, percebemos a inserção de justificativas: Quando a criança em atitude racista não sofre nenhuma intervenção por parte dos pais a respeito de sua atitude agressiva e discriminatória, acabam por legitimá-las e reproduzi-las, principalmente quando essa atitude é relegada à condição de brincadeira. O recorte da SD13 revela o desânimo da professora com o trabalho acerca das relações etnicorraciais na escola. Todavia, vale enfatizar que o preconceito, a discriminação e o racismo não acabam como um passe de mágica, mesmo porque foram séculos de escravidão e de inculcação da ideologia racista. SD18: Solange – Se você quiser alguma coisa para você enriquecer sua aula, enriquecer seu projeto você tem que ir buscar, pesquisar em outra coisa, porque os livros também eles não estão vindo com esse conteúdo todo não. SD19: Ana – Nosso foco, como expus anteriormente, era o processo de alfabetização. SD20: Rosa – Esse critério foi subestimado em detrimento de outros que erroneamente destacamos como prioridade. O efeito de naturalização do preconceito, a ideia de que “sempre foi assim”, configura-se numa característica própria do habitus, nessa concepção de que as coisas estejam destinadas a operar dessa maneira e Apenas duas professoras disseram considerar esse critério no momento da escolha. A SD 21, a seguir, nunca vão mudar. Compreensões que partem desse princípio dificultam o trabalho docente, porque se trata de mostra que somente foram descartados os livros com preconceito de forma explícita ou gritante, numa análise um trabalho árduo e contínuo, até porque transformar discursos e posturas pode levar os mesmos séculos de que superficial, o que não ocorre na SD 22, demonstrando uma análise mais aprofundada realizada por uma se necessitou para formá-los. professora em relação aos livros que chegaram para escolha. Observe: Todavia, é necessário ter a compreensão de que “buscar soluções para esses problemas não é um trabalho apenas em favor dos(as) alunos(as) negros(as), representa um trabalho em favor de todos(as) os(as) brasileiros(as), quer sejam pessoas pretas, pardas, indígenas, brancas ou amarelas” (CAVALLEIRO, 2005, p. 43). O PROCESSO DE ESCOLHA DO LIVRO DIDÁTICO Algumas percepções evidenciadas no combate ao racismo, identificadas no trabalho com as relações SD21: Solange – Foram descartados livros que apresentassem conteúdos e/ou situações que reforçassem o preconceito e a valorização de uma raça em detrimento de outra de forma explícita e gritante. SD22: Tereza – Considerei as imagens do negro e índio nos livros; se abordava a lei 10.639/03; como a história do negro/índios é abordada nos livros e como trabalha as relações etnicorraciais. Alguns livros demonstram essa realidade de preconceito e discriminação. Mas, atualmente, muitos livros/autores, devido à própria lei, têm mudado a realidade de como se vê o negro e o índio. Em parte, esses livros contemplam essa realidade, mas muitas “coisas”, temas precisam ser modificadas para estarem melhor inscritos dentro do que a lei 10.639 diz. etnicorraciais na escola, não foram integralmente adotadas no processo de escolha do livro didático. Em outras palavras, essas relações não se constituíram para a maioria das professoras como um critério de exclusão das coleções didáticas no processo de escolha. Observe seus enunciados: Cabe enfatizar que todas as professoras assinalaram esse critério no questionário como algo importante a ser avaliado no processo de escolha, entretanto apenas duas o consideraram no momento da escolha. Isso significa a emergência, de acordo com Silva (2000, p. 37), de que os/as professores/as, em especial, tenham o SD14: Maria – É, sinceramente não. compromisso de repensar seus princípios, enquanto educadores e seres humanos, diante do racismo e avaliar SD15: Solange – Sinceramente eu não estava tão focada nesse critério, observei se era atrativo, o tipo de letra se era adequada à série proposta, se contemplava as diversidades textuais e gravuras interessantes. como ele se apresenta e o que representa no meio escolar e social para que se tenha conhecimento dos SD16: Luzia – Não. Sabe por quê? No meu caso, quando nós recebemos essas editoras, a gente nunca acha um conteúdo também que seja importante, que venha alguma coisa escrita nos livros didáticos. escolar”. SD17: Ana – Nosso foco, como expus anteriormente, era o processo de alfabetização nos materiais descritos acima. racismo e se estão de acordo com a lei 10.639/03, para saber se observam esses critérios nos livros: Antes de enunciarem suas respostas, percebi um silêncio eloquente no grupo e logo surgiram expressões como /sinceramente não/ e /sinceramente eu não estava tão focada nesse critério/, como se as professoras “mecanismos de produção, reprodução e mutação de preconceitos e discriminações raciais da instituição Dessa forma, foi questionado se os livros selecionados revelam algum preconceito, discriminação ou SD23: Luzia – Não propriamente preconceito, mas os livros didáticos, mesmo os mais recentes e atualizados, ainda não tratam dessa questão como de fato deve ser. A inserção do negro no livro didático ainda é sutil e as situações em que aparece não são atraentes, as figuras não são bonitas. Desse modo, o aluno não consegue se vê nesse universo. O negro ainda é visto em situações feias, cenas de violência e fome. tivessem, naquele momento, atentado para a importância daquele critério e a negligência com a qual tratava a SD24: Maria – Ainda não, mas acredito e percebo que aos poucos essa discriminação vem sendo tratada com 32 33 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. mais respeito, porém ainda está longe da igualdade. SD28: Luzia – O livro de história e o de geografia, quando a gente vai olhar, a gente não vê muito, não olha muito por esse lado, até por conta de que, se você for muito por esse lado, você acaba não escolhendo aquela editora e acaba não escolhendo nenhuma, mas geografia e história também os textos eles também estão falhos muito nessa questão. SD25: Rosa – Não. Observei a ausência dos negros além da falta de textos que discutam essa temática. As professoras revelam, em seus enunciados, que os livros selecionados não estão de acordo com a lei 10.639/03 nem condizentes com o trabalho que respeite as relações etnicorraciais. Demonstram uma percepção SD29: Maria – Já tem a questão do negro inserido e tal, mas acho que isso ainda vai passar por muito tempo pra ficar como se deve ser. ampliada quando compreendem que o preconceito, na maioria das vezes, não aparece explicitamente, numa situação de preconceito flagrante, reconhecendo a principal arma de perpetuação do racismo atual, o A desconsideração dos critérios relativos às relações etnicorraciais no processo de escolha do livro didático e a afirmação constante por parte das professoras sobre a importância desses critérios nesse processo, silenciamento/invisibilidade. Por outro lado, mesmo apresentando o conhecimento de tais problemas em relação ao preconceito, à levou a um questionamento pertinente: Qual a razão de desconsiderarem esses critérios na exclusão dos livros discriminação e ao racismo, esse critério não foi lembrado no momento da escolha do livro didático. Segundo didáticos do processo de escolha? A partir desse questionamento, apontei se a formação e/a falta de informação Cavalleiro (2005), todos/as os/as profissionais da educação que favorecem consciente ou inconscientemente a eram fatores que influenciavam nesse quesito. manutenção, a indução ou a propagação de racismo, preconceitos e discriminação raciais no espaço escolar SD30: Ana – Mais ou menos por ai, pela falta de formação. SD31: Solange – Acredito que sim, pela falta e informação e formação. devem ser questionados e se autoquestionar quanto ao exercício de sua profissão de educador/a. É sabido que o/a professor/a deve utilizar uma diversidade de recursos e fontes no seu trabalho em sala de aula, entretanto, essa prerrogativa serve como pretexto em diversos enunciados para não exigirem a devida SD32: Margarida – Se fala, se fala, mas na prática... adequação do livro didático no tratamento das relações etnicorraciais no processo de escolha do livro didático. As docentes assumem a necessidade de cobrarem que os livros apresentem e, com mais abrangência, as discussões a respeito das questões raciais SD26: Luzia – Porque talvez a culpa seja nossa de não cobrarmos, mas também os livros mais atraentes, mais...estão no de português e matemática, porque os textos de história e geografia são maiores. Além disso, as professoras acreditam que os conteúdos referentes às relações etnicorraciais são próprios das disciplinas de história e geografia e justificam que não se atêm ao critério sobre a abordagem das relações etnicorraciais porque estão focadas nos livros de língua portuguesa e matemática, sendo estes os mais SD33: Maria – Quando eu disse na primeira pergunta sobre a gente trabalhar mais, a gente mesmo não tem aquela...uma formação suficiente para estar levando em consideração todos esses critérios que têm que ser levados, por isso que eu disse que o trabalho nunca foi um trabalho específico, mais por esse lado aí, apesar que eu acho muito desleixo também, porque aqueles seminários todos que já teve aí, que tratavam dessa lei. SD34: Ana – Esse ano não teve. Eu não vou mais. SD35: Maria – Esse ano não teve, mas a gente já participou. Não traziam muita coisa, sabe por quê?[...] Porque, quando se fala negro, todo mundo só fala daquele cabelão e o povo quer botar aqueles tererê, aquele...parece que negro é só isso, é vendedor de acarajé, é lutador de capoeira, parece que é só isso. Aí você vai, você chega lá e diz, ah isso aí eu já sei, toda vez que tem esse negócio é isso mesmo e acabou. importantes para os alunos, demonstrando, assim, o desconhecimento de que essa abordagem deve acontecer SD36: Luzia – Mas que não traziam muita coisa não. E no seminário que a gente vai eles na verdade eles focam mais essa parte, momento cultural é o maculelê, lá no momento cultural com negros, bota maculelê, bota capoeira, até o grupo Encantarte, a gente já sabe que vai ter o grupo Encantarte. em todas as áreas do currículo. SD27: Luzia – Justamente, porque que a gente se atém a português e a matemática. Porque temos que escolher a coleção toda, então, a gente vai para o que a gente vai... vai interferir mais na vida da criança que é português e matemática nesse sentido, porque as outras fontes a gente busca em outros lugares. Ao longo dessas sequências discursivas, as professoras apontaram a falta de formação voltada para a educação das relações etnicorraciais como um fator condicionante para não serem abordados os critérios raciais Ressaltam, ainda, que os livros de geografia e de história ainda deixam a desejar nesse quesito, mesmo no processo de escolha, uma vez que foi perceptível, nas sequências analisadas anteriormente, que a maioria afirmando que apresentam o tema, mas que ainda estão longe do ideal. Quando as professoras necessitam delas não tinha conhecimento de que deveriam considerá-los, já que eles nunca foram contabilizados nos trabalhar com o tema, recorrem aos livros de história e geografia, além dos paradidáticos distribuídos pelo processos de escolha das instituições antecedentes. MEC. Entretanto, uma professora na SD33 destaca que, mesmo não tendo uma formação continuada apropriada, também falta empenho por parte das docentes, pois já tiveram várias formações desde o 34 35 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. sancionamento da lei. Apenas duas professoras, como já destacadas anteriormente, consideraram esses critérios, ser escolhido pela escola. portanto, não foi uma questão levantada e avaliada coletivamente. Segundo Munanga (2005), os processos formativos de professores/as que não tiveram em sua base de (IN) CONCLUSÕES formação a história da África, a cultura do/a negro/a no Brasil e a própria história do/a negro/a, de um modo Ao longo das análises das regularidades discursivas apresentadas, foi possível visualizar contradições geral, constituem-se um problema crucial das novas leis que implementaram o ensino da disciplina nas escolas. entre a consciência do desenvolvimento de um trabalho voltado para as relações etnicorraciais e o próprio E isso não simplesmente por causa da falta de conhecimento teórico, mas, principalmente, porque o estudo preconceito explicitado e assumido. Isso nos leva a inferir que as professoras se encontram em estágio de dessa temática implica no enfrentamento e derrubada do mito da democracia racial que paira sobre o imaginário transição, buscando construir um novo habitus a partir da consciência de que não podem reproduzir e legitimar da grande maioria dos/as professores/as. posicionamentos que marginalizam e excluem, diariamente, alunos/as negros/as nos espaços escolares. Nas construções enunciativas das professoras, percebo a recusa e o desânimo em participar de novas Em outras palavras, as construções discursivas abordadas deixam evidentes preconceitos raciais e formações, devido ao viés estereotipado reducionista das formações oferecidas, sempre apresentando a mesma consensualidades com as condições objetivas que lhes são estabelecidas. Ainda assim, percebo essas docentes perspectiva da cultura negra e da participação do negro na sociedade, ocasionando o despreparo das educadoras numa condição de agentes que não são meros reprodutores de representações e sim agentes ativos na construção e trazendo prejuízos ao trabalho pedagógico. de objetos mentais, na medida em que estão em processo de construção de um novo habitus, pois percebem a Ainda no âmbito das dificuldades, questionei sobre o receio encontrado em responder as questões sobre as relações etnicorraciais. necessidade do trabalho para a educação das relações etnicorraciais, compreendem a importância desse critério no processo de escolha do livro didático, ao tempo em que não os consideram no momento da escolha. Dessa forma, os conflitos são evidentes em seus discursos e anunciam esse estágio de transição. SD37: Ana – Eu nem respondi. A introdução do debate sobre relações etnicorraciais na escola retira essas professoras do conforto da reprodução de discursos racistas, pois as deixam em estágio conflitante, fazendo emergir enunciados que ora SD38: Margarida – Falta de conhecimento da lei. corroboram com o preconceito e ora o combatem. Considerar essa assertiva significa visualizar faíscas de SD39: Solange – Insegurança. transformação, trazendo ao debate a ideia de que o individual é político e que influencia nas estruturas objetivas SD40: Maria – É aquela questão que eu disse antes também, a lei está aí, a lei existe, a gente conhece, a gente busca ter informações, mas ela não é divulgada, quem quiser que busque o seu conhecimento, que vá ler, que vá atrás, que não sei o que...tem os seminários e tudo, mas ainda não está tão voltado para esse contexto, está mais voltado para aquelas questões que a gente já falou que repete, que repete, que repete... SD41: Luzia – Por isso nós temos, eu falo no meu caso, eu acho que, quando a gente vai pra o seminário que vai falar dessas questões, eles não abordam assim como muita abrangência, não vai fundo no assunto pra gente...tipo, depois de sair dessa conversa com você, deste questionário, já tem uma outra visão, porque já foram esclarecidos alguns pontos, mas as palestras que a gente teve, a gente chega lá é uma baiana na porta, a gente foi fazer um curso em Ilhéus que pagamos caríssimo e que foi uma porcaria. Sobre esse questionamento, as respostas das professoras seguiram o mesmo caminho dos motivos que as levaram a não considerar os critérios sobre as relações etnicorraciais no processo de escolha do livro didático e, dessa forma, alegaram: /Falta de conhecimento da lei/, /ela não é divulgada/ /não abordam assim como muita abrangência/. Dito de outro modo, a falta de formação específica continua sendo apontada pelas professoras como o fator principal das dificuldades enfrentadas em relação a essas questões, sendo visível a insegurança ao tratar das relações etnicorraciais nos discursos. Vale lembrar, ainda, que, segundo as professoras, elas não receberam qualquer indicação do MEC ou da e vice-versa e, se não fosse dessa forma, as professoras aqui pesquisadas não fariam parte dessa investigação e o Estado não buscaria suas participações para legitimar a política nacional do livro didático. REFERÊNCIAS BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 8. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. CAVALLEIRO, Eliane. Introdução. In: BRASIL. Educação anti-racista: caminhos abertos pela Lei Federal nº 10.639/03 / Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. ___________. Racismo e anti-racismo na educação: repensando nossa escola. São Paulo: Sumus, 2001. BRASIL, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, 2004. Disponível em:<http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/cnecp_003.pdf>> Acesso em: 4 dez. 2012. MAINGUENEAU, Dominique. Novas tendências da análise do discurso. Pontes: Editora da Universidade Estadual de Campinas- SP, 3. ed., 1997. MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus identidade negra. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. __________. Apresentação. In: Superando o racismo na escola. 2. ed. revisada/KabengeleMunanga, organizador [Brasília]: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. Secretaria de Educação para que a escolha de livros contemple a lei 10.639/03, apenas que o livro didático deve 36 37 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. PRÉ-UNIVERSITÁRIOS PARA AFRODESCENDENTES: UM ESTUDO SOBRE AS “MANEIRAS DE FAZER” DE PROFESSORES VOLUNTÁRIOS Assim, começaram as atividades do PREAFRO, que seguiu na base da resistência e decidimos seguir como no início com o trabalho voluntário, inclusive com professores que foram estudantes aprovados na época do PRUNE, que já retornavam para colaborar com o acesso de outros (Egnaldo França, Entrevista Narrativa, 2013). Maria Rita Santos6 Essa narrativa traz dois elementos significativos, quais sejam: o retorno de ex-estudantes para contribuir Neste artigo, há um recorte da dissertação de mestrado intitulada “Quantos além de mim”? Narrativas voluntariamente com o acesso de outros e a noção de resistência8, como um instrumento de luta contra a das experiências de acesso à universidade de educadores negros do PREAFRO em Itabuna-Bahia exclusão racial. Para tornar possível a execução das suas “táticas”, o PREAFRO conta com algumas parcerias, (Santos, 2014) vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Feira de uma vez que, não possui espaço físico próprio, nem equipamentos de informática, Data show etc. Concernente, Santana/UEFS. Propomos investigar as narrativas das experiências de acesso à universidade de educadores ao espaço para o funcionamento dos dois núcleos as parcerias são com a direção de duas escolas municipais: negros do Pré-universitário para Afrodescendentes (PREAFRO) em Itabuna-Bahia, entre os anos de 2005 a Escola Municipal Dom Ceslau Stanula no bairro Pedro Jerônimo, e o outro na Escola Ubaldo Dantas, no bairro 2011, com o objetivo compreender os processos de construção da identidade racial e suas implicações com as da Califórnia que disponibilizam duas salas no turno noturno, possibilitando as aulas diárias e as atividades nos experiências de acesso à universidade. finais de semana. Essa parceria com as escolas é o único vínculo do cursinho com o poder público. Metodologicamente, esta pesquisa se pautou na realização de entrevistas narrativas com quatro O corpo docente é formado por 24 professores voluntários, sendo 12 por núcleo, e parceiros do projeto, educadores que estudaram no PREAFRO, igualmente moradores das localidades onde funciona o cursinho, alguns desses ex-estudantes do PREAFRO que ingressaram na universidade e retornam como professores, ao quais sejam bairros: Fonseca, Maria Pinheiro e Califórnia. Dois são estudantes do curso de Economia da mesmo tempo em que estudam nos cursos de graduação da UESC. Por se tratar de uma ação com caráter Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC); um do curso de História/UESC e uma do Programa de pós- voluntário, nenhum dos colaboradores possui vínculo funcional ou empregatício, a distribuição das aulas se dá graduação em História da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Todos foram estudantes do PREAFRO a partir da disponibilidade dos professores em ministrá-las com horários duplos no período noturno, uma vez aprovados (as) nos processos seletivos da UESC, respectivamente, em 2006, 2007 e 2008 e retornaram como por semana, durante os meses de março a dezembro, compondo dez meses de atividades distribuídas nos seis educadores (as) voluntários (as), para colaborar com o acesso de outros estudantes do cursinho. dias da semana, das 19 às 22 horas, totalizando três horas diárias. Na tentativa de compreender essas experiências, neste artigo, apresentamos: a organização, os O caráter voluntário dessa iniciativa exige um esforço por parte da coordenação do curso, dos objetivos, o público alvo e as “maneiras de fazer” do PREAFRO considerando alguns objetivos: promover o professores e também dos estudantes, no sentido de manter o quadro de professores ao longo do ano e garantir acesso à universidade da população negra; manter discussões sobre cidadania, discriminação racial e exclusão; que as aulas aconteçam. Compreendemos, que a falta de recursos gera a maior dificuldade enfrentada pelo incentivar leituras para reinterpretar os conhecimentos sobre a História do Negro no Brasil, com enfoque na cursinho: a falta de professores. Por tratar-se de uma atividade voluntária, muitas vezes esbarra na necessidade História Regional e possibilitar aos estudantes outros olhares sobre as questões negras. desse profissional ingressar no mercado de trabalho, e assim não ter condição de conciliar as aulas no A partir de 2005, o PREAFRO uma iniciativa do Grupo Encantarte7, se organiza em caráter voluntário, PREAFRO, com os seus horários remunerados. formato que permanece atualmente, para promover o acesso de estudantes negros a universidade. Egnaldo, um dos idealizadores desse grupo narra o início das atividades do cursinho: Vale enfatizar, que a ausência de políticas públicas, sobretudo no sul da Bahia, voltadas para o públicoalvo das ações do PREAFRO leva o cursinho a tentar diminuir as lacunas educacionais e assim assumir parte da responsabilidade que caberia ao poder público. Nesse sentido, organizar táticas de resistência possibilita Entramos em contato com outros militantes de movimentos populares, com a proposta de retornar ao formato inicial, com caráter voluntário, sem nenhuma parceria com o poder público. Dessa vez vieram outros movimentos, como o grupo Ação negra, o Grupo Quilombo, a Conlutas, então, decidimos criar um novo Préuniversitário, fizemos uma reunião, buscamos as lideranças, procuramos os professores e as escolas que pudessem ceder o espaço para a realização das aulas. Fizemos o trabalho de divulgação, reuniões com os primeiros estudantes e criamos o primeiro núcleo no Maria Pinheiro. No ano seguinte um grupo do bairro Califórnia se organizou e nos procurou dizendo ‘somos um grupo de estudantes e precisamos de professores. caminhos ainda inéditos para os estudantes da comunidade, bem como não permite que os representantes pela gestão pública se acomodem, enquanto esse grupo assume todas as consequências da negação de direitos, principalmente no que tange ao acesso ao sistema educacional. Não obstante essas dificuldades, o PREAFRO matrícula no início de cada ano 120 estudantes. Os interessados fazem a inscrição presencial, por meio do preenchimento de uma ficha-diagnóstico, onde são respondidas algumas questões. Baseados nessas informações disponibilizadas para esta pesquisa, traçamos um 6 Mestra em Educação pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS);graduada (UESC).email:[email protected] 7 Grupo Encantarte, um movimento de resistência negra que idealizou e organizou o PREAFRO em Itabuna-Bahia. em Filosofia 8 38 Movimentos de luta contra os processos de exclusão racial, nesse caso, do acesso ao ensino superior. 39 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. perfil desses estudantes, a saber: a maioria deles se autodeclaram negros9, são mulheres, com renda familiar em experiência”, aquele que pode ser transformado no transcurso do tempo, mas também rejeita, subverte, torno de um salário mínimo 10 e que terminaram o ensino médio há mais de cinco anos, e a escolaridade da maioria dos pais se restringe ao ensino fundamental. Inclusive, uma característica comum entre eles é o fato de a maioria serem os primeiros de toda a sua geração familiar a tentar ingressar numa universidade. Esse transforma e modifica os acontecimentos, sem deixá-los. Nesse caso, permanecem outros, dentro da universidade que também é transformada por eles, num movimento de ida e volta. Nessa perspectiva, as outras “maneiras de fazer” têm alcançado um dos objetivos do cursinho, tanto que ineditismo aparece no conjunto das narrativas dos protagonistas, destacado nesses excertos: na Pesquisa de Amostragem Étnico-racial realizada junto aos estudantes da UESC, envolvendo a frequência ou A minha maior angústia é saber que meu irmão e eu somos os primeiros e ainda os únicos da nossa família (Adriana Silva, Entrevista Narrativa, 2013). não de cursinhos, revelou que a necessidade do “cursinho se faz presente, com altos percentuais, mesmo nos Eu desconheço outra pessoa além de mim que tenha conseguido entrar na universidade, da minha família eu sou o único dos meus irmãos (Egnaldo França, Entrevista Narrativa, 2013). cursos de menor prestígio social, com porcentagens ora muito próximas, ora superiores a 50%”. Interpretamos essa necessidade como sendo um dos elementos que geram inquietações, sobretudo nos movimentos de resistência negra, entre os quais está inserido o PREAFRO, levando-o a organizar ações para promover o acesso a esses cursos. E essa pesquisa feita na UESC revelou que os cursinhos têm conseguido: Tanto que da minha família eu fui o primeiro a entrar na UESC (Gilvan Nascimento, Entrevista Narrativa, 2013). Somos, minha irmã e eu, os primeiros de todas as gerações da nossa família, e talvez por algum tempo, seremos os únicos a ingressar na universidade (Wilton Macedo, Entrevista Narrativa, 2013). Compreendemos esses fragmentos como indícios importantes, que apontam que os meios necessários fazer com que os jovens das camadas menos privilegiadas consigam ter acesso à universidade pública. Importante observar que na categoria daqueles que fizeram o cursinho “popular” ocorre porcentagem em todos os cursos do conjunto e em alguns casos elas são muito significativas, como na Química (30,3%), nas Físicas (licenciatura 25,0% e bacharelado 15,4%), Economia (21,1%), Letras (22,3%) e Ciências Biológicas (16,3%). Ocorrem também na Matemática, no Direito e na Administração, em porcentagens em torno de 11%. Nos demais cursos do conjunto aparecem em percentuais pequenos, com exceção da Medicina, explicado pela grande competição que marca o vestibular do curso (FIAMINGUE, et.al.2007, p.43). para promover o acesso ainda não estão disponíveis para esse grupo. Então, ainda “há uma diferença” interpretada socialmente como inferioridade e transformada em desigualdade, que talvez explique os motivos que impedem e/ou retardam os estudantes dessa localidade, de concluírem o ensino fundamental e/ou médio, demonstrando desigualdades educacionais acumuladas,revelando a produção da “não existência”, com o Competição essa que pré-seleciona os candidatos a tais cursos, assim, os movimentos populares tecem “ações reais” para tentar diminuir “o fosso entre estudantes negros e oriundos do sistema público de ensino e os estudantes oriundos do sistema privado” (Santos, 2005, p.14). Sobre essas ações reais, os escritos de Oliveira (2005, p. 44) trazem algumas pistas: Michel de Certeau estuda essa produção cotidiana de saberes e de formas propósito de tornar a diferença insuperável (SOUSA SANTOS, 2004). Nesse caso, associamos a ausência desse grupo do ensino superior a um processo hierárquico tido como de sobrevivência dos grupos sociais subalternizados buscando evidenciar os processos pelos quais os ‘participantes da vida cotidiana’ burlam e usam de modo ‘não-autorizado’ as regras e produtos que os natural, onde uma minoria pode ser considerada aprovada para essa modalidade de ensino. Apreendemos que as “táticas” de resistências organizadas pelo PREAFRO confrontam essa lógica ao transformar as suas experiências ditas como ausentes em presenças possíveis. Tanto que os protagonistas desta pesquisa, junto com outros 32 estudantes, conseguiram contornar essas barreiras e ingressaram na universidade no período entre 2006 e 201111 - 36 estudantes, sendo 22 mulheres, 14 homens, nos diversos cursos de graduação, assim distribuídos: 14 nos cursos de bacharelado e 22 nos de licenciatura, entre os quais, dois foram selecionados a partir da avaliação do ENEM, como bolsistas do Programa Universidade para Todos (PROUNI) poderosos lhes impõem. É com esses grupos subalternizados que vamos identificar nossos educadores e educadoras que estão sendo criticados e desvalorizados, tanto pela maior parte dos acadêmicos e pesquisadores quanto pelas chamadas autoridades educacionais’. Criando ‘maneiras de fazer’ (caminhar, ler, produzir, falar), ‘maneiras de utilizar’, tecendo redes de ações reais, que não são e não poderiam ser meras repetições de uma ordem social/de uma proposta curricular. Os educadores e educadoras tecem redes de práticas pedagógicas que, através de ‘usos e táticas’ de participantes que são, inserem, na estrutura social/curricular, criatividade e pluralidade, para os cursos de Pedagogia e Engenharia Ambiental na Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC)-Itabuna. modificadores das regras e as relações entre o poder instituído e a vida dos que a ele estão, supostamente, submetidos. As “Maneiras de fazer” do PREAFRO A partir de Certeau (2004) e Larrosa (2011), consideramos que a tática é a arte do “sujeito da Nessa perspectiva, propomos compreender o diferencial das “maneiras de fazer” do PREAFRO ou as “táticas” de resistências organizadas para rejeitar, transformar e modificar os “acontecimentos exteriores”, para Utilizamos o termo, conforme o IBGE, englobando pretos e pardos, na categoria, negros. 10 Valor atual do Salário Mínimo no Brasil: R$ 724,00 a partir de 01.01.2014 11 Escolhemos esse período em virtude das ações do PREAFRO terem se iniciado nesse formato, em 2005, e os estudantes terem participado do vestibular em 2006. que os estudantes continuem outros. Do ponto de vista do “sujeito da experiência” que também pode ser 40 41 9 transformado, ao perceber outras abordagens para as “muitas formas de conhecimento” e a possibilidade de ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. aspirar “à construção de uma nova subjectividade. Não basta criar um novo conhecimento, é preciso que uma cidade, uma instituição científica, podendo ser isolado. Mas, reconhece-se nessas “estratégias” um tipo alguém se reconheça nele. De nada valerá inventar alternativas de realização pessoal e coletiva se elas não são específico de saber, aquele que sustenta e determina o poder de conquistar para si um lugar. apropriáveis por aqueles que as destinam” (SOUSA SANTOS, 2011, p.333). Enquanto que tática não tem por lugar senão o outro, aproveita as “ocasiões” e depende delas, não Para discutir as táticas concernentes “a abordagem diferenciada para os conhecimentos específicos”, possui base para estocar benefícios e prever saídas, por isso não conserva aquilo que ganha. Este não lugar, sem tomamos como referência as narrativas das experiências dos protagonistas desta pesquisa buscando interagir dúvida, lhe permite mobilidade, mas numa sujeição aos azares do tempo, para captar no voo as possibilidades com a perspectiva de Larrosa (2011, p.15), que pensa “a experiência desde um ponto de vista da formação e da oferecidas por um instante. Tem que utilizar, vigilante, as falhas que as conjunturas particulares vão abrindo na transformação”, enfatizando a dimensão subjetividade, que envolve os princípios da subjetividade, da vigilância do poder proprietário. Aí vai caçar. Cria ali surpresas. Consegue estar onde ninguém espera. É reflexividade e da transformação. Então, abordamos essa experiência do ponto de vista de quem a vivenciou, ou astúcia. Em suma, a tática é a arte do fraco [...] é movimento “dentro do campo de visão do inimigo”, e no seja, do “sujeito da experiência”. Sobre esse diferencial, Egnaldo constrói esse excerto: espaço por ele controlado, assim o sujeito fraco joga com as forças do outro, mas não o manipula (DE A proposta é reconstruir a forma como eles percebem a si e a sua comunidade. O trabalho feito no cursinho incorpora as aulas de Estudos Afros, Atualidades, História Regional, é uma abordagem diferenciada para os conteúdos específicos exigidos pelas provas do vestibular, buscando discutir a realidade local a partir dos próprios estudantes (Egnaldo França, Entrevista Narrativa, 2013). CERTEAU, 2004, p.102). Em se tratando do PREAFRO, essas táticas são engendradas como dito por De Certeau (2004), num cotidiano marcado pelas relações de poder entre os fortes e os fracos, nominados por ele de usuários ou consumidores. Nesse caso, não somente de bens materiais, mas também de bens culturais, regras e imposições Egnaldo evoca um elemento revelador para o exercício de apreender sobre o acesso desse grupo: o das instituições etc. Tal dominação não é aceita de forma passiva, mas pode ser modificada pelas “táticas” dos diferencial do cursinho se encontra na abordagem dada aos “conhecimentos específicos”. Considerando não praticantes do cotidiano. Portanto, os consumidores/usuários não são apenas receptores inertes dos apenas o que os estudantes sabem, do ponto de vista do exigido pelas provas do vestibular, mas, sobretudo, o bens/produtos a eles destinados, pois podem utilizar de modo diferente os bens produzidos para dado fim. que eles são ou podem vir a ser. Trata-se de uma perspectiva da ordem do estranhamento das condições vividas Nesse sentido, os produtores de bens e produtos fazem uso das "estratégias", ao passo que os até ali e inquietar-se frente ao acúmulo de desvantagens a que estão submetidos, revelado pela ausência de consumidores/usuários, das "táticas"12 . direitos básicos, como: escola, saúde e esporte etc. ou “a partir do mais profundo de si, buscar a inteligibilidade No que diz respeito as “táticas” cotidianas que possibilitam movimentar-se nos espaços controlados pelo “inimigo”, o PREAFRO organiza uma composição curricular buscando romper com a visão que transforma do mais amplo e também mais profundo da vida coletiva” (SOUSA SANTOS, 2011, p.334). Esse olhar para si ajuda a desvelar os mecanismos das desigualdades impostas na comunidade e aponta diferenças em desigualdades e produz ausências tratadas como naturais. Trata-se de outros modos de atender os como viável o até então considerado impossível, dando início a inconformismos, inquietações e resistências, conteúdos exigidos para o vestibular da UESC (matemática, física, química, biologia, história, geografia, que fortalecem os estudantes para o enfrentamento do processo seletivo para ingressar na universidade. Assim, literatura, redação, língua portuguesa, língua estrangeira) e para as provas do Enem, distribuídas nas áreas de pensar os temas a serem discutidos “como algo que tem a ver com aquilo que nos faz ser o que somos e nos exatas, humanas, biológicas, linguagens, e passa a incluir também Atualidades, História Regional e Estudos constitui ou nos põe em questão naquilo que somos” (LARROSA, 2011, p.9). Afros, envolvendo a história dos negros na sociedade brasileira, com enfoque nas questões locais. Trata-se de uma proposta de resistência que supõe “cancelar essa fronteira entre o que sabemos e o que Consideramos que essa é uma proposta para: somos, entre o que passa (e o que podemos conhecer) e o que nos passa (como algo a que devemos atribuir um sentido em relação com nós mesmos” (Idem, p.10). Não significa, portanto, ensinar técnicas/modos de Revalorizar os conhecimentos e as práticas não hegemônicas que são afinal a esmagadora maioria das práticas de apropriação desses conhecimentos, mas de modificar as “maneiras de fazer”, inserindo práticas cotidianas que vida e de conhecimento. [...] Propõe que aprendamos com o Sul, sendo neste caso o Sul uma metáfora para deem abertura ao estudante para questionar as formas como a sociedade, da qual a educação escolar faz parte e oprimidas, marginalizadas, subordinadas não tem qualquer objetivo museológico. Pelo contrário, é crucial ainda está organizada, legitimando alguns conhecimentos em detrimento de outros, numa perspectiva de certo e conhecer o Sul para conhecer o Sul em seus próprios termos, mas também para conhecer o Norte. É nas margens designar os oprimidos pelas diferentes formas de poder. [...] Esta opção pelos conhecimentos e práticas que se faz o centro (SOUSA SANTOS, 2011, p.329). errado, periferia e centro, belo e feio, alto e baixo prestígio. De Certeau (2004, p.100) apresenta uma discussão para compreender as práticas cotidianas, envolvendo estratégias e táticas. A estratégia é conceituada, como o cálculo ou a manipulação de relações de força que se torna possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder, quer seja uma empresa, um exército, 42 12 Certeau em sua pesquisa pretende “exumar os modelos de ação característicos dos usuários, dos quais se esconde, sob o pudico nome de consumidores, o estatuto de dominados (o que não quer dizer, passivos ou dóceis)” (p. 38). O cotidiano se inventa de mil maneiras de caça não autorizadas. 43 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. Para integrar as diversas áreas, os assuntos são coletivamente13 planejados e organizados por temas semanais, que devem ser tratados em todas as áreas. Assim, a diversidade aparece como um eixo que norteia essa experiência curricular, não se tratando apenas de transversalidade dos conhecimentos14. Nesse sentido, adota-se a noção de que a diversidade decorre de um processo histórico e discursivo de construção da diferença, por meio de um vínculo entre conhecimento, identidade e poder que os temas envolvendo raça e etnia ganham espaço na teoria curricular (Silva, 2012). Assim, podem emergir outras formas de enfrentamento das práticas discriminatórias que implica na mudança de olhar sobre si e o outro, resgatando: [...]. Daí a necessidade e importância de ensinar a história da África e a história do negro no Brasil a partir de novas abordagens e posturas epistemológicas, rompendo com a visão depreciativa do negro. Desconstruir uma memória negativa para reconstruir uma positiva, esse é o objetivo desse componente do currículo para atender tanto às exigências do processo seletivo da UESC, já que entre os conteúdos abordados estão as questões regionais, como um dos objetivos do cursinho, pois possibilita aos estudantes interpretar o conhecimento, a partir de uma perspectiva positiva do negro. Essas aulas de campo são planejadas por Egnaldo, estudante do último semestre do curso de A memória coletiva e da história da comunidade negra não interessa apenas aos alunos de ascendência negra. História/UESC e vice-coordenador do PREAFRO e professor responsável por essa disciplina, com a Interessa também aos alunos de outras ascendências étnicas, principalmente branca, pois ao receber uma educação envenenada pelos preconceitos, eles também tiveram suas estruturas psíquicas afetadas. Além disso, participação de professores convidados, na maioria das vezes, ex-estudantes do cursinho ou professores do essa memória não pertence somente aos negros. Ela pertence a todos, tendo em vista que os segmentos étnicos Curso de História da UESC que atuam nessas aulas como colaboradores. Egnaldo, em sua narrativa, diz que: “A que, apesar das condições desiguais nas quais se desenvolvem, contribuíram cada um de seu modo na formação da riqueza econômica e social e da identidade nacional (MUNANGA, 2012, p. 12). maioria dos estudantes não conhece a história dessa população escravizada, eles ficam surpresos, quando percebem que aqueles escravos sabiam ler e escreveram uma carta de reivindicações”. Uma educação preconceituosa contamina a formação e fomenta injustiça racial, especialmente de Sobre tais distorções, Schwartz (2001) critica: durante longo tempo, a historiografia brasileira se grupos submetidos à discriminação. Decorre daí, o PREAFRO adotar uma proposta que possibilita o acostumou a ver o escravo, sobretudo, como um objeto de seus atos e vontades, de seus impulsos e desejos e, enfrentamento de preconceitos, formulação de questionamentos e desconstrução da ideia que entende “o legado por fim, objeto da própria disciplina que o privilegiava enquanto tema de reflexão. Esse novo olhar sobre a africano como saberes do mal, saberes de culturas atrasadas e pré-lógicas, repercutindo nos currículos escolares História Regional desmistifica algumas ideias, permitindo outras perspectivas sobre o passado da população com uma carga preconceituosa que gera as discriminações” (Santana, 2006, p.39). Nesse sentido, empregar negra, especialmente nessa região, onde uma quantidade expressiva de trabalhadores escravos manteve o formas de resistência, para estreitar a distância entre a comunidade e a universidade, tentando modificar uma cultivo e a produtividade do cacau em ritmo acelerado (Cruz, 2011). Trata-se, portanto, de uma experiência de realidade imposta e pode levar o sujeito ao lugar de protagonista (SOUSA Santos, 2010). Dito aqui, como releituras do passado para possibilitar aos indivíduos perceberem-se no mundo, por meio de suas leituras, como aqueles que conquistam algo novo com relevância social para o seu grupo, esse é o caso do primeiro morador atuantes da história, e não meros expectadores. dessa comunidade aprovado no processo seletivo da universidade pública, posto que o seu protagonismo Do ponto de vista da experiência, defendida por Larrosa (2002), o texto funciona como um acontecimento, quer dizer o que importa “não é qual o livro, mas o que nos passa com sua leitura” (p.6). Assim, fortaleceu a autoestima do grupo. Trata-se, portanto, de uma abordagem curricular visando reconstruir uma história positiva sobre a cabe ao leitor colocar-se no que lê, relacionando o texto com a sua subjetividade, caso contrário, pode “identidade coletiva Negra” e, para tanto, entre os conteúdos de História Regional estão algumas aulas de compreender e responder perguntas sobre o texto, mas num movimento “só de ida”, sem abertura para reflexão. campo realizadas na região, como por exemplo, numa localidade no município de Ilhéus, denominada Se nessa leitura não houver subjetividade, reflexividade, tampouco haverá transformação, porque se limitou “Engenho de Santana”, onde aconteceu uma das principais Revoltas de Escravos (1789-1791), insatisfeitos com apenas à compreensão do texto. Interessa, sobretudo, como a leitura pode ajudar a formar, de-formar ou 15 o tratamento que recebiam . Esse engenho foi considerado um centro econômico da Capitania durante séculos, transformar a linguagem, o pensamento do leitor, levando-o a falar, a escrever e a pensar por si mesmo, com um modelo para os fazendeiros da região sul da Bahia. Sobre essa reconstrução da história, Munanga (2012, suas próprias ideias. Entendemos que para relacionar o texto com a sua subjetividade, um dos aspectos fundamentais é o p.10) diz que: A identidade vista do ponto de vista da comunidade negra através do seu movimento social e de suas entidades políticas. O primeiro fator constitutivo desta identidade é a história. No entanto, essa história, mal a conhecemos, pois ela foi contada do ponto de vista do “outro”, de maneira depreciativa e negativa. O essencial é reencontrar o fio condutor da verdadeira história do Negro que o liga à África sem distorções e falsificações leitor reconhecer-se no texto. Em outras palavras, a leitura deve ser o lugar do encontro com as inquietações, com o desconhecido, com a sua história e exige proximidade entre o texto e a subjetividade. Caso contrário, não resulta em formação, porque a leitura não afetou o leitor. Essa perspectiva ajuda a compreender o que faz efeito nas “maneiras de fazer” do PREAFRO, ao propor também reconstruir a percepção que os estudantes “têm de si 13 Os professores e a coordenação se reúnem uma vez por mês para organizar o planejamento dos trabalhos para o período de 30 dias. Transversalidade, conforme considerada nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997). 15 Para ampliar os conhecimentos, consultar REIS, João José e SILVA, Eduardo. Negociações e Conflito; a resistência negra no Brasil escravista. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, que propõe uma nova abordagem sobre escravidão negra no Brasil, resgatando as conquistas daqueles que, ao contrário do que até hoje se supôs, resistiam a tornarem-se apenas engrenagens do sistema que os escravizara. 14 44 e da comunidade”, a “partir do mais profundo de si”. Ao abordar os conteúdos a partir das inquietações dos próprios estudantes, eles se reconhecem nas 45 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. questões locais indo ao encontro do texto, num processo que o leitor não só adquire um novo conhecimento. formar e transformar. Não queremos dizer com isso que se trata de uma perspectiva fácil e comum a todos, até Dito de outro modo, não se trata de saber algo que não sabia antes, mas de ter sido transformado pela leitura, porque, do ponto de vista que assumo neste texto, a experiência não é a mesma em todas as ocorrências, por posto que os assuntos não estão distantes deles. Assim, textos e subjetividades estão próximos, ou “a leitura isso irrepetível. Entretanto, não equivale a um acontecimento da ordem do impossível, do esmorecimento, mas como formação, seria tentar pensar essa misteriosa atividade que é a leitura como algo que tem a ver com da resistência, da abertura, da inquietude, de produzir as condições para tornar viável que esses estudantes aquilo que nos faz ser o que somos” (LARROSA, 2011, p.9). ultrapassem as estratégias organizadas. Trata-se, portanto, de atender às demandas do grupo, rediscutindo, revalorizando para reconhecer a sua Entendemos que essas são experiências vividas por cada um, a partir das singularidades concernentes a história a partir dos seus “próprios termos” e experiências. Esse novo olhar dá abertura ao possível, leva a cada protagonista, mas todas tiveram o cursinho como parte do cenário, que nesse caso, promoveu encontros de recusas, ao inconformismo, a outros “fazeres”, “pensares” e “sentires”, fundamentais para a formação e a estudos com o mesmo propósito: acessar a universidade. transformação, aquela dita por Larrosa (2011, p.10), que, entre outros, supõe “condição reflexiva, volta para dentro, subjetiva, que me implica no que sou, que tem uma dimensão transformadora, que me faz outro do que sou. Por isso [...], eu já não sou o mesmo de antes, já não posso olhar-me impávido no espelho [...] porque algo tem lugar em mim”. Esse tipo de experiência exige uma ação educativa que tenha os educandos no centro, em um movimento de questionar os contextos das suas histórias, colocando-os em dúvida para pensá-los de outros modos. Assim, há uma percepção de que existem temas que foram negados e até então eles eram homens e mulheres que não se sabiam negros; apesar dessa condição ser visível ao olhar do outro, a autoafirmação, o saber-se negro não é um processo fácil. Compreendo como uma construção coletiva da identidade com a participação de todo o grupo com suas singularidades e diferenças. Segundo Munanga (2012, p.10), nesse processo de construção da identidade coletiva negra, faz-se necessário resgatar história, desconstruindo a memória de negativa que se encontra ainda presente em “nosso” imaginário. Desse modo, reconstruir uma verdadeira história positiva capaz de resgatar autoestima destruída por essa abordagem. Daí a necessidade e importância de ensinar a história da África e a história do negro no Brasil a partir de novas abordagens e posturas epistemológicas, rompendo com a visão depreciativa do negro. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES Então, consideramos que o retorno desses estudantes ao PREAFRO está relacionado com essa mudança de percepção, com essa transformação de si que os tornam inconformados e prontos para intervirem para mudar o seu entorno. Intervenção essa, que não pode ser tomada como uma iniciativa para encobrir as lacunas do sistema educacional ainda presentes para esse grupo, sobretudo aquelas que envolvem medidas para atenuar os baixos níveis de escolaridade encontrados nas comunidades onde esse cursinho atua. Partimos desse pressuposto, para dizer que a experiência do retorno significa, sobretudo, recontar a história de outros estudantes de forma diferente, apesar do contexto desfavorável, que ainda mantém a universidade como um espaço para a minoria. REFERÊNCIAS CERTEAU, Michel de, A Invenção do Cotidiano: 1. Artes de Fazer. Rio de Janeiro: Vozes, 2004. CRUZ, R. L. Conflitos e Tensões: Análise do Pós-Abolição no Sul da Bahia, 1880-1910. (Dissertação de Mestrado). UNESP. Franca São Paulo. 2011. FIAMENGUE, E. C.; JOSE, D. W; PEREIRA; ALMEIDA, C. J. A UESC em preto & branco: pesquisa de amostragem étnico-racial. Brasília: MEC/SECAD, 2007. FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de janeiro: Paz e Terra, 2001. LARROSA BONDÍA, Jorge Notas sobre a experiência e o saber de Experiência Trad. de João Wanderley Geraldi UNICAMP Rev. Bras. Educ. [online]. 2002, n.19, pp. 20-28. ISSN 1413-2478. 2002. _____________________. Experiência e alteridade em educação. In: Revista Reflexão e Ação, Santa Cruz do Sul, v.19, n2, p.04-27, jul./dez. 2011. MUNANGA K. Negritude e identidade negra ou afrodescendente: um racismo ao avesso? Revista da ABPN. v. 4, n. 8 jul.–out. 2012. OLIVEIRA, I. de L. Novo sentido da comunicação organizacional, construção de um espaço estratégico. Anais do 26. Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Belo Horizonte - MG, setembro de 2003. São Paulo: Intercom, 2005. [cd-rom] QUEIROZ, D. M. (Org.). O negro na universidade. Salvador: UFBA, 2001. __________________. Desigualdade no ensino superior: cor, status e desempenho. GE: Grupo de Estudos Afro-brasileiros e Educação /n.21. 2004. QUEIROZ, D.M.; SANTOS. J.T. Vestibular com cotas: análise em uma instituição pública federal. In: Revista USP, São Paulo, n.68, p. 58-75, dezembro/fevereiro 2005-2006. SANTANA, M., O legado ancestral africano na diáspora e a formação docente. In: Currículo, relações raciais e cultura afro-brasileira. Salto para o futuro. Ministério da Educação. Brasil.2006. SANTOS, F. G. dos. História e Cultura Afro-Brasileira na Educação Básica: Origens e implicações da Lei 10.639/2003. In: Cadernos do CEAS. N° 225. Salvador: centro de Estudos e Ação Social. 2003. SCHWARTZ, Stuart B. Escravos, Roceiros e Rebeldes. Trad. Jussara Simões. Bauru (SP): Edusc, 2001. SOUSA SANTOS, B. Um discurso sobre as ciências. 3. ed. São Paulo, SP: Cortez Ed., 2005. ______________________. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 13 ed. São Paulo: Cortez. 2010. SILVA, T. T. da. Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais/Tomaz Tadeu da Silva (org.) Stuart Hall, Kathryn Woodward.12 ed. Petropólis, RJ: Vozes, 2012. Nesse sentido, organizar por conta própria ações voltadas para o acesso quer dizer intervir para provocar mudanças para um grupo que, na maioria das vezes, não teve oportunidades de conhecer possibilidades de 46 47 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. DIÁLOGOS ENTRE HISTORIA E CULTURA AFROBRASILEIRA E INDÍGENA E DIDÁTICA NA FORMAÇÃO INICIAL: ALGUMAS REFLEXÕES INICIAIS TEXTOS COMPLETOS - COMUNICAÇÕES ORAIS DO GT 01 “PARA A INFÂNCIA NEGRA, CONSTRUIREMOS UM MUNDO DIFERENTE”: EM QUE A NOÇÃO DE RAÇA PODE CONTRIBUIR PARA COMPREENDERMOS A(S) INFÂNCIA(S) BRASILEIRA(S)? LUCIANA OLIVEIRA CORREIA16 Já se vão doze anos da promulgação da Lei 10.639/2003 que alterou a Lei de Diretrizes de Base da Educação Míghian Danae Ferreira Nunes17 Nacional para incluiu no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira". Cinco anos mais tarde uma nova alteração, pela lei 11.645 de 10 de março de 2008 se incluiu Após a alteração da LBD com a Lei 10.639.03, que trata da obrigatoriedade do ensino da História da no currículo o estudo da historia e cultura indígenas. Iniciar uma discussão sobre Educação e relações étnico- África, da cultura africana e afro-brasileira na educação básica e dos calorosos debates em torno de algumas raciais Historia e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, «via de regra», remonta a estas conquista no âmbito da ações afirmativas por parte do governo federal no início do século 21, notou-se que a discussão em torno da educação brasileira. Entretanto os parâmetros legais é a parte mais visível de todo um processo de lutas no questão da raça (re)apareceu com certa intensidade nas academias brasileiras. Este texto procura estabelecer terreno político e no epistemológico. Durante este tempo o tema ganhou mais visibilidade também na formação uma discussão acerca destes pontos realizando, inicialmente, uma breve incursão sobre a noção de raça aqui inicial de nível superior, no ensino, pesquisa e extensão. Trata-se de uma mobilização bastante considerável que utilizada (MUNANGA, 2003, 2006; GUIMARÃES, 2003; CASHMORE, 2000) a partir de alguns estudos tem tornado um debate publico temáticas como questão racial, etnicidades, políticas afirmativas ou diversidade sobre o tema (TELLES, 2003; D’ADESKY, 2001; MOORE, 2007). A partir destas referências, a intenção é cultural, por muito tempo silenciado na formação inicial. Entretanto as apropriações sobre a temática pouco se acrescentar ao debate educacional e as discussões colocadas pela sociologia da infância as contribuições atém ao diálogo a Didática – ou com as didáticas – apesar de se tratar de uma inter-relação latente e advindas deste campo, compreendendo que as temáticas acima anunciadas interferem no modo como estrategicamente imprescindível na formulação e nas disputas por uma práxis educativa anti-racista, enxergamos os processos educativos e pessoas envolvidas, a saber, as crianças. descolonizadora e que valorize a diversidade como principio educativo. Por exemplo, entre os trabalho aprovados para as quatro ultimas reuniões da ANPED Nacional, principalmente nos GTs “Didática” (GT04); Raça como categoria social e relacional: apontamentos “Formação de professores” (GT08) e “ Educação e Relações Étnico-Raciais” (GT21) é visível a as pesquisas e O uso do termo raça não é um consenso nas ciências sociais, por conta de sua vinculação inferências em que abordam aspectos que elucidam inter-relação se reduz a algumas poucos trabalhos sobre histórica ao campo da biologia. Nesse sentido, faz-se importante recuperar de que modo esta expressão é vista livros didáticos, e das relações entre docentes e discentes oriundos de realidades particulares como neste texto, para entendermos em qual dimensão ela se apresenta para nós, ao estudarmos a(s) infância(s) comunidades de remanescentes de Quilombo. O foco destas primeiras reflexões a modo de ensaio vai dirigido brasileira(s). Segundo Sérgio Guimarães (2003) aos diálogos possíveis entre o campo da Didática e Historia Afro-brasileira e Indígena para a formação de O que é raça? Depende. Realmente depende de se estamos falando em termos científicos ou de se estamos professores no âmbito dos cursos de licenciatura, partindo da perspectiva da desnaturalização dos saberes falando de uma categoria do mundo real. Essa palavra “raça” tem pelo menos dois sentidos analíticos: um reivindicado pela biologia genética e outro pela sociologia [...]. Depois da tragédia da Segunda Guerra, escolares (GOODSON, 1995, FERNANDEZ, 1997 e 2008 e BAQUE, 2008) e consequentes “descolonização assistimos a um esforço de todos os cientistas — biólogos, sociólogos, antropólogos — para sepultar a ideia de dos currículos” (GOMES, 2012); e o trabalho pedagógico como um trabalho intelectual, e o professor como um raça, desautorizando o seu uso como categoria científica. O desejo de todos era apagar tal ideia da face da terra, como primeiro passo para acabar com o racismo (p. 95). “intelectual transformador”(GIROUX, 1997). Ambos os enfoques colocam no ponto de mira a cultura escolar e a sua relação com a sociedade e as demandas educativas dos movimentos de luta pela igualdade racial. Em certa medida, ainda segundo Guimarães, este desejo não se realizou em parte porque o termo raça continuou sendo usado, tanto pela sociologia como pela biologia, para identificar diferentes questões dentro de Palavras chave: História e Cultura Afro-brasileira e Indígena. Didática. Formação de Professores seus estudos específicos. A partir das lutas dos movimentos sociais, o Movimento Negro Unificado então [...] vai reintroduzir a ideia de raça, vai reivindicar a origem africana para identificar os negros. Começa-se a falar de antepassados, de ancestrais, e os negros que não cultivam essa origem africana seriam alienados, pessoas que desconheceriam suas origens, que não saberiam seu valor, que viveriam o mito da democracia racial. Para o MNU, um negro, para ser cidadão, precisa, antes de tudo, reinventar sua raça. A ideia de raça passa a ser parte do discurso corrente [...] se introduz de novo a ideia de raça no discurso sobre a nacionalidade brasileira (p. 103). 16 Professora da Universidade do Estado da Bahia, Campus de Caetité. Doutoranda do Programa Desarrollo Psicológico Apendizaje y Educación: perspectivas contemporáneas, da Universidad de Alcalá. Bolsista do Programa PACDT/UNEB. 48 17 Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo/ FE-USP. 49 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. O termo raça é então visto como uma categoria social e relacional (MUNANGA, 2003; CASHMORE, da África e da cultura africana e afro-brasileira na educação básica, em comunhão com ideais defendidos pelo 2000; MOORE, 2007) e concentra, assim, tensão e disputa, que não se resolvem facilmente encarando-o por movimento negro desde a década de setenta, que já demandava por alterações na legislação desde a esta ou aquela teoria, posto que os efeitos de seu uso encontram-se presentes entre nós, nas desigualdades Constituinte (RODRIGUES, 2005), utiliza-se da noção de raça aqui contextualizada. Segundo texto contido no sociais por quais passam a população negra brasileira. Parece comprovadamente ilusório pressupor que a parecer da Lei, esta visa “oferecer uma resposta, entre outras, na área da educação, à demanda da população extinção do uso do termo acabaria com o racismo, já que ainda hoje sentimos as consequências de um país que afrodescendente, no sentido de […] reconhecimento e valorização de sua história, cultura, identidade” (p. 10). esteve por muito tempo sob a égide da escravização, sendo mesmo possível mensurar o tamanho de tais marcas, Estas políticas de ação afirmativa ou reparação, em seu conjunto, pretendem através de consulta às inúmeras pesquisas publicadas na segunda metade do século vinte sobre a condição desta ressarcir os descendentes de africanos negros, dos danos psicológicos, materiais, sociais, políticos e educacionais população no Brasil e a discrepância entre a qualidade de vida destes e do grupo racial branco (D’ADESKY, sofridos sob o regime escravista, bem como em virtude das políticas explícitas ou tácitas de branqueamento da população, de manutenção de privilégios exclusivos para grupos com poder de governar e de influir na 2001; TELLES, 2003). formulação de políticas, no pós-abolição. (p. 11) Nesse sentido, pensamos ser possível problematizar estas questões referentes à infância, posto que aí também estão presentes as tensões produzidas pelos estudos sobre relações raciais. Percebemos também que foram todas estas reflexões que deram margem a questionamentos sobre a condição racial brasileira e abriram caminho para a implementação de leis, visando atender grupos alijados de determinados processos de participação social, de modo a contemplá-los igualmente em questões relacionadas a acesso e oportunidade. Aqui, deteremo-nos nas legislações produzidas no âmbito educacional, pensando em como elas podem colaborar para compreendermos quem sã as crianças que temos hoje na escola, que também é afetada pelas O racismo pode apresentar-se tanto a partir de práticas do cotidiano (fala, gestos, olhares, “gostos e preferências”) como institucionalizado (currículos, programas, escolha de livros para leitura etc) e dificultar o acesso à criança negra aos espaços educativos e, por conseguinte, dos demais espaços de conhecimento e tomada de decisão em nossa sociedade. É importante assinalar que a formação das professoras de educação infantil deve reservar espaço para uma discussão aprofundada sobre aspectos relacionados a raça em seus currículos, visto que estes são valiosos para o trabalho pedagógico com crianças pequenas. Aprender a olhar para as crianças em suas especificidades e desconstruir a ideia de uma criança “universal” é um dos objetivos desigualdades presentes no cotidiano. que o debate sobre raça pode ajudar a fazer, em consonância com outros debates, a saber, gênero e origem. A importância da educação para as relações étnico-raciais na compreensão das diferentes infâncias Falando de infância e pensando nos espaços educativos destinados às crianças em nossa sociedade, lembramos das creches e das escolas da educação infantil. Em sua história, vemos que as creches foram Em que a mudança da perspectiva educacional altera nossa percepção de infância? Ver as crianças em seus próprios termos, uma das tarefas da sociologia da infância, já é algo bastante inovador em nossos cursos de pedagogia. Ver a criança não como um ser universal, mas dotadas de diferenças, colabora para a compreensão consideradas um da infância que temos. Sendo assim, devemos pensar as crianças como seres constituídos por suas diferenças de recurso para combater a miséria (Rosemberg, 1989; 1997; Kuhlmann Jr., 2000). Campos e Haddad (1992) constatam que as pesquisas sobre creche e pré-escola, entre 1970 e 1990, tratam do desenvolvimento cognitivo e raça, gênero, de origem, entre outras, carregando consigo múltiplas histórias de vida, tendo percepções do da estimulação, com vistas a obter comportamentos previstos em escalas de desenvolvimento físico, psicológico mundo a partir das culturas adultas nas quais estão inseridas e elaborando respostas próprias para questões que e social. (NASCIMENTO, 2012, p. 60) as afligem. Mas é Letícia Nascimento que também ressalta que Ao alterarmos nossas percepções sobre as infâncias, também podemos, na esteira destas mudanças, novas pesquisas sobre a infância, porém, questionavam o modelo de desenvolvimento e de educação infantil, e alterar a percepção sobre o conhecimento e sobre o papel da escola, retirando nosso olhar centrado apenas nos fizeram emergir o reconhecimento das crianças pequenas como pessoas, propondo novos valores em relação a resultados e realocando-o para as interações construídas nos processos organizados pelas pessoas que ali estão. sua educação. (Ibidem) Educar para as relações traduz uma nova forma de pensar a educação, posto que sua enunciação já traz em si o Estas novas pesquisas sobre infância trouxeram à tona questões importantes e é a partir delas que questionamento sobre a validade de saberes tido como científicos, neutros, compartimentados. Educar para as encontramos subsídios para estudar as diferentes infâncias presentes em nossa sociedade. As crianças negras, relações não é algo novo, é um conhecido modo de aprender coisas. O que queremos destacar é a necessidade que fazem parte da população brasileira e que também possuem o direito de conhecer a sua história e cultura de que, num país desigual como Brasil, a escola colabore na compreensão do que significa pertencer a este ou em todas as etapas da educação precisam ter contato com uma educação que promova a participação de todas aquele grupo étnico ou racial, para que as crianças possam aprender, desde muito cedo, como esta informação na sociedade, com igual condições de acesso e oportunidade. Sem a abertura para um debate sobre estes temas altera o modo como veem e são vistas em sociedade. Educar para as relações raciais no relembra também que, na escola, é impossível oferecer uma educação de qualidade, posto que esta não pode ser feita com racismo. ao compreender a criança em sua totalidade, precisamos respeitar também sua condição étnico-racial, assim O pensamento presente no texto da Lei 10.639.03, que alterou a LDB e introduziu o ensino da história como em outros estudos, buscamos respeitar sua condição etária, de gênero, classe e origem (PRADO, 2012; 50 51 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. FINCO, 2004; SANTANA, 2007). garantia de que todas as crianças devam participar da vida em sociedade e da tomada de decisões. É importante relembrar que as interações produzidas entre as categorias apresentadas não foram dadas Infância e raça: intersecções possíveis A partir da assunção da diferença como algo indispensável para a compreensão das infâncias que temos, pelas crianças, mas sim, construídas a partir de uma perspectiva adulta, presentes num mundo social do qual vale assinalar então, a importância dos estudos sobre raça para elucidarmos questões envolvendo infâncias elas fazem parte. A participação das crianças neste mundo colabora para que tenhamos outras visões sobre raça, específicas no Brasil e ao redor do mundo, visto que esta variável aponta as desigualdades presentes entre nós e muito embora isto ainda seja questionável pela maioria das pessoas adultas, o que denota a importância de que sem dúvida afetam as crianças e o modo como olhamos para elas. Aqui, evocamos a diferença em como faz contínuos estudos sobre o tema. Se concordamos que as crianças não nascem racistas, o debate sobre raça, Valter Silvério (2006) que, em seu sentido político, a vê como a realização da liberdade. Politizar a diferença, assim como outras categorias que desneutralizam a infância fazem-nos repensar até que ponto estamos segundo ele, “é o meio pelo qual a denúncia de tratamento desigual ganha visibilidade e, ao mesmo tempo, é o construindo um espaço favorável à livre expressão das crianças ou somos apenas nós, pesquisadoras/es da caminho para o reconhecimento social das formas distorcidas e inadequadas a que determinados grupos são infância, que estamos produzindo conclusões sobre as culturas infantis. submetidos na história de uma dada sociedade”. (p. 8) Não se trata de dizer o que as crianças são, se negras ou indígenas, antes mesmo que elas possam As possibilidades relacionais entre infância e raça podem serão enriquecidas se a este debate reconhecer-se no mundo: a intenção é trazer para o debate sobre as culturas infantis mais uma contribuição acrescentarmos a perspectiva da sociologia da infância, que traz uma concepção de criança enquanto ator social sobre como as crianças podem elaboram modos de ser, fazer e sentir sua própria vida. Assim, para além do e a infância como uma “categoria social do tipo geracional, socialmente construída” (Sarmento, 2008, p. 7). debate sobre em que a noção de raça pode colaborar com nossos estudos sobre infância, parte dos nossos Segundo este autor, a infância é esforços devem localizar-se também em compreender quais são as questões relacionadas à raça que tocam às atravessada por contradições e desigualdades, seja no plano diacrónico, seja no plano sincrónico. No plano crianças a partir de suas próprias experiências e como as crianças vivenciam questões relacionadas ao seu diacrónico, essas diferenças e contradições ocorrem a propósito das várias e sucessivas imagens sociais pertencimento racial, não apenas a partir da construção que fazemos sobre o tema em nossos departamentos de construídas sobre a infância e aos vários papeis sociais atribuídos. No plano sincrónico, essas […] diferenças e contradições operam por efeito da pertença a diferentes classes sociais, ao género, à etnia, ao contexto social de vida (urbano ou rural), ao universo linguístico ou religioso de pertença, etc. Em suma, a condição social da infância é simultaneamente homogénea, enquanto categoria social, por relação com as outras categorias geracionais, e heterogénea, por ser cruzada pelas outras categorias sociais. A análise da homogeneidade mobiliza estudo. Carecemos de estudos sobre o tema, o que nos faz termos não apenas dúvidas, mas certo desconhecimento sobre como diferentes grupos de crianças veem questões relacionadas ao seu pertencimento um olhar macro-sociológico, atento às relações estruturais que compõem o sistema social e a análise da racial. Nosso desconhecimento dificulta também que processos metodológicos possam ser revistos ou heterogeneidade convida à investigação interpretativa das singularidades e das diferenças com que se actualizam empregados com êxito, posto que dispomos de pouca experiência sobre como “conduzir” uma pesquisa junto e “estruturam” (Giddens, 1984) as formas sociais. (p.8) aos temas. A discussão sobre gênero entre as crianças abriu um caminho para a inclusão destes debates e ampliou Entre os estudos pioneiros19 feitos em instituições de educação infantil que levaram em conta a nosso olhar sobre as infâncias (FINCO, 2010; SANTIAGO, 2014); a questão intergeracional (PRADO, 2006a) discussão racial, destacamos a dissertação de Eliane Cavalleiro (1998), que contou com observação e escuta das 18 também reforçou a importância de olharmos para as diferenças . Isso ampliou nossa visão sobre os problemas crianças. No estudo de Cavalleiro ela evidencia como é possível presenciar eventos que destituem a criança a serem enfrentados por um campo em construção, marcando posições no debate sobre conhecimento da negra de seu lugar de educanda já na educação infantil. Na dissertação que deu origem ao livro intitulado Do infância e alterando percepções sobre as crianças. silêncio do lar ao silêncio escolar: Racismo, preconceito e discriminação na Educação Infantil, Cavalleiro Entendemos assim a importância da produção de estudos sobre as culturas infantis que não incluam as (2000) discute de que modo a escola para crianças pequenas opera numa lógica de exclusão das crianças que tensões travadas pela nossa existência em sociedade, sejam elas políticas, raciais ou econômicas. A noção de são tidas como diferentes da norma estabelecida, esta perceptível também a partir das relações afetivas que as raça, assim, colabora para o entendimento das diferentes infâncias, e vai além quando não apenas apresenta pessoas adultas estabelecem entre si e com as crianças. Cavalleiro aponta: possibilidades de interpretação, mas também altera a nossa percepção sobre os conceitos utilizados no campo, A existência de preconceito e discriminação étnicos, dentro da escola, confere à criança negra a incerteza de ser visto que a própria noção de criança e infância pode ser contestada, se levarmos em conta outros fatores que aceita por parte dos professores [...] No espaço escolar há toda uma linguagem não-verbal expressa por meio de não apenas as idades. A noção de raça também amplia a discussão sobre a participação das crianças, se comportamentos sociais e disposições – formas de tratamento, atitudes, gestos, tons de voz e outros –, que Estudos sobre crianças migrantes também se mostram importantes para conhecermos estas realidades, muito embora não tenha encontrado, até o final deste artigo, nenhuma referência possível de ser mencionada. 19 Em 1994, a dissertação de Eliana de Oliveira tratou da classificação racial de crianças frequentadoras de creches na cidade de São Paulo. Recentemente, Fabiana de Oliveira (2004) escreveu uma dissertação intitulada Um estudo sobre a creche: o que as práticas educativas produzem e revelam sobre a questão racial, onde também foram analisadas as práticas educativas de professoras e do corpo técnico de uma creche no interior do estado de São Paulo. Apesar de aqui destacados por sua contribuição no debate das relações raciais e inf, não trataremos mais especificamente destas, por não terem ouvido as crianças. 52 53 entendermos que questões como raça e gênero, por exemplo, devem ser levadas em consideração para a 18 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. (1980) e que vai ao encontro das intenções deste texto: a vontade de que as crianças negras possam viver transmite valores marcadamente preconceituosos e discriminatórios [...] (p. 98) É importante ressaltar que, apesar de ter ouvido as crianças em seu estudo, Cavalleiro não se utilizou da sociologia da infância como referencial teórico, o que valida a escuta de crianças como uma potente ferramenta de pesquisa não apenas para o campo, visto que colabora para a elucidação das relações raciais entre crianças e destas com os adultos. Esta escuta, presente na teoria da reprodução interpretativa das culturas proposta por William Corsaro (2011) poderá ser ainda mais potencializada, se a partir dela e com ela, assentarmos as discussões sobre relações raciais e infância. Atualmente, alguns trabalhos que relacionam questões raciais e sociologia da infância começam a surgir20. Flávio Santiago (2014), em dissertação defendida recentemente pelo Programa de Pós-Graduação da plenamente uma “vida de criança”: Para a infância negra construiremos um mundo diferente nutrido ao axé de Exu ao amor infinto de Oxum à compaixão de Obatalá à espada justiceira de Ogum Nesse mundo não haverá trombadinhas pivetes pixotes e capitães de areia UNICAMP, realizou um estudo sobre “a violência do processo de racialização sobre a construção das culturas infantis”. Nele, Flávio destaca como as crianças respondiam às violências direcionadas a elas por conta de seu pertencimento racial e como reelaboravam as relações com as pessoas adultas que as haviam agredido. Este é um estudo pioneiro que relaciona os temas aqui expostos, que nos mostra sobre as possibilidades presentes nas intersecções entre infância e raça. Em suas considerações, Santiago aponta: Por meio deste processo, as meninas e meninos pequenininhos/as negros/as passaram a serem denominados como bagunceiros/as, terríveis, complicados/as, arteiros/as; e as crianças pequenininhas brancas eram categorizadas como princesas, lindinhas, existindo um processo de subalternização dos sujeitos negros. Atrelado a essa dinâmica de hierarquização existe uma supervalorização da estética branca, em que as crianças brancas são sempre classificadas como bonitas e as negras são deixadas de lado, esquecidas em meio ao dinamismo da educação infantil. As crianças pequenininhas negras dentro deste contexto são cotidianamente discriminadas e destituídas de sua negritude, o que cria a necessidade de processos reiterativos que apaguem o seu pertencimento étnico-racial e as tornem sujeitos desejosos de uma cultura eurocêntrica imposta pelo colonialismo. Este processo mutila a construção de uma visão positiva de uma ancestralidade negra, por esta não corresponder à organização simbólica e social determinada pelo conjunto de relações pré-estabelecidas pelo sistema social capitalista eurocêntrico. (p. 123) A partir dos estudos apresentados, creio ser possível reconhecer a importância que há nos estudos sobre grupos específicos, como crianças quilombolas, crianças negras de comunidades rurais, crianças negras habitantes das periferias brasileiras ou crianças negras de classe média e alta, feitos por pesquisadoras/es, professoras/es e outras pessoas adultas, visto que eles poderão contribuir para a ampliação e o reconhecimento da importância dos temas para compreensão de nossa sociedade atual. Estudos como estes, que buscam visibilizar como as crianças tem (re) interpretado nossas ações e respondido às questões próprias a elas reconhecem a participação da criança em sociedade desde muito pequenas, reforçando o(s) debate(s) proposto pela sociologia da infância. Por fim, termino com um excerto da poesia Olhando no Espelho, escrita por Abdias do Nascimento 20 No primeiro semestre de 2014, tive a oportunidade de cursar a disciplina Pesquisa com crianças, culturas infantis e educação dos corpos na primeira infância, ministrada pela professora doutora Patrícia Dias Prado, no Programa de Pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação da USP (FE-USP), onde tive contato com dois estudos de mestrado em andamento que realizam incursões no tema das elações raciais e a discussão da sociologia da infância. 54 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS CASHMORE, Ellis. Dicionário de Relações Étnicas e Raciais. São Paulo: Summus, 2000. CAVALLEIRO, Eliane. Do silêncio do lar ao silêncio escolar: Racismo, preconceito e discriminação na Educação Infantil. São Paulo: Contexto, 2003. CORSARO, William. Sociologia da Infância. Porto Alegre: Artmed, 2011. D’ADESKY, Jacques. Racismo e Anti-racismo no Brasil. São Paulo: Pallas, 2001. FINCO, Daniela. Faca sem ponta, galinha sem pé, homem com homem, mulher com mulher: relações de gênero nas relações de meninos e meninas na pré-escola. (Dissertação de Mestrado) Faculdade de Educação da UNICAMP, Campinas/SP, 2004. __________. Educação infantil, espaços de confronto e convívio com as diferenças: análise das interações entre professoras e meninas e meninos que transgridem as fronteiras de gênero. Tese (Doutorado) Faculdade de Educação da USP. São Paulo, 2010. GUIMARÃES, Antonio Sérgio A. Como trabalhar com raça em sociologia. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 29, n.01, p. 93-108, 2003. HASENBALG, Carlos; SILVA, Nelson do Vale. Discriminação e desigualdades raciais no Brasil. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979. MOORE, Carlos. Racismo e sociedade. Novas bases epistemológicas para entender o racismo. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2007. MUNANGA, Kabengele. Algumas considerações sobre “raça”, ação afirmativa e identidade negra no Brasil: fundamentos antropológicos. In: Racismo I. Revista USP/Coordenadoria de Comunicação Social, Universidade de São Paulo, (dez/jan/fev 2005-2006). São Paulo: USP, CCS, 2005-2006, p. 46-57. NASCIMENTO, Abdias. Olhando no Espelho. Disponível em: http://www.abdias.com.br/poesia/olhando_espelho.htm Acesso em: 31.jul.2015. NASCIMENTO, Maria Letícia Barros Pedroso. As políticas públicas de educação infantil e a utilização de sistemas apostilados no cotidiano de creches e pré-escolas públicas. Revista Brasileira de Educação [online], v. 17 n. 49 jan.-abr. 2012, págs. 59-80. OLIVEIRA, Eliana. Relações raciais nas creches diretas do Município de São Paulo. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo: PUC-SP, 1994. OLIVEIRA, Fabiana de. Um Estudo sobre a creche: o que as práticas educativas produzem e revelam sobre a questão racial? Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), 2004. PRADO, Patricia Dias. Contrariando a idade: condição infantil e relações etárias entre crianças pequenas da Educação Infantil. Tese (Doutorado), Faculdade de Educação da UNICAMP, Campinas/SP, 2006a. RODRIGUES, Tatiane Cosentino. Movimento Negro no cenário brasileiro: Embates e Contribuições à política educacional nas décadas de 1980-1990. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Educação, 55 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR, 2005. ROSEMBERG, Fúlvia et al. Diagnóstico sobre a situação educacional de negros (pretos e pardos) no Estado de São Paulo. Fundação Carlos Chagas/Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, 1986. SANTANA, Juliana Prates. Cotidiano, expressões culturais e trajetórias de vida: uma investigação participativa com crianças em situação de rua. (Tese). Centro de Estudos da Infância, Área de especialização: Sociologia da infância. Universidade do Minho, Portugal, 2007. Disponível em: http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/8162/1/Tese%20Vers%C3%A3o%20Final.pdf. Acesso em: 31.jul.2015. SANTIAGO, Flavio. “O meu cabelo é assim… igualzinho o da bruxa, todo armado”: Hierarquização e racialização das crianças pequenininhas negras na educação infantil. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Uversidade Estadual de Campinas – FE/UNICAMP. Campinas/ SP, 2014. SARMENTO, Manuel Jacinto (2008). Sociologia da Infância: Correntes e Confluências. In: Sarmento, Manuel Jacinto e Gouvêa, Maria Cristina Soares de (org.) (2008). Estudos da Infância: educação e práticas sociais. Petrópolis. Vozes (17-39). TELLES, E. E. Racismo à brasileira: uma nova perspectiva sociológica. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2003. de composição com os outros diferentes, o diferente-negro salta aos olhos e, as ‘simples’ questões, quem é este ‘outro’? Como lidar com ele? É possível compôr algo com ele? passam a tirar o sono de todos. Estas são exemplos das certas questões cogitadas por Lorieri (2002) a respeito da filosofia. São questões centrais da antropologia que pergunta sobre ‘o que é o homem?’. ‘O que o faz ser humano’? ‘O que o faz ser gente?’. Ao mesmo tempo são questões que vê a grande trama das relações sociais (filosofia social) marcada por uma disputa de poder (filosofia política) que obriga à tomada de posições pró-construção de vida digna ou construir a sua própria destruição. (ética/moral). (p. 54-58) São inúmeras as proposituras para um trabalho pedagógico efetivo do professor e da turma para enfrentar estas questões. As mais atuais encontram-se na Lei 10.639/03, no Estatuto da Igualdade Racial (2010) e no PNE 2014-2024. Apesar das inúmeras iniciativas com significantes resultados é sabido, infelizmente, que as ações ainda são tímidas em várias unidades escolares – públicas e privadas –, pois, entre outros, os gestores da educação, muitos educadores, bem como, os cursos de formação – graduação e pós-graduação – apresentam sérias dificuldades para tratar da temática. A APROXIMAÇÃO DA FILOSOFIA COM A TEMÁTICA ÉTNICA NEGRA O texto que se apresenta procura articular com três situações distintas, mas, que se fecham no final. A JORGE ALVES DE OLIVEIRA 21 primeira é trazer e envolver a filosofia neste trabalho. O professor de filosofia tem muito a contribuir com a turma, com a escola e com a comunidade ao adotar a reflexão filosófica para tratar da questão étnica negra na A filosofia no espaço escolar e a temática da etnia negra A presença da filosofia enquanto componente curricular do ensino médio vai além da relação professorestudante. Dada à sua constituição as questões filosóficas extrapolam aquela relação primária e, acaba unidade escolar. A segunda se volta para a formação deste professor de filosofia, bem como, de todos os demais professores e gestores. Os cursos superiores – graduação e pós-graduação – não podem se eximir do debate formativo sobre a questão étnica negra que deve chegar na sala de aula. Por fim, compromissar os gestores das repercutindo em outros ambientes. unidades de ensino para que envolvam todas as equipes e todas as instâncias que atuam juntos aos estudantes e Lorieri (2002) explica que a comunidade. a Filosofia é diferente das demais formas de conhecimento, porque ela trabalha principalmente e prioritariamente sobre certas questões, utilizando uma maneira própria de abordá-las, tendo em vista produção de respostas que É necessário admitir, contudo, que há divergência na aceitação da filosofia e da ação pedagógica do professor de filosofia. Algumas pessoas, incomodadas ao extremo, provocativamente, lançam questões como nunca se fecham, porque são continuamente questionadas. (p. 35) A formulação, acima, ajuda a entender porque, a filosofia, presente enquanto componente curricular, da estas. Por que o ensino da filosofia? O que se objetiva com ele? Assimilada a provocação e, tomada como sala de aula invade outros espaços da escola atingindo a comunidade escolar. A imagem de invasão é válida, possibilidade de um diálogo, percebe-se que as questões dizem respeito ao próprio caráter da educação. Por que pois, não é sorrateiramente que as questões se apresentam. Ao contrário. As questões filosóficas surgem e, educar os jovens? O que se objetiva com tal educação? O enfrentamento deste questionamento, ainda que não provocam incômodos. Mas, é preciso considerar que a sala de aula, também, é invadida por questões originadas dito, explicitamente, é na verdade o núcleo da filosofia da educação. no seu externo. Os temas externos à sala de aula, bem como, aqueles extraescola, também, se fazem presentes na relação professor-filosofia-estudante e, explicitamente ou não, pedem uma abordagem filosófica. Reafirma- Severino (2004) formula Filosofia da Educação se constitui como modalidade teórica de conhecimento destinada a intencionalizar a prática educativa, seja mediante a explicitação dos valores, dos significados nela envolvidos, seja ainda na se, assim, a dimensão da filosofia, no currículo escolar, e da prática pedagógica do professor de filosofia. construção de uma imagem do homem que se precisa educar. (p. 9) Entre as inúmeras questões que se apresentam encontram-se aquelas que têm ‘o outro’ como referência. E quem é este ‘o outro’? É o diferente do ‘eu’. E quem é este diferente do ‘eu’? É o negro, para além do gênero, da opção religiosa, da consistência física, da idade, da classe social. A que pese as diferenças e as dificuldades Para amenizar o incômodo provocado pela filosofia, por suas questões, pela prática pedagógica do professor de filosofia, se faz necessário considerar a formulação do autor acima. Aqueles que querem pensar educação deverão contemplar e fundamentar a sua intencionalidade. Ter presente o que ofertarão aos estudantes e, considerar, em projeção, o que se quer no final da intervenção, ainda que sem garantia de sucesso. 21 Universidade Nove de Julho – Uninove Contemplar, fundamentar não significa ter respostas prontas, definitivas. Acentua-se, por isto, a necessidade 56 57 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. sempre renovada de se pensar a educação, em termos filosóficos, ou seja, considerar as inúmeras dois últimos apontamentos, participar de grupos de trabalho e dos debates, é fazer o uso da palavra. É fazer com possibilidades, não estabelecendo um ponto final. que sua voz seja ouvida e considerada. Este é ponto. Até se pode fazer par e, ser casal. Até se pode participar do Nesta perspectiva da intencionalidade, apresentada na formulação de Severino, citada acima, é preciso grupo de trabalho pela camaradagem, pelo lado festeiro, pelo ritmo brincalhão que imprime. Nos debates, ele é que se faça a seguinte consideração. Este texto entende que a educação deva se configurar como elemento de um dos que compõem o grupo. Pronunciar, contudo, a palavra e, pretender que ela seja considerada é outra emancipação. Os encaminhamentos que se adotem para a educação dos novos – crianças, adolescentes e jovens coisa. Por vezes ele mesmo se nega a dizer a sua palavra, pois, duvida de sua eficácia. Eis, portanto, a dimensão – devem contribuir no processo de emancipação de seus agentes – professores, estudantes, comunidade escolar da emancipação que este texto apresenta. Há um ‘eu’ que detém a palavra e, o ‘outro’/negro não a pode dizer. e extraescolar. Ao revisitar a etimologia é possível ter como imagem de ‘emancipação’ o ‘soltar a mão’. Deixar o Esta educação, voltada à emancipação, objetiva fazer com que o ‘outro’, o negro, seja reconhecido como ‘outro’ solto da ação daquele ‘eu’ que até então o conduzia. É possível pensar em três movimentos. O tal e, que se considere que é possível construir algo em comum com ele. Superar com isto o incômodo frente ao movimento daquele que emancipa, portanto, libera o outro. O movimento daquele que conquista a sua outro, o negro. Incômodo promotor de violência, que impede o ‘eu’ e o ‘outro’ de crescerem. Esta é a grande emancipação, liberta-se do outro. O terceiro movimento corresponde à emancipação daquele que conduzia o emancipação que pode ocorrer na sala de aula e se expandir para outros locais. outro, juntamente, com a emancipação daquele que era conduzido. Neste sentido, condutor e conduzido, se emancipam. O uso da palavra como reconhecimento do ‘outro’/negro e instrumento para a emancipação O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e vão comprometendo-se, na práxis, com O subtítulo, acima, reflete a contento os elementos que compõem a educação que ora se apresenta, resta, portanto, explicitar a ideia. O primeiro e decisivo passo pró-emancipação é o do reconhecimento do ‘outro’. a sua transformação; o segundo, em que, transformada a realidade opressora, esta pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos homens em processo de permanente libertação. (FREIRE, 1987, p. 41) Reconhecer aqui é, acima de tudo, reconstruir o entendimento que se tem do ‘outro’. Isto, porque, o ‘outro’, o E como isto se efetiva? Segundo Freire (1987) “não é no silêncio que os homens se fazem, mas na negro, tal como já fora precisado anteriormente, mais do que descrito, ele é caricaturado. Em tal condição as palavra, no trabalho, na ação-reflexão.” (p. 78) Na construção que se faz a educação que emancipa ocorre no imagens lhe conferem mais limitações do que ampliações do entendimento sobre quem ele é. O mais reconhecimento e na aposta de que é possível construir algo em comum como o ‘outro’/negro. Para tanto, é contundente dos entendimentos fora traduzida na sua negação. O outro/o negro não é e, não sendo, não existe, fundamental, que a palavra seja algo de e para todos. E, mais, que esta educação, escolar por excelência, de sala não produz ideia e como tal, é uma coisa. Nesta condição não há nada a ser criado em comum com ele.22 de aula, envolva todos os espaços da escola e do seu em torno. Esta tese histórica ainda é presente em inúmeros setores sociais e digladia frontalmente com máximas de excelência importância no cotidiano. A primeira é a defesa acalorada pró-liberdade de expressão que se faz O desafio-convite para falar e ler o mundo com o outro ouvir mesmo para certas regiões e, certos segmentos, historicamente, marcados pela supressão da palavra. A É necessário que se tenha presente as dimensões da leitura do mundo e da leitura de mundo. Não se trata segunda corresponde aos apelos e às facilitações advindas com as novas mídias que incitam o posicionamento de um simples jogo de palavra. Se na leitura do mundo os sentidos captam as imagens e as faculdades mentais frente a todos e quaisquer temas. A terceira é a defesa individual (que beira ao individualismo) acirrada pelo as decodificam e produzem um arranjo minimamente lógico, na leitura de mundo é acrescida a direito da subjetividade. O embate contraditório encontra-se no fato de que se o ‘eu’ defende tudo isto a seu intencionalidade, os conceitos, os valores, os princípios. Evite-se o comparativo qualificador que buscará favor, como negar ao ‘outro’, o negro, as mesmas condições? Atente-se, ainda, para outra questão delicada. O apontar que uma leitura é melhor do que aoutra. São inúmeras as formas de leitura que se faz do mundo. O que se diz não é qualquer coisa, ele deve ser considerado, levado a sério e, muitas vezes, ser posto em ação. ponto a ser ressaltado é que esta leitura deve produzir significados para além daquilo que os sentidos ofertam, Então, como considerar a palavra do outro, levá-la a sério e ser mobilizada por ela, pois este ‘outro’ é negro e, bem como, os arranjos lógicos se dão. Eis, porque não é qualquer palavra que diz sobre o mundo. como tal, não reconhecido? A importância desta ponderação reside no fato de que a leitura de mundo produz visões de mundo e Na sala de aula é possível detectar este conflito. Ele nem sempre é explícito, mas, se faz presente. Desde estas pautam substancialmente a vida de muitos. Atente-se para os formadores de opinião. Suas análises, ou a ‘inofensiva’ recusa de se formar casal de dança na festa junina, passando pela composição de grupos de seja, suas leituras movimentam mercados econômicos, pautam as discussões políticas, orientam a vida social. trabalhos, chegando aos debates acalorados sobre os diversos temas do cotidiano. Tenha-se presente que nos As suas falas são diferenciadamente ouvidas. Observe-se, contudo, de que lugar estas leituras de mundo surgem 22 Não se tem o propósito de reproduzir a história da colonização neste texto. Contudo, a tese que reduz o negro a uma categoria de não humano foi a chave central para transforma-lo em escravo. Nesta condição toda a sorte conhecida no projeto colonizador português. Referência MIGNOLO, Walter D. La colonialidad a ló largo y a ló ancho: el hemisfério occidental em el horizonte colnial de la modernidad. 58 e são proferidas. Quem são estas pessoas de fala diferenciada que pronunciam estas falas. Quem se apropria destes que falam e como utilizam da fala proferida. Neste sentido esta fala tem poder. Ela mobiliza ou impede a 59 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. mobilização. Ela promove ou rebaixa. A emancipação pela fala objetivando uma leitura de mundo e a indivíduo com o texto, dos indivíduos entre si. Neste terceiro momento o diálogo passa a ser intencional, ou apresentação da visão de mundo que se tem deve atingir a todos. Neste caso específico atingir os negros e as seja, nele objetiva-se a palavra significante para o grupo, a fala daqueles que buscam significar as suas vidas e negras para que possam dizer a sua leitura de mundo e, consequentemente, a sua visão de mundo. Frente à suas relações com o outro. A subjetividade se faz presente na perspectiva de se construir algo em comum. complexidade das relações humanas é de se desconfiar que haja apenas uma maneira de ler o mundo. O compromisso esperado da filosofia com a temática étnica negra Neste sentido o que segue é parte central de uma prática pedagógica que se inspira nas teses de Mathew O que se objetiva com estas reflexões é comprometer o esforço teórico dos professores de todos os Lipman (1994). Desta teoria lipmaniana surgiu o livro paradidático Amantes do Futebol e da Música – uma níveis escolares sobre a questão étnica negra. Ao mesmo tempo o texto é composto por diversos apontamentos discussão étnica afro-brasileira (2003) que traz a questão étnica negra e a metodologia da fala de forma que acenam para uma ação reflexiva sobre o tema. Este é o ponto central da qual a filosofia não pode se paradidática para a sala de aula. Após a aplicação em várias turmas de estudantes e de professores, bem como, ausentar, por ter muito a oferecer, ou seja, promover uma ampla e filosófica reflexão sobre este tema étnico. lendo relatos de outros educadores, os resultados são expressivos a ponto de comunicá-la. Como já fora dito, trata-se de reconhecer ou não a humanidade do outro e, com isto, decidir o que se quer A filosofia, a prática pedagógica do professor e a fala. construir enquanto sociedade. A primeira parte da metodologia é fazer com que a fala aconteça e que todos participem dela. Para tanto A existência do Estatuto da Igualdade Racial, da Lei 10.639/03 e do PNE 2014-2024 pode ganhar é necessário que haja um tema em comum (neste caso sobre a etnia negra) e que as falas, até então dispersas, significativa contribuição da filosofia e da prática pedagógica do professor de filosofia. Mas, ao mesmo tempo a possam contemplá-lo. Por fala entenda-se a verbalização sobre algo o que implica o uso da palavra. Portanto, questão étnica negra tem muito a oferecer para a filosofia, para o professor de filosofia e para todo o conjunto não é qualquer fala, nem qualquer palavra, mas, sim aquela que expressa um sentimento, uma ideia, uma visão escolar. É preciso que se tenha presente a dimensão da temática, pois, ela envolve a ressignificação dos de mundo, ou tão somente indagações, dúvidas, problematizações. Para a reflexão filosófica é fundamental a conceitos e dos valores que se articulam nas complexas relações humanas. problematização. As afirmações, as respostas, as observações são bem vindas, mas, a intensidade da fala se dá Referências bibliográficas: FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1987. pela qualidade da problematização. 1. A filosofia, a prática do professor e a oferta de repertório. ESTATUTO da Igualdade Racial. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm A pronúncia da palavra significante por meio do exercício da fala que nasce ou acompanha a problematização deve-se muito ao repertório que os estudantes possuem. Eles (os estudantes) encontram-se nas primeiras décadas de vida que lhes proporcionaram algumas experiências relevantes, mas, cabe à escola, na figura do professor ampliar este repertório por meio da literatura. A escola e o professor dominam esta literatura que comporta uma variedade de gêneros que passa deste a mais simples gravura até os mais complexos esquemas de linguagem. Da linguagem corporal à linguagem escrita. Neste quadro específico cabe ao professor de filosofia ofertar o repertório filosófico que lhes possibilite tratar as questões problematizadoras que cercam a etnia negra. E qual é o benefício? Auxiliar a todos a dialogar com o diferente. A aposta é que o repertório ofertado dará sustentação para a argumentação ao mesmo tempo em que contribuirá na ampliação da experiência destes novos com o diferente. O esperado é que o estudante se aproprie das formulações e dos caminhos que percorreram os filósofos e se inspire para traçar os seus caminhos. LEI 10 639. http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/2003/L10.639.htm LIPMAN, Mathew. Filosofia na sala de aula. São Paulo, Nova Alexandrina. 1994. LORIERI, M. A. Filosofia: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez. 2002. MIGNOLO, Walter D. La colonialidad a ló largo y a ló ancho: el hemisfério occidental em el horizonte colnial de la modernidad. http://people.duke.edu/~wmignolo/InteractiveCV/Publications/Lacolonialidad.pdf Acesso em 20/11/2014. OLIVEIRA, Jorge Alves. Amantes do Futebol e da Música – uma discussão étinca afro-brasileira. Jundiaí-SP. In House. 2003. PNE 2014 – 2024. http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm SEVERINO, A. J. A compreensão filosófica do educar e a construção da filosofia da educação. In: Rocha, Dorothy. (Org.). Filosofia da Educação: diferentes abordagens. Campinas: Papirus. 2004. 2. A filosofia, o professor de filosofia e o diálogo intencional. O terceiro elemento da metodologia é o diálogo. Se as intervenções do professor tiverem repercussão positiva no grupo de estudantes será possível detectar sinais de diálogo entre os pares. No primeiro momento da fala há ainda dispersão. Os temas se multiplicam e são abordados de inúmeras maneiras. Mesma assim a palavra é dirigida ao outro. No momento do repertório há uma concentração maior no texto e com isto uma troca mais específica com o filosófico. Há uma fala com o texto, com o professor que decodifica o texto, do 60 61 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. A DESCOLONIALIDADE DO SABER CRÍTICO: EM DEFESA DE UMA GEOPOLÍTICA E CORPOPOLÍTICA DO CONHECIMENTO ANTROPOLÓGICO SOBRE RAÇA NO BRASIL23 desafio teórico-metodológico para os antropólogos que assim se propuserem. Segundo Miguel Vale de Almeida (2002), um desafio que ecoa um outro, anterior, lançado pelos Estudos Culturais. Mediante a crescente politização da Antropologia, sob influência dos movimentos de lutas anti- JOYCE SOUZA LOPES24 imperialistas e pós-coloniais contra o domínio político, militar, racial e epistemológico das chamadas nações metropolitanas (SILVA, 1996; 2000; CARVALHO, 2001), a cultura europeia, sobretudo a partir do impulso Sabe-se que a Antropologia surgiu umbilicalmente conectada com a onda difusionista e evolucionista- dos Estudos Culturais, é compelida a deixar de ser aquele locus interpretativo globalizante, perde o seu sentido racialista na academia europeia no século XIX, ou seja, com o papel histórico de legitimar as hierarquias referencial e há uma espécie de descentramento da visão de mundo ocidental. O domínio, ou o privilégio, do políticas e raciais entre as populações brancas e não brancas do globo terrestre. A institucionalização da antropólogo é, em partes, desfavorecido. Discussões reflexivas sobre o lugar e o papel de pesquisador/a e disciplina e constituição de sua autoridade científica, porém, se delineiam apenas no começo do século XX, a pesquisado/a, por hora colonizador/a e colonizado/a, são iniciadas e, além disto, novas posições são partir do estudo sistemático das sociedades tradicionais, da consolidação do método etnográfico e do dimensionadas com a consolidação das tradições nacionais de Antropologia nos países periféricos. distanciamento dos fundamentos raciológicos do século XIX, especialmente se habilitando como o campo para o estudo dos “outros”. Colonizados/a são então novos pesquisadores/a. Objetividade, neutralidade, alteridade e autoridade etnográfica são algumas das concepções que sofreram transformações crítica ou acrítica em meios Adiante, conforme José Jorge de Carvalho (2013), três momentos com modos distintos de abordagem antropológicos, sob um panorama teórico de grande complexidade. O sistema mundo global, intercortado por têm sido emblemáticos à guinada crítica da teoria antropológica, comumente ilustrados pela obra dos seguintes diversos discursos e posicionalidades político-intelectuais, tornou-se, para alguns, um espaço de etnografias autores: 1 – Franz Boas, tendo Melville Herskolvits como seu discípulo, para o qual “a cultura alheia, ainda que descentradas (CARVALHO, 2001). Conforme James Clifford, respeitada, é basicamente objetivada (Ibidem, p.60); 2 – Lévi-Strauss, “o qual encarna o olhar científico em face das instituições culturais em seu estado quase puro: o famoso kantianismo sem sujeito transcendental” (Ibidem, p.60) e; 3 – muito estudado do Brasil, consolidado na década de 80, trata-se do momento de O dilema atual está associado a desintegração e a redistribuição do poder colonial nas décadas posteriores a 1950, e as repercussões das teorias culturais radicais dos anos de 1960 e 1970. Após a reversão do olhar europeu em decorrência do movimento da “negritude”, após a crise de consciência da antropologia em relação ao status assimilação contrária à construção da autoridade etnográfica – “a posição privilegiada do sujeito moderno, liberal no contexto da ordem imperialista, e agora que o Ocidente não pode mais apresentar como único capaz de olhar o mundo todo do ponto de vista desse lugar, pretensamente seguro, de verdade” (Ibidem, p.61). provedor de conhecimento antropológico sobre o outro, tornou-se necessário imaginar um mundo de etnografia generalizada (CLIFFORD, 2008, p.18). Neste terceiro momento destacam-se os autores da Antropologia norte-americana, ou os pós-modernos. Embora Clifford Geertz também tenha em geral um lugar teórico privilegiado no curso da disciplina Se etnografia descentrada, generalizada, multisituada, ou afins, a problemática comum é que as antropológica e José Jorge de Carvalho (2013) o reconheça, nomeá-lo como um dos expoentes citados acima perspectivas epistemológicas da Antropologia há cerca de cinco décadas tendem, ao menos, a uma não se fez oportuno, uma vez que, segundo o mesmo, reflexividade sobre o lugar que se ocupa enquanto antropólogo. Contudo, não é de se vangloriar. Uma vez que a dominação racial, as diferenças raciais codificadas de modo hierarquizante entre colonizadores e colonizados, Geertz introduziu de fato uma crítica ao positivismo inscrito no primeiro modelo de olhar (e até no segundo), mas sua prática de reflexividade não difere do que foi descrito até agora [...]. Sem dúvida alguma, altamente ou o supremacismo branco, se constituem enquanto uma das formas ideológicas da fundação e manutenção da eficaz, aquele artifício de cumplicidade foi muito mais uma inovação nas estratégias retóricas de legitimação do colonialidade/modernidade, é inequívoco pensar que a condição de raça/estereótipo/fenótipo afeta diretamente lugar privilegiado do autor do que uma proposta de insurreição contra a estrutura fundante da disciplina [...]. o processo de construção do saber de modo geral. Porque não o antropológico? Não obstante, para Quijano, Também não há, em Geertz, nenhuma mudança na geopolítica da disciplina antropológica enquanto um saber formulado no Primeiro Mundo que se expandiu dentro de uma estrutura de poder [...]” (Idem, 2013, p. 64). A globalização em curso é, em primeiro lugar, a culminação de um processo que começou com a constituição da Polêmicas à parte, a questão que logo anseio dimensionar é: de acordo com as categorias fundantes da disciplina antropológica e com as metamorfoses do olhar etnográfico, quais os principais pontos críticoreflexivos para o despertar de uma Antropologia descolonial e descolonizada? Ao certo, este despertar é um América e do capitalismo colonial/moderno e eurocentrado como um novo padrão de poder mundial. Um dos eixos fundamentais desse padrão de poder é a classificação social da população mundial de acordo com a ideia de raça, uma construção mental que expressa a experiência básica da dominação colonial e que desde então permeia as dimensões mais importantes do poder mundial, incluindo sua racionalidade especifica, o eurocentrismo (2005, p. 227). 23 Este artigo é parte integrante de pesquisa de mestrado em curso intitulada “Lugar de branco e o ‘branco fora do lugar’: Representações sobre a desconstrução do racismo da branquitude entre o Movimento Negro em Salvador-BA”, orientada pela Prof.ª Dr.ª Rosane Aparecida Rubert da Universidade Federal de Pelotas. 24 Mestranda pelo Curso de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pelotas (PPGANT-UFPEL). Bacharela em Serviço Social pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Contato: [email protected]. 62 63 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. Tudo bem, antropólogos/a já encenaram crítica fugaz ao eurocentrismo25, e isto está bem notificado, ser afetada por uma contraposição com base numa análise da realidade social a partir da categoria porém, sobre reconhecimento do seu locus interpretativo e autoclassificação de acordo com a ideia (e vivências) imperialismo/colonialidade, do reconhecimento das desigualdades de poder não apenas daquele lugar enquanto de raça pouco ou nada se sabe. É comum antropólogo/a apresentar-se neutro quanto ao seu lugar étnico-racial, espaço-geográfico, mas também do lugar racial epistêmico, da correlação entre a constituição sócio-racial do não situado em nenhum corpo. Na verdade, o/a antropólogo/a branco/a tem até o privilégio de fazer-se assim, lugar de si (pesquisador/a) e a do outro (sujeito pesquisado/a). De acordo com Osmundo Pinho, mas o profissional marcado pela raça negra é tão logo reconhecido, nomeado e/ou autodeclarado “antropólogo/a negro/a”, já que, por questões sócio-históricas, foge aos padrões de perfil do cargo. O que dizer Uns produzem leituras sobre os Outros, os Outros lêem a si mesmos e a seus intérpretes no espelho multi- de um/a antropólogo/a indígena? É até tema para debate em evento científico, conquista recente de poucos, cultural, não estivesse implicada na localização dos sujeitos sociais negros concretos num espaço de lutas e de dada “a nova situação de sujeitos das minorias discriminadas estudando a si mesmos como sujeitos que pensam desigualdade. Como se a cultura fosse essa entidade etérea, “like the air we breath” (Foucault, citado em Dreyfus refratado da raça. Tudo se passa, entretanto, como se a constituição da “diferença” negra, como diferença and Rabinow, 1982: 49), coleção arbitrária de itens, arrolados pelos que se arrogam especialistas culturais (2008, e produzem conhecimentos a partir de corpos e espaços subalternizados e inferiorizados pela epistemologia p.3). racista e o poder ocidental” (GROSFOGUEL, 2007, p. 32). Em termos de racismo epistêmico, a Antropologia, nos moldes de suas tendências clássicas e gerais, não Pinho (2008) assume ainda o risco em dizer que a Antropologia Brasileira, e as Ciências Sociais em só contribuiu para fundamentação da concepção pretensamente científica de que os sujeitos ocidentais brancos geral, teriam a faca e o queijo na mão, no que diz respeito ao campo das investigações sobre o negro e a produzem “A Teoria”, tradições de pensamento e pensadores sendo os únicos com capacidade de acesso à problemática das relações raciais, se não fossem suas contradições internas. Dentre estas contradições, o fato de “universidade” e à “verdade”, como sustentou que os não-brancos somente foram/são capazes de produzir que: folclore, mitologia ou cultura. A partir da institucionalização acadêmica do modo branco-ocidental, considerouse também a única forma legítima para produção de conhecimento. Os/a antropólogos/a seriam uma espécie de A diferença (cultural) que é vivida praticamente como uma hierarquia (racial) não pode ser contestada, notadamente porque soam tímidos os esforços para que a antropologia das relações raciais pense criticamente peritos em cultura, em cultura do outro. Ora, sobre si mesma, nos próprios termos em que pensa as relações raciais “lá fora” na sociedade envolvente (PINHO, 2008, p. 12). Se a epistemologia tem cor, como bem destaca o filósofo africano Emmanuel Chukwudi Eze, então a epistemologia eurocentrada dominante nas ciências sociais também tem. A construção desta última como A autocrítica diante das vivências racializadas e o discurso localizado são práticas insurgentes diante do superior e as do resto do mundo como inferiores forma parte inerente do racismo epistemológico imperante no embrenhado de subjeções dos/a não-brancos/a, dado as hierarquias sócio-raciais. A faceta do racismo sistema-mundo há mais de quinhentos anos. O privilégio epistêmico dos brancos foi consagrado e normalizado com a colonização das Américas no final do século XV. Desde renomear o mundo com a cosmologia cristã epistêmico, não é novidade, desfavorece a produção científica de pesquisadores negros em todas as áreas do (Europa, África, Ásia e, mais tarde, América), caracterizando todo conhecimento ou saber não-cristão como conhecimento. No embalo da construção das argumentações aqui expostas, me deparo com uma matéria produto do demônio, até assumir, a partir de seu provincianismo europeu, que somente pela tradição greco- intitulada “Intelectuais negros estão fora da bibliografia, criticam especialistas”27 e, como nada coincidente, romana, passando pelo renascimento, o iluminismo e as ciências ocidentais, é que se pode atingir a “verdade” e “universalidade”, inferiorizando todas as tradições “outras” (que no século XVI foram caracterizadas como traz para uma linguagem jornalística uma informação científica que autores pós-coloniais e sobretudo “bárbaras”, convertidas no século XIX em “primitivas”, no século XX em “subdesenvolvidas” e no início do descoloniais têm tematizado com frequência. O termo “teóricos clássicos” já soa entre os mais críticos como século XXI em “antidemocráticas”) (GROSFOGUEL, 2007, p.33). um sinônimo para “intelectuais brancos”. Não é insólito que um estudante deixe o ensino superior sem O assunto da geopolítica e corpo-política do conhecimento torna-se inescapável nestas discussões, logo diria Ramón Grosfoguel (2012). Um dos desafios é pensar como uma disciplina dominada secularmente por branco/as (FERREIRA, 2015), valendo-se dos seus privilégios a partir da colonialidade do poder global26, pode 25 conhecer e sem ter lido qualquer teoria de sua área pautada por agentes não-brancos. Ainda, de modo recorrente, mesmo as discussões sobre relações étnico-raciais, políticas raciais, questões da população negra, só tomaram uma dimensão científica reconhecida e um status de relevância acadêmica quando abordadas por intelectuais brancos/a28. Nesses termos, Ana Lúcia Valente (2013) transcorre sobre uma espécie de “má vontade antropológica”, Ver José Jorge de Carvalho (2013). “Foi com a expansão colonial europeia, no século XVI, que teve origem a geocultura, ou ideologias globais, que ainda constituem os imaginários contemporâneos no “sistema-mundo ocidentalizado cristianocêntrico capitalista patriarcal moderno colonial” [...]. A expansão colonial europeia institucionalizou e normatizou simultaneamente, a nível global, a supremacia de uma classe, de um grupo etnorracial, de um gênero, de uma sexualidade, de um tipo particular de organização estatal, de uma espiritualidade, de uma epistemologia, de um tipo particular de institucionalização da produção de conhecimento, de algumas línguas, de uma pedagogia, e de uma economia orientada para a acumulação de capital em escala global. Não é possível entender estes processos separadamente [...] O homem branco, capitalista, heterossexual, militar, cristão, europeu foi o que se expandiu pelo mundo levando consigo, e impondo simultaneamente, os privilégios de sua posição racial, militar, de classe, sexual, epistêmica, espiritual e de gênero. Estas diversas e entrelaçadas colonialidades, foram cruciais nas hierarquias e ideologias globais que, ainda no início do século XXI, experienciamos em escala planetária (GROSFOGUEL, 2012, p. 342-343)”. 27 FOKARNIA, Mariana. Disponível em: http://www.geledes.org.br/intelectuais-negros-estao-fora-da-bibliografia-criticamespecialistas/#axzz3akUFIAvs. Acessado em: Maio de 2015. 28 Sobre dois exemplos de autores negros menosprezados pelo público intelectual brasileiro, ler: GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. A recepção de Fanon no Brasil e a identidade negra. Novos Estudos-CEBRAP, n. 81, p. 99-114, 2008; FIGUEIREDO, Angela; GROSFOGUEL, Ramón. Por que não Guerreiro Ramos? Novos desafios a serem enfrentados pelas universidades públicas brasileiras. Ciência e Cultura, v. 59, n. 2, p. 3641, 2007. 64 65 26 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. quando antropólogos colocam-se na contramão de conhecimentos científicos e não reconhecem os negros e [...] o mesmo não acontece no que diz respeito à inserção de alunos negros no campo de Estudos das Hierarquias negras como sujeitos da história e protagonistas no processo de conhecimento. Ângela Figueiredo e Ramón Raciais no Brasil. Neste campo, os pesquisadores negros não só historicamente estiveram à margem, como Grofóguel refletem sobre o que denominam “política de esquecimento”, “mecanismo pelo qual apagamos da memória das novas gerações a contribuição acadêmica de autores negros. Consciente ou inconscientemente, raramente os autores negros estão nas bibliografias dos cursos ministrados nas universidades” (2009, p. 36). Suely Carneiro (2005), por sua vez, compreende que a sociedade brasileira, sobretudo a academia/universidade, tem engendrado processos que conceitua como epistemicídio: ainda, na maioria das vezes, são tratados com desconfiança, já que a proximidade com o tema e a perspectiva política presente nos estudos muitas vezes servem de argumento para desqualificar a produção de intelectuais negros, por estarem demasiadamente próximos do objeto e, portanto, supostamente não terem a necessária objetividade para analisar um fenômeno social do qual fazem parte (2009, p. 227). A esta altura devo inteirar que tenho abordado duas dimensões de modo sincrético, e talvez até confuso, uma é a do teórico racializado, ou localizado racialmente, já que é determinante a cor da pele dos sujeitos, uma [...] banimento social, a exclusão das oportunidades educacionais, o principal ativo para a mobilidade social no vez que as relações sócio-raciais, assim como as mediações antropológicas, se dão também, e por hora país. Nessa dinâmica, o aparelho educacional tem se constituído, de forma quase absoluta, para os racialmente sobretudo, pelas configurações do olhar, do aparente, do fenótipo e do estereotipado (SOVIK, 2009). A outra inferiorizados, como fonte de múltiplos processos de aniquilamento da capacidade cognitiva e da confiança dimensão é a da teoria que, com objetivos políticos explícitos ou não, pretensiosos ou não, é em todo modo intelectual. É fenômeno que ocorre pelo rebaixamento da autoestima que o racismo e a discriminação provocam no cotidiano escolar; pela negação aos negros da condição de sujeitos de conhecimento, por meio da racializada. Posicionar-se nesse sentido é compreender se a epistemologia ou o pensamento que nos articulamos desvalorização, negação ou ocultamento das contribuições do Continente Africano e da diáspora africana ao reproduzem o racismo/sexismo epistemológico da filosofia ocidental e o fundamentalismo eurocêntrico, patrimônio cultural da humanidade; pela imposição do embranquecimento cultural e pela produção do fracasso e fazendo valer os privilégios da supremacia do pensamento crítico dos homens brancos ocidentais. Penso, como evasão escolar (CARNEIRO, 2005). Grosfoguel, que “é possível viver na Europa sem ser eurocêntrico. Assim como é possível ter origem na África, De certo, há minimamente mudanças recentes, posta uma nova geração de pesquisadores/a e pósgraduandos/a das camadas populares, subalternizadas. A presença de negras e negros no ensino superior Ásia ou América Latina e ser um fundamentalista eurocêntrico. Não existe correspondência essencialista entre lugar de origem e epistemologia” (2007, p.359). brasileiro, por exemplo, a partir de políticas reparatórias como a de cotas raciais e sociais, tem favorecido o Quanto a isto, Walter Mignolo (2003) exerce uma distinção no mínimo interessante entre perspectiva e desenvolvimento de uma multiplicidade de interesses temáticos sobre o seu mundo vivido, antes secundários, lugar de enunciación. A emergência da primeira “[…] não é o produto da dor e da fúria dos desprivilegiados deslegitimados ou esquecidos. em si, mas sim de quem, mesmo não sendo desprivilegiados, assume a perspectiva desses” (p. 28, tradução O fato de muitos destes serem ativistas, militantes ou egressos do movimento negro e/ou de outros livre). Enquanto o lugar de enunciación (standpoint epistemology) é o próprio lugar de histórias, memórias, movimentos sociais faz ainda com que questões raciais e políticas sejam tomadas como problemas subjetividades, biografia. Embora Mignolo (2003) trate somente do lugar de enunciación “de los desheredados, epistemológicos e ganhem um status científico a partir de um novo lócus enunciador (PINHO, 2008). Trata-se del dolor y la furia de la fractura” (p. 28), quando menciono a importância da reflexividade, crítica e revelação da constituição de um pensamento crítico desde a subalternidade (MALDONADO-TORRES, 2006), do deste lugar subscrevo-a enquanto condição sine qua non tanto para desprivilegiados, quanto para os favorecimento da ruptura com a dicotomia hegemônica sujeito-objeto, o “Eu e o Outro”, da epistemologia privilegiados do “sistema-mundo / patriarcal / capitalista / colonial / moderno”. É determinante cartesiana. Osmundo Pinho (2008) indica que basta observarmos as listas de comunicações de eventos compreendermos a localização epistêmica e as posições tomadas pelos diferenciados atores sociais. científicos da área de antropologia e outros diversos “para constatarmos uma verdadeira explosão Conforme Júlia Benzaquen, muito dos autores descoloniais são ““filhos de Colombo”, possuindo assim, caleidoscópica de propostas temáticas, investigações de caráter etnográfico, reflexões teóricas e estudos que muito mais uma perspectiva dos oprimidos do que um lugar de enunciação do colonizado” (2013, p. 82). E a combinam abordagens diversas a explícitas tomadas de posição política” (2008, p.3). estes também questiono a ausência de narrativas no sentido de: como é este lugar de enunciación privilegiado? Porém, não restam dúvidas que se tais mudanças ocorrem dentro de um sistema-mundo racista e Como é ser o sujeito homem branco, branco crioulo, ou mestiço claro que ocupa historicamente a posição de excludente, é de praxe que seus limites sejam impostos mediante a manutenção de um status quo e talvez não sujeito do saber científico? Ora, “[...] sempre falamos de uma localização particular nas relações de poder. tenhamos vencido nenhuma revolução contra a estrutura de colonialidade do saber e do poder. Conforme Ninguém escapa às hierarquias de classe, raciais, sexuais e de gênero, linguísticas, geográficas e espirituais do Ângela Figueiredo e Ramon Grosfoguel (2009), se a entrada das mulheres na academia favoreceu a ampliação sistema-mundo” (FIGUEIREDO & GROSFOGUEL, 2009, p. 228). de temas e perspectivas sobre as mesmas, bem como os estudos sobre homossexualidade alterou a agenda de Já no que tange a crítica à construção da autoridade etnográfica e a espécie de “crise autoral” a ser incorporada explicitamente entre formulações teóricas e etnográficas, José Jorge de Carvalho (2013) nos aponta pesquisa conforme o protagonismo de pesquisadores homossexuais, que a Antropologia brasileira “é ainda extremamente refratária a qualquer questionamento sobre o seu lugar 66 67 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. clássico, [...] de autoridade inconteste e de pertença acrítica à elite social do país” (p. 63). Por outro lado, CASTRO-GÓMEZ, Santiago; GROSFOGUEL, Ramón. El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Siglo del Hombre Editores, 2007. CLIFFORD, James. A experiência etnográfica: antropologia e literatura no século XX. Organizado por José Reginaldo Santos Gonçalves. Ed.3, Rio de Janeiro: editora UFRJ, 2008. COSTA, Sérgio. Dois Atlânticos: teoria social, anti-racismo, cosmopolitismo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006. DUSSEL, Enrique. Europa, modernidade e eurocentrismo. iN: A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. Edgardo Lander (org). Colección Sur Sur, CLACSO, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Setembro, 2005. FERREIRA, Fred Igor Santiago. Sou Sem Terra, Sou Negão: raça, racismo e política racial no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais), Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cachoeira-BA, 2015. FIGUEIREDO, Ângela; GROSFOGUEL, Ramón. Por que não Guerreiro Ramos? Novos desafios a serem enfrentados pelas universidades públicas brasileiras. Ciência e Cultura, v. 59, n. 2, p. 36-41, 2007. FIGUEIREDO, Ângela; GROSFOGUEL, Ramón. Racismo à brasileira ou racismo sem racistas: colonialidade do poder e a negação do racismo no espaço universitário. Sociedade e Cultura, v. 12, n. 2, p. 223234, 2009. FIGUEIREDO, Angela; PINHO, Osmundo de Araujo; VELOSO, Angela. Idéias fora do lugar e o lugar do negro nas ciências sociais brasileiras. Estudos afro-asiáticos, v. 24, n. 1, 2002. GROSFOGUEL, Ramón. Descolonizar as esquerdas ocidentalizadas: para além das esquerdas eurocêntricas rumo a uma esquerda transmoderna descolonial. Revista Semestral do Dep. e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar, v. 2, n. 2, p. 337, 2012. GROSFOGUEL, Ramón. Dilemas dos estudos étnicos norte-americanos: multiculturalismo identitário, colonização disciplinar e epistemologias descoloniais. Ciência e cultura, v. 59, n. 2, p. 32-35, 2007. GROSFOGUEL, Ramón. Pará descolonizar OS Estudos de Economia Política e Os Estudos Pós-Coloniais: transmodernidade, Pensamento de Fronteira e colonialidade global. Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 80, p. 115-147, 2008. GUIMARÃES, Antônio Sérgio Alfredo. A recepção de Fanon no Brasil e a identidade negra. Novos Estudos-CEBRAP, n. 81, p. 99-114, 2008. MALDONADO-TORRES, Nelson. Pensamento crítico desde a subalternidade: os estudos étnicos como ciências descoloniais ou para a transformação das humanidades e das ciências sociais no século XXI. Salvador: Afro-ásia, n. 34, p.105-129, 2006. MIGNOLO, Walter. "Un Paradigma Otro": Colonialidad Global, Pensamiento Fronterizo Y Cosmopolitanismo Critico. Dispositio, p. 127-146, 2005. MIGNOLO, Walter. Desobediência epistêmica: a opção descolonial e o significado de identidade em política. Cadernos de Letras da UFF–Dossiê: Literatura, língua e identidade, n. 34, p. 287-324, 2008a. MIGNOLO, Walter. Historias locales/diseños globales: colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo. Ediciones Akal, 2003. MIGNOLO, Walter. La opción de-colonial: desprendimiento y apertura. Un manifiesto y un caso. Bogotá – Colombia: Tabula Rasa, No.8, p. 243-281, 2008b. MIGNOLO, Walter. La teoría política en la encrucijada descolonial. Ed. Del Signo, 2009. PINHO, Osmundo. A Antropologia no Espelho da Raça. Porto Seguro – BA: 26ª Reunião de Brasileira Antropologia, 2008. QUIJANO, Aníbal. "Colonialidad y Modernidad-racionalidad". In: BONILLO, Heraclio (org.), Losconquistados Bogotá: Tercer Mundo Ediciones; FLACSO, p. 437-449, 1992. QUIJANO, Anibal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: LANDER, Edgardo (org). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Colección Sur Sur, CLACSO, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, Setembro, p.227-278, 2005. SILVA, Vagner Gonçalves. O antropólogo e sua magia. São Paulo: EDUSP, 2000. SILVA, Vagner Gonçalves; REIS, Letícia Vidor da Silva (Org.). A antropologia e seus espelhos. São Paulo: Pós-Graduação em Antropologia, USP. 1996. VALENTE, Ana Lúcia. A “má vontade antropológica” e as cotas para negros nas universidades (ou usos e abusos da antropologia na pesquisa educacional II: quando os antropólogos desaprendem). InterMeio: podemos entender que o pensamento crítico produzido pelos novos sujeitos que ocupam o espaço acadêmico é potencialmente descolonial. Potencialmente, pois além de inacabado e com vários obstáculos (GROSFOGUEL, 2007), não esqueçamos que nem sempre perspectiva e lugar de enunciación se imbricam de maneira crítica e producente à desconstrução da colonialidade do saber, colonialidade do poder e colonialidade do ser. Uma proposição político-ético-epistêmica descolonial, tendo em pauta ainda a geopolítica e a corpopolítica do conhecimento, põe em xeque o desafio de relacionar as formas de pensamento, cosmologia e sociabilidade subalternas, diante ou contrapostas às formas que se fazem hegemônicas, sem cair em um fundamentalismo nacionalista terceiro-mundista (GROSFOGUEL, 2007). O investimento em uma antropologia descolonial sobre raça no Brasil é, portanto, o afronto em trazer para este escrito a perspectiva do pluriversalismo - implica em dispor-me à diversidade epistêmica do mundo (GROSFOGUEL, 2007; 2012); o pensamento crítico de fronteira (MIGNOLO, 2003), redefinindo a retórica emancipatória da modernidade a partir de cosmologias e epistemologias do subalternizado; o exercício da desobediência epistêmica: desconfiar de toda certeza, por mais incontestável, que me foi apresentada nos moldes da formação do saber ocidental supremacista branco (MIGNOLO, 2005; 2008a; 2008b); a defesa de uma etnografia ativista/militante, uma vez que uma inquietação política torna-se um processo de descoberta acadêmica e tentativa de politização da ciência antropológica (FERREIRA, 2015) e; entre outras subversões. REFERÊNCIAS ALMEIDA, Júlia. “Crítica Pós-colonial os Domínios de Língua Portuguesa: Pautando Desafios Epistemológicos.” REALIS - Revista de Estudos AntiUtilitaristas e PósColoniais, v. 2, n 1, p. 33–44, 2012. ALMEIDA, Júlia; MIGLIEVICH-RIBEIRO, Adelia; GOMES, Heloisa Toller (Org.). Crítica pós-colonial: panorama de leituras contemporâneas. Rio de Janeiro: 7 Letras/ Faperj, 2013. ALMEIDA, Miguel Vale. O Atlântico Pardo: antropologia, pós-colonialismo e o caso “lusófono”. In: BASTOS, Cristiana. ALMEIDA, Miguel Vale de; FELDMAN-BIANCO, Bela. Trânsitos coloniais: diálogos críticos luso-brasileiros. Lisboa: Imprensa de CISO, 2002. BALLESTRIN, Luciana. América Latina e o giro decolonial. Revista Brasileira de Ciência Política, v. 11, p. 89-117, 2013. BARROS, Zelinda. Representações do pensamento social acerca do casamento inter-racial. (Dissertação), Salvador: UFBA – Prog. de Pós-Graduação em Ciências Sociais, 2003. BASTOS, Cristiana; ALMEIDA, Miguel Vale de; FELDMAN-BIANCO, Bela (Org.). Trânsitos Coloniais: Diálogos Críticos Luso-Brasileiros. São Paulo: UNICAMP, 2007. BENZAQUEN, Júlia. O engajamento intelectual através do reconhecimento da geopolítica do saber. Ver. de Estudos AntiUtilitaristas e PosColoniais, v. 3, n. 2, p. 74-85, 2013. CARNEIRO, Aparecida Sueli. A Construção do Outro como Não-Ser como Fundamento do Ser. Tese de Doutorado. Prog. de Pós-Graduação em Educação da USP, 2005. CARVALHO, José Jorge de. O olhar etnográfico e a voz subalterna. Porto Alegre: Horizontes Antropológicos, ano 7, n. 15, p. 107-147, 2001. CARVALHO, José Jorge de. O olhar etnográfico e a voz subalterna: para uma teoria da subalternidade e do luto cultural. In: ALMEIDA, Júlia; MIGLIEVICH-RIBEIRO, Adelia; GOMES, Heloisa Toller (Org.). Crítica pós-colonial: panorama de leituras contemporâneas. Rio de Janeiro: 7 Letras/ Faperj, 2013. CASTRO-GOMEZ, Santiago, La hybris del punto cero: ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-1816). Bogotá, Colombia: Editorial Pontífica Universidad Javeriana, 2006. 68 69 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. Revista do Programa de Pós-Graduação em Educação-UFMS, v. 12, n. 24, p. 85-103, 2013. escolar, com políticas que configuram uma infância global, que coopera para a desigualdade, homogeneizando a infância. Como resultado temos uma infância universal, idêntica qualquer que seja sua classe social e sua A INFÂNCIA DA CRIANÇA CANDOMBLECISTA cultura. JAQUELINE DE FÁTIMA RIBEIRO 29 Devemos não perder de vista que esses campos ao considerar a criança como ator social e como sujeito de direitos, assume a questão da sua participação como central na definição de um estatuto social da infância e Resumo: O texto em questão, é parte da pesquisa em desenvolvimento (mestrado) que tem como objetivo investigar o lugar da infância na religião de matriz africana. Indaga sobre como ela se dá no contexto de relações de pares protagonizadas pelas crianças em um Terreiro de Candomblé, situado na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. O texto aponta para a necessidade de mais pesquisas na área de educação à medida que as pesquisas sobre infância não dão conta das múltiplas realidades e contextos em que a criança está inserida, espaços, como terreiro de candomblé, são poucos abordados, em especial a infância por meio da voz da própria criança nesses espaços. Palavras-chave: infância afrodescendente. cultura de pares. Candomblé. na caracterização de seu campo científico. Desse modo o protagonismo da criança é posto na ordem do dia. Contudo, hoje se faz necessário repensar o campo da infância, para a construção social desta, como um novo paradigma, com ênfase na necessidade de se elaborar a reconstrução deste conceito à medida que as pesquisas não dão conta da multiplicidade de infância. E na maioria dos casos têm como modelo o sentimento de infância conceituado por, uma visão eurocêntrica da criança (ARIÈS, 2006). Pois devemos partir do principio que existem várias infâncias, e que estas são produzidas historicamente, de inserção social diferente umas das outras, a partir de suas condições econômicas, sociais e culturais. Pensando nessa proposta, é que se chega à conclusão da necessidade de se valorizar outras infâncias Introdução Este texto, é parte da pesquisa em desenvolvimento (mestrado), cujo objetivo é investigar O lugar da que foram e ainda são silenciadas, marginalizadas. A pesquisa, em questão, busca a representação de uma Infância na religião de matriz africana, Candomblé. A pesquisa em questão pretende investigar, por meio da infância afrodescendente (SANTOS, 2006). É uma questão política, a de incluir a criança afrodescendente e sua observação e de uma escuta sensível, o que as crianças que frequentam o Terreiro pesquisado têm a dizer sobre infância na história. Vale ressaltar que seus saberes e fazeres são parte da herança civilizatória fruto da o lugar que a infância ocupa no espaço/tempo do candomblé. Entender qual é o lugar da infância na religião de Diáspora Africana (BRASIL, 2005). Não estou com isso querendo dizer que o candomblé é a única religião onde a criança afrodescendente matriz africana pelos olhos da criança. O lócus da pesquisa é um Terreiro de Candomblé situado na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, se faz presente, mas seus princípios, fundamentos, os saberes e fazeres presentes nessa religião são herança da cultura africana, uma cultura que o povo de santo preservou. Neste caso estou falando de africanidades no bairro de Realengo, e tem como protagonistas 12 crianças praticantes do Candomblé. Neste contexto, a pesquisa tem como objetivo trazer a dimensão da vivência da criança, por meio dos saberes e fazeres do Terreiro, como parte do processo de humanização e de constituição de suas identidades, presentes no cotidiano dos Terreiros de Candomblé, e as crianças que frequentam o Terreiro têm um jeito próprio de ser, são também constituídas por esses elementos. De acordo com Machado (1999), o “povo-de-orixá” tem um modo de vida cuja estrutura reúne valores bem como a compreensão de como suas vivências constituem fontes de conhecimento. relacionados aos dos orixás. Ou seja, o candomblecista tem na figura do orixá o modelo da sua identidade. Dessa forma, os estereótipos dos orixás também são tidos como modelo e são reforçados como características Infância e vivência no Terreiro A partir do século XX o número de trabalhos que tem a infância no centro de suas reflexões é crescente, vários saberes se organizam em seu entorno buscando compreendê-la, a partir de sua categoria. Surge dos filhos de santo. Assim, se uma criança é filha de Xangô, seu arquétipo “é aquele das pessoas voluntariosas e enérgicas, altivas e conscientes de sua importância real ou suposta” (VERGER, 2002, p. 140). a História da Infância, a Filosofia da Infância, a Geografia da Infância e ao final do séc. XX, a Sociologia da Por ser uma religião iniciática, no candomblé aprende-se pela vivência. Desse modo, é a relação entre Infância. Nesse sentido o conceito de infância é complexo, com concepções distintas de acordo com visões e seus membros que possibilita o acesso aos saberes da religião. Saberes e fazeres que são passados pela posições de mundo. Desse modo desafios estão postos, pela complexidade da conceituação da infância, assim oralidade e pela pratica diária desses saberes. É por meio dessas vivências que as crianças humanizam-se e como também a superação da forma de concebê-la. constituem sua identidade. Partindo desse princípio, Santos (2006) apresenta, desde a concepção natural de Esses estudos sinalizam que a constituição histórica da infância sofre várias mudanças, ela não é infância, a concepção histórica como fundamento para se chegar a “infância afrodescendente” e seus princípios instável. Um conjunto de procedimentos, normas atitudes condicionam e constrangem a vida das crianças. fundadores. A autora chama de infância afrodescendente a infância das crianças candomblecistas, ou seja, a Reservando para elas um lugar subalterno aos adultos. Surgem também lugares e ofícios, ligados à atividade infância instituída pelos elementos da cultura africana, representada pela religião de matriz africana, e em sua pesquisa, o candomblé. 29 Universidade Federal Fluminense. Mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação. Agência financiadora – CAPES. 70 71 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. De acordo autora, se faz necessário pensar a origem da infância afrodescendente historicamente a Das quinze teses, apenas duas foram defendidas em Programas de Pós-Graduação em Educação. Sendo que partir de sua ancestralidade. Ou seja, ela é “multifacetada, complexa” por conter elementos variados de diversas apenas uma aborda o tema da infância no Terreiro. Em relação às dissertações, do total de sessenta e oito, comunidades africanas; uma identidade grupal definida e organizada nos terreiros de candomblé que apenas seis foram defendidas em programas de Pós-graduação em Educação e, apenas uma em programa de possibilitou “vínculos parentais, agora não mais pautados no sangue e no nome de família, mas na capacidade Pós-graduação em Ciências Sociais que aborda a Infância do/no Terreiro. de novos e complexos laços, tendo o culto aos ancestrais como principal meio de reconciliação” (SANTOS, No levantamento realizado no banco de dados do Scielo, acessei os resumos de artigos com as mesmas 2006, p. 44). Neste caso, essa infância afrodescendente é instituída pelos elementos, símbolos, pelos saberes e palavras utilizadas para fazer a busca no sítio da CAPES. Porém, como nesse sítio acessei somente artigos, fazeres do povo africano, seus ancestrais, “reorganizado” e “recriado no território baiano” e, para além dele, considerei necessário refinar a busca por palavras do título. Entre os resumos analisados, encontrei vários onde os afrodescendentes se fazem presentes. artigos, mas os mesmos não abordavam o tema Infância no/do Terreiro. Quando o resumo fazia referência ao O culto aos orixás e seus mitos, os itãs, gera uma série de comportamentos que os praticantes da tema “infância”, este não era relacionado com o “terreiro” e vice-versa. religião de matriz africana tomam para si como um meio de estruturar a sua vida. Assim, tudo no Terreiro se Após a leitura dos resumos da tese e da dissertação encontradas, procurei acessar, nas páginas dos organiza através desses mitos. Ele é o elemento central da religião, é através dele que a comunidade do terreiro Programas de Pós-Graduação em que a tese e a dissertação foram defendidas, os textos em versão integral. Não aprende sobre sua religião. E mais, por revelar os valores e princípios de cada orixá, é através dessa linguagem obtive êxito, pois os arquivos tanto da tese quanto da dissertação não estavam disponíveis nas páginas dos que as pessoas, ao serem comparadas com as características dos orixás, constroem suas identidades programas. Com a colaboração de o próprio autor da tese, tive a oportunidade de ler o trabalho, mas, quanto à (MACHADO, 1999 apud SANTOS, 2006). dissertação, consegui apenas por meio de uma busca no Google Acadêmico, utilizando o titulo da dissertação e Partindo desse pressuposto, Santos (2006), define os princípios fundadores da infância afrodescendente através da narração mítica, dos elementos definidores dos orixás. Assim, os princípios definidores da infância afrodescendente de acordo com a autora são: o nome da autora como palavras-chaves. A seguir apresento brevemente o conteúdo da tese e da dissertação. Na tese No terreiro também se educa: relação candomblé-escola na perspectiva de candomblecistas, Quintana (2012) aborda questões relativas ao cotidiano dos praticantes das religiões afro-brasileiras. Sua A reconciliação; da integração e dos novos padrões de convivência; compartilhar; da criação e da pesquisa aborda o significado da escola por parte de famílias candomblecistas, em que o autor observa que a corresponsabilidade; a multiplicidade, a diversidade da vida, o rigor com simplicidade e delicadeza; a força, a aprendizagem no candomblé se dá pela vivência, a partir da presença do (a) filho (a) de santo nas atividades inteligência, a justiça e o rigor; o acolhimento; o respeito à natureza (SANTOS, 2006, p.52). cotidianas no terreiro de candomblé, sendo baseada no “treino da atenção” e no ato de observar o que está São esses os princípios fundadores da infância afrodescendente trabalhados cotidianamente nas sendo feito e não pela pergunta sobre o que está sendo feito. Em sua pesquisa, aparece à criança praticante de comunidades religiosas de tradição africana, na tentativa de validá-los na prática de vida individual e coletiva candomblé e, com base em suas vivências no terreiro, por meio da brincadeira, a infância surge como um dos afrodescendentes na Bahia. Ou, de acordo com (QUINTANA, 2012), são os valores identitários que são elemento presente nesse espaço. Apesar de a infância não ser o elemento central da tese, o trabalho apresenta levados para fora do Terreiro. uma riqueza de detalhes de como as crianças se organizam no terreiro, onde “a criança, a sua maneira, aprende ‘as coisas do candomblé’, do seu universo religioso afro-brasileiro através das brincadeiras” (QUINTANA, Teses e dissertações sobre infância e terreiro 2012, p. 99). Como primeira tarefa de pesquisa, efetuei levantamento de dados sobre o tema Infância e Terreiro, A dissertação de Santos (2011) Os encantados infantes do candomblé baiano: estudo sócio religioso com o objetivo de saber o que a área da educação produziu sobre o tema. Assim, elegi dois sítios acadêmicos em terreiros de Salvador investiga o culto dos Erês, dos Ibêji/Vunji e São Cosme e São Damião, por meio de para a busca: o Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o entrevistas com os praticantes do candomblé da nação Ketu e Angola e de uma revisão bibliográfica sobre o Scientific Electronic Library Online (Scielo), que possibilitou o acesso à produção de teses e dissertações em tema. Ainda que a infância não seja o foco principal do trabalho, apresenta-se a relação entre o orixá Ibêji Programas de Pós-Graduação e artigos científicos no período de 2010 a 2015. (Ketu) /Vunji (Angola), o estado de Erê e São Cosme e São Damião – “entidades” que apresentam No levantamento realizado no banco de dados da CAPES, em um primeiro momento, foi possível características infantis. Assim, a autora analisa a origem dos rituais, as crenças e experiências religiosas dos acessar os resumos de teses e dissertações que continham as palavras: “candomblé-infância”; “candomblé- devotos, destacando as características dos orixás Ibêji/Vunji e conceitos sobre o estado de Erê. Seu trabalho traz criança”; “infância-terreiro”; “terreiro-criança”; “candomblé”. Neste levantamento, com exceção da palavra uma importante contribuição sobre os orixás Ibêji/Vunji, o estado de Erê e a relação entre eles. Neste caso, seu “candomblé”, não foi encontrada nenhuma tese ou dissertação que tivessem relação com o tema em discussão. trabalho é muito importante por apresentar um tema pouco discutido que é sobre as “entidades” que possuem Dessa forma, foram identificadas quinze teses e sessenta e oito dissertações, um total de oitenta e três. 72 73 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. características infantis nos terreiros de candomblé. A autora sinaliza que o culto aos gêmeos “é uma das mais fundamentos da etnografia, numa abordagem metodológica pautada da pesquisa qualitativa – por meio da híbridas manifestações religiosas da Bahia, cuja identidade não se perde com a mistura interna e externa, mas se observação e de uma escuta sensível do que a criança tem a dizer sobre o tema. consolida na dupla pertença católica e africana” (SANTOS, 2011, p. 11). Assim utilizarei como principal instrumento roda de conversa com as crianças e mapas vivencias. A Antes mesmo de desenhar o projeto sobre Infância e Terreiro, tive acesso a outros trabalhos que roda de conversa tem o objetivo de possibilitar às crianças discorrer sobre o tema, contextualizando suas falas e, abordam o tema da infância. O primeiro trata-se da dissertação de Vanda Machado Ilê axé: vivências e ao mesmo tempo, permitir que os dados sejam acrescentados à análise do material coletado. Nesse sentido, esta invenção pedagógica – as crianças do Opô Afonjá (1999). Apesar de a infância não ser o foco de pesquisa da metodologia de trabalho como fonte de informação permitirá o acesso aos dados secundários e primários por autora, seu trabalho apresenta a infância da criança da escola do Axé Opô Afonjá, e mostra a riqueza que meio das falas das crianças, referentes aos fatos, às ideias e crenças; às maneiras de pensar, de sentir e de atuar; emerge das falas das crianças sobre sua cultura e sua religião. Machado investiga a formação de conceitos nas à conduta ou ao comportamento presente ou futuro; às opiniões e aos sentimentos, que só podem ser crianças durante o processo educativo que se passa no cotidiano escolar tendo o “ethos cultural” do terreiro de conseguidos com a contribuição dos indivíduos envolvidos. candomblé Ilê Axé Opô Afonjá. O trabalho também destaca a importância da vivência da criança como Os mapas vivenciais (LIMA, 2014) possibilitam as crianças, por meio da cartografia, a apresentarem possibilidade de ideias novas, de conceitos, a possibilidade de juntamente com a criança, ter acesso ao os espaços afetivos e sociais onde estão inseridas. Nesse sentido os mapas vivenciais são de grande importância conhecimento, por meio de sua própria cultura. A autora conclui que o conhecimento que “está no Aiyê (mundo para que o pesquisador possa ter acesso a informações dos lugares de grande significados afetivo para as natural) e no Orum (mundo das divindades) não está na educação sistêmica” (MACHADO, 1999, P. 120). Ou crianças. Isso possibilita ao pesquisador na analise dos dados ter acesso a informações importante sobre o seja, o conhecimento adquirido pela criança em sua vivência no terreiro, no seu cotidiano não é valorizado pela sentido do espaço para a criança. escola. Além da roda de conversa e dos mapas vivencias, pretendo utilizar como ferramenta de coleta de Outro trabalho é o de Ana Katia Alves dos Santos (2006) Infância Afrodescendente: epistemologia dados o caderno de campo, este será utilizado para anotações durante a estadia no terreiro e, mais tarde, serão crítica no ensino fundamental. Ana Katia apresenta uma narrativa sobre uma epistemologia crítica no ensino feitas analises qualitativas dos dados encontrados, um estudo qualitativo e comparativo com as falas e as fundamental e percebe o conhecimento produzido pela infância afrodescendente como importante para cartografias das crianças. desconstruir alguns imperativos da racionalidade moderna que se instalou no cenário escolar baiano. A autora Contudo, é preciso não perder de vista que a entrada do pesquisador em campo não é neutra, da mesma chama de infância afrodescendente a infância das crianças negras, praticantes de religiões de matrizes africanas. maneira que observamos também somos observados, da mesma maneira mudamos o espaço da pesquisa com a Seu trabalho apresenta ideias desde a concepção natural de infância até a concepção histórica como fundamento nossa interferência, o espaço também nos modifica. E isso faz com que as pessoas envolvidas na pesquisa – para se chegar à infância afrodescendente e seus princípios fundadores. Ela sinaliza que o pensamento científico pesquisador e pesquisado – mudem a rotina e o seu comportamento. moderno cartesiano influencia fortemente a educação ao instituir a separação sujeito/objeto, posicionando o sujeito numa relação de superioridade frente ao objeto. Para Peirano (1995), a pesquisa etnográfica transpôs os sensos, as genealogias, as coletas de histórias de vida, as anotações em um diário, escrever mitos e seguir à risca os manuais. Isso porque a ilusão de que a Desse modo, as crianças que cultuam valores afrodescendentes quando chegam à escola são instituídas roteirização da pesquisa de campo em busca do nativo-ideal e a descoberta de sua não existência, hoje, não numa relação dividida entre elas e o mundo vivido fora da escola, numa negação dos aspectos culturais próprios causa mais desesperança. Neste caso, os estudos etnográficos ou abordagens etnográficas exigem que os a elas, que são silenciados ou negligenciados. De acordo com autora, a escola cultua uma racionalidade pesquisadores entrem e sejam aceitos na vida daqueles que estudam e dela participam, e que suas análises moderno-colonialista, portanto, branco-ocidental e cartesiana para pensar os sujeitos e o conhecimento que eles levem em consideração os anseios dos indivíduos. produzem. Considerações finais A partir do levantamento de dados apresentados acima – dados do Portal da Coordenação de Caminhos e diálogos: a carpintaria da pesquisa Para estudar O lugar da infância em religiões de matrizes africanas procurei, em um primeiro Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o Scientific Electronic Library Online (Scielo) – momento, registros sobre infância e religiões de matrizes africanas em sítios de bancos de dados, de teses, constatei que o número de pesquisas, que trazem a criança praticante do candomblé e sua infância no Terreiro é dissertações, artigos e, livros com objetivo de saber o que as pesquisas na área de educação e os autores têm a muito pequeno, o que revela a necessidade de mais pesquisas na área, à medida que as pesquisas sobre tema dizer sobre o tema. Com o objetivo de explorar o tema da pesquisa que está sendo realizada, baseei-me nos não dão conta das múltiplas realidades e contextos em que a criança está inserida. 74 75 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. Essa observação despertou inquietações que surgiram justamente desse não lugar da infância nas pesquisas sobre as religiões de matrizes africanas, representada aqui pelo candomblé. Com o advento da Lei nº 1 Introdução 10.639 (BRASIL, 2003) e das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Etnicorraciais e O presente artigo objetiva tecer reflexões teóricas a respeito da Lei 10.639/0331 que torna obrigatório para o Ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira (BRASIL, 2005) o tema torna-se mais nos estabelecimentos de ensino público e privado o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e emergente. dos desafios que a gestão de uma escola quilombola no sudoeste da Bahia enfrenta em relação à efetivação da referida lei. Em um primeiro momento, apresenta-se ao leitor um histórico do surgimento da lei para melhor Referências: situá-lo na discussão e importância desse aparato legal para a educação. No segundo momento discute-se sobre ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. 2. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. BRASIL. (2003). Ministério da Educação. Lei nº 10.639,09.01.2003. BRASIL. Conselho Nacional de Educação (2005). Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília, Ministério da Educação Brasília: Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial/Secretaria de Educação Continuada/Alfabetização e Diversidade. Out. 2005. LIMA, Reinaldo José de. Tem que estar no mapa porque faz parte do mundo: cartografia com crianças em Areal (RJ). Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014. MACHADO, Vanda. Ilê Axé: vivências e invenções pedagógicas – as crianças do Opô Afonjá. Salvador: EDUFBA, 1999. PEIRANO, Marisa. A favor da etnografia. Rio de janeiro: Relume-Dumará, 1995. QUINTANA, Eduardo. No terreiro também se educa: relação candomblé-escola na perspectiva de candomblecistas. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2012. SANTOS, Ana Katia Alves dos. Infância e afrodescendente: epistemologia critica do ensino fundamental. Salvador: EDUFBA, 2006. 46. SANTOS, Emilena Sousa dos. Os encantados infantes do candomblé baiano: estudo sócio-religioso em terreiros de Salvador. Dissertação (Mestrado em Sociais e Humanidades) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2011. VERGER, Pierre. Orixás: deuses africanos no novo mundo. 6. ed. Salvador: Currupio, 2002. a equipe gestora como elemento imprescindível na efetivação da lei e seus desdobramentos. Por fim, encerra-se tecendo algumas considerações a respeito da educação para as relações etnicorraciais. A temática da educação e relações raciais tem sido abordada nos mais variados espaços, incluindo-se a instituição escolar como ambiente propício para se debater questões relacionadas à história e cultura afro-brasileira e africana. Compreende-se, desta maneira, o quão importante se torna a escola ambiente de socialização e construção de conhecimentos. Conhecimentos estes que considerem as culturas marginalizadas e discriminadas. Como espaço de poder, a escola tem contribuído para a perpetuação de preconceitos e discriminações quando não valoriza e não discute os valores civilizatórios africanos e nem debate com veemência os preconceitos materializados no cotidiano escolar. Nota-se uma amplitude do olhar para a diversidade etnicorracial a partir das produções acadêmicas e debates sobre o tema. Inegavelmente, essa realidade tem mostrado pontos positivos no que se refere ao estudo da diversidade. Embora não se possa afirmar um avanço definitivo no trato das questões que envolvam os discursos sobre a diversidade etnicorracial, as várias interpretações dadas ao tema têm demonstrado uma complexidade e ao mesmo tempo um desafio, tanto para educadores como para gestores. Segundo Lima e Trindade (2012, p. 177) “A diversidade, que em alguns discursos é evocada como A LEI 10.639/03 E OS DESAFIOS DA GESTÃO EM UMA ESCOLA DO SUDOESTE DA BAHIA sinônimo de peculiar beleza, ainda tem servido sob a mediação do racismo em suas diversas formas, como JOELSON ALVES ONOFRE30 Resumo: Objetiva-se neste texto tecer reflexões teóricas a respeito da Lei 10.639/03 que tornou obrigatório nos estabelecimentos de ensino público e privado o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e dos desafios enfrentados pela gestão de uma escola no sudoeste da Bahia em relação à efetivação da referida lei. Há exatos doze anos de sua promulgação muito ainda precisa ser feito em relação às suas determinações no âmbito educacional. A lei não se constitui em solução mágica no combate ao racismo e às discriminações no ambiente escolar. Ela é, antes de tudo, uma ação afirmativa de extrema importância para garantir o conhecimento da herança africana, dos valores civilizatórios e da importância da história do negro na formação da nação brasileira. O diálogo teórico se deu com os autores: Gomes (2006, 2008), Cavalleiro (2005, 2011), Müller (2006, 2009) entre outros. A discussão em torno do papel da equipe gestora na aplicabilidade da lei na escola torna-se pertinente, pois os gestores também são atores no processo educativo e desempenham uma importante tarefa na condução das questões relacionadas à lei. As provocações teóricas expostas neste artigo pretenderam discutir sobre os desafios da gestão em relação à Lei 10.639/03, assim como oportunizar um debate sobre a educação para as relações raciais no espaço escolar. Palavras-chave: Educação e relações etnicorraciais. Gestão escolar. Lei 10.639/03. 30 Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS – Licenciado em Filosofia, Especialista em Educação e relações etnicorraciais, Mestre em Educação, professor Auxiliar do Departamento de Ciências Humanas e Filosofia – DCHF/UEFS. [email protected]. 76 instrumento gerador de desigualdade”. A assertiva das autoras coloca a diversidade no centro do debate e conclama a uma reflexão a respeito dos efeitos sutis do racismo, pois a diversidade no campo discursivo tem servido para legitimar uma suposta harmonia entre as culturas. O diverso pressupõe uma relação de conflito, seja no campo semântico, ideológico, social, enfim, desafia nossas ideias pré-estabelecidas e nos faz sair da zona de conforto e partir para o embate. Em estudo anterior afirmo o imprescindível papel da escola na formação de sujeitos cônscios de seu papel na sociedade, bem como a maneira que a escola tem se furtado a exercer uma dinâmica de respeito às diferenças, principalmente no campo curricular. A instituição escolar se insere no tecido social e, por fazer parte integrante nesse contexto, assume uma dimensão política que se reflete na sala de aula. Essa postura deve proporcionar à escola uma análise crítica dos instrumentos de poder que, muitas vezes, se encontram subjacentes na formação do currículo. Esses instrumentos 31 Priorizamos como recorte específico a lei 10.639/09 por tratar de questões voltadas à obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afrobrasileira, bem como viabiliza a discussão de temáticas correlatas como educação etnicorracial e gestão escolar. 77 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. inviabilizam a formação de um currículo plural, baseado na diversidade e nas diferenças, isto é, a cultura erudita, Assim sendo, a escola, como socializadora de saberes e conhecimentos, se constitui em campo de debate disponibilizada para poucos, dita as regras e potencializa aquilo que poderíamos denominar de “currículo e, principalmente, de conflitos, onde as realidades do cotidiano precisam ser tensionadas a todo instante afim de imposto”, organizado e elaborado por especialistas, em gabinetes fechados. (ONOFRE, 2008, p. 106) proporcionar um salutar ambiente de conhecimento de uma outra história, não a oficial, tão difundida nos Na história da educação escolar deparamo-nos com um processo instrucional e de afirmação de um pensamento estritamente eurocêntrico e porque não dizer dominante, em que o conhecimento ocidental é programas curriculares por meio de seus componentes, e sim de uma narrativa diversa a partir do olhar sobre a África e os africanos. transmitido e tido como oficial. Com a promulgação da Lei 10.639/03, fruto das reivindicações do Movimento Vale salientar que a lei 10.639/03 é resultado de uma constante e vigilante luta antirracista. Não se deve, Negro, intensificam-se estudos e pesquisas direcionados ao conhecimento do legado africano, com objetivo de em hipótese alguma, minimizá-la em seu caráter político-educativo, haja vista suas determinações estarem em trazer à baila a questão do racismo no Brasil, do papel da população negra na formação da sociedade brasileira, consonância com as reivindicações do movimento negro e dos estudiosos do tema. A eficácia da lei tem sido da contribuição dos negros na arte, música, literatura, cultura, culinária, educação etc. comprometida devido a um silêncio, muitas vezes proposital, dos agentes envolvidos no processo educativo, Partindo dessas assertivas, norteamos nossa reflexão a partir da problematização dos desafios da implementação da lei federal 10.639/03, tendo como sujeitos a equipe gestora de uma escola pública. Tal especialmente gestores políticos, gestores educacionais, professores etc. Nesta perspectiva, Cavalleiro (2005, p. 11-12) corrobora: intento possibilita uma imersão no universo escolar sob uma nova ótica, sendo esta viabilizadora de novas Na educação brasileira, a ausência de uma reflexão sobre as relações raciais no planejamento escolar tem proposições e debates a respeito da importância de se repensar os conteúdos trabalhados e difundidos no espaço impedido a promoção de relações interpessoais respeitáveis e igualitárias entre os agentes sociais que integram o cotidiano da escola. O silêncio sobre o racismo, o preconceito e a discriminação raciais nas diversas instituições escolar. Acreditamos que a efetivação da lei também passa pelo comprometimento de uma gestão que se educacionais contribui para que as diferenças de fenótipo entre negros e brancos sejam entendidas como reconheça condutora desse processo. Assim, pensamos ser indispensável o papel da equipe gestora no trato das desigualdades naturais. Mais do que isso, reproduzem ou constroem os negros como sinônimos de seres questões da diversidade e na condução da referida temática que deve perpassar o currículo e o projeto político inferiores. O silêncio escolar sobre o racismo cotidiano não só impede o florescimento do potencial intelectual de milhares de mentes brilhantes nas escolas brasileiras, tanto de alunos negros quanto de brancos, como também pedagógico. nos embrutece ao longo de nossas vidas, impedindo-nos de sermos seres realmente livres ‘para ser o que for e ser tudo’ – livres dos preconceitos, dos estereótipos, dos estigmas, entre outros males. 2 A Lei 10.639/03 e o ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana Segundo a autora a escola dispõe de uma linguagem que reforça preconceitos e discriminações por meio Em 09 de janeiro de 2003, o então presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva promulga a lei 10.639/03 que altera a Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional, LDB nº 9.394/96, e inclui no currículo oficial dos estabelecimentos de ensino das redes pública e particular a obrigatoriedade do estudo e do ensino da temática sobre a História e Cultura Afro-brasileira. Um avanço significativo e necessário na condução de políticas públicas para a população negra do país. de gestos, palavras, comportamentos, atitudes, sendo um espaço que muitas vezes não contribui para o conhecimento a respeito do grupo negro (CAVALLEIRO, 2011). Da mesma maneira, a escola muitas vezes não representa para a criança, adolescente, jovem e adulto negro um espaço de socialização de sua cultura e identidade. A escola deveria ser um lugar de acolhida, diálogo, aprendizagem e afeto, e não espaço de exclusão e discriminação. Em 2004 o Conselho Nacional de Educação aprova o Parecer CNE/CP 03/2004 e a Resolução CNE/CP 01/2004 que instituem e regulamentam as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Resultado de lutas históricas Oliveira e Cunha Júnior (2012, p. 2) asseveram que a ausência de discussão sobre a temática africana se perpetuou durante muito tempo e tal realidade prejudicou o conhecimento da realidade cultural brasileira. Inserir a cultura africana e afrodescendente na escola representa não só uma conquista do Movimento Negro e dos movimentos sociais negros, a lei se constitui numa importante política de reparação, reconhecimento e dos estudiosos do tema ao longo dos últimos anos, mas de toda a população brasileira, além de favorecer a valorização do legado africano e afro-brasileiro na educação. educação como um todo, pois devido ao modo silenciado que se configurou com a ausência dessa discussão, Nesse sentido, Lima e Trindade (2012, p. 193) advogam: “Considerando que a escola tem papel muito da riqueza cultural do Brasil foi perdida, pouco explorada e/ou conhecida, o que ocasionou em reflexões negativas acerca das relações étnico-raciais nas escolas. fundamental na difusão da cultura e história do povo brasileiro na sua múltipla formação, entendemos a A fala dos autores pondera um pertinente argumento a favor da emergência de uma discussão necessidade de lutarmos pela transformação nos diversos campos da sociedade”. Lamentavelmente, foi aprofundada a respeito da temática e sugere que ao fazermos esse exercício contribuiremos para a assimilação necessário a promulgação de uma lei para se colocar em prática o que já deveria ter sido implementado há de valores e pensamentos positivos no que tange a educação para as relações raciais. É nessa ótica que se situa bastante tempo. A reivindicação do movimento negro pela inserção da história do negro na educação é legitima brilhantemente a lei 10.639/03 e suas determinações. A lei vem para tensionar e provocar nos agentes sociais e oportuna num momento em que se vivencia muitos casos de racismo e de direitos violados. uma nova maneira de pensar a educação, de encarar a realidade da diversidade presente nos espaços, sejam eles 78 79 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. formais ou informais, de possibilitar um novo e instigante conhecimento, a fim de fazer com que a diversidade não seja mais encarada como um elemento embelezador e sim como realidade complexa que dá sentido e significado às nossa ações e convivência em sociedade. 3 A gestão escolar e os desafios da lei 10.639/03 O estudo desenvolvido com intuito de investigar os desdobramentos das determinações da lei em uma Partimos de uma argumentação que nos leva a pensar o seguinte: a inserção da temática africana na escola do sudoeste baiano, priorizando a equipe gestora, partiu da constatação de que os sujeitos implicados em educação, bem como sua obrigatoriedade não deve ser encarada apenas como tarefa do professor e ou/gestor. seus espaços de trabalho fornecem informações preciosas para o desenvolvimento da pesquisa. Esse fato Todavia, sabemos que os cursos de formação de professores, sejam eles nas dimensões inicial ou continuada conduz a uma percepção de que a formação tanto de gestores quanto de professores carece de sólido não priorizam essa temática e o que temos visto são conhecimentos incipientes e muitas vezes informações conhecimento das questões que envolvem a história da África e dos afro-brasileiros. Metodologicamente, nos estereotipadas que insistem em prevalecer em muitas falas de docentes nos cursos de atualização. servimos da entrevista como instrumento de coleta de informações, analisando as respostas às perguntas Pode-se afirmar que uma formação docente inadequada compromete sobremaneira a forma como direcionadas à equipe gestora sobre os desafios impostos pela lei 10.639/03. encaramos a história e cultura africana e afro-brasileira. Urge uma reformulação curricular, principalmente no O gestor, enquanto líder, pode contribuir significativamente para a promoção da igualdade racial na ensino superior, que dê conta de propor ações efetivas de formação teórica e prática relacionadas ao conteúdo comunidade escolar em que atua. Seu papel não se resume apenas às tarefas burocráticas e administrativas, da Lei e das Diretrizes. Essas medidas já estão sendo efetivadas, haja vista que a lei obriga o ensino da história mas, sobretudo, deve dialogar com os demais atores envolvidos no processo educativo, viabilizando um e cultura afro-brasileira e africana na rede básica de ensino, embora os cursos superiores não podem e nem ambiente de respeito. Juntamente com a direção escolar, a coordenação pedagógica exerce uma função singular, devem se furtar de investir maciçamente na formação dos discentes das licenciaturas, pois estes futuramente pois trabalha diretamente com questões pedagógicas e media as atividades junto aos docentes. estarão nas salas de aula. As dificuldades apontadas por professores no trato com a temática etnicorracial também atingem Nessa linha de pensamento, salienta Müller (2009, p. 43-44): gestores e coordenadores escolares, configurando-se muitas vezes em entraves no combate ao racismo e Ainda há muita resistência, tanto na Universidade quanto na rede de ensino, em perceber o espaço da escola discriminações no cotidiano escolar. Não podemos generalizar e pensar que os professores não conheçam o como um espaço diverso, múltiplo de pertença, étnicas, raciais, geográficas, de gênero, culturais etc. A conteúdo da lei e das diretrizes, assim como, imaginar que não tiveram formação adequada para tal. Muitos resistência aumenta ainda mais, quando se trata de discutir a situação de desigualdade que é conferida ao grupo racial negro. gestores e educadores realizam trabalhos exitosos em suas unidades escolares, promovendo uma verdadeira transformação nas mentalidades dos docentes, chamando-os para a realidade, uma realidade que se mostra Um aspecto relevante destacado por Gomes (2006, p. 33) concernente à escola é o seguinte: “garantir uma escola igual para todos não depende apenas de preceitos legais e formais, mas passa, também, pela garantia, na lei, do direito à diferença de grupos que sempre lutaram pelo respeito às suas identidades”. Nesse sentido e concordando com Gomes, garantir na lei que as populações negras possam se ver representadas, bem complexa e conflituosa. A visão que temos do gestor é a de que ele está envolvido numa lógica administrativa e capitalista e, portanto, não se interessa muito pela transformação social. Paro (1990 apud RODRIGUES, 2010, p. 29) afirma: A administração estará tanto mais comprometida com a transformação social quanto mais os objetivos com ela como narradas suas histórias numa perspectiva de luta e de participação histórica na construção da sociedade perseguidos estiverem articulados com essa transformação. Assim sendo, no caso da administração escolar, a brasileira é de suma importância para que futuras gerações possam ser reeducadas (GOMES, 2006). análise de suas relações com a transformação social deve passar necessariamente, pelo exame das condições de Por mais que compreendamos a lei como um avanço, faz-se necessário estar atento às mudanças no possibilidade da própria educação escolar enquanto elemento de transformação social (PARO, 1990, p. 81) cenário social, político e educacional, pois é no embate com as realidades conflitantes do cotidiano escolar, do Portanto, o compromisso dos gestores é com uma escola verdadeiramente democrática e participativa, currículo, e nas relações de poder que a lei tende a ser efetivada ou não. Portanto, há de ser ter claro que não onde se envolva toda a comunidade nas decisões que afetam diretamente o coletivo escolar. A temática da depende apenas do professor e/ou gestor realizar tal façanha, embora não se deseje isentar esses atores sociais educação para as relações raciais deve permear todas as atividades propostas pela escola, inclusive no de compromissos com uma educação antirracista, pois tais sujeitos estão imbricados no universo escolar. planejamento das semanas pedagógicas, na elaboração projeto político-pedagógico etc. É nesta dinâmica propositiva e de esperança em uma educação verdadeiramente inclusiva, antirracista e Arroyo (2010) chama a atenção para o fato de que a tensões raciais estão chegando às escolas e isso é democrática que acreditamos ser a lei 10.639/03 responsabilidade de toda a sociedade. Mesmo conscientes de muito bom, pois estas não poderão mais se esquivar dessa realidade, silenciando e ocultando a temática racial sua legitimidade e força, a lei apresenta para alguns coletivos de sujeitos, desafios a serem enfrentados. no sistema escolar. Isto é, se na sociedade o silenciamento e negação dessas questões não faz mais sentido, na Pensando nesta questão, no próximo tópico discorremos sobre a equipe gestora como protagonista de uma escola elas precisam estar explicitadas e trabalhadas de modo a oportunizar aos discentes conhecer a cultura educação para as relações raciais no ambiente escolar. negra e seu legado. 80 81 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. Devido a essas questões nos propusemos a realizar a pesquisa com objetivo de saber da equipe gestora problemas, como se não fizéssemos parte das soluções. Então o maior desafio da nossa escola é esse, vamos as dificuldades e os avanços no trato com a Lei no ambiente escolar. A seguir transcrevemos alguns trechos das deixar de ser racistas, quando assumirmos o que somos [...]. Então o grande desafio da escola é fomentar no professor e na professora o desejo de estudar a Lei. De enxergar a comunidade [...] (Diretora). falas da diretora e coordenadora pedagógica. Nossa intenção não é detalhar exaustivamente todas as Já a coordenadora destaca como desafio o não conhecimento por parte dos professores sobre a Lei informações obtidas no campo e sim destacar apenas algumas falas que consideramos relevantes para nossa 10.639/03. Eles tiveram uma formação diferente, mas isso não impede de eles se esforçarem para conhecer a reflexão. Um dos questionamentos esteve relacionado às mudanças que a lei proporcionou na escola e nas temática africana. práticas pedagógicas. A diretora disse: Eu acho assim, não quero aqui colocar culpa de forma nenhuma nos meus docentes. Os meus docentes, eles foram formados em outra perspectiva, com outras leituras. E toda quebra de paradigma, ela necessita eu acredito, A mudança está ocorrendo de maneira que às vezes nem o corpo docente percebe, porque ele é fruto também da de muito tempo. Eu ainda tenho essa dificuldade de fazer com que a Lei 10.639 seja conhecida no âmbito escolar sociedade. A gente não pode esquecer – às vezes eu mesma estou dizendo que eu esqueço que nós professores, nas práticas docentes, eu tenho essa dificuldade (Coordenadora pedagógica). somos fruto da sociedade lá fora. A gente não vai chegar e dizer “estou numa escola e a partir de hoje eu sou Diante das falas da diretora e coordenadora pedagógica podemos perceber que as maiores dificuldades uma revolucionária, eu anuncio e coloco em prática essa igualdade justa”. Seria uma utopia. Vou dizer utopia porque pode ser alcançada um dia, não estou dizendo utopia no sentido de nunca será alcançada. Então há apresentadas pela gestão escolar estão justamente na falta de conhecimento sobre a Lei, tanto de discentes, mudança, porque eles começaram a ter aquele cuidado, de pensar na Lei 10.639/2003 (Diretora). docentes e da própria gestão, assim como a formação dos professores. Percebe-se na fala da gestora que mesmo com todas as dificuldades os professores têm se dedicado a conhecer a lei e a estudá-la. Isso é um ponto bastante positivo, e tem contribuído para desconstrução de estereótipos relacionados à temática africana. Considerações inconclusas A aprovação da Lei 10.639/03 trouxe para a educação uma importante contribuição no sentido de disseminar os conhecimentos relativos a História da África e da cultura afro-brasileira e africana. Destacamos o caráter político desse instrumento legal como política de ação afirmativa e de reparação. Fruto de A discussão da temática das relações etnicorraciais precisa ser urgentemente fomentada nas escolas. Quando a equipe gestora abraça tal tarefa alcança resultados positivos na medida em que aposta nas mudanças de cada membro da comunidade escolar. Logicamente que essas mudanças não acontecerão de imediato, sobretudo porque a teoria e a prática muitas vezes não dialogam e esse fato indica novidade para muitos gestores, professores, alunos e funcionários como evidenciado na fala da coordenadora pedagógica. reivindicações do movimento social negro, a lei não pretende de maneira imediata sanar o problema do racismo, mas sem dúvida é o caminho para se minimizar os casos de discriminações contra as populações negras. Não se trata de uma visão pessimista, pois acreditamos que para se combater o racismo faz-se necessário uma nova mentalidade, um novo olhar sobre a sociedade e sua complexa formação. Apesar de a escola ser um [...] eu não sei se a gente está na ânsia de fazer as coisas acontecerem, não sei se a gente está dando tudo pronto, não sei. Se você pegar o nosso plano de curso, você vai dizer: perfeito! O plano de curso é feito todo em cima espaço de poder e de aprendizagem não cabe a ela resolver todos os problemas. das matrizes curriculares nacionais, das diretrizes do gestar e da Lei 10.639, o plano todo. Mas eu sinto falta da Uma educação antirracista pressupõe a construção de uma sociedade mais digna e democrática para prática. “Tenho paciência porque sei também como é novo para o aluno, como é novo para comunidade, também todos, que reconheça e respeite a diversidade. Nesse sentido, a escola também deve promover ações que é novo para o professor” (Coordenadora pedagógica). valorizem as diferenças. O presente artigo objetivou refletir sobre a importância da Lei e da gestão escolar na As considerações da coordenadora encontra respaldo na afirmação de Müller sobre a realidade da formação docente e das escolas no trato com as questões raciais. promoção de uma educação voltada para o reconhecimento do legado africano e afro-brasileiro permitindo a todos os atores envolvidos no processo educativo, especificamente os gestores, uma transformação na maneira Sabemos que o desempenho do professor em sala de aula está em correlação direta com as questões que ele discutiu na sua formação, profissional ou continuada. É preciso enfrentar, sem hipocrisia, a constatação de que a escola não é tão eficaz para os negros quanto é para os brancos. Não é tão eficaz porque os professores que nela de encarar as questões relacionadas a educação para as relações raciais. Posto isto, esperamos que tais considerações aqui expostas possam contribuir para que docentes, atuam, não foram preparados para entender e trabalhar a diversidade na sua prática educativa (MÜLLER, 2006, gestores e demais leitores reflitam de forma comprometida sobre a Lei 10.639/03 e seus desdobramentos no p. 47). ambiente escolar. No que se refere à formação docente, a diretora externou preocupação, sobretudo no que diz respeito ao Referências O maior desafio é nos assumirmos como protagonista da sociedade na qual vivemos. De deixarmos de citar os ARROYO, Miguel González. A pedagogia multirracial popular e o sistema escolar. In: GOMES, Nilma Lino (Org.). Um olhar além das fronteiras: educação e relações raciais. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. p. 111130. (Coleção Cultura Negra e Identidades) BRASIL. Resolução nº 8, de 20 de novembro de 2012 que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica. Diário Oficial da União, Brasília, 21de novembro de 2012, Seção 1, p. 26. Disponível em <http://www.seppir.gov.br/arquivos-pdf/diretrizes-curriculares>. Acesso em 07 82 83 aprofundamento da Lei, ou seja, o professor que conhece contribui para uma escola melhor. Conhecer o discente mais de perto, saber de suas demandas e necessidades, estimulá-lo a se conhecer e saber de sua história não é tarefa apenas dos docentes, mas também da gestão. ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. mar. 2014. BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, 1996. CAVALLEIRO, Eliane. Do silêncio do lar ao silêncio escolar: racismo, preconceito e discriminação na educação infantil. 6. ed. São Paulo: Contexto, 2011. ______. Introdução. In: Educação anti-racista: caminhos abertos pela Lei Federal nº 10.639/03. Brasília-DF: SECAD/MEC, 2005. p. 21-37. (Coleção Educação para Todos) GOMES, Nilma Lino. Diversidade cultural, currículo e questão racial: desafios para a prática pedagógica. In: ABRAMOWICZ, Anete; BARBOSA, Lucia Maria de Assunção; SILVÉRIO, Valter Roberto (Orgs.). Educação como prática da diferença. Campinas: Armazém do Ipê (Autores Associados), 2006. p. 21 – 40. LIMA, Maria Batista; TRINDADE, Azoilda Loretto. Africanidades, formação docente e currículo: diálogo possível? In: NEVES, Paulo S. C.; DOMINGUES, Petrônio (Orgs.). A diáspora negra em questão: identidades e diversidades étnico-raciais. São Cristóvão: Editora UFS, 2012. p. 177-206. MÜLLER, Maria Lúcia Rodrigues. Formação de professores e perspectivas para a implementação da Lei 10.639/03. In: SOUZA, Maria Elena Viana. Relações raciais no cotidiano escolar: diálogos com a Lei 10.639/03. Rio de Janeiro: Rovelle, 2009. p. 31-62. (Coleção Pedagógicos) ______. Educação anti-racista e formação de professores: a Lei 10.639/03 em questão. Revista de Educação Pública, Cuiabá-MT, vol. 15, n. 28, p. 43-57, maio/ago. 2006. OLIVEIRA, Leyla Beatriz de Sá; CUNHA JÚNIOR, Henrique. A importância da lei federal nº 10.639/03. Revista África e Africanidades. Ano 4, n. 16 e 17, fev/mai. 2012. ONOFRE, Joelson Alves. Repensando a questão curricular: caminho para uma educação anti-racista. Práxis Educacional, Vitória da Conquista, vol. 4, n. 4, p. 103-122, jan./jun. 2008. RODRIGUES, Ruth Meyre Mota. Educação das relações raciais no Distrito Federal: desafios da gestão. 2010. 196 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade de Brasília, Brasília, 2010. discriminações acerca de alguns grupos ditos “minoritários”, construídos historicamente e que são pautados pelas relações de poder. (ALVES, BACKES, p.2, 2008). No século XXI, as Políticas Públicas brasileiras têm buscado incluir a população afro-brasileira no cenário nacional por meio do reconhecimento, da valorização e contribuição da identidade na formação da nação, tendo esta sido negada por estar diretamente ligada ao passado escravocrata, atrelada a uma percepção social de marginalização e estigmatização, uma vez que as teorias raciais do Século XIX e meados do século XX tenham contribuído para fortalecer o processo de inferiorização e de exclusão da identidade cultural negra na contribuição da formação do povo brasileiro. Segundo Munanga, “a elite brasileira se apoderou das ideologias pautadas nas Teorias Raciais, sobretudo no ideário do branqueamento, roubando dos movimentos negros o ditado “a união faz a força” ao dividir negros e mestiços e ao alienar o processo de identidade de ambos” (MUNANGA, 2008, p.15). Por isso, os alunos negros e não negros e os seus professores precisam sentir-se valorizados e apoiados, sobretudo, no processo de reeducação das relações entre negros e brancos, hoje designada como relações étnico-raciais, como explicita a autora: “Relações raciais implicam modificações, perdas e recriações no jeito de ser e de viver dos grupos que travam conhecimentos ou mantêm convívio em situações de opressão ou de solidariedade.” (SILVA, 2004: 193). Em consonância, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e o Ensino A LEI FEDERAL 10.639/2003: A DISCIPLINA “AFRO” E ANÁLISE DA PRÁXIS PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PORTO SEGURO - BA de História e Cultura Afro-Brasileira, exprimem o que se pode entender por educação das relações étnicoraciais: LEONARDO LACERDA CAMPOS32 § 1º A educação das relações étnico-raciais tem por objetivo a divulgação e produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os INTRODUÇÃO O objetivo desse artigo é versar acerca do processo de implantação da disciplina “Afro” na Rede Municipal de capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos direitos legais e valorização de identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira (BRASIL/CNE, 2008). Ensino de Porto Seguro – BA, que segue a determinação da Lei 10.639/2003 com a obrigatoriedade do Ensino de História da África e da Cultura afro-brasileira nas escolas brasileiras, destacando os problemas encontrados O Brasil, ao longo de sua História, estabeleceu um modelo de desenvolvimento excludente, impedindo que no processo de implantação, sobretudo no quesito da formação dos docentes envolvidos com a disciplina. Para milhões de brasileiros tivessem acesso à escola, nela permanecessem e obtivessem sucesso, como afirmam as tanto, se faz necessária uma investigação do perfil dos docentes, verificar se houve um processo de capacitação autoras Lúcia Barbosa e Petronilha Silva , ao apontar que “a população de origem africana, no Brasil, desde daqueles que lecionam a disciplina, se o Núcleo tem possibilitado encontros com debates acerca de temas sempre expressou suas concepções, convicções, orientações tendo em vista a educação de suas crianças e específicos da área, além de um processo de formação continuada que possibilite reflexões contundentes, adolescentes” (BARBOSA E SILVA, 1997, p. 12) possibilitando a aquisição de conhecimentos pertinentes acerca da História da África e da Cultura Afro brasileira, a fim de desmistificar os estereótipos criados ao longo da nossa História em relação aos africanos e os afro-brasileiros. No decreto n° 1.331, de Fevereiro de 1854, estabelecia que nas escolas públicas do país não fossem admitidos escravos, e a previsão de instrução para adultos negros dependia da disponibilidade de professores. Já o Decreto n° 7.031-A, de 06 de setembro de 1878, estabelecia que os negros só podiam estudar no período noturno, entretanto diversas estratégias foram montadas no sentido de impedir o acesso pleno dessa população aos bancos O professor em qualquer fase de seu processo de formação, bem como de sua vivência pessoal, é um sujeito cultural e social, que como tal recebe efeitos positivos e negativos da configuração histórica, social e econômica da sociedade, que no caso do Brasil é extremamente pautada sobre estereótipos inferiorizantes, preconceitos e escolares. Esse descaso dos negros frente à educação se reflete nos dias atuais, onde pessoas negras têm menor número de anos de estudos do que pessoas brancas (4,2 anos para negros e 6,2 anos para brancos); na faixa etária de 14 a 15 anos, o índice de pessoas negras não alfabetizadas é 12% maior do que o de pessoas brancas na mesma situação; cerca de 15% das crianças brancas entre 10 e 14 anos encontram-se no mercado de trabalho, enquanto que 40,5% das crianças negras, na mesma faixa etária vivem na mesma situação. (Diretrizes 32 Graduado em Licenciatura plena em História pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB; Pós – Graduando em Educação e Diversidade Étnico – Cultural pela mesma instituição; Professor Efetivo da Rede Municipal de Ensino de Porto Seguro Bahia. Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro- 84 85 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. A identidade nacional brasileira foi construída sob a crença de que o Brasil é uma nação onde todas as raças Brasileira e Africana, Brasília, DF, outubro de 2005). vivem em harmonia, sem conflitos ou segregações. Diferentemente do que ocorreu nos Estados Unidos e na Portanto, historicamente, a Colônia, o Império e a República tiveram, no aspecto legal, uma postura ativa e África do Sul, a segregação racial nunca foi legalmente adotada pelo país. E é essa uma das razões que fazem permissiva diante da discriminação e do racismo que atingem a população afro-descendente brasileira até os com que as reivindicações de movimentos sociais, entre elas a adoção de Políticas Públicas específicas para dias atuais. afro-descendentes, pareçam absurdas para grande parte da população brasileira. Neste sentido Petronilha define Os debates teóricos acerca da diversidade étnico-racial vão aparecer com mais ênfase a partir da década de 90, que “as Políticas Públicas são formuladas e implantadas com o intuito de promover aperfeiçoamento na no entanto, foi na última década que, de fato, o Estado passou a redefinir o seu papel como propulsor das sociedade, garantir e proteger direitos, corrigir distorções, incentivar os avanços” (SILVA, 2010, p. 39). No transformações sociais, reconhecendo as disparidades entre brancos e negros na sociedade e a necessidade de Brasil não houve Apartheid, porém o racismo persiste na cultura social. Então, apesar da ausência de um regime intervir de forma positiva, assumindo o compromisso de eliminar as desigualdades raciais, dando importantes legal de segregação racial, estudos produzidos ao longo das três últimas décadas atestam uma profunda passos rumo à afirmação dos direitos humanos básicos e fundamentais da população negra brasileira. A partir desigualdade entre pessoas brancas e negras (pretas e pardas segundo o sistema de classificação utilizado pelo destas propostas, é promulgado o Art. 26-A da LDB, que promove a inserção, nos estabelecimentos de Ensino Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE). Fundamental e Médio, da disciplina “Ensino de História da África e Cultura Afro-Brasileira”. Criou-se Números e indicadores sobre a desigualdade social no Brasil evidenciam o que o movimento negro denuncia há também, em 21 de março de 2003, a Seppir (Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial) décadas: a existência de mecanismos de discriminação racial na sociedade brasileira. Segundo dados do Censo e instituiu-se a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial. O principal objetivo pautado por estes atos Demográfico de 2000, os negros representam aproximadamente 76.000.000 (setenta e seis milhões) de é promover alterações significativas na realidade vivenciada pela população negra e trilhar um novo caminho indivíduos, o equivalente a cerca de 45% da população total, o que faz do Brasil o país com a segunda maior rumo a uma sociedade verdadeiramente democrática, justa e igualitária, revertendo os efeitos de séculos de população negra do mundo, superado apenas pela Nigéria. preconceito, discriminação e racismo. No âmbito local, temos a seguinte distribuição populacional e seu respectivo recorte étnico-racial segundo as A educação constitui-se um dos principais mecanismos ativos de transformação de um povo e é papel da classificações utilizadas pelo IBGE. A partir dos dados da tabela a seguir, observamos que a população negra escola, de forma democrática e comprometida com a formação do ser humano na sua integralidade, estimular a do município corresponde a 72,2%, somando-se as categorias preta e parda. (Tabela 1). formação de valores, hábitos e comportamentos que respeitem as diferenças e as características próprias de TABELA 1 - População residente em Porto Seguro por raça/cor, 2010. grupos distintos. Sem dúvida, assumir essas responsabilidades implicam compromisso com o entorno sociocultural da escola, da comunidade onde esta se encontra e a que serve e, sobretudo, compromisso com a formação de cidadãos atuantes e democráticos capazes de compreender as relações sociais e étnico-raciais de que participam. Vale salientar que as questões raciais não estão limitadas apenas aos negros, pois, segundo Nilma Lino Gomes “a superação do racismo e da desigualdade racial faz parte da luta pela construção da cidadania e da democracia para todos” (GOMES, 2010, p. 70), ou seja, há, antes de tudo, a necessidade de mudança na percepção acerca das relações étnico-raciais, e a educação é colocada como o meio primordial para a concretização de novas reflexões que possibilitem uma sociedade justa e democrática no quesito racial. N % BRANCA 29.048 22,9% PRETA 16.049 12,6% PARDA 75.710 59,6% AMARELA 684 0,6% INDÍGENA 5.438 4,3% TOTAL 126.929 100% Fonte: IBGE, Tabelas desagregadas, 2010. O racismo continua fazendo parte das relações humanas, e se expressa como uma alienação moderna decorrente da dominação de uma classe sobre outra, tendo como justificativa a afirmação da superioridade, a partir da expropriação privada dos meios de produção nas colônias europeias onde a dominação foi imposta pela força das armas. Como afirma o professor Joel Rufino: Ainda de acordo com o INEP e dados censitários de 2010 publicados pelo IBGE, a população do Brasil é de aproximadamente 180 milhões de pessoas, sendo que 53% são brancos. Desse número, 72,9% concluem o ensino superior. Por outro lado, os negros somam 47%, ou seja, praticamente metade da sociedade, porém apenas 3,6% conseguem concluir o curso superior, tendo em vista que a maioria está inserida em cursos de Racismo é a suposição de que há raças e, em seguida, a caracterização bio-genética de fenômenos puramente sociais e culturais. E também uma modalidade de dominação ou, antes, uma maneira de justificar a dominação baixa concorrência. Portanto, sem acesso à educação de qualidade e ao mercado de trabalho, os negros são de um grupo sobre outro, inspirada nas diferenças fenotípicas da nossa espécie. Ignorância e interesses deixados à margem da sociedade, tendo poucas oportunidades de ascensão social no Brasil. Partindo desse combinados, como se vê (SANTOS, 1990, p. 12). contexto, a escola tem um papel primordial na desconstrução ou na afirmação de estereótipos ligados à cultura 86 87 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. afro-brasileira que pode possibilitar ou inviabilizar o processo de desenvolvimento intelectual desse grupo, “próprio” de sua cultura; lamentável é a criança negra querer partilhar com seu grupo uma dança portuguesa e o como enfatiza Neuza Maria com a seguinte reflexão: professor negar porque acredita que não há portugueses negros, ou ainda, o professor que diante do pesquisador diz que em sua classe não há negros, apesar da evidente realidade que o contradiz. Esse professor imagina que Dizer que a escola é um dos espaços sociais incumbidos da reprodução de ideologias não exclui a sua existência vendo a todos como iguais, não seja ele mesmo, racista. (GUSMÃO, 2012, p. 97) enquanto espaço de resistência e reelaboração de conhecimentos e valores instituídos socialmente. Evidencia-se assim, que ela, escola, existe na dupla dimensão da educação: a dos saberes tido como universais e a dos saberes produzido por diferentes processos educativos. Portanto, superar racismos, descriminações, reconhecer valores e Sem dúvida, assumir a responsabilidade de desconstruir os estereótipos implica em compromisso com o práticas diversas próprias de diferentes grupos étnico-raciais tem sido um desafio do campo educacional. entorno sociocultural da escola, da comunidade onde esta se encontra, oportunizando a formação de cidadãos (GUSMÃO, 2012, p. 96). atuantes e democráticos, capazes de compreender as relações sociais e étnico-raciais, mas antes de tudo se faz Para o alcance do que propõe a Lei 10.639/03 foi constituído, em abril de 2003, um Grupo de Trabalho formado por representantes do Conselho Nacional de Educação, do Ministério da Educação, da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e da Fundação Cultural Palmares, ligada ao Ministério da Cultura. O trabalho do grupo resultou na aprovação do Parecer 03/2004 – Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira – regulamentando a necessária a formação intelectual do profissional docente, para que de maneira pertinente intervenha e possibilidade novas reflexões acerca da temática. No Brasil, a implantação da disciplina de África nos currículos acadêmicos, que se deu através da Resolução CP/CNE nº 1, de 17 de junho de 2004 (DOU nº 118, 22/6/2004, Seção 1, p. 11), não favoreceu a capacitação imediata dos profissionais que muitas vezes não possuem os pré-requisitos mínimos para atuação, como cita a autora: alteração na LDB. Numa sociedade multirracial e multicultural como a brasileira, em que hierarquias discriminatórias e ideias A obrigatoriedade de inclusão de História e Cultura Africana e Afro-brasileira nos currículos da Educação preconcebidas regem relações sociais, relações raciais, os professores têm de saber identificar e controlar os Básica sob decisão política possui fortes repercussões pedagógicas, inclusive na formação de professores. Com preconceitos e estereótipos que marcam suas concepções, ações, procedimentos pedagógicos. A omissão dos esta medida, reconhece-se que, além de garantir vagas para negros nos bancos escolares, é preciso valorizar currículos de formação de professores relativamente à pedagogia de combate ao racismo e às discriminações lhes tem impedido de ter acesso a informações e procedimentos necessários para criticar concepções, ações que devidamente a História e a Cultura de seu povo, buscando reparar danos - que se repetem há cinco séculos, a contrariam os proclamados objetivos de educação transformadora, de sociedade justa, de formação do cidadão, sua identidade e a seus direitos. contidos reiteradamente nos planos pedagógicos das escolas e nos planos de ensino dos professores. (PETRONILHA, 2003, p. 01). A relevância do estudo de temas decorrentes da História e Cultura Africana e Afro-brasileira não se restringe à população negra. Ao contrário, diz respeito a todos os brasileiros, uma vez que devem ser educados enquanto Dessa forma, é preciso que o educador seja preparado e tenha responsabilidade social na formação dos cidadãos cidadãos atuantes no seio de uma sociedade multicultural, capaz de construir uma nação democrática. envolvidos no processo de ensino e aprendizado. Buscando superar os preconceitos, levando em consideração o Frente a isto, a Lei 10.639/03 recomenda que, número de afro-brasileiros na região de Porto Seguro, pois segundo dados do IBGE, em 2010, havia em Porto “(...) o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o Seguro 126.929 habitantes, sendo que 29.048 são brancos e 91.759 negros34. negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas sociais, A finalidade da disciplina não é somente a de consciência da História construída entre África e Brasil, mas a de econômicas e políticas a respeito da História do Brasil”. 33 construção de uma identidade negra. Segundo Zilá Bernd, Trabalhar na construção e na consolidação de uma identidade que se exprimirá através de uma nova linguagem, Percebemos que mesmo assim a existência de legislação antirracista, embora indique conquistas, não garante a que se nutrirá da seiva da herança africana, será a melhor forma de desmascarar a visão estereotipada que se tem efetiva execução de práticas educacionais que contemplem as necessidades específicas dos estudantes afro- do negro. (BERND, 1984, p.56) descendentes nos ambientes escolares do país. Parte dos profissionais da educação ao trabalharem conteúdos ligados à África não reconhecem a importância Para tanto, o profissional em educação deve ter disponibilidade, aceitando novos paradigmas que não podem da cultura africana na formação do povo brasileiro, e tende a enfatizar os estudos voltados a escravidão, por isso ser negados. Contudo, a tarefa da educação inclusiva não é simples: muitos professores se encontram ética e se faz necessário a exigência de cursos de formação continuada daqueles que irão debater os conteúdos voltados pedagogicamente despreparados, como afirma Morin, “o que a reforma do pensamento pretende é educar para o ensino de História da África e cultura Afro-brasileira, na tentativa de barrar a perpetuação dos educadores de modo mais sistêmico, isto é, gerar intelectuais polivalentes, abertos, capazes de refletir sobre a estereótipos de outrora. Nesse sentido Gusmão: cultura em sentido mais amplo” (2004, p.105). Aponta que é lamentável o professor imagine que ao negro se deva ensinar a dançar, tocar tambor porque seria 33 34 Redação dada pela Lei nº. 10.639/2003 para o parágrafo 1º do artigo 26-A da LDB. 88 http://mapadaviolencia.org.br/pdf2012/mapa2012_cor.pdf. 89 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. CONSIDERAÇÕES FINAIS estrutura e responsabilidade social poderá não apresentar eficiência no que concerne o produto final que é Partindo das investigações preliminares, constatamos que, em 2007, o Conselho Municipal de Educação, conscientização e formação de cidadãos que possam compreender a realidade histórica de um grupo e poder coordenado por Oldack Piedade e uma comissão, instituiu em conformidade com Lei 10.639/2003 que os conviver com as diferenças de maneira respeitosa. conteúdos acerca do ensino de História da África e da Cultura Afro-Brasileira seriam trabalhados em Educação Artística; Literatura e História do Brasil, sem prejuízo das demais, em atividades curriculares. No entanto, foi Referências constatado que os profissionais das áreas afins não estavam dando ênfase aos conteúdos relacionados às ALVES, Ângela Maria; BACKES, José Licínio. Educar para as Relações Raciais: Um desafio a Formação questões étnico-raciais. Com isso resolveu-se criar a disciplina “Afro”, porém, a mesma não veio acompanhada de Professores. Disponível em: http://www.neppi.org/gera_anexo. php?id=467%20target=. de um currículo, os docentes não passaram por um processo de formação continuada, tendo alguns professores BERND, Zilá. A Questão da Negritude. São Paulo: brasiliense, 1984. revelando que atuam com a disciplina como complementação de carga horária, pois não têm nenhuma afinidade BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o com a temática trabalhada. O Núcleo de diversidade cultural entende que há a necessidade de criar mecanismos Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília: DF, 2005. de realizações de cursos de formação continuada, fornecer materiais didáticos nas escolas, desenvolver novos BRASIL. Lei Federal 10.639, de 9/1/2003. Mensagem de veto altera a Lei 9.394, de 20/12/1996, que projetos, dentre outros mecanismos para qualificar os profissionais que atuam com a disciplina Afro no estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo da Rede de Ensino a município. obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-brasileira, e dá outras providências. Brasília: Congresso Em contraposição a docência na educação básica permite perceber o quanto é básico o nível dos conteúdos Nacional, 2003. Disponível em www.mec.gov.br/semtec/diversidade/legis/lei10639.pdf. sobre a história e cultura afro-brasileira e africana e questões étnico-raciais, visto que são tratadas somente nas BRASIL. Lei nº. 10.639, de 9 de janeiro de 2003. D.O.U de 10/01/2003BRASIL, datas comemorativas da Abolição da escravatura no dia 13 de maio, o Dia da Consciência Negra e na semana MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico- do folclore. Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Partindo das inquietações acima mencionadas a Lei 10.639/03 é um marco na história das Políticas Públicas de Africana. Parecer CNE/CP 3/2004, de 10 de março de 2004. reparação destinadas à população afro-brasileira, que ainda sofre as marcas da escravidão e da abolição mal FREIRE, Paulo. Educação e Mudança. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. sucedida. Ter um panorama sobre o processo de implementação da Lei, município a município, é uma tarefa LOPES, Cristina. Cotas Raciais: Por que sim. 2.ed. – Rio de Janeiro: Ibase, Observatório da Cidadania, 2006. complexa, mas se faz necessário mensurarmos os avanços e os problemas que persistem no tratamento das GOMES, Nilma Lino; SILVA, Petronilha B. Gonçalves e. Experiências étnico-culturais para a formação de discussões voltadas a História da África e da cultura afro-brasileira na educação básica em nosso país. Este professores. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. panorama deve, inclusive, apontar melhores encaminhamentos para que a população negra seja inserida nos GOMES, Nilma Lino. (2010) A Questão Racial na Escola: desafios colocados pela implementação da Lei processos econômicos, políticos e sociais a partir da valorização da história e cultura africana promovida pela 10.639/03. In: MOREIRA, Antonio Flávio; CANDAU, Vera Maria (orgs.). Multiculturalismo: Diferenças educação através dos parâmetros da Lei. Sendo assim Nilma Lino Gomes salienta que, Culturais e práticas pedagógicas. 4. Ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. A Sanção da Lei 10.639/2003 e das iniciativas do Ministério da Educação, do Movimento Negro e dos núcleos de Estudos Afro – brasileiros para a sua implementação, ainda encontramos muitas resistências de secretarias estaduais, municipais, escolas e educadores (as) à introdução da discussão que ela apresenta. Essa resistência não GUSMÃO, Neusa Maria Mendes de. Africanidades e Brasilidades: desafios da formação docente. Revista de Estudos Anti-Utilitaristas e pós-coloniais, V. 2, nº 01, 2012. se dá no vazio. Antes, está relacionada com a presença de um imaginário social peculiar sobre a questão do MUNANGA, Kabengele. Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade, negro no Brasil, alicerçado no mito da democracia racial. A crença apriorística de que a sociedade brasileira é o etnia. Niterói: EDUFF, 2000. exemplo de democracia e inclusão racial e cultural faz com que a demanda do trato pedagógico e político da questão racial seja vista com desconfiança pelos brasileiros e brasileiras, de maneira geral, e por muitos ______. Lutas contínuas concretizam mudanças sociais e raciais. Texto que compõe o volume 6 da coleção educadores, educadoras e formuladores de políticas educacionais, de forma particular. (GOMES, p. 67 - 68, “2003-2010 O Brasil em transformação” da EditoraFundação Perseu Abramo,organizado por Matilde Ribeiro, 2010). edição Após 12 anos da implantação da Lei 10.639/2003, podemos observar que inúmeros problemas ainda persistem na realização contundente dos princípios estabelecidos pela Lei, cujo objetivo está direcionado a superação do racismo em nosso País, haja vista que a criação de uma disciplina para atender a Lei 10.639/2003 sem uma 90 no prelo. Disponível em http://www.pt.org.br/portalpt/secretarias/-cultura-15/artigos-137/lutas- continuas-concretizam-mudancas-sociais-e-raciais–por-kabengele-munanga-30401.html. ______ MUNANGA, Kabengele (org) Superando o racismo na escola. Brasília: MEC/SECAD, 2005. ______. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: Identidade nacional versus identidade negra. 3.ed. Belo 91 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. Horizonte: Autêntica, 2008. Palavras-chave: Lei 10.639/2003. Diversidade Cultural. Relações Raciais na Escola. Formação do professor. OLIVEIRA, Iolanda de; SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves; e PINTO, Regina Pahim. Negro e Educação: INTRODUÇÃO escola, identidades, cultura e políticas públicas. São Paulo: Ação Educativa, ANPED, 2005. SANTOS, Joel Rufino dos. O Que é Racismo. São Paulo: Brasiliense, 2005. Pensar em educação e no processo de formação de professores buscando uma prática de respeito e SILVA, Petronilha, Beatriz Gonçalves e. Cultura e História dos Negros nas Escolas: Dificuldades e Encaminhamentos. São Paulo: Revista EPARREI, 2003. contexto, cabe lembrar que este processo foi doloroso, cruel e discriminatório e que hoje estamos a desconstruir ______ (2010). Estudos Afro-brasileiros: Africanidades e Cidadania. In: ABRAMOWICZ, Anete; GOMES, Nilma Lino ( Orgs.) Educação e Raça: perspectivas Políticas, Pedagógicas e Estéticas . Belo Horizonte: Autêntica, 2010. e a ressignificar as identidades, negra e afrodescendente, e sua trajetória buscando entender e valorizá-las. Conquistar novas terras e povos levou os europeus a se empenhar em viagens, dominações e colonizações, que acabaram trazendo a escravização no Brasil. ______. Ensinar, aprender e relações étnico-raciais no Brasil. O processo de escravidão no Brasil “recém-descoberto” tentou se apropriar da força e mão-de-obra dos Porto Alegre/RS, ano XXX, n. 3 (63), set./dez. 2007, pp. 489-506. nativos encontrados aqui – os índios, mas estes de alguma forma não se adaptaram e, então, negras e negros WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2012: A Cor dos Homicídios no Brasil. Rio de Janeiro: CEBELA, valorização das diferenças requer compreender todo o momento da formação do povo brasileiro e, neste FLACSO; Brasília: SEPPIR/PR, 2012. Disponível em http://mapadaviolencia.org.br/pdf2012/mapa2012_cor.pdf. vieram escravizados da África - famílias que foram separadas, destruídas e que aqui, contribuíram e contribuem ainda na cultura, na língua, na religiosidade, nas diversas formas de relações e fazeres. Desse processo, verificase, resultaram muitas desigualdades sociais, étnicas, culturais e econômicas que criaram situações onde o preconceito e o racismo atingem esta parcela marginalizada da nossa sociedade. (grifo nosso) A LEI Nº 10.639/2003 E A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: DISCUTINDO AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NO ESPAÇO ESCOLAR Neste sentido, o processo da abolição e suas consequências refletem até hoje e continuam a mascarar toda uma pseudo liberdade e emancipação do povo negro, não contribuindo para sua valorização e inserção na Telma Heloísa de Alencar Félix35 sociedade, pois a condição de escravo deixou o negro como uma mão de obra despreparada e desqualificada para se emancipar e ser reconhecido como povo liberto e útil à sociedade. O negro sempre foi considerado “Existe uma história do povo negro sem o Brasil. Mas não existe uma história do Brasil sem o povo negro”. Januário Garcia36 atrasado, ignorante; e ao colonizador interessava esta condição, bem como, mantê-lo fora de todo processo de inserção social - escola, trabalho digno, família, ser cidadão. Ao longo do tempo, outros grupos se constituíram coletivamente como movimentos de resistência e RESUMO: Este artigo busca mostrar a importância da Lei nº 10.639/2003 no processo de visibilidade e valorização do afirmação – movimento social37, principalmente o movimento social negro. No Brasil, o Movimento Negro se povo negro através da educação, suas contribuições e de como esta lei provocou e provoca alterações sensíveis articulou desde a época da abolição e, mais tarde, tivemos a Frente Negra Brasileira , Abdias Nascimento e o e tensas no tocante ao negro e ao afrodescendente. Teatro Experimental do Negro (TEN) e muitos outros, sempre desejando a liberdade, a igualdade - fortalecendo Busca ainda demonstrar que as relações sociais que se estabelecem têm a conotação de relações étnicas ou a identidade negra. O movimento negro com sua luta e comprometimento buscou o objetivo de valorizar e raciais, e que perpassam pelo preconceito, pela intolerância e discriminação na escola e na sociedade, deixando reconhecer a importância do negro e suas contribuições sociais, culturais, seus saberes tradicionais o que marcas profundas. Todo este processo de exclusão e discriminação sinaliza as desigualdades sociais, étnicas, possibilitou, em 2003, a partir de toda uma mobilização política e social a aprovação e assinatura, pelo então culturais e econômicas que representam as bandeiras de luta do Movimento Negro. Pensar em quebrar estas presidente da República Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, da Lei nº 10.639, que torna obrigatório o ensino da mazelas é buscar uma educação equânime através da formação de professores e da percepção de nossas História e Cultura Africana e Afrobrasileira em todos os níveis de ensino, alterando a LDB nº 9.394/9638·. A lei relações sociais. nº 10.639/2003 possibilitou um novo leque de discussões e visibilidade do negro em nossa sociedade, no viés educacional, provocando mudanças em todos os setores da sociedade, pois situações antes não percebidas como 35 Especialista em Políticas Governamentais, Desenvolvimento Sustentável e Populações Tradicionais da Amazônia, pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), 2007. Coordenadora do Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial do Amazonas (FOPEDER-AM). Formadora da Diversidade Étnico-Racial, na Gerência de Formação Continuada, da Secretaria Municipal de Educação (GFC/SEMED). 36 Januário Garcia é um fotógrafo contemporâneo que mora no Rio de Janeiro, gosta de fotografar negros para a construção de uma memória desse povo que tantas contribuições têm dado ao Brasil, no decorrer da nossa história. 92 preconceito e racismo ficaram mais evidentes e exigindo posicionamentos e ações de enfrentamento e 37 Segundo, Gohn, (apud Gohn, 2011, p.335) movimentos sociais são “[...] ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam formas distintas de a população se organizar e expressar suas demandas”. 38 LDB 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 93 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. reparação, antigas reivindicações da história de luta do negro no Brasil. que é muito importante, pois ao falar do negro no Brasil observa – se que a questão da “cor da pele” ainda tem 39 A educação das relações étnico-raciais ainda tem muitos desafios e, apesar de já ter passado doze (12) um peso negativo. As desigualdades, o preconceito, o racismo e a discriminação se refletem na educação anos, da promulgação da Lei nº 10.639/2003 e criação dos seus marcos legais, a sua implementação não está básica; situação idêntica ocorre com a Lei nº 11.645/2008, que alterou o artigo 26-A, com o objetivo de totalmente garantida nas escolas e universidades, nem na sociedade; pois, mesmo sendo uma lei educacional assegurar o respeito e a valorização dos povos indígenas.(grifo nosso) provoca mudanças sociais relevantes e necessárias a uma sociedade mais justa e igualitária. Com a aprovação e divulgação destes documentos oficiais, o estudo da história e da cultura da África e Afro-brasileira e Indígena passou a ser analisado sob outra perspectiva o que deu a discussão sobre as relações AS LEIS E A EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA. étnico-raciais destaque, apesar da resistência e das dificuldades continuarem. O Brasil possui uma vasta Legislação, com leis específicas que discutem e estabelecem condutas e práticas igualitárias estão aí, legislação que fundamenta e regula esta discussão, no que se refere ao estudo da história do povo negro, sua mas parecem ser incapazes de cumprirem aquilo a que se propõem - desde a Constituição Federal Brasileira de identidade, seus descendentes e suas relações sociais, mas ainda convivemos em nossa sociedade com um 1988, e da LDB nº 9.394/1996, que garantem e possibilitam uma educação de qualidade e com valores imaginário coletivo que privilegia os grupos e os valores oriundos do mundo ocidental, não valorizando os humanitários e éticos. Visibilizar a identidade negra, sua valorização e reconhecimento, levou o Movimento saberes dos povos e culturas africana e indígena. Negro a se articular e cobrar políticas de valorização, conseguindo em 2003, alterar a Lei nº 9.394/96 – LDB, Todo este processo de reflexão sobre as tradições e culturas do povo negro, quando pensado na com a aprovação da Lei nº 10.639, em 09 de janeiro de 2003, que tornou obrigatório o ensino da História e diversidade cultural, pelas escolas e na representação que ocorre nelas, leva professores, comunidade escolar e a Cultura Africana e Afrobrasileira, em todos os níveis de ensino; como forma de diminuir o preconceito e sociedade como um todo a uma releitura e reprodução de toda uma gama de negatividade que envolve o negro e racismo. sua história o que acaba representando um problema e não uma ação afirmativa do negro. A escola ainda Toda esta legislação brasileira atende a diversas demandas, mas ainda assim, é possível perceber como é difícil sua aplicabilidade. A Constituição Federal de 1988 traz nos seus diferentes artigos e parágrafos caminha neste mar de dúvidas, negação-aceitação e, tendo ainda o desconhecimento desta população. Falar e representar o negro e seu universo ainda é uma luta de forças antagônicas e de poder. competências e normas que, se cumpridas, faria deste país uma democracia justa e equânime. Daí, a necessidade de se ter e criar novas leis como forma de reforçar o que já está contemplado. Vivenciamos um momento em que duas leis Federais alteraram a LDB nº 9.394/1996 - a Lei nº 10.639/2003, que obriga o ensino A EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES. de História e Cultura Afro-Brasileiras e Africanas e a Lei nº 11.645/2008, que garante também a inclusão das Ser negra ou negro ainda é complicado e sabemos que a escola é um espaço onde o preconceito se temáticas indígenas no currículo, acompanhada de discussão social, visto que apresenta as diversas formas de apresenta, de forma nem sempre velada, deixando perceber as desigualdades e o desrespeito com as diferenças. racismo e seu impacto não somente nos meios educacionais, mas na sociedade como um todo. O fato de raramente se pensar na valorização do negro, de sua história, cultura e luta, desde o início de sua Já em 2001, em Durban, na África do Sul, a III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, subjugação, de haver tantas referências à escravidão, à humilhação e à subordinação ao branco, sendo muitas representou um marco vezes inexpressivos os posicionamentos por parte de professores e professoras nas situações de preconceito, histórico ao reconhecer a existência do racismo e suas consequências e propondo políticas e ações afirmativas. discriminação e racismo na escola, possibilita observarem-se inúmeras situações de omissão e silêncio, Este marco histórico, apoiado na Lei nº 10.639/2003 e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação facilmente adotadas e pouco enfrentadas. das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana (DCNRER), Sendo assim, a escola tem uma grande responsabilidade na perpetuação e reconstrução das contempla a afirmação dos direitos de valorização da cultura afrobrasileira e africana nos currículos oficiais da desigualdades sociais e, por consequência, das raciais, pois apesar dos negros representarem 51% da população Educação Básica no Brasil, fundamentada nas dimensões históricas, sociais, antropológicas, dentro da realidade brasileira, conforme dados do IBGE40 no censo de 2010, a história do negro e da África nunca foi contada ou brasileira. mencionada de forma positiva e afirmativa. Nos livros didáticos vemos referências negativas do negro, à A Lei Federal nº 10.639/2003, ao alterar a LDB nº 9.394/96, traz para o debate a ideia de participação e formação da sociedade brasileira pelo povo negro africano e seus descendentes e, não somente a contribuição; o escravidão e seus castigos imputados aos negros, e a sua “libertação” com a Lei Áurea; mantém a invisibilidade e contribuem para novos estereótipos e mais preconceito. (grifo nosso) Falar das relações raciais no Brasil é vivenciar situações e tensões surgidas a partir das construções 39 Segundo Silva (2007, p.490), Educação das relações étnico-raciais tem como finalidade a formação de cidadãos, mulheres e homens com condições de igualdade no exercício de direitos sociais, políticos, econômicos, dos direitos de ser, viver, pensar, próprios aos diferentes pertencimentos étnico-raciais e sociais. 40 94 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 95 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. sociais e das identidades étnicas, pois a formação social e cultural brasileira teve este conflito - negro, indígena e branco - e que afetam e prejudicam a construção do cidadão nos seus direitos e deveres de forma igualitária. Percebe-se que a Lei nº10. 639/2003 e seus fundamentos legais não tem como resolver estas questões, e a Escola, lugar de produção e troca de conhecimento, de afirmação das identidades e das relações sociais, bem De acordo com Muniz Sodré, a cor da pele ainda é um complicador determinante de (im) possibilidades para negros e brancos: como, de reconhecimento e valorização da cultura, tradições e formação de novas posturas e valores, precisa se apoderar desta legislação e suas possibilidades. Requer, cada vez mais, uma mudança de atitudes e valores que responda de forma afirmativa ao silêncio e omissão presentes no cotidiano pedagógico das escolas, nos livros O Brasil não é evidentemente o “país mais racista do mundo" nem existe a polarização negro-branco, que é fundacional num país como os Estados Unidos. Convém, porém, ter em mente a observação de Tzevetan didáticos, com suas imagens e reproduções negativas de negras e negros - onde na escravidão eram coisificados Todorov de que “o racismo não precisa da existência de raças”. Do ponto de vista do indivíduo de pele escura, é ou anulados, não se destacando suas formas de resistência, seus saberes, tradições e crenças; no discurso evidente a existência de um mal-estar ético e antropológico, que nenhum discurso denegatório, seja ele de repetitivo de negação do preconceito e racismo. Esse emponderamento por parte da comunidade escolar, esquerda ou de direita, consegue ocultar. Mas como o discurso é prática (em níveis consciente e subconsciente) destinada a naturalizar e fixar os significados de um ‘meio vital’ em posições afins às relações de poder, sua através do conhecimento e reconhecimento do negro e suas contribuições, permitirá que crianças, negras e orientação ideológica não é nada evidente para quem já nasce com o “patrimônio” da pele clara. (SODRÉ, 2010, negros, tenham uma nova dinâmica na sua caminhada escolar – mais respeito e valorização das diferenças, e, p.6) por escala, confiança, autoestima e auto identidade - numa construção de uma educação antirracista, apoiada em Pensar que a escola continua a reproduzir e produzir discriminação racial e que falar das relações que ali valores ético, estéticos, de identidade e respeito. acontecem, que chegam e se estabelece com seus valores e práticas parece ser o ponto vital de reflexão, pois, Neste sentido, muitas organizações e institutos fizeram parcerias na produção, formação e divulgação de percebemos que a escola ainda tem dificuldade de lidar e identificar estas identidades ou são tratadas nas materiais e cursos que atendem esta demanda dentro da temática e na implementação da Lei. Cabe ressaltar o práticas escolares e sociais de forma ambígua. Leva-nos a reconhecer a urgência de se resgatar e ressignificar os Projeto A Cor da Cultura, do Canal Futura e Fundação Roberto Marinho, desde 2004, que leva a muitos valores étnicos de identidade e cultura dos africanos e dos afrodescendentes, visibilizando e valorizando o professores, escolas e organizações um rico material composto de um Kit com cadernos didáticos, DVD’s, CD negro e suas contribuições, principalmente no processo educacional garantindo a efetivação da Lei nº com músicas, histórias animadas, relatos de experiências com personagens negros conhecidos da história 10.639/2003 nos currículos escolares e, de forma, imprescindível na formação inicial e continuada de brasileira e jogos educativos. Participaram diversos educadores formais e não formais, deste processo formativo professores, gestores e técnicos educacionais. A formação continuada deste público, é possível dizer, representa e hoje são multiplicadores desta metodologia “ensinaraprenderensinar” que fortalece o fazer pedagógico e a desconstrução de estereótipos, indiferenças, injustiças, desigualdades sociais e do próprio desconhecimento permite troca de saberes e novas posturas éticas e afirmativas. (grifo nosso). Segundo Santos (2014, p. 61), “[…] na verdade, um sem número de escolas não tem dado a devida ou reconhecimento da existência de uma ideologia dominante com práticas de exclusão e preconceito. Sendo assim, vale ressaltar que o espaço da sala de aula não se caracteriza como “neutro” e sim como atenção para a importância pedagógica, política e cultural representada por esta lei”. Isto se torna preocupante, um espaço onde se desenrolam variadas histórias vividas, sentidas e contadas por alunos, professores e outros pois diversos projetos de educadores individuais ou coletivos da escola, organizações e movimentos sociais sujeitos escolares, e é nesse espaço que devemos articular a afirmação das diversas experiências e/ou histórias existem e acontecem usando diferentes linguagens, materiais, mas ainda não é suficiente. Na realidade, parece trazidas para a escola no combate a toda forma de desigualdade, de identidade, de raça, de homofobia, de que se está a sensibilizar para implementar, mesmo decorrido tanto tempo. intolerância religiosa ou de poder. Esta Lei foi pensada a partir do protagonismo do Movimento Negro, e, Este projeto, que em Manaus, aconteceu em 2010, 2011 e 2014, ao mesmo tempo em que trouxe novas percebe-se, que o desafio dos professores está em implementá-la, discuti-la e entender sua construção histórico- possibilidades, novos saberes e informações também foi permeado, é possível dizer, de resistências por parte de cultural nas ferramentas como: no PPP – Projeto Político Pedagógico, nas reuniões com pais e comunidade professoras e professores em dois aspectos principais: primeiro, quanto aos conteúdos ou materiais voltados escolar e na formação continuada; para temas das religiões de matriz africana e afro-brasileira, por desconhecimento sobre o assunto e por fundamentada nos preceitos da legalidade e da realidade social e preconceitos e concepções ou visões arraigadas sobre africanos sua história, tradições e crenças; e o outro, educacional. sobre o projeto atender negros e negras e não indígenas, considerado em discurso o maior quantitativo no Pois, segundo Gomes: Por mais avançada que uma lei possa ser, é na dinâmica social, no embate político, nas relações de poder, no Amazonas e a visão preconceituosa de que neste estado brasileiro não há negros. Visão preconceituosa, já que cotidiano da escola e do currículo escolar que ela tende a ser concretizada ou não. E, no caso do Brasil, a no Amazonas a libertação da escravidão ocorreu em1884, quatro anos antes da oficial, 1888, e, atualmente já realidade social e educacional é extremamente complexa, conflituosa, contraditória e marcada pela desigualdade social e racial. (2008, p.33) temos estudos e pesquisas (SAMPAIO, 2011; FARIAS JÚNIOR, 2010) que comprovam esta presença; bem como, pelo fato de que no estado do Amazonas temos o segundo quilombo urbano, o Quilombo do Barranco de 96 97 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. São Benedito, reconhecido em 2014, e comunidades quilombolas em Novo Ayrão, e Barreirinha, já BRASIL. Lei n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá outras providências. Brasília: MEC, 2003. BRASIL. Lei n. 11.645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Brasília: MEC, 2008. BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília: MEC/SEPPIR, 2004. BRASIL. Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília: SECAD; SEPPIR, 2009. Disponível em: <http://www.seppir.gov.br/.arquivos/leiafrica.pdf> Acesso em nov. 2014. Declaração de Durban - III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata. Durban – África do Sul, 2001. Disponível em: <http://www.inesc.org.br/biblioteca/legislacao/Declaracao_Durban.pdf/view> FARIAS JÚNIOR, Emmanuel de Almeida. Do Rio dos Pretos ao Quilombo do Tambor. Revista EDUCAMAZÔNIA Educação Sociedade e Meio Ambiente, Humaitá, LAPESAM, GISREA/UFAM/CNPq/EDUA – ISSN 1983-3423 – Ano 3, Vol. 1, jan-jun, 2010, Pág. 147-165. IANNI, Otávio. A dialética das relações raciais. Revista Estudos Avançados. vol.18 no.50 São Paulo. Jan./Apr. 2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010340142004000100003&script=sci_arttext> Acesso em fev. 2015. GONÇALVES & SILVA, Beatriz Petronilha. (Relatora). Parecer das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília: MEC/CNE, 2004. GOHN, Maria da Glória. Movimentos Sociais na Contemporaneidade. Revista Brasileira de Educação. V.16 nº47. Maio-agosto, 2011. OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. Identidade, Etnia e Estrutura Social. São Paulo: Pioneira, 1976. SAMPAIO, Patrícia Melo. O fim do silêncio. Presença Negra na Amazônia. Belém. Editora Açaí/CNPQ, 2011ISBN 978-85-6186-30-0, 298p. SODRÉ, Muniz. Sobre a Identidade brasileira. IC – Revista Científica de Información y Comunicación, n.7, p. 321,330, 2010. Disponível em: <http:??www.ic-journal.org/data/downloads/1292343056-43sodrebaja.pdf> Acesso em: 02 mai. 2012. VEIGA, Ilma Passos Alencastro (org). Projeto Político Pedagógico da escola: uma construção coletiva. IN: Projeto Político Pedagógico da escola: uma construção possível. 10. Ed. Campinas, SP: Papirus, 1995. certificadas, mas sem a posse da terra; além de mais quinze outras comunidades no processo de reconhecimento e certificação. Toda esta exclusão e invisibilidade do negro no Amazonas dificulta muito a atuação mais presente na temática e alie-se a isto o fato crucial da falta de formação inicial, em cursos de pedagogia e licenciatura de universidades públicas, federal e estadual, oferecidos de forma incipiente em faculdades particulares, que não contemplam nosso professorado; e a formação continuada nas escolas ainda ocorre dependendo da boa vontade dos gestores. CONSIDERAÇÕES FINAIS A história da educação no Brasil, a partir da Lei nº 10.639/2003, mostra diversas iniciativas ou ações que aconteceram buscando diminuir o preconceito, em relação às populações negras, criar novas posturas frente ao tema; e com isto a formação do professor passa a agregar novas possibilidades: o currículo ressignificado, os novos materiais da escola, a formação A Cor da Cultura e uma prática pedagógica diversificada e antirracista, apoiada na valorização e reconhecimento das contribuições dos africanos e afrodescendentes. Sabemos que estas informações ou ações estão no âmbito das normas e orientações do fazer pedagógico e que, na maioria das vezes, ainda não ocorre e representa as dificuldades e resistências à temática, à invisibilidade do negro e a prioridade de maior sensibilização para a implementação desta Lei. Os Conselhos de Educação e as Secretarias de Educação precisam de uma postura mais presente nestas discussões junto às universidades, escolas, movimentos sociais e sociedade. Após leituras e observações fica claro à distância, hoje, entre os movimentos sociais e estes órgãos públicos. Se num primeiro momento os movimentos sociais estiveram mais próximos e envolvidos nesta construção, agora a dinâmica de aproximação e articulação está mais distinta e difícil, em muitas situações. É possível perceber que o preconceito, a discriminação e a intolerância religiosa, apesar de disfarçados ou dissimulados, existem e criam barreiras na aceitação e na prática pedagógica de nossas escolas e falar ou ensinar diversidade, relações raciais ou étnicas ainda é um desafio, frente ao processo de exclusão de sujeitos, de invisibilidade de identidades e de desconhecimento da Lei nº10. 639/2003. A LITERATURA INFANTIL COM ÊNFASE NA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA: UMA EXPERIÊNCIA TRAVÉS DO PIBID. REFERÊNCIAS SANTOS, Marcio André de Oliveira dos. Por uma pedagogia antirracista na Educação. IN: COELHO, Wilma de Nazaré Baía; et al. (orgs.) A Lei nº 10.639/2003: pesquisas e debates. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2014. BRASIL. História e cultura africana e afro-brasileira na educação infantil / Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Brasília: MEC/SECADI, UFSCar, 2014. 144 p. BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: MEC, 1996. 41 Graduanda em Pedagogia seres iniciais pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB e Bolsista de Iniciação à Docência do Programa de Iniciação à Docência – PIBID, desenvolvido com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. Email. [email protected] 42 Graduanda em Pedagogia seres iniciais pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Email. [email protected] 98 99 VERÔNICA NASCIMENTO DE JESUS41 JOCELMA SANTOS DE OLIVEIRA42 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. africana e afro-brasileira, valorização das características e da estética negra. Segundo SANTANA (2014, p. 64): INTRODUÇÃO “A educação só pode ser pensada como importante quando contribui para tornar o educando melhor, assim, a lei traz contribuições quando se refere a um ensino dos conhecimentos afro-brasileiros, porque enuncia quais Com o objetivo de incentivar a formação de professores para a educação básica, por meio de um fortalecimento dos vínculos entre a universidade e as escolas de educação básica, da circularidade dos diversos saberes e conhecimentos que compõem o quadro ecológico da profissionalização do professor, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID/UESB campus de Jequié tem favorecido a estudantes vivenciar e protagonizar práticas inovadoras na escola. Todo o ano de planejamentos e estudos sobre o chão da escola culminou na criação e aplicação dos projetos Ateliê Literário e Ateliê da criança, no qual, nós bolsistas, protagonizamos um importante momento de formação e vivência prática na escola. Tais projetos aconteceram nos meses de outubro e novembro de 2014, nas duas escolas acompanhadas por nossa linha de ação do PIBID, a Escola Municipal Dr. Eliel Mendes e a Fundação Sebastião Azevedo, ambas no município de Jequié. Os projetos tiveram por objetivo proporcionar às crianças vivências lúdicas, o encontro saboroso e criativo com a literatura infantil, músicas, vídeo e arte, visando contribuir para a formação de bons leitores mesmo antes da aquisição da leitura e escrita por estes educandos. Neste presente trabalho nos propomos a relatar a experiência com o projeto Visitando Nossas Raízes: A Literatura Infantil Com Ênfase na História e Cultura Afro-Brasileira, esse projeto é uma ação do subprojeto de Pedagogia-Educação Infantil, coordenado pela Professora Mestre Conceição Maria Alves Sobral, vinculado ao PIBID. O projeto foi realizado na Escola Municipal Dr. Eliel Mendes, localizada na Travessa Bolivar Reis, s/n, bairro Km03, periferia da cidade de Jequié, no mês de outubro de 2014, para crianças de 4 e 5 anos de idade, sob a supervisão das Professoras Vera Lúcia Oliveira dos Santos e Maria de Fátima Sales dos Santos, planejado e executado pelas estudantes do curso de Pedagogia, bolsistas do PIBID, do campus supra citado. Tal projeto teve como finalidade, realizar oficinas de Leitura e produção de texto, visando trabalhar o reconhecimento e a valorização da identidade afro-brasileira com os alunos da Educação Infantil, compreendendo a criança enquanto sujeito sócio-histórico e cultural, utilizando a literatura infantil, permeada pelo contexto e especificidades destas crianças. É esta experiência vivida e construída com o projeto e suas contribuições para o processo formativo das crianças, das bolsistas envolvidas e das professoras supervisoras, que nos propomos a relatar. METODOLOGIA A metodologia utilizada no Projeto Visitando nossas Raízes: A literatura infantil com ênfase na história e na cultura afro-brasileira consistiu na elaboração de oficinas, no qual realizamos atividades de leitura, com obras da literatura infantil protagonizadas por personagens negros e produção textual, utilizando-se da narração e contação de histórias, vídeos, materiais didáticos pedagógicos, músicas, desenhos e pinturas. O Projeto aconteceu na Escola Municipal Dr. Eliel Mendes, localizada no bairro Km03, Jequié. E durou todo o mês de outubro, com encontros pelas terças-feiras. Para esse projeto utilizamos as obras: “A menina bonita do laço de fita”, “As tranças de Bintou”, “O cabelo de Lelê” e “Kiriku” como referências que podem contribuir não só para a construção da identidade e autoestima das crianças negras, como também a valorização da convivência na diversidade. O QUE NOS LEVOU A CONSTRUÇÃO DO PROJETO? Com base na Lei 10.639/2003 e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, decidimos, dentro da proposta do Ateliê Literário, apresentar às crianças histórias infantis protagonizadas por personagens negros, e sobre a história e a cultura africana e afro-brasileira, no intuito de trabalhar no espaço da educação infantil questões como: reconhecimento da identidade afro-brasileira, discriminações e valorização da história e da cultura 100 conteúdos, de fato, são importantes para reduzir os preconceitos que geram as discriminações entre mim e o outro, na nação brasileira." Vivenciamos um momento de inovação da prática pedagógica, contribuindo assim para a construção e fortalecimento da identidade afro-brasileira entre as crianças desde a educação infantil. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil: “o combate ao racismo e às discriminações de gênero, socioeconômicas, étnico-raciais e religiosas deve ser objeto de constante reflexão e intervenção no cotidiano da educação infantil”. (BRASIL, 2009, p. 10). EXPERIÊNCIA E RESULTADOS Na execução do Projeto Visitando nossas Raízes: A literatura infantil com ênfase na história e na cultura afrobrasileira oportunizamos as crianças o acesso a historinhas infantis nas quais os alunos tiveram contato com elementos novos, não tão comuns nas histórias contadas no cotidiano da escola, como: personagens negros e suas relações com suas características físicas, seus cabelos, sua fé, sua cultura, assim como a referência à África, como espaço geográfico e cultural da maioria das histórias trabalhadas. Pudemos observar dos alunos uma boa acolhida às historinhas, aos personagens e símbolos que representavam nossa ligação com a África. Na primeira oficina, quando iniciamos apresentando a África, antes da contação de histórias, apresentamos diversos objetos/símbolos da cultura brasileira que tem origem na África. Utilizamos tambor, esculturas de barro representando a mulher africana, boneca negra, animais característicos do continente africano, entre outros. Nesse momento observamos como aqueles objetos/símbolos eram reconhecidos pelas crianças e tocados com naturalidade e curiosidade, alguns demonstravam intimidade com o instrumento comprovando que tal objeto já fazia parte de seu convívio, de sua cultura. Com as historinhas, o nível de atenção e compreensão deles foi elevado, participavam, contribuíam, assim como com as atividades propostas após a contação das historinhas. Constatamos alguns sinais de comportamentos preconceituosos já nas crianças da educação infantil, oriundos provavelmente de sua convivência familiar e cultural. Ao falarmos do cabelo crespo, tão tocado nas historinhas lidas, alguns disseram que seus cabelos são “ruins”, outros afirmaram que os seus são “bons”, expressões preconceituosas, comumente utilizadas no Brasil para se referir ao cabelo. Insistimos em tentar desconstruir esse tipo de pensamento e compreensão das crianças. Falamos dos diferentes tipos de cabelos que possui a população afrodescendente, sua beleza e possibilidades de uso, como soltos, com tranças, com turbantes, flores entre outros. Na culminância, último dia do projeto, ao propor uma caracterização dos personagens principais de cada livro lido. Todos queriam se enfeitar e desfilar, pois organizamos um desfile da beleza negra, onde os arrumamos de forma a ressaltar sua beleza e seus traços negros, especialmente com os cabelos e turbantes. Percebemos na Educação Infantil um privilegiado espaço para se trabalhar e discutir a respeito da diversidade cultural e étnica do Brasil, de forma a contribuir para a desconstrução de preconceitos e discriminação e para a valorização das características físicas e culturais da população negra, afrodescendente. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana asseguram que: A escola tem papel preponderante para eliminação das discriminações e para emancipação dos grupos discriminados, ao proporcionar acesso aos conhecimentos científicos, a registros culturais diferenciados, à conquista de racionalidade que rege as relações sociais e raciais, a conhecimentos avançados, indispensáveis 101 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. para consolidação e concerto das nações como espaços democráticos e igualitários. (BRASIL, 2004, p.15) A escola tem papel fundamental na desconstrução de preconceitos e na contribuição para uma sociedade mais justa e igualitária e a educação infantil não pode se omitir neste processo. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana confirmam nossa ação e prática de valorização, afirmação e conscientização da cultura negra no espaço escolar quando diz: “Pedagogias de combate ao racismo e a discriminações elaboradas com o objetivo de educação das relações étnico/raciais positivas têm como objetivo fortalecer entre os negros e despertar entre os brancos a consciência negra” (BRASIL, 2OO4). De acordo com as professoras supervisoras que atua com as crianças de quatro e cinco anos de idade na Escola Municipal Dr. Eliel Mendes: “As discussões levantadas pelas alunas bolsistas durante o projeto com as historinhas, contribuiu muito para o reconhecimento e a valorização étnico-racial, favorecendo a aproximação e a identificação dessas crianças com a história e a cultura africana e afro-brasileira” (Prof.ª Vera Lúcia). Figura 1 Planejamento das ações na escola Figura 2 Objetos/símbolos da cultura africana Figura 3 Reconhecimento dos objetos pelas crianças “Necessário se faz que nós tenhamos um novo olhar e um novo pensar em relação à prática Educativa, procurando desenvolver uma prática investigativa diante do processo ensino-aprendizagem, promovendo assim, autonomia e pensamento crítico nos alunos. Esse Projeto “Visitando Nossas Raízes: A literatura infantil com ênfase na história e na cultura afro-brasileira”, muito contribuiu nesse sentido, aguçando a curiosidade das crianças e ajudando-os a se reconhecerem nas histórias contadas, já que a maioria dos livros de literatura infantil que trabalhamos na escola, pouco traz essas temáticas”. (Prof.ª Fátima Sales) No subprojeto de Pedagogia do PIBID, tivemos a oportunidade de ter contato com a realidade da escola, seus desafios e possibilidades, estarmos inseridas no ambiente escolar e nele, além de observar para conhecer, desenvolver ações e práticas pedagógicas que muito favoreceram para a educação das crianças, das bolsistas (futuras profissionais da educação) e das professoras supervisoras que acompanham o PIBID. Este projeto caracteriza-se como uma prática inovadora da escola, ao propor discutir a temática da diversidade racial e cultural do Brasil, assim como nossa ligação com a África, identidade e a pertença afro-brasileira com crianças de quatro e cinco anos da Educação Infantil. Figura 4 Contação das historia Figura 5 Contação das historia CONSIDERAÇÕES FINAIS A experiência com o Projeto “Visitando Nossas Raízes: A literatura infantil com ênfase na história e na cultura afro-brasileira” vivenciada na escola de Educação Infantil Eliel Mendes, demonstrou para nós bolsistas e supervisoras do PIBID, o quanto o chão da Educação Infantil é fértil e propício para se trabalhar a respeito da diversidade cultural e étnica do Brasil, temas tão urgentes de serem abordados e problematizados na escola brasileira. Trabalhando de forma lúdica e simples através de histórias que valorizam a cultura africana e afro-brasileira, seus traços e costumes, as oficinas ajudaram as crianças a perceber que o mundo é construído de pessoas diferentes e que a diversidade é a beleza da vida, portanto todos são portadores de belezas e estas precisam ser reconhecidas e valorizadas. Figura 6. Cartaz: Somos todos diferentes. desenvolvidas Figura 7 Culminância: Apresentação das atividades ANEXOS Figura 8 Caracterização com vestes de origem africana Figura 9 Caracterização com vestes de origem africana 102 103 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. à diversidade social, cultural e econômica dos discentes. O processo de análise acerca dos meios e dos modos como a organização escolar se desenvolve ao longo da história educacional no Brasil se apresenta como elemento importante para verificar como este aspecto sobre transformações de acordo com o momento histórico vivido no país, assim como a sua relação ao contexto internacional. A coleta das informações foi realizada através do levantamento e análise de ideias diferentes, trazidas por artigos e livros que tratam a temática apresentada. Conclui-se constatando que a proposta estética, atrelada à decoração lúdica pedagógica e a organização do ambiente escolar é fator positivo intrínseco ao desenvolvimento do processo de ensinoaprendizagem. Palavras-chave: Currículo - Espaço escolar - Ensino-aprendizagem Figura 10 Exibição de vídeo: KIRIKU Figura 11 Culminância INTRODUÇÃO O desenvolvimento de uma pesquisa em que se propõe a reformulação de conhecimentos ou de práticas REFERÊNCIAS BARBOSA, Rogério Andrade. O segredo das tranças e outras histórias africanas. São Paulo: Scipione, 2007. BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília, 2004. Disponível em: http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2012/10/DCN-s-Educacao-das-Relacoes-EtnicoRaciais BRASIL. Lei nº. 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Disponível em: <http:// www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm>. Acesso em: 12 nov. 2009. BELÉM, Valéria. O cabelo de Lelê. Ilustr.: Adriana Mendonça. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2007. CASTANHA, Marilda. Agbalá: um lugar-continente. São Paulo: Cosac Naify, 2007. DIOUF, Sylviane A. As tranças de Bintou. Ilustr: Shane W. Evans. Edição-1. Editora: Cosac Naify, Ano: 2004. MACHADO, Ana Maria. Menina bonita do laço de fita. Ática - 7 º Edição - 2. OCELOT, Michel. Kiriku e a Feiticeira ( 1998) – filme. Plano Nacional de Implementação da Lei nº10. 639/2003. Disponível em: http://seppir.gov.br/publicacoes/lei_africa SANTANA, Marise de. ODEERE: formação docente, linguagens visuais e legado africano no sudoeste baiano/ Marise de Santana... [et al.]. -- Vitoria da Conquista: Edições UESB, 2014. implica, sobretudo, na precisão de seus objetivos, assim como na identificação de elementos importantes para o delineamento dos passos a serem desenvolvidos. A realização de uma pesquisa, então, amplia os processos de imaginação, de invenção e reflexão que envolvem a ação humana no desenvolvimento de uma pesquisa que cumpre as determinações de cunho científico. A realização de uma pesquisa, independente da metodologia a ser abordada busca provocar compreensões acerca do que foi pesquisado, criando relações e qualificando o seu objeto no tempo e no espaço, abarcando as questões culturais e históricas. A pesquisa que ora se apresenta estruturou-se por meio da investigação acerca da organização do espaço escolar em que o seu problema consiste em perceber de que modo a organização do espaço escolar interfere nas práticas de ensino e de aprendizagem? Para se buscar respostas para o problema formulado, o objetivo geral delineado consiste em investigar como a organização do espaço-escola proporciona o desenvolvimento de práticas de ensino e de aprendizagens. O atingimento deste por sua vez só é possível a partir do cumprimento acerca dos objetivos específicos, que estão delimitados em: analisar como a organização do espaço escolar e pensada como elemento correspondente às práticas de ensino e de aprendizagem e em verificar como a reflexão sobre a organização do espaço escolar reflete o estudo do currículo. A centralidade do trabalho consiste em entender como as ausências da organização, que abarca a decoração A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR COMO UMA DIMENSÃO DO CURRÍCULO ESCOLAR lúdica, devidamente alinhada à proposta pedagógica nas paredes e muros das unidades escolares públicas devem ser ponto de reflexão. Para tanto, compreende-se que tal aspecto se faz imerso à elaboração do conteúdo 43 Andréa Santos da Cruz Edson Fernando Oliveira Silva44 do currículo escolar. Tal compreensão implica em analisar a influência, se positiva ou negativa, em estimular as ações pedagógicas, assim como as aprendizagens. Estes fatores são analisados a partir do entrecruzamento de questões que cercam a organização física deste ambiente e que interferem no processo de ensino e RESUMO: Este artigo tem como objetivo investigar como a organização do espaço escolar proporciona o desenvolvimento de práticas de ensino e de aprendizagens. O presente trabalho foi elaborado a partir da realização de pesquisa bibliográfica. O desenvolvimento do texto se sustenta em trazer a discussão acerca da importância de um repensar e em ações reais acerca da organização do espaço escolar como elemento fundamental para proporcionar o desenvolvimento de ações pedagógicas que proporcionem aprendizagens significativas e atentas 43 Graduanda em Pedagogia pela Faculdade Mauricio de Nassau, Salvador-Ba. Mestre em Educação e Contemporaneidade UNEB. Professor vinculado ao curso de Pedagogia –Faculdade Maurício de Nassau - (Estudante do SEMINALIS - Grupo de Pesquisa em Tecnologias Intelectuais, Mídias e Educação Contemporânea (CNPq/UFS), desde 2008), Brasil. Endereço para correspondência: Avenida Tamburugy, 88 - Patamares - CEP: 41680-440. Salvador-BA. E-mail: [email protected] 44 104 aprendizagem. A pertinência desse trabalho destina-se ao encaminhamento de discussões acerca da organização do espaço escolar circunscrito na proposta curricular da escola, de maneira crítico-reflexiva, propondo aos gestores e educadores uma visão crítica mais elaborada quanto à construção linear de concepções e de visões de mundo a respeito das práticas de ensino e de aprendizagem. Essa pesquisa se justifica também pela necessidade de se 105 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. provocar conhecimentos outros sobre os elementos que se fazem presentes na organização do espaço escolar e identificam o ambiente escolar como único e reprodutor da identidade de seus sujeitos segundo seu contexto nas práticas de ensino e de aprendizagem, que impactam no processo formativo da docência. social, caracterizando assim a decoração estética lúdica das paredes e muros. O processo de evolução e de transformação acerca das estruturas prediais escolares perpassa pela proposição, A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR COMO ELEMENTO EFICAZ NO PROCESSO atualmente, de ambiente saudáveis e estimulantes, devidamente adequados às propostas educacionais das EDUCACIONAL instituições escolares. No contexto, em que se analisa a organização, torna-se válido analisar como o moderno, para se fazer A realização de análises acerca da organização do espaço escolar como elemento que se mostra eficaz na compreendido se faz necessário conhecer a história acerca das edificações escolares. Registra-se que este melhoria do processo educacional justifica-se, dentre outras razões, em perceber como este processo interfere estudo não irá traçar tal panorama em razão de não se constituir em seu objeto de estudo. No entanto, se no cotidiano escolar e nos modos de estar dos sujeitos que transitam pelos espaços escolares. Este entendimento percebe que as edificações escolares que vimos sendo construídas no país, que remontam o período imperial da refere-se tanto aos sujeitos que promovem o desenvolvimento de ações pedagógicas, centradas, então, na figura nossa história para acomodar as crianças e adolescentes de nossa sociedade passaram, e passam, por dos gestores e dos docentes, seja na figura dos discentes, enquanto sujeitos em formação através das readequações constantes. Os prédios escolares têm em seu modelo a forte influência da arquitetura portuguesa aprendizagens proporcionadas. que foi implantada e disseminada em todo solo brasileiro durante o período da colonização pelo império português. Neste período a escola regular estava sendo pensada como espaço onde aconteceria as O processo de análise acerca dos meios e dos modos como a organização escolar se desenvolve abraça um modernizações sociais, o espaço responsável por capacitar o cidadão para a vida atuação social. Segundo processo analítico que contempla, em sua estrutura, o processo histórico educacional. Este entendimento é Souza justificado, então, a partir da percepção que o mesmo é desenvolvido a partir do entrecruzamento das questões culturais e sociais a ser analisada. Logo, a percepção acerca da organização do espaço escolar abarca as (...) em determinado momento, políticos e educadores passaram a considerar indispensável a existência de casas questões que se referem à sua estrutura arquitetônica, assim como os aspectos que se referem à construção de escolares para a educação de crianças, isto é, passaram a advogar a necessidade de espaços edificados um espaço a ser vivido entre as pessoas, seja no que se refere às dimensões, seja no que tange à disposição dos expressamente para o serviço escolar. Esse momento coincide com décadas finais do século XIX e com os projetos republicanos de difusão da educação popular (SOUZA, 199, p.122). elementos que irão compor um cenário, aqui deslocado para o termo de espaço escolar. A atenção e justificativa acerca do termo cenário se fundamenta como forma de evitar interpretações errôneas, tomando a palavra como um conceito que fundamenta a escrita de uma história a ser realizada por sujeitos específicos, mas desenvolvida e validada pelos demais sujeitos. Nesse contexto, o conceito de cenário traz o entendimento de um espaço escolar em que o aspecto vivencial é fruto das relações entre os sujeitos que transitam e compõem este espaço, Os interesses demonstrados pelos representantes políticos desta época, não revelam preocupação com a qualidade do ensino e aprendizagem, tampouco com as questões que envolvem a identidade da escola a partir das experiências do educando associadas à estética e ludicidade decorativa. O projeto arquitetônico desenvolvido e implantado está presente na composição dos azulejos, nas calçadas, nos arcos semicirculares das construções residenciais, escolares e comerciais. Torna-se comum perceber estes e que se faz diverso e difuso, de percepções, de comportamentos e de intenções. outros aspectos da cultura urbana portuguesa em prédios públicos erguidos em solo nacional. Aqui trataremos Para Souza: de um dos pontos que mais chamou a atenção, a arquitetura e decoração do espaço-escola, como fator interferente das práticas de ensino e motivação para as crianças irem ás escolas com prazer e obter com isto, um (...) o edifício escolar torna-se portador de uma identificação arquitetônica que o diferenciava dos demais edifícios públicos e civis ao mesmo tempo em que o identificava como um espaço próprio – lugar específico melhor rendimento na aprendizagem. para as atividades de ensino e do trabalho docente. (...) O espaço escolar passa a exercer uma ação educativa Vale justificar que o termo decoração que vem sendo empregado nesta produção, não é intrínseco à ideia de dentro e fora de seus entornos (SOUZA, 1998, p. 123). luxo. A ideia que se constrói a partir desta temática está atrelada à modernização decorativa do espaço escolar a A partir da idealização do que vem a ser escola, com base na fala de Souza, compreende-se a escola como lugar de educação que requer em sua aparência estética a diferenciação dos demais espaços públicos (1998). Não apenas sua estrutura arquitetônica deve diferenciá-la, mas, especialmente a parte que cerne esta pesquisa sugerindo o que pode vir a ser a organização do espaço escolar e, mais precisamente, os detalhes que fim de reformular este ambiente, que é cercado de relações e aprendizagens, utilizando-se dos recursos já disponíveis ou adquirindo-os, para tornar o ambiente educacional mais lúdico. Portanto, trata-se de desenhar, grafitar, pintar ou decorar a estrutura física do prédio escolar com as ideias fruto do imaginário do educando. Se atualmente se percebe maior atenção acerca da construção e da organização dos espaços escolares, implica informar que mesmo com a implantação de uma arquitetura de origem portuguesa, as mesmas não se faziam 106 107 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. conservadas conforme se verifica em tempos atuais. Conforme Schueler e Magaldi (2008) as propostas Para Escolano: pedagógicas propostas das escolas imperiais, conforme leituras realizadas no início do século XIX se faziam desenvolvidas em prédios vistos como verdadeiras pocilgas ou pardieiros. Estes são termos utilizados à época, (...) o espaço escolar tem de ser analisado como um constructo cultural que expressa e reflete, para além de sua como forma de ilustrar como a organização escolar se encontrava estruturada em meio ao signo do atraso, da materialidade, determinados discursos. No quadro das modernas teorias da percepção, o espaço-escola é, além precariedade, da sujeira, da escassez e do mofo. disso, um mediador cultural em relação à gênese e formação dos primeiros esquemas cognitivos e motores, ou Este processo de silenciamento, despreocupação e seja, um elemento significativo do currículo, uma fonte de experiência e aprendizagem (ESCOLANO, 1943, p. desqualificação acerca da organização dos espaços escolares, seja no período colonial ou imperial, tem seu 26). processo de mudança demarcado com a implantação da primeira república. Nesse contexto as autoras sinalizam à análise do processo a partir da ruptura, ao invés de se concentrar sobre o aspecto dual entre o moderno e O ambiente escolar não é apenas o local em que os conhecimentos são ensinados sistematicamente, sobretudo, é o espaço em que as relações se desenvolvem culturalmente. E, segundo Souza “a arquitetura escolar haveria, antigo, entre a inovação e a tradição. O processo de ruptura às visões e estabelecimento das práticas se estrutura a partir dos marcos políticos e históricos de constituição da escola republicana. Tal percepção e proposição se ajustam à proposição de uma escola, fruto da reforma educacional paulista, em 1893, comandada por Caetano de Campos, em que se buscava a partir da construção de prédios monumentais reorganizar a proposta educacional das mesmas. Em meio à proposição surge a devida preparação dos professores para o desenvolvimento de ações pedagógicas devidamente voltadas para o cumprimento de uma proposta educacional ajustada aos valores políticos que buscou garantir a este modelo de escola uma posição de escola de verdade. Para isto a reforma proposta buscou-se centrar, não somente em estruturas prediais majestosas, mas na organização administrativa e didático-pedagógica. Modelo este que passou a ser adotado em outros estados da organização política nacional, como forma de estabelecer ajustes e uniformização diante do modelo educacional nacional. Esse processo de renovação acerca das questões estruturais, administrativas e didático-pedagógicas não implicou, sobretudo, na reformulação de ações como a organização das salas em fileiras, na atuação do professor como sujeito central diante do conhecimento a ser universalizado pela escola, dentre outros aspectos. Tais aspectos foram essenciais no que diz respeito ao desenvolvimento de ações educacionais moralizantes, disciplinar e de fortalecimento de valores patrióticos. Para Schueler e Magaldi, houve a troca de roupas, mas o mesmo não se constituiu na troca pois, de simbolizar as finalidades sociais, morais e cívicas da escola pública. O lugar de formação do cidadão republicano teria que ser percebido onde se processa a formação do cidadão” (1998, p. 27). Percebe-se a partir desta fala, mais uma vez a ratificação de defesa da escola que possui em seu currículo e projeto pedagógico o objetivo de diferir-se dos demais espaços públicos de convivências, a exemplo, o presídio. É perceptível que estes ambientes apresentam natureza e objetivos distintos para as pessoas que se deslocarão para estes espaços. Esta observação, por lógica, deveria gerar para a política pública educacional a ideia de que o espaço escolar exige uma aparência estética igualmente diferente. Distanciando-se, assim, da ideia limitada, preconceituosa e pessimista de que a escola pública pode servir de ensaio para uma possível futura reclusão social. Em 2010, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) anunciou, entre outras informações que, “nos últimos 15 anos, o Brasil construiu mais presídios que escolas. O número de presídios aumentou 253% e queda 19,3% no número de escolas públicas do país”. Estes índices remetem a reflexão de quão distante o sistema educacional está, de oferecer formação de qualidade para seus pequenos cidadãos. Não são muitas as mudanças a serem realizadas pelos órgãos responsáveis, para permitir ao estudante o convívio e a aprendizagem em um ambiente escolar mais agradável, possibilitando com isso, a viabilidade da permanência efetiva e estimulante do educando nas unidades escolares. A atual aparência das unidades escolares da rede pública de educação brasileira, em sua maioria, obedece a uma de pele (2008). É percebido, então, que a crescente preocupação na formulação, por parte dos estados e municípios na elaboração de programas e projetos que visam beneficiar a educação, tragam consigo preocupações ainda tímidas acerca do espaço escolar público com um diferencial decorativo alusivo à faixa etária dos educandos e padronização predial. São prédios públicos construídos, alugados ou emprestados que na maioria das vezes estão classificados como inapropriados para a efetiva função educacional. Soma-se a este aspecto a carência ou ausência de materiais e serviços básicos que garantam o melhor desenvolvimento das atividades cotidianas administrativas e pedagógicas. É importante salientar que não se trata de grandiosas obras arquitetônicas, sendo esteja circunscrita no contexto da proposta pedagógica da escola. As grades, os muros altos e os modelos prediais que acabam tornando a escola pública semelhante aos presídios. Estes por sua vez, neste caso, escolas e presídios; apresentam distinção e similaridade ao mesmo tempo: assemelham-se quanto a quantidade de grades e ausência de cores em seu interior e entornos e o ponto fundamental aqui apresentado às reflexões acerca da aparência estética. Para Teixeira: Não desejamos palácios luxuosos, mas construções econômicas e nítidas que apoiem, com uma simples e forte distingue-se quanto ao objetivo social. Enquanto um acomoda e tenta recuperar o indivíduo torpe, já adulto, o base física, a obra educacional entrevista pelos que acalentam os ideais de uma reconstrução da própria vida, outro por sua vez, abre seus portões com grandes ferrolhos para crianças em formação pedagógica, social, pela escola (TEIXEIRA, 1935, p.204). cognitiva, psicomotora, afetiva, entre outras. Este trecho traduz bem o que se espera sobre o que vem a ser o espaço-escola segundo uma perspectiva 108 109 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. diferenciada, simples e bem vista deste ambiente. desenhem livremente e pintem suas respectivas obras, eles deixarão no papel suas percepções, imaginações, Dados informativos públicos denunciam periodicamente a precariedade existente na realidade escolar pública. emoções e todo o tipo de sentimentos e sensações que lhes cercam. Independe da posição social ou Algumas unidades funcionam com a oferta de uma infraestrutura apenas elementar, isto é, somente o prédio regionalismo. Entende-se que a produção artística possui o poder de expor seu artista. A arte revela uma com os serviços de água, energia, esgoto e cozinha, sem salas de aula equipadas, ou a oferta de atividades identidade, mostra costume, prazer, cultura. Os desenhos enfeitam, decoram, personalizam um ambiente e seu extracurriculares que auxiliam e apoiam o desenvolvimento pedagógico do educando. Observa-se que estes autor. fatores, também, impossibilitam o desenvolvimento da prática do trabalho docente mais eficaz. Tais palavras objetivam exemplificar que o espaço escolar, será mais agradável ao convívio, se em seus muros Consequentemente reflete em aprendizagens de média ou baixa relevância. e paredes forem transmitidos os sentimentos fruto do imaginário infanto-juvenil do público a que atende; tal Por meio de periódicos e noticiários, verifica-se que este patrimônio público, que é a escola pública, vez ou sugestão é designada e própria para os espaços escolares que não vem se preocupando com o bem-estar do outra, recebe investimento em mobiliários novos de reposição, passa por reformas em sua estrutura física, educando atrelado à decoração interna/externa da escola. reparos nos sistemas hidráulico e elétrico, entre outros; ou seja, são desenvolvidas ações eficazes e necessárias Este artigo está apresentando uma questão que, talvez esteja sendo passada despercebida aos olhos tanto da que visam garantir o bom funcionamento das unidades. No entanto, percebe-se que a comunidade escolar não gestão política pública educacional, quanto, na maioria das vezes, do olhar da gestão escolar; isto é, a decoração desenvolve uma clara percepção acerca do cuidado com o bem público. lúdica de muros e paredes é uma ação que está ao alcance de ser realizada pela gestão ou grêmio escolar, por Contudo, apesar da precariedade apresentada em algumas unidades escolares e mesmo com aumento inferior ao meio de parcerias findadas dentro da comunidade, alicerçada pelo Projeto Político Pedagógico e/ou currículo número de presídios; a realidade é que as unidades escolares públicas hoje no país atende a cerca de 45 milhões escolar. de estudantes pelo território afora e este número tende a crescer, uma vez que há incentivos de suporte As intervenções são consideradas de pequeno porte, pois não alteram ou inutilizam o que já está feito. Esta financeiros governamentais para as famílias carentes, que matriculam seus filhos regularmente. modernização pode ocorrer dentro da unidade escolar e ser desenvolvida por seus sujeitos. São modificações Percebe-se que o número de alunos atendidos, obedece a constituição federal brasileira, em que assegura: que darão a escola uma nova roupagem; ou melhor, caracterizará o ambiente a partir do olhar de seus frequentadores. Segundo Teixeira: A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua (...) só existirá uma democracia no Brasil no dia em que se montar, no Brasil, a máquina que prepara as qualificação para o trabalho (Constituição Federal de 1988, artigo 205). democracias. Essa máquina é a da escola pública. Mas, não a escola pública sem prédios, sem asseio, sem higiene e sem mestres devidamente preparados e, por conseguinte, sem eficiência e sem resultados (Teixeira, Abrir vagas para milhões de alunos, não é razão para elogios ao governo ou sentimento de alegria por parte da 1935:181). população. Isto é o cumprimento de uma lei e o resultado do arrecadamento de cobrança de impostos que foram investidos na construção de mais escolas, possibilitando assim o acolhimento, ainda que deficiente, de inúmeras Para isto, a ideia, é que acima de tudo, o currículo escolar tenha princípios que se baseiam a partir de projetos, crianças. que apresente em seu conteúdo o interesse de se destacar em meio à comunidade, com uma proposta de Sendo assim, percebe-se a escola como espaço em que todos, sem distinção ou acepção, recebem uma formação “roupagem” diferenciada e que os educandos, que são os protagonistas deste cenário, participem de maneira geral que habilita para as relações e processos sociais diversos. É o lugar em que se concebem as aprendizagens ativa, que sejam ouvidos e expressem suas produções artísticas no espaço em que convive durante anos de sua pedagógicas cientificamente sistematizadas. O espaço escolar é elemento eficaz no processo educacional. vida. Distanciando-se das questões mais graves e notórias referentes às problemáticas existentes; o ponto em questão discursivo aqui apresentado, é a respeito da ausência de decoração estética das unidades, como fator de prazer A RELAÇÃO ENTRE O ESTUDO DO CURRÍCULO E O ESPAÇO ESCOLAR influenciador na ida à escola e desenvolver um olhar investigativo quanto a organização do espaço-escola, como local de desenvolvimento de práticas de ensino e aprendizagem. Entende-se que a prática docente O tratamento dado à concepção de currículo distante das questões comportamentais, embora privilegiando a acontece de maneira mais eficiente quando há uma recepção estrutural que fornece recursos estimulantes tanto experiência educacional se apresenta como fator essencial para se vislumbrar entendimentos mais coesos e para a prática, quanto para as interações/aprendizagens. coerentes no que se refere à relação entre a organização do currículo e do espaço escolar (McKERNAN, 2012). É possível compreender melhor esta inquietação a partir de um exemplo simples: todas as vezes em que for A conceituação de currículo proposto por James McKernan refere-se a todo processo de planejamento, dado para uma turma de crianças ou adolescentes, papéis em branco e lápis de colorir e lhes solicitar que 110 111 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. implementação, ensino, aprendizagem, avaliação e pesquisa que envolve a escola. Desta forma, a compreensão segundo as propostas exigidas documentalmente pelo PNE e outros documentos de cunho educacional. sobre o currículo e o seu impacto no cotidiano escolar refere-se ao processo de investigação da natureza Com base em estudos desenvolvidos acerca do tema levantado, entende-se o espaço-escola como o local dos experiencial que artefatos, atores, operações, jornadas e percursos trilhados no fazer educacional. desenvolvimentos da fase mais importante, (cognitivamente falando) da vida do indivíduo. Há a expectativa de A concepção de currículo proposto por McKernan reflete o pensamento diante da proposição da educação como toda a comunidade escolar, não somente do educando, de se praticar o processo de ensino e de aprendizagens um processo, desvinculando-se da proposição de um processo educativo com objetivos instrucionais em um espaço sugerido por Teixeira, quando destaca que específicos, que cumpre as determinações governamentais diante de proposta antieducacionais e nãodemocráticas. A visão de um currículo como processo e não como produto permite a reflexão acerca da ...um ambiente civilizado, sugestões de progresso e desenvolvimento, oportunidades para praticar nada menos do organização do espaço escolar devidamente estruturado às relações e experiências desenvolvidas pelas pessoas que uma vida melhor, com mais cooperação humana, mais eficiência individual, mais clareza de percepção e mais tenacidade de propósitos orientados (TEIXEIRA, 1932, p. 320). que compõem o espaço escolar, alterando o mesmo e a si, continuamente. Durante todo o percurso da história da educação, quanto ao atendimento à criança e ao adolescente, pesquisas e Anísio Teixeira que desde o século passado tratava das questões que enredam o espaço-escola, já estabelecia o práticas buscam ratificar a importância de que para educar é necessário ter o conhecimento claro sobre quem modelo estrutural que se deveria adotar para o ambiente escolar e o comportamento desenvolvido dentro do são esses sujeitos e sobre o que é relevante para se promover uma educação que seja de qualidade, o que mesmo. implica dizer que envolve também o ambiente a ser construído para esse atendimento (WIGGERS, 2012). comportamento adotado pelos profissionais que compõem o ambiente educacional, se reflete na imagem que se Conforme Campos, Fülgraff e Wiggers (2012) a determinação pela LDB, no que tange à promoção da educação pode ter da escola, além de influenciar de maneira direta a postura dos educandos frente aos bens da escola e em suas modalidades de ensino implica na especificação a partir da diversidade de normas de cunho próprio a sua visão deste espaço. Teixeira ainda traz Entende-se que se trata inclusive da postura adotada com base no currículo oculto. Todo fim de definir o dimensionamento e tipologia das unidades abarcando o número de crianças a serem atendidas, ...que o prédio escolar e as suas instalações atendam, pelo menos, aos padrões médios da vida civilizada e que o as salas disponíveis por agrupamento e a relação de professores por agrupamento. magistério tenha a educação, a visão e o preparo necessários a quem não vai apenas ser a máquina de ensinar Com base em critérios legais o PNE, estrutura parâmetros com base em conceitos de sustentabilidade e intensamente a ler, a escrever e a contar, mas vai ser o mestre da arte difícil de bem viver (TEIXEIRA, 1995, acessibilidade universal, devidamente de acordo com a proposta pedagógica da unidade escolar. Para tanto, na p.39). formulação de um espaço como uma creche, a cunho de exemplificação cumpre observar tais elementos, como se vê abaixo enquanto princípios essenciais. São eles: Sendo assim, o currículo escolar se estabelece de maneira documental e comportamental devendo ser a) a relação harmoniosa com o entorno, garantindo conforto ambiental dos seus usuários (conforto térmico, visual, acústico, olfativo/qualidade do ar) e qualidade sanitária dos ambientes; b) o emprego adequado de técnicas e de materiais de construção, valorizando as reservas regionais com enfoque na sustentabilidade; c) o planejamento do canteiro de obras e a programação de reparos e manutenção do ambiente construído para atenuar os efeitos da poluição (no período de construção ou reformas): redução do impacto ambiental; fluxos de produtos e serviços; consumo de energia; ruído; dejetos, etc. d) a adequação dos ambientes internos e externos (arranjo espacial, volumetria, materiais, cores e texturas) com as práticas pedagógicas, a cultura, o desenvolvimento infantil e a acessibilidade universal, envolvendo o conceito de ambientes inclusivos (BRASIL, 2006, p. 21). desenvolvido junto com toda a comunidade escolar, (especialmente corpo docente) numa perspectiva de poder descentralizado, propondo ações que objetivem a Diretriz Curricular Nacional, sendo esta questão obrigatória e não opcional. CONSIDERAÇÕES FINAIS O estudo acerca da relação entre o currículo e a organização do espaço escolar permite a compreensão de que ambos necessitam de reestruturação seja no que concerne à conceituação, seja no que tange à implantação dos O interesse pela modernização das unidades escolares publica por meio da decoração estética alusiva, é mesmos. assegurada por meio de determinações políticas, ou seja, há leis, como visto acima, que visam assegurar aos A visão atual acerca dos espaços escolares denota uma visão funcionalista deste, o que destoa, em sua grande espaços escolares os itens necessários para uma recepção e acolhimento eficaz ao processo de aprendizagens. maioria dos propósitos pedagógicos de uma unidade escolar, o que implicará, sobretudo, em readequações ou O currículo escolar é o documento em que se devem constar tais questões, adaptadas á realidade do contexto improvisos no intuito de melhor aproximá-los. Conforme se verificou a estrutura arquitetônica do espaço social onde a unidade e o educando estão inseridos a fim de desenvolver tanto na estrutura física, quanto nos escolar deve garantir o estabelecimento de convívios e interações pedagógicas, sociais, afetivo, dentre outras. personagens que compõem este cenário, uma identidade, o perfil que desejam ter. À escola, cabe a É percebido, desde então, que os currículos escolares devem considerar a organização e a estética decorativa responsabilidade de ir se adequando, se houver a necessidade das adaptações acontecerem, a fim de trabalhar lúdica de seu espaço físico, considerando que são fatores tidos como relevantes quando atrelado às práticas de 112 113 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. ensino e de aprendizagens. A escola pode, portanto, modernizar-se a fim de obter um ambiente que se torna Essas escolas funcionavam, geralmente, a partir das 19 horas até as 22 horas, de segunda a sábado, e agradável a quem a frequenta, à medida que cumpre as leis previstas para a educação, adaptando e organizando ainda tinha ensinamentos religiosos, com a matéria chamada doutrina sagrada, texto de cunho cristão, diante da seu espaço. oficialidade da religião católica no Brasil da época, o padroado. Esta pesquisa se conclui destacando ser de fundamental que ao permitir ao educando a participação e Uma das primeiras questões sobre a participação e atuação dos alunos nas escolas noturnas é: como interferência na revisão da organização do espaço escolar implica em estar atento às questões de faixa etária, acontecia essa participação e de que maneira ela foi determinante para a criação e continuidade das escolas. dos aspectos sociais, culturais e econômicos que envolvem estes alunos. Atrelado a tal elaboração encontra-se Partindo dessas reflexões verifiquemos alguns casos onde poderemos perceber tais elementos. presente neste processo, o que se refere ao discente, a formação da sua identidade a partir das experiências no espaço escolar. O professor público, Alcides Jorge Ferreira, da freguesia de São Bento do Monte Gordo, em outubro de 1871, se ofereceu gratuitamente para abrir uma escola noturna e afirmou ser em benefício da instrução popular. O vice diretor da Instrução Pública, Antonio Franco da Costa Meireles, que estava presente na inauguração REFERÊNCIAS daquela noturna, em ofício à presidência da província, para receber o aval final se a escola funcionaria, BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p. CAMPOS, Maria Malta, FÜLGRAFF, Jodete e WIGGERS, Verena. A qualidade da educação infantil brasileira: alguns resultados de pesquisa. Cadernos de Pesquisa, v. 36, n. 127, jan./abr. 2006 McKERNAN, James. Currículo e imaginação: teoria do processo, pedagogia e pesquisa-ação. Tradução: Gisele Klein. Porto Alegre: Artmed, 2009. SOUZA, R. F. de. Templos de civilização: a implantação da escola primária graduada no Estado de São Paulo (1890-1910). São Paulo: Editora da UNESP, 1998. TEIXEIRA, Anísio. Educação é um direito. 2ªed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1996. ______________ . Pensamento e ação. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1960. (Retratos do Brasil). VIÑAO FRANCO, Antonio, ESCOLANO, Agustín 1943. Currículo, espaço e subjetividade: a arquitetura como programa. [Tradução Alfredo Veiga-Neto]. – 2. Edição – Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 152 p. verificou que a escola já contava com 10 discípulos selecionados por Alcides e que a população da freguesia A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NAS ESCOLAS NOTURNAS BAIANAS NO FINAL DO SÉCULO XIX aceitou-a com grande satisfação (ROCHA, 1871). Essa escola durou dois anos, o que evidencia uma resposta positiva do aval da presidência da província para que as aulas prosseguissem. A prova dessa duração foi encontrada sete anos depois, quando o Alcides solicitou progressão na carreira docente e um dos argumentos que ele utilizou foi ter sob sua condução uma escola noturna na freguesia de São Bento do Monte Gordo. O fato de ter aberto a noturna teria lhe garantido um elogio por parte de um preposto do Governo, como uma das ações de construção da nação, por esse motivo e, provavelmente, por outros ele passou a ser professor público vitalício (ROCHA, 1871). A não ser esse pedido de progressão na carreira do professor Alcides, após 1871 não foram encontradas mais informações sobre a noturna da freguesia, porém a escola já tinha sido aberta e com grande incentivo da diretoria da Instrução Pública, conforme as informações do vice diretor da Instrução Pública da época. O professor público da vila de Ilheus, João Dias Guimarães Caldas, em outubro de 1871, afirmou que 45 JUCIMAR CERQUEIRA DOS SANTOS “os espíritos da sábia resolução de 1870 influenciaram quem tinha interesse nas primeiras letras, com a criação das escolas noturnas”, pois muitos moços o procuraram por diversas vezes nos meses de agosto e setembro para Essa comunicação tem o objetivo de discutir a participação dos alunos nas escolas noturnas baianas no se inscrever numa aula desse tipo. João Dias alegou que os moços, provavelmente, tinham conhecimento que as final do século XIX. Escolas que foram criadas em 1871, a partir de uma recomendação do presidente da escolas noturnas já tinham começado a funcionar na Bahia ou em outras províncias. Talvez, por esses motivos, província, Francisco Gonçalves Martins, quando se discutia a reforma educacional baiana de 1870: “Os adultos, o professor afirmou que os moços acreditaram que naquela vila também existiria escola para adultos (ROCHA, cujos pais não puderam proporcionar-lhes bem tão importante, resignem-se com dificuldade à sua mesquinha 1871). sorte, e em muitos lugares correm às aulas noturnas” (MARTINS, 1870, p4). João Dias ainda apontou que não havia razão para os poderes públicos brasileiros, após a independência A partir de 1 de agosto de 1871 foi criada a primeira escola noturna pública, atrelada ao princípio da do Brasil, não “derramar por todas as localidades a instrução primária, que a Constituição do Império liberdade de ensino, que possibilitava que toda e qualquer pessoa que tivesse o interesse em dar aula e que consagrou” (ROCHA, 1871). O professor recusou os pedidos de inscrição dos moços porque não havia escola soubesse ler, escrever e fazer os cálculos das quatro operações, poderia lecionar. Segundo Ione Celeste de noturna aberta sob sua direção, para tal, precisaria de consentimento da presidência da província e apresentou- Sousa, a criação das escolas noturnas “foi uma onda que varreu as províncias brasileiras no último quartel do se disposto e pronto pra conduzir uma escola desse tipo (ROCHA, 1871). século XIX, no desdobrar de outras estratégias de educação popular” (SOUSA, 2006, p38). “Nenhuma profissão poderia progredir toda vez que aquele que a exercesse, não tivesse instrução primária,” porque “o homem que não [soubesse] nem ler e nem escrever, [seria] uma máquina bruta de trabalho 45 Mestrando pela Universidade Federal da Bahia pelo Programa de Pos Gradução de História Social. 114 115 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. e nunca um cidadão”, foi o argumento definitivo do professor de Ilheus para abrir uma escola noturna utilidade, desde que a aula fosse conduzida pelo professor público primário daquela freguesia, como era usual (ROCHA, 1871). Ele o lançou com base na ideia de desenvolvimento profissional para o desenvolvimento nesse tipo de escolarização. Carvalho não deixou de considerar ao enviar o ofício para pedir o aval de Antonio nacional, modernização e progresso, defendidas pelas autoridades educacionais da época. Cândido, que naquele ano as escolas noturnas, de forma geral, estavam sendo pouco frequentadas O diretor, Francisco José da Rocha, ao encaminhar o pedido de João Dias ao presidente da província, (CARVALHO, 1874). Francisco Gonçalves Martins, recomendou que não fosse aberta escola noturna para adultos naquela vila, A situação da frequência foi um dos pontos cruciais para a escolarização de adultos, pois era porque não considerava necessário, sem explicar o motivo, e porque seria “pesado o exercício” de duas cadeiras determinante para continuação ou não das aulas. Ela se tornou algo ainda mais discutido e ficou decidido, –diurna e noturna- para um só professor (ROCHA, 1871). O segundo argumento também não soou com inicialmente, que seriam suprimidas as aulas noturnas que não tivessem 45 alunos de frequência ou 50 de transparência, pois não correspondia ao que já havia acontecendo com os professores das escolas noturnas matrícula. No mesmo ano, mudou a proporção de 20 de frequência e 30 de matrícula (CARVALHO, 1874). A abertas até aquele terceiro mês, pois, até então, aqueles docentes davam aulas também durante o dia. exigência mudou devido à diminuição do número de matrículas, que com o passar dos anos foi mais recorrente. O diretor, Francisco José da Rocha, ao encaminhar o pedido de João Dias ao presidente da província, Após o envio do ofício da alguns integrantes da população de Brotas, não houve mais informação que Francisco Gonçalves Martins, recomendou que não fosse aberta escola noturna para adultos naquela vila porque referendasse a possibilidade de escola noturna naquela freguesia, o que pode indicar desistência dos solicitantes não considerava necessário e porque seria “pesado o exercício” de duas cadeiras –diurna e noturna- para um só ou a não aceitação do presidente da província, quando recebeu o ofício com a ressalva do diretor da Instrução 46 professor. Rocha não explicou a falta de necessidade e o segundo argumento de negação foi ambíguo, pois não correspondia ao que já havia acontecendo com os professores das noturnas abertas até aquele terceiro mês. Até então, os docentes das escolas noturnas já estavam dando aulas também durante o dia, como foi o Pública sobre a baixa frequência das aulas noturnas da Bahia, ou por qualquer outro motivo que não estivesse nos parâmetros exigidos para abertura de uma escola de primeiras letras na época. Mais uma vez, verificam-se argumentos em que “populares” possuíam interesse na criação de aula noturna na localidade que residiam. caso de Argiro, Adelino e João José, os três de Salvador. Talvez por serem da capital, mais próximo da O argumento de que moradores das freguesias baianas solicitaram a abertura de escolas noturnas são vigilância dos inspetores, foi possível lecionar os dois turnos de forma que não houvesse prejuízo para a relevantes para inferir acerca da participação dos que seriam seus alunos. Participação de possíveis alunos, seus ocorrência das aulas. Isso somado ao fato de que as escolas noturnas estavam se estabelecendo na província e familiares ou pessoas que tinham interesse que funcionassem aquelas aulas, pode ser indício da importância que com bastante otimismo presente nas declarações governamentais, o diretor não quis arriscar. Se bem que “populares” poderiam ter para convencer a quem deveria conceder permissão para o funcionamento desses direção da Instrução Pública poderia permitir a abertura de uma noturna por algum professor particular da estabelecimentos. Entretanto, nos casos mencionados não houve constatação que as noturnas solicitadas região ou um professor público que não lecionasse durante o dia. funcionaram por muito tempo e um dos possíveis motivos foi a recusa de abertura pelas autoridades A negativa de Francisco José da Rocha é intrigante, pois foi o diretor da Instrução Pública que fundou as educacionais, mesmo que desde o início do século XIX, mais especificamente, após a independência de 1822- escolas noturnas na Bahia, elogiou vários professores pela iniciativa de criar essas aulas e apresentou otimismo 23, uma das justificativas governamentais de incentivo a educação fosse o aumento de escolarização para as no desenvolvimento nesse tipo de escolarização. Ainda após um ano de criação dessas escolas ele continuou populações mais pobres e analfabetas(SILVA, 1999). otimista, tanto pela grande procura verificada através das matrículas, quanto pelo interesse de vários professores e cidadãos particulares ao solicitarem a abertura das escolas. Se Alcides Jorge Ferreira, João Dias ou os moradores da freguesia de Brotas conseguiram que as escolas fossem abertas ou não, sendo solicitadas ou não por “populares” pode não o fator mais relevante para verificar a Não foi encontrado mais nenhum documento sobre o andamento de aula noturna na vila de Ilheus, o que perspectivas dos alunos nas escolas noturnas, porém, mencionar que algumas pessoas pediram uma escola se pode presumir que a recomendação de Francisco José da Rocha pode ter convencido a presidência da noturna, como forma de convencer às autoridades governamentais a permitirem que fossem criadas é levar em província de não permitir a abertura de escola noturna. No entanto, o documento do professor João Dias, assim consideração a validade que argumentos como esse poderia ter. Em que medida era relevante nos pedidos de como o de Alcides, é valioso, pois permite perceber que o interesse de possíveis alunos poderia ser argumento abertura de escola noturna mencionar o apelo da população por aquelas escolas? utilizado para abrir escolas noturnas já no primeiro mês de criação. Os casos acima conduzem a pensar que tais escolas poderiam ser consequência também de uma Em 4 de abril de 1874, o diretor da Instrução Pública, José Eduardo Freire de Carvalho, em ofício ao mobilização de pessoas que não eram professores e nem autoridades educacionais, que apresentavam interesse presidente da província, Antônio Cândido da Cruz Machado, informou que algumas pessoas da freguesia de nesse tipo de escolarização, fosse para o aprimoramento no trabalho ou para uso na vida cotidiana. Quais outros Brotas solicitaram a criação de uma aula noturna naquela localidade. O diretor considerou o pedido de bastante elementos também podem ser indicativos da participação dos alunos nas escolas noturnas baianas no final do século XIX? 116 117 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. Sousa indica que as escolas noturnas também foram consequência dos interesses dos seus alunos. Ela A presença de escravizados nas noturnas aproveita a fala do Barão de São Lourenço para reforçar a ideia do interesse dos alunos ao afirmar que tais Em fevereiro de 1872, o professor público da vila de Capim Grosso, João José de Andrade Dantas, adultos “resigna[va]m-se com dificuldade à sua mesquinha sorte” e conclui que “se pode refletir que a abertura consultou o diretor da instrução pública, João Antônio de Araújo Freitas Henriques, enviando-lhe um ofício das aulas para adultos não foi apenas uma benesse das elites, nem tampouco apenas parte de estratégias destas para saber como deveria proceder no andamento das aulas noturnas que lecionava, pois em janeiro de 1872, na para instruir, educar e moralisar o miúdo povo”(SOUSA, 2006, p204). Essa interpretação de Sousa e os mesma casa que funcionavam suas aulas diurnas, foram abertas aulas para adultos, onde frequentavam 34 argumentos dos casos analisados acima abrem precedente para se pensar em outras justificativas para a abertura alunos livres e 8 na condição servil (HENRIQUES, 1872). Dantas disse que seus “sentimentos repugnaram das escolas, além das apresentadas, geralmente, nos documentos emitidos pelas autoridades governamentais, recusar o ingresso dos escravos”, os quais frequentavam as aulas com a permissão de seus senhores e só foram como os pedidos de criação de escola noturna feitos por professores a partir do objetivo de ganhar uma admitidos em classe separada (HENRIQUES, 1872). gratificação, de reduzir do analfabetismo brasileiro e o aprimoramento da qualificação de trabalhadores. O diretor respondeu que iria encaminhar a situação ao presidente da província, João José de Almeida O que podemos constatar a partir dos três ofícios pedindo a abertura de noturnas é a ideia de que o pedido de algumas pessoas que não eram autoridade educacional poderia legitimar, entre outros argumentos, a Couto, mas a princípio, já havia considerado o fato de ter admitido escravos nas aulas, digno de ser acoroçoado (corajoso). Henriques pediu ao presidente que ele mesmo respondesse à consulta daquele professor. criação de uma escola noturna, pelo menos na tentativa dos solicitantes dos ofícios e daí pensar na possibilidade Almeida Couto demonstrou interesse em verificar a possibilidade da continuidade daquela escola. Ele da atuação de sujeitos integrantes de grupos mais pobres na permissão para abertura das escolas. Até porque é consultou, através de ofício, o ministério imperial sobre a situação dos escravizados. No dia 21 junho de 1872, possível sim pensar que pressões feitas pelas camadas sociais desfavorecidas poderem ter também leis em resposta à diretoria da Instrução Pública, o presidente informou que recebeu o comunicado do ministério regulamentadas a seu favor. estabelecendo que para aquele tipo de matrícula o encargo era da legislação provincial. Desta forma, ele Existiram também casos de escolas noturnas abertas em que as ações dos alunos foram determinantes permitiu que escravizados pudessem se matricular em escolas noturnas, desde que houvesse o consentimento do para a dinâmica das aulas e das escolas. Em correspondência entre o professor Argiro, da primeira noturna, ao senhor, pois afirmou que não havia inconveniente daqueles moços frequentarem as aulas do professor Dantas diretor, Francisco José da Rocha, o docente relatou que os alunos demonstraram interesse em frequentar suas (COUTO, 1872). aulas. Fato que pode ser uma afirmação retórica do docente para positivar os resultados da escola que ele Se Henriques teve o prazer ou não de responder à solicitação de Dantas, a documentação não informou, fundou ou realmente a procura por aquelas aulas foi grande, o que parece mais evidente, devido a quantidade mas a reposta de Almeida Couto indica ter sido significativa para os escravizados e para o professor que já crescente de matricula, ao ponto da direção da instrução pública achar necessário a abertura de outra escola do tinha começado a lecionar para aqueles oito rapazes, antes do aval do maior autoridade da província da Bahia. mesmo tipo na freguesia, com parte dos alunos da escola de Argiro ROCHA, 1871). Os escravizados passaram a ter certeza da continuidade de poder frequentar as aulas e o professor Dantas não Sousa afirma que foi grande “o afã com que os trabalhadores correram a matricular-se nas escolas precisaria fechar uma escola que já tinha sido aberta. noturnas”. O número de alunos matriculados na primeira noturna da Sé logo excedeu as acomodações, e por A noturna de Capim Grosso teve permissão legal para continuar com suas atividades da mesma forma isso, ocasionou na criação outra aula, a segunda noturna da Sé (SOUSA, 2006). Os alunos da noturna da que tinha começado, embora a medida dos escravizados estudarem em salas diferentes dos livres, não tivesse freguesia de Santana também evidenciaram interesse nas aulas, segundo o professor Adelino, não aceitaram o prerrogativa legal que a determinasse. A condição de indivíduos não invalidava que cativos não pudessem encerramento das aulas no dia 7 de dezembro de 1871, queriam continuar frequentando as aulas após aquela estudar de maneira particular, mas em caso de escola pública, como no caso da escola noturna de Capim Grosso data, que era a prevista para finalizar as atividades daquela escola (SOUSA, 2006). chama a atenção, não só pela iniciativa do professor, mas pela reação das outras autoridades educacionais se Entre as escolas noturnas que foram abertas e as que só foram solicitadas fica evidente que o interesse, ou o possível interesse, dos alunos podia ser mais um argumento de professores para validar a existência ou mobilizarem, tanto o diretor Henriques, quanto do próprio presidente ao consultar as instâncias imperiais para responder à solicitação de Dantas. continuidade de uma escola noturna junto a diretoria da instrução pública e a presidência da província. Portanto, As autoridades educacionais evidenciaram interesse para que escravizados continuassem nas escolas um dos primeiros aspectos para discutir de que forma os alunos influenciaram na criação das escolas noturnas noturnas. Esse público era considerado legalmente apenas como indivíduos e não com cidadãos, pois segundo a foi a argumentação de alguns professores nos ofícios em que pediam para abrir escolas noturnas. Como constituição vigente, só era permitido o acesso em escolas públicas a cidadãos. O professor Dantas arriscou até observamos, alegar que alunos pediram a criação das aulas não foi determinante para a existência das escolas, seu próprio trabalho por descumprir uma prerrogativa legal, mas como disse, não conseguiu, por conta de seus mas foi um dos elementos que contaram para a abertura de algumas delas. sentimentos, impedir o acesso daqueles alunos e daí buscou oficializar tal medida informando a diretoria da 118 119 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. Instrução Pública, quando pediu orientação do diretor Henriques. para que isso acontecesse. A empolgação de Henriques em ter que responder positivamente à solicitação do professor foi evidente, Wissenbach (2002) afirma que o acesso de escravos e libertos aos mundos da leitura e da escrita assim como o esforço do presidente provincial em recorrer a um ministério imperial para dá o aval à possibilitava aos mesmos garantias de espaços autônomos e meios “de legitimar posses”. Gondra e Schueler, continuação da escola, quando ele poderia determinar seu fechamento, caso os escravizados continuassem por sua vez, destacam a importância que a inserção de escravos e libertos tomou em meio a projetos e práticas frequentando. educacionais do século XIX: Muitos intelectuais, políticos e juristas, professores públicos e particulares, entre Se Henriques respondeu ou não à solicitação de Dantas a documentação não informa, mas a reposta de os anos de 1870 e 1888, debateram e se engajaram na luta pela instrução e pela incorporação dos negros livres, Almeida Couto indica ter sido significativa para os escravizados e para o professor, pois os 8 alunos e seus libertos e escravos, por meio de várias frentes, como a imprensa, as Conferências Públicas, o ingresso e senhores passaram a ter certeza de poder frequentar as aulas e Dantas poderia dá continuidade a sua escola Sociedade de Instrução, Clubes Abolicionistas, a abertura de aulas noturnas nas suas próprias escolas entre noturna, pois já tinha sido aberta mesmo antes do aval do presidente provincial. outros (GONDRA & SCHUELER, 2008, p. 253). Esse empenho pode ser um indicativo de maior flexibilidade no ingresso de cativos em ambientes Percebe-se que a participação das pessoas que estudariam ou estudaram nas escolas noturnas foi de escolares, que mesmo sendo uma contradição legal, pois o regulamento educacional de 1854 (imperial) e o de fundamental importância, desde as que solicitavam a abertura de escolas e tais solicitações foram justificativas 1873 (provincial) também negavam a possibilidade de escravizados frequentarem escolas públicas. Em para os professores levarem até a presidência das províncias para receber o aval de abertura das escolas, até as verdade, a questão sobre o ingresso de escravizados em ambientes escolares foi nos regulamentos educacionais escolas que foram efetivamente criadas e tiveram alunos de várias profissões e de lugares sociais distintos, entre do século XIX questão oscilante. Se na constituição de 1824, nos regulamentos educacionais de 1854 e 1873, eles, escravizados. esse ingresso era proibido, em 1872, com a deliberação imperial, o presidente Almeida Couto consentiu o ingresso deles nas escolas noturnas. Portanto, a participação dos alunos nas escolas noturnas baianas foi de fundamental importância para a continuidade das aulas e revelou de que forma aqueles homens puderam ser sujeitos atuantes em espaços de Porém, dentre os adultos pobres da província, no mínimo uma terça parte da população estava impedida de ter as luzes da instrução e da civilização, pois os escravos eram expressamente proibidos de freqüentar as aprendizagem e, pelo olhos de hoje, eles foram determinantes, com a sua continuidades, frequência, desistência, e solicitações de abertura, em espaços que seriam de empoderamento. escolas públicas da província, conforme o artigo 83 do Regulamento de Ensino, que passou a regê-las, e a todo o ensino, em 1873. Esse entendimento seguia pari passuo da Corte, que, explicitamente, tanto no regulamento de 1854, de Couto Ferraz, que estabeleceu a possibilidade de aulas noturnas e era o vigente naquele momento, Referências Bibliográficas Grosso afirma. Escravizados tiveram aval para frequentar as escolas noturnas e das autoridades governamentais BRITO, Jailton Lima. O abolicionismo na Bahia: Uma história política, 1870-1888. Dissertação. UFBA. Salvador, 1996. CONCEIÇÃO, Miguel Luiz da.O aprendizado da liberdade: Educação de escravos, libertos e ingênuos na Bahia Oitocentista. (Dissertação de Mestrado, Universidade Federal da Bahia. 2007). FONSECA, Marcus Vinícius. A educação dos negros: uma nova face do processo de abolição da escravidão no Brasil. Bragança Paulista: EDUSF, 2002. LEAL, Maria das Graças de Andrade. A Arte de Ter um Ofício: Liceu de Artes e Ofícios da Bahia 1872-1996. Rio de Janeiro, RJ: Editora: Fundação Odebrecht, 1996 NASCIMENTO, Anna Amélia Vieira. Dez freguesias da Cidade do Salvador. Aspectos sociais e urbanos do século XIX. Salvador: FCEBa./EGBa, 2007. REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história da revolta dos malês em 1835. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. SILVA, José Carlos de Araújo. O Recôncavo baiano e suas escolas de primeiras letras (1827-18520): Um estudo do cotidiano escolar. Mestrado pela Faculdade de educação. Salvador. UFBA, 1999. SOUSA, Ione Celeste Jesus de. Escolas ao Povo: experiências de escolarização de pobres na Bahia - 1870 a 1890. (Tese de doutorado, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 2006). DOCUMENTAÇÃO PRIMÁRIA MARTINS, Relatório do Presidente da Província da Bahia, 1869. http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u041/000034.html Relatório do professor Argiro José dos Santos Machado ao diretor da instrução pública da Bahia, Francisco 120 121 como o futuro de 1878, que realmente as implementou, o de Leôncio de Carvalho, excluíam terminantemente a freqüência de escravos ( SOUSA, 2006, p 202). Um ano após a deliberação de escravizados frequentarem escolas noturnas na Bahia, um cidadão da Vila do Brejo Grande, onde hoje é a cidade de Ituaçu, Hermógenes José de Castro, apenas comunicou a abertura de uma escola noturna para escravos adultos. O diretor da instrução pública, João Vitor de Carvalho, considerou uma honra tal medida ao enviar o ofício ao presidente provincial, João José de Almeida Couto, que também não retrucou quanto ao acesso de escravizados que ele mesmo foi em busca de um aval imperial para deliberar esse acesso (CARVALHO, 1872). Sousa ainda aponta que escola noturna na Bahia era uma educação para futuros cidadãos e os “escravos não foram assim eram considerados; também, não foram desejáveis partícipes deste processo” (SOUSA, 2006, p202). A autora ainda considera que “em nenhuma das experiências de escolarização noturna os escravos foram legalmente admitidos, ainda que debates sobre esta possibilidade tenham ocorrido, o que indica que grupos a defendiam” (SOUSA, 2006, p202). Porém, essa visão não é o que a documentação sobre a noturna de Capim ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. José da Rocha, APEB, Sessão Colonial Provincial, Instrução Pública, 31de dezembro de 1871, documento S/N(Relatório da primeira cadeira noturna da Sé), maço 6543. Relatório do presidente da província da Bahia, João José d’ Almeida Couto, 1873.1 http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/144/000065.html, p13. Acessado 25/03/215. Ofício do diretor da Instrução Pública, José Eduardo Freire de Carvalho, ao presidente da província, Antônio Cândido da Cruz Machado, APEB, 18 de abril de 1874, documento 283, maço 3827. Ofício do professor, Hermógenes José de Castro, ao diretor da instrução pública da Bahia João Vitor de Carvalho, 07 de fevereiro de 1873, APEB, diretoria da instrução pública, sessão colonial e provincial, documento 83, maço 3821. humano que produz história não a partir de grandes sagas e heróis, mas a partir de relações comunitárias vividas e vivenciadas pelos grupamentos humanos. Neste sentido, para uma ação desta envergadura se faz necessário um primeiro passo, que é o de promover o reconhecimento da igualdade sem limite e profundamente radical entre culturas. Todavia, a instituição escolar, um espaço onde a diversidade étnico-racial e cultural se faz presente na sua amplitude, mesmo com leis e diretrizes curriculares nacionais que orientam na promoção da educação das relações étnico-raciais, ainda se encontra com um currículo fechado para a diversidade (ARAÚJO, GIUGLIANI, 2014). Os alunos afrodescendentes, por exemplo, desconhecem a importância da educação A PEDAGOGIA DO TERREIRO DE CANDOMBLÉ existente nas suas comunidades de pertenças, dos saberes (conhecimentos) transmitidos nas comunidades de MAGALI MARIA DE SALES DOS SANTOS terreiros. Desconhecem também a importância do resgate da sua cultura e a contribuição desta na formação do povo brasileiro, certamente, por desconhecimento da sua história que sempre foi contada de forma estereotipada e discriminatória (MACHADO, 2005). Resumo O presente artigo tem como objetivo comunicar o projeto de mestrado intitulado: A Pedagogia do Terreiro de Candomblé que tem como objetivo conhecer e analisar as experiências educativas alternativas à educação Assim, através desse artigo, buscamos refletir como se configura “A pedagogia dos terreiros de Candomblé”: Como se dá o aprendizado cotidiano na Comunidade de Terreiro de Candomblé Sindiragombê? A partir da compreensão de que faz-se necessário estudos que apresentem a pedagogia dos terreiros de candomblé, que formal na Comunidade de Terreiro de Candomblé Sindiragombê. esclareça aos indivíduos cognoscentes a sua cultura na coletividade, havendo interação entre a religião do Palavras chaves: Pedagogia, Terreiro de Candomblé, Educação. candomblé e a educação relacionando a prática educativa. Como também que respeite e valorize a influência e contribuição dos negros e sua religiosidade na cultura brasileira. Introdução Ao longo da história da humanidade a educação tem sido concebida de diferentes maneiras, várias são as formas de compreendê-la e conceituá-la. Para uns a educação é vista como um instrumento condutor de saberes, que desenvolve o intelecto do ser, para outros, como salienta Brandão (2000) ninguém escapa da educação, ela encontra-se na família, na igreja, na rua, na escola, etc., ou seja, em todos os espaços de convivência. Ainda de acordo com o autor citado, estamos completamente envolvidos com os processos educativos, seja para aprender e/ou ensinar, para saber ou para fazer, para ser ou para conviver, todos os dias misturamos os afazeres Portanto, o estudo busca valorizar a cultura e questionar os conceitos negativos criados ao longo dos anos, discorrendo o direito dos cultos nos terreiros de candomblé, preservando assim, sua identidade. É preciso ver também nas pessoas as diversidades de informações repassadas pela escola para que não reproduzam uma identidade etnocêntrica e não racista referente à educação existente nos terreiros de Candomblé. Para tanto, temos como objetivo geral: Conhecer e analisar as experiências educativas alternativas à educação formal na Comunidade de Terreiro de Candomblé Sindiragombê. Conhecer e revelar como se dá o aprendizado na vida cotidiana do referido terreiro de candomblé cotidianos com a educação. Nesta perspectiva a educação emerge da consciência e do trabalho de educar, da categoria do sujeito, da convivência de um com o outro, do saber que é compartilhado, como uma ação de quem sabe-e-faz, para quem não sabe-e-aprende com sua multiplicidade. É desta forma que a educação acontecia nas aldeias e tribos; as crianças aprendiam com o ver e ouvir dos adultos que as acompanhavam, este era o papel dos anciões que de forma a Identificar os elementos essenciais no conviver em comunidade e como eles são percebidos pelos sujeitos parte da comunidade, assim como, identificar e revelar os saberes e as práticas educativas desenvolvidas na comunidade do terreiro pesquisado, na nossa compreensão contribuirão para revelar como as religiões de matriz africana contribuem para a construção e valorização da identidade negra. Acreditando assim, que podemos contribuir para desconstruir falsos conceitos referentes aos saberes aprenderam com as gerações anteriores. De forma análoga acontece a educação nas Comunidades de Terreiros de Candomblé. Os saberes são (conhecimentos) passados nas Comunidades de Terreiros de Candomblé. As religiões africanas perpetuaram culturas africanas diversas, manifestando-se nas diferentes compartilhados gradativamente a cada passo dentro dos princípios que orientam cada comunidade. Assim como a escola as Comunidades de Terreiro de Candomblé são espaços sócio-culturais, em que se percebe o compromisso de acabar ou no mínimo diminuir as desigualdades, desta forma a educação nos terreiros de candomblé vem buscar um repertório educacional que caminhe em direção a um conceito de ser 122 regiões do Brasil em diferentes ritos e nomes locais: candomblé na Bahia, xangô em Pernambuco e Alagoas, tambor de mina no Maranhão e Pará, batuque no Rio Grande do Sul, macumba no Rio de Janeiro. O candomblé educa ao iniciar seus adeptos, procura manter a tradição com a legitimidade do culto, herança, fidelidade a um 123 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. passado transformado em história mítica, que são sinônimos das raízes espirituais do candomblé. Contribuindo com a discussão, trago esse conto de autor desconhecido, discutir pedagogicamente É pelo resgate da fé, pelos princípios do respeito, pela hierarquia existente dentro das famílias que nossas crianças devem ser educadas, para quando cheguem a escola já tenha um entendimento do que seja viver em grupo. sobre os valores dentro da concepção de justiça: A Justiça de Xangô Certa vez, viu-se Xangô acompanhado de seus exércitos frente a frente com um inimigo que tinha ordens de seus Desta forma a educação nos terreiros de candomblé vem buscar um repertório educacional que caminhe em direção a um conceito de ser humano que produz história não a partir de grandes sagas e heróis, mas a partir de relações comunitárias vividas e vivenciadas pelos grupamentos humanos. Neste sentido, para uma ação desta envergadura se faz necessário um primeiro passo, que é o de promover o reconhecimento da superiores de não fazer prisioneiros, as ordens era aniquilar o exército de Xangô, e assim foi feito, aqueles que caiam prisioneiros eram barbaramente aniquilados, destroçados, mutilados e seus pedaços jogados ao pé da montanha onde Xangô estava. Isso provocou a ira de Xangô que num movimento rápido, bate com o seu machado na pedra provocando faíscas que mais pareciam raios. E quanto mais batia mais os raios ganhavam forças e mais inimigos com eles abatia. Tantos foram os raios que todos os inimigos foram vencidos. Pela força do seu machado, mais uma vez Xangô saíra vencedor. Aos prisioneiros, os ministros de Xangô pediam os igualdade sem limite e profundamente radical entre uma cultura africana e afrodescendente e uma branca, mesmos tratamento dado aos seus guerreiros, mutilação, atrocidades, destruição total. Com isso não concordou eurocêntrica, ocidental. com Xangô. - Não! O meu ódio não pode ultrapassar os limites da justiça, eram guerreiros cumprindo ordens, O enfoque não está em enfatizar as relações entre negros, brancos e outros grupos étnico-raciais, seus líderes é quem devem pagar! E levantando novamente seu machado em direção ao céu, gerou uma série de raios, dirigindo-os todos, contra os isto não nos leva necessariamente a conflitos ou impasses. Há a possibilidades de mediações, de acertos, que líderes, destruindo-os completamente e em seguida libertou a todos os prisioneiros que fascinados pela maneira permitam uma aproximação de interesses ao mesmo tempo comuns e não-comuns, mas que se fundem na de agir de Xangô, passaram a segui-lo e fazer parte de seus exércitos. negociação. Portanto, não se pretende pensar em uma sociedade como idílica, harmônica e sem conflito, uma sociedade que negue as desigualdades sociais, raciais e regionais. Além disso, o que se busca não é simplesmente a troca de uns heróis e divindades por outros, mas uma diretriz educacional que possibilite uma pluralidade de visões de mundo. Diante destes conceitos a pedagogia educacional do terreiro de candomblé acontece de forma oral interagindo com o lúdico, o corpo, a arte e a religiosidade dentro do mítico, com respeito as tradições dos mais velhos. No entanto, mesmo reconhecida como religião, o Candomblé ainda é visto e definido por muitos Com esse conto podemos discutir tanto na educação formal quanto na informal o limite entre o ódio e a justiça, para que se descubra o equilíbrio entre eles, pois os grandes líderes são reconhecidos pelos seus grandes atos de bondade e justiça. Verger (2000) afirma que as Africanidades Brasileiras veem sendo elaboradas há quase cinco séculos, na medida em que os africanos escravizados e seus descendentes, ao participar da construção da nação brasileira, vão deixando-nos outros grupos étnicos com que convivem suas influências e, ao mesmo tempo, recebem e incorporam as destes. com seita ou algo demoníaco. Quirino (2006) define-o com um culto e uma variante do Sabeismo chamada de Fetichista, com adições extravagantes de objetos e sinais tão confusos quantos bizarros. Discordando do Os Nagôs que chegam ao país próximo ao fim do trafico de negros, concentra-se em uma zona rica e bem desenvolvida, dotada de uma florescente economia e de centros urbanos em pleno apogeu, o que permite boas pensamento de Quirino, acima citado, Lima (2003) conceitua o Candomblé como um termo, abonado nos comunicações entre eles e, sobretudo, mais tarde, a constituição de guetos que ajudarão a preservar os costumes modernos dicionários da língua e na vasta literatura etnográfica, é de uso corrente na área linguística da Bahia trazidos da costa africana (VERGER, 2000, p. 365). para designar os grupos religiosos caracterizados por um sistema de crenças em divindades chamadas de santos ou orixás e associados ao fenômeno da possessão ou transe mítico. Transe esse que é considerado, pelos membros do grupo, como a incorporação da divindade no iniciado ritualmente preparado para recebê-la, então Candomblé é sinônimo de terreiro, de casa de santo, de raça. Assim, como observa Machado (2005), os diversos grupos Yoruba não tardariam a estabelecer laços muito estreitos entre eles, os Nagôs, de tal forma que estavam unidos pela semelhança de costumes principalmente pela semelhança de seus cultos. De acordo com a tradição oral, todos se reconheciam originários do mesmo laço mítico, Ilê-Ifê, berço e matriz de onde se propagaram por todo o território do Benin Conforme Sodré (2003 apud LUZ 2003) a ancestralidade enquanto fonte inesgotável de pulsão, energia, movimento, criatividade e exemplo a ser seguido pelos herdeiros da tradição africana passaram a ser contada de forma lendária e mítica. O princípio de ancestralidade remete à educadora e ao educador para o respeito aos que existiram e aos que virão suas histórias, suas produções consideras legítimas porque demarcatórias de estágios que se sucedem ininterruptamente. Para o homem da tradição, existir não significa simplesmente viver, mas pertencer a uma totalidade. até Atakapame, no atual Togo. Para Patrocínio (2005) a cultura negra é um dos fatores que pode impedir a escola de pender para a ideologia colonial do supremacismo branco. É preciso enfatizar aqui a necessidade de compreender a educação como uma atividade mediadora no seio de uma prática social. O exercício educativo que pretende instrumentar o indivíduo, enquanto ser social, para atuar na circunstância histórico-geográfico na qual está inserido. Considerando-se esses aspectos, podemos perceber que 124 125 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. o pedagógico proporciona uma educação em que a sistematização do conhecimento nasça da experiência Os religiosos do terreiro de candomblé se fizeram unidos aos seus parentes, através de solidariedade pluricultural da nossa sociedade e permaneça em continuidade com ela, onde o educando use a sua experiência dos cultos. Essa instituição religiosa permitiu a continuidade do legado de valores africanos ocupando um lugar pessoal enriquecida com o que aprende. Neste sentido, como enfatiza Patrocínio (2005, p. 58): de irradiação de valores que sedimentam a coesão e a harmonia social, abrangendo, relações do homem com o [...] nunca é demasiado destacar o valor e o lugar que a religião ocupa no processo civilizatorio negro. A religião mundo natural através de narrativas míticas, dando origem aos valores e princípios sociais que devem sustentar se caracteriza como um eixo, um elemento central [...] deste processo. A religião é ponto básico, é fonte de a prática cotidiana dos seres humanos que participam da comunidade (SANTOS, 2006). afirmação dos valores civilizatorios negros e núcleo de resistência às variadas formas de aspirações neocolonialistas [...] em relação ao processo cultural, a religião é fonte dinamizadora de um ethos, indicadora de Não se pode conceber educação sem considerar os valores do universo cultural do afro- comportamentos e hábitos, enfim de uma maneira negra de ser. Ela estabelece e proporciona uma ética própria. descendentes sem a preocupação de buscar entender como a base ancestral desse segmento interage, se inter- Imprime formas de relações sociais, estipulando formas próprias de organizações e hierarquias, estimula a vida comunal. Estabelece Padrões estéticos próprios e forma especifica de comunicação e de acesso ao riquíssimo sistema simbólico, pleno de conhecimentos e sabedorias, caracterizando uma pedagogia negra iniciatica. [...] A relaciona com a vida, com o seu ambiente, sem lhes permitir o conhecimento de sua história, de sua ancestralidade, do valor do ambiente natural para seus grupos ancestrais (PINTO, 2005). religião negra constitui-se num ponto de resistência de luta do homem negro em busca de sua libertação e de real e universal integração. A pedagogia de base africana é iniciática, o que implica participações efetivas, plenas de emoção, onde há espaço para cantar, dançar, comer e partilhar. Reverenciam-se os mais velhos, que têm mais axé, o que Assim, diante das observações aqui exposta, podemos dizer que a pedagogia utilizada nos terreiros se traduz como mais sabedoria. Nas culturas negras os mais velhos são sempre os esteios da comunidade, tendo de candomblé está internalizada na sua religiosidade e inserida na educação de modo oral que pode ser um papel fundamental para as decisões e desenvolvimento do grupo onde o educador pode se inserir transformada em formal para que os afrodescententes possam abiscoitar e burilar os pensamentos embutidos transformando a sua sala de aula em um espaço de desenvolvimento e criatividade para o aluno (THEODORO, nestes terreiros e possam também trilhar um caminho discursivo no qual as descrições densas de fatos históricos 2005). Independente da religião praticada pelo educador, diante dos seus educandos, a sua postura deve ser possibilitem uma conceituação mais específica utilizada nos terreiros de Candomblé. A imposição do catolicismo no século XVI a alguns reis africanos, sua submissão aos portugueses; desprovida de restrições, de preconceitos; deve estar orientada para a construção do respeito às diversas formas a negação de seus nomes; pelos traficantes; a “árvore do esquecimento”; a prática da divisão do Conde dos que os seres humanos, através dos tempos, têm construído para se relacionar com o que acredita seu Criador ou Arcos; a demonização de suas culturas; a falta de amparo do Estado Republicano, as políticas do com o mundo por ele criado, e entre os próprios seres humanos, conforme o pensar, o jeito de conceber, de ver embranquecimento; a “escola baiana de medicina” com suas teorias racistas, a perseguição policial amparada o mundo nas diversas culturas, particularmente naquelas que contribuíram para a formação da nossa cultura pelo discurso preconceituoso da imprensa, não foram capazes de impedir que as diversas culturas vindas do local (PINTO, 2005). continente africano, não somente se perpetuassem, mas também se recriassem (JUNIOR, 2005). Neste constante inventar e, em algumas vezes, por trás da “brincadeira de faz de conta”, apenas para REFERENCIAS lembrar uma expressão ainda hoje utilizada pelas nossas crianças negras, elementos simbólicos foram juntados BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação, Ed. Brasiliense 2000. a outros que não paravam de chegar do continente africano. O encontro das chamadas culturas negras no Novo MACHADO, VANDA. Entrevista no Jornal Tribuna da Bahia, 2005. Mundo percorreu caminhos diversos e deu respostas imprevisíveis. No catolicismo, o artista negro inovou ao PATROCÍNIO, Narcimara Correia do. Por uma Educação Pluricultural (2005, página 58). trazer modificação na arte de talhar, não somente atribuindo sentimentos aos seres celestiais, mas lhe VERGER, Pierre. Fluxo e refluxo do trafico de escravos entre o golfo e o Benin e a Bahia de todos os santos conferindo traços negros ou de mulheres negras, ou ainda, enriquecendo o ouro brasileiro com moedas dos Séculos XVII a XIX, Ed. Corrupio 4º edição Revista 2002. africanas, os búzios (JUNIOR, 2005). A educação formal na sua construção e validação pela sociedade cientificista no ensino fundamental na Bahia, revelou-se como espaço de negação, de representação e silenciamento das experiências culturais produzidas pelos educandos no mundo “extra muros” escolar, principalmente das crianças afrodescendentes na sua diferença. Na Bahia, de população predominante afrodescendente, ou seja, negra, é difícil compreender que na escola, ela produz conhecimento distanciado de sua experiência principalmente a experiência cultural produzida no interior das comunidades de tradição africana (SANTOS, 2006). 126 127 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. A TEORIA ANTROPOLÓGICA DO DIDÁTICO NA COMPREENSÃO DO VAZIO DIDÁTICO PARA O ENSINO DE HISTÓRIA DO 6º ANO CONFORME A LEI 10639/03 ROSILÉIA SANTANA DA SILVA47 LUIZ MÁRCIO SANTOS FARIAS48 TERESA CRISTINA S. S. SOUTO49 prática dos professores em sala de aula. A historiadora Malavota (2013, p.4) nos traz exemplos citados por especialistas que configuram nas lacunas em salas de aula, é necessário aumentar as pesquisas sobre a história, incentivar novas publicações e traduções, introduzir disciplinas específicas nas licenciaturas, ofertar cursos de pós-graduação e, sem sombra de dúvida, modificar os 51 livros didáticos e aumentar o número de formação de pessoal qualificado para tentar reduzir significativamente Resumo: O presente artigo faz parte dos resultados parciais de uma pesquisa em andamento, “A Lei 10639/03 e o ensino de História do 6º ano à luz da Teoria Antropológica do Didático: contribuições africanas na Historiografia Baiana”. As referências teóricas constituem ferramentas necessárias para o desenvolvimento de pesquisas, em Didática, com o objetivo de analisar, apresentar e compreender a existência e os efeitos do Vazio Didático ( FARIAS, 2010) no processo do ensino e aprendizagem de História no 6º ano, no que concerne a Lei 10639/03. Utilizando a Engenharia Didática como metodologia, analisamos os dados coletados a partir de produções acadêmicas no Banco de Teses da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e de Livros Didáticos, a fim de apresentar possíveis existências e os efeitos deste vazio na prática dos professores de História. Trazemos à reflexão as implicações da não efetividade da Lei 10.639/03, ao longo dos seus quinze anos, no ensino, considerando o Modelo Epistemológico Dominante, que repercute nas práticas dos professores presentes nas instituições escolares. A estratégia metodológica para este trabalho foi construída a partir de dois tipos de levantamentos: produções acadêmicas antes e depois da promulgação da Lei; outro, por um instrumento semi-estruturado disponibilizado à professores do ensino básico nas escolas de Salvador e de múnicípios da Bahia. Procuramos trazer para debate as atuais condições do ensino de História no que se refere a Lei 10639/03, e revelar um problema didático que parece não identificado ou mesmo subestimado pelos professores no que diz respeito aos obstáculos que o citado vazio pode constituir na prática de professores e na aprendizagem de estudantes. Tais circunstâncias nos impulsionam a propor mecanismos didáticos referendados na Teoria Antropológica do Didático (CHEVALLARD, 1991) onde a mesma nos proponha uma ruptura epistemológica restritiva que contribua na prática efetiva e na presença constante dos saberes referentes em sala de aula. Palavras-Chave: Lei 10639/03; Vazio Didático; Teoria Antropológica do Didático; Modelo Epistemológico Dominante; Modelo Epistemológico de Referência. as lacunas efetivas existentes. (MALAVOTA, 2013. p.4) Mas, ao levantarmos dados - através de análises de Livros Didáticos, Questionários, Teses e Dissertações - percebemos que há um modelo epistemológico dominante que deixa lacunas marcantes na funcionalidade da Lei. O silenciamento sobre as contribuições históricas e culturais das populações afrobrasileira e africanas, ainda é fortemente presente em diversas instituições de ensino. Neves (2015, p.3) evidencia que existem “projetos pontuais elaborados por educadores que tratam com propriedade as relações étnico-raciais”, entretanto, estes são agulhas no palheiro que merecem divulgação e aplausos. Na maioria das instituições escolares a obrigatoriedade da Lei 10639/03 continua sendo tratada como algo de pouca relevância, como confirma Neves (2015), Somente em ocasiões isoladas como no dia da Consciência Negra é dada alguma importância ao tema e, às vezes, mesmo na data citada, a questão passa despercebida. A ideia de que não precisamos de um dia da Consciência Negra, mas sim 365 dias de consciência humana² permeia nas entrelinhas do sistema educacional, denotando o desinteresse e a displicência de instituições e profissionais no trato da história negra brasileira. (NEVES, 2015. p.2) Das inquietações são instauradas é que buscamos compreender: como fazer para que a Lei 10639/03 torne-se um insumo preciso de tecnologias para ser existida e funcionada em sala de aula? O problema está na INTRODUÇÃO metodologia? Existem propostas didáticas que contribuam na metodologia do ensino escolar? São A lei 10.639/0350, que torna obrigatório o ensino de História e Cultura Africana e Afro-brasileira, surge questionamentos recorrentes, diante dos modelos epistemológicos dominantes, que pensamos propor modelos diante de muitas mobilizações e lutas dos movimentos sociais negro. Lutas essas em prol de reparações que epistemológicos de referência que dêem conta de um problema didático fortemente presente e, que vêm validassem a participação de uma população negativamente representada, ao longo desses anos em diferentes implicando na efetividade da Lei ao longo dos seus anos já debutante. setores sociais, principalmente nos espaços da Educação. O principal objetivo dessa diretriz é a promoção da igualdade etnicorracial, a valorização e o (re)conhecimento do legado histórico e cultural dos povos africanos e MODELOS EPISTEMOLÓGICOS DOMINANTES: UM OLHAR DIANTE ALGUMAS PRODUÇÕES ANTES DA LEI 10639/03 afro-brasileiros, rompendo com uma estrutura eurocêntrica que legitimou por muitos anos a história da No período de 1970 é criada, no Brasil, a disciplina História da Educação Brasileira, um dos períodos educação brasileira. Precisamente há quinze anos, a referida Lei e as suas Diretrizes Curriculares ainda perpassam por mais críticos do país, pois, vivíamos sob intervenção militar que perduraram por precisos 21 anos. Em significativos desafios para sua efetivação. A sua existência, juntamente às vastas produções acadêmicas, consonância à década, é fundado o Movimento Negro Unificado após algumas experiências de manifestações publicações, além dos mais variados produtos de pesquisa, não vêm garantindo a sua instalação efetiva na significativas e veementes como por exemplo: a Frente Negra do Brasil (1931), o Teatro Experimental do Negro (1940) e inúmeras outras organizações poucos conhecidas e, compostas 47 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências da UFBA/UEFS. Bolsista da Capes. Email: [email protected] Doutor em Didática (Montepeiller/France), Professor Adjunto do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da UFBA. Coordenador do PPG de Ensino, Filosofia e História das Ciências da UFBA/UEFS. Email: [email protected] 49 Licenciatura em História ( UCSal). Email: [email protected] 50 Prevê a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-brasileira e dos Povos Africanos nos currículos dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e particulares do país. marginalizados que lutavam em prol de maior visibilidade, participação e justiça social. Com a implantação gradativa dos programas de pós-graduações em diversas universidades do país, os 48 128 por grupos sociais 51 Grifo nosso. 129 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. negros começam a atingir, na educação, um alcance além do nível técnico, com a pretensão de não só “educar e da aprendizagem no que se refere às contribuições dos povos africanos e de seus descendentes, no Brasil, as mãos”, mas, para além, “educar a mente ”. Consequentemente, grupos sociais que viviam à margem da estabelecendo como afirma Boch e Gascón (2011, p. 66), uma incompletude relativa55 das organizações sociedade vão se inserindo em níveis educacionais superior, resultando na realização de investigações didática da História Escolar. 52 relacionadas a grupos sociais periféricos, principalmente pequisas referentes à raça e educação. Em síntese o MED pode ser modelizado conforme o esquema abaixo em referência às produções A ideia de inferioridade do negro e do índio, no Brasil, foi difundida há séculos na construção desenvolvidas antes da Lei 10639/03: sociocultural do país, onde as teorias científicas fundamentadas no positivismo social e no darwinismo biológico se desenvolveram por meio das concepções eugênicas legitimando a inaptidão intelectual desses grupos populacionais. Tais caracteríticas foram dominantes nos modelos epistemológicos instalados nos espaços educacionais, modelos estes que vêm sendo questionados, efetivamente, desde 1970. Podemos considerar, na nossa discussão, como Modelo Epistemológico Dominante53 (MED), os elementos do saber de referência que apresentam restrições institucionais porque pouco considera, pouco NOÇÃO DE IDENTIDADE divulga, pouco reconhece e pouco valoriza as contribuições das populações afro-brasileiras e africanas. O que diretamente impacta na funcionalidade desses saberes no processo de ensino e aprendizagens na educação básica das instituições escolares. Dos dados levantados no banco da Capes, onde traremos uma análise mais aprofundada oralmente, localizamos releituras de trabalhos que trazem o reconhecimento das contribuições africanas e afrobrasileiras. Entretanto, sentimos carência de propostas didáticas54 que contribuam efetivamente na prática de professores nas mais variadas regiões do Brasil. Encontramos pontualmente 02 (duas) produções acadêmicas, antes da Lei Fig. 1: Quadro do MED baseado em Gascón(2011.) 10639/03, cujas palavras-chaves foram: ensino de história e negro. A primeira, de 1987, discute sobre a exclusão da cultura afro-brasileira nos currículos, buscando compreender o posicionamento e o olhar das(os) Mesmo com contribuições positivas a partir de muitas produções acadêmicas publicadas, é percebido professoras(es) diante à referida exclusão; a segunda, de 1993, traz um estudo pautado na identidade dos(as) que ainda encontram-se bastantes acanhadas os temas concernentes à história e cultura da população africana e alunos(as), no qual a pesquisadora questiona as formas como é elaborada a identidade, a partir de teorias que afro-brasileira. Restringindo, assim, significativas produções que possam ser transferidas para as salas de aula trabalham com a noção de autoconceito. através da prática docente. São pontuais, momentâneas, ou mesmo, insignificantes a transposição do saber Paralelo a esses levantamentos, buscamos referências em alguns livros do ensino de História do 6º Ano, acadêmico para o saber escolar. Assim, o quadro apresentado acima traz uma síntese do modelo epistemológico outrora 5ª série, circulados nas instituições de ensino, onde fizemos uma breve avaliação em 08 (oito) livros dominante e, como o mesmo, possibilita restrições na Noosfera56, na prática dos professores no ensino de didáticos concernentes ao período de 1980 a 2001. Neles observamos expressivas lacunas dos saberes históricos História no que se refere a Lei 10639/03, imprimindo a redução da Razão de Ser à noção de identidade. escolares referentes à História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, no qual com o apoio da Teoria Antropológica do Didático (TAD), buscamos instrumentos para analisar, por exemplo, os problemas didáticos UMA ANÁLISE DIANTE O MOMENTO DE EVIDÊNCIA DA LEI 10639/03 instaurados diante ao vazio didático (FARIAS, 2010). Esse vazio pode instituir barreiras no processo do ensino Os pontos de discussões e de lutas de grupos sociais negros trouxeram de fato a urgência da Lei 52 Termos proferidos pelo educador e conceituado reformista da educação pública Anísio Teixeira, ao fazer um panorama sobre a crise educacional brasileira. p.69. Ver: TEIXEIRA, Anísio Spínola. EDUCACAO NO BRASIL (1900-1971)..2ª edição. Ed. São Paulo: Editora Nacional.INL. 1976 (Atualidades Pedagógicas). V. 132. COMPANHIA. MEC 53 Tomamos de empréstimos a referência de BOSCH e GASCÒN (2010), onde os mesmos vêem a necessidade de elaborar seus próprios modelos epistemológicos de saberes, no caso matemática, por identificarem limitações e restições didáticas ao desenvolver um determinado saber matemático escolar nos seus processos de ensino e aprendizagem. No nosso trabalho referimos como Modelo Epistemológico de Referência (MED) as historiografias, Currículos, LDBs, PCN’s, Projetos Políticos Pedagógicos, Livros Didáticos, Planos de Ensino, entre outras ferramentas direcionadas às instituições de/da Educação. ( tradução nossa). 54 Para Boch e Gascón (2010, p.58), as práticas didáticas, como em todas as atividades humanas, são constituídas pelas tarefas e as técnicas didáticas, só pode viver com normalidade em uma instituição se esta tem disponível um discurso tecnológico-teórico didático capaz de descrever, justificar, interpretar e desenvolver a práxis, disponível para fornecer critérios além de projetar e gerenciar isso. Caso contrário, essa prática está a envelhecer rapidamente, não fazendo sentido para os sujeitos da instituição e, acaba sendo substituída por outra. 130 10639/03. A partir dos anos 90, houve intervenções, mobilizações e mudanças significativas no quadro curricular brasileiro, conduzidas por intelectuais negros e não-negros que se mobilizaram em prol da construção 55 Segundo os autores citados, esse termo faz parte de uma das disfunções das organizações didáticas (da Matemática, da História ...), onde estão ligadas às restrições escolares que impedem o desenvolvimento de algum momento didático muito centrado nos alunos e que afeta as praxeologias construídas em aula que somente alcança seletivamente uns poucos ingredientes dessas praxeologias. 56 Chevallard ( 1991 ) define a noosfera como “instituições de transposição de saberes”. Ou seja, espaço onde se opera a interação entre o sistema didático e o ambiente social ou, ainda, esfera onde se pensa o funcionamento didatico. É constituída, pelo conjunto de pessoas e grupos cuja função é assegurar, de forma mais geral, a relação entre o sistema de ensino e a sociedade global. 131 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Culminando em 1997 com a publicação e inclusão do volume MODELOS EPISTEMOLÓGICOS APLICABILIDADE DA LEI 10639/03 sobre Pluralidade Cultural, no qual as questões sobre as diversidades têm uma maior visibilidade. DE REFERÊNCIA: UMA BREVE ANÁLISE DA Entretanto, sobre o ensino da diversidade cultural nos currículos, existia uma limitação que propunha uma abordagem extensa e diversa, no que diz respeito às especificidades históricas, culturais e identitárias de um povo. Como confirma Algarve, Existe um modelo epistemológico dominante estabelecido que questionamos e consideramos necessário propor percursos de investigação e pesquisa. Este percurso tem a finalidade de construir modelos didáticos de Os PCN’s promovem uma discussão sobre a importância em valorizar as diferenças e diferentes culturas, não referência que atuem diretamente no ensino, por considerarmos a existência de efetivas lacunas que resultam tratam das relações raciais e não trazem estratégias de trabalho para fundamentar o professor nesse conhecimento em problemas didáticos fortemente presente entre professores, estudante e os saberes de referência escolar. e nas metodologias de trabalho gerando falta de estímulo aos professores para trabalharem a temática. [...] percebemos que os PCN’s só promoveram um avanço quanto ao reconhecimento dos negros e das diferentes As diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana (2004) direciona o seguinte: culturas no Pluralismo Cultural. (ALGARVE, 2004. p.51) [...] não se trata de mudar um foco etnocêntrico, marcadamente de raiz européia por um africano, mas de Portanto, a breve reflexão da autora resume e justifica as discussões e lutas sobre a necessidade de uma ampliar o foco dos currículos escolares para a diversidade cultural, racial, social e econômica brasileira. Lei que trate, com precisão e especificidade, as trajetórias e contribuições das populações afro-brasileira e Nesta perspectiva, cabe às escolas incluir no contexto dos estudos, atividades , que proporciona diariamente, também as contribuições histórico-culturais dos povos indígenas e dos descendentes de asiáticos, além das de diáspora africana nesse contexto. Considerar unicamente os PCN’s, como salienta Cunha Jr (2003, p.37), é raiz africana e européia. É preciso ter clareza que o Art. 26A permanecer desconhecendo os afro-descendentes, suas culturas e suas contribuições sociais. 57 acrescido à Lei 9394/1996 provoca bem mais do que inclusão de novos conteúdos, exige que se repensem relações étnico-raciais, sociais, pedagógicas, procedimentos de ensino, condições oferecidas para aprendizagem, objetivos tácitos e explícitos da educação Dessa forma, a promulgação da Lei 10639 em janeiro de 2003, sob a relatoria da professora Petronilha oferecida pelas escolas. da Silva, trouxe importantes contribuições à comunidade acadêmica e, por conseguinte, a comunidade escolar. A referida lei surge com o objetivo de promover a igualdade etnicorracial, a valorização e o reconhecimento do Após mais de uma década da vigência da lei 10639/03, significativas lacunas são evidenciadas nas legado histórico-cultural dos povos africanos e das diásporas, a lei dezmil veio na tentativa de romper as práticas de professores do ensino básico. Tentamos fazer um diagnóstico isoladamente no ensino de História, estruturas eurocêntricas que legitimou significativamente a história da Educação Brasileira e os seus modelos mas ao constuirmos um instrumento semi-estruturado para a pesquisa, resolvemos ampliar para outros epistemológicos dominantes. componentes curriculares. Construimos com a finalidade de mensurar o quê, como e, principalmente, em que Ao analisarmos, precisamente, 45 teses e dissertações pudemos captar vastas pesquisas que muito circusntância o professor desenvolve as temáticas, referendadas, no seu estabelecimento de ensino. podem contribuir para ser integradas nos currículos escolares, possibilitando a experimentação, divulgação e O que percebemos, empiricamente, também foi percerbido por grupos atentos à questão conforme produção de conhecimentos voltados à educação das relações étnico-raciais nas mais variadas instituições publicação da revista Boletim Áfricas, em 2013, sobre a não aplicabilidade da Lei, intitulada “Dez anos depois, educacionais. lei que obriga ensino afro-brasileiro ainda não é aplicada”, cuja matéria trouxe inquietações sobre as lacunas Então, fizermos um recorte do momento de evidencia da lei, onde propromos um espaço de tempo compreendido entre 2003 e 2006 e observamos algumas publicações, que trouxeram uma análise do discurso que ainda persistem nos espaços escolares com relação a Lei: é aplicada apenas em forma mínima, mesmo dez anos depois. verbal e iconográfico sobre os negros no livro didático de História; que examinaram as repercussões no Brasil Outro exemplo dessa observação se faz presente quando recorremos a alguns livros didáticos de História. de determinadas teorias médicas relacionando os conceitos de raça, mestiçagem, degenerescência e alienação É perceptível o vazio didático quando se trata dos conteúdos tradicionais da instituição 6º58 Ano, conteúdos mental; dados que buscaram conhecer e compreender as representações de alunos negros e, como essas programáticos relevantes às contribuições africanas e afrobrasileira. O que corriqueiramente é justificado pela representações eclodiram no seu futuro; dados que auxiliaram no conhecimento da história do negro brasileiro incerteza da ecologia59 de uma proposta curricular para o ensino de História a serem trabalhados em sala de e que não fazeram parte dos currículos das escolas; dados que buscaram compreender como as relações raciais aula pelo professor, já que muitas vezes a seleção de conteúdos não vem acompanhada de discussões e de gênero processaram na sociedade, tendo como foco as mulheres negras escolarizadas. Podemos considerar que estamos tendo avanços progressivos, não só no ensino de História, Literatura ou Educação Artística, como é especialmente direcionado pela Lei. Mas, podemos pontuar contribuições em outras áreas de ensino presentes nas teses e dissertações consultadas, como no ensino de Educação Física, Química, Matemática, entre outras, onde podemos considerar um modelo epistemológico de referência. 132 57 Segundo referência: "Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais eparticulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira.§ 1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá oestudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negrabrasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição dopovo negro nas áreas social, econômica e política, pertinentes à História do Brasil.§ 2º Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serãoministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de EducaçãoArtística e de Literatura e Histórias Brasileiras. 58 Chevallard (1991) toma emprestado a visão sobre instituição da antropóloga Mary Douglas, na qual será utilizada no sentido de um agrupamento social legitimado, que pode ser uma família, um jogo, uma cerimônia, neste caso, o 6º Ano. 59 Setor, Temas e Objetos são referentes aos níveis de codeterminação da Teoria Antropológica do Didático de Chevallard (1991) 133 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. metodológicas, resultando em um Vazio Didático (FARIAS, 2010). Esse Vazio não favorece na organização de intenção do trabalho, ainda que de início, é contribuir para que os saberes determinados pela Lei 10.639/03 sequências didáticas que alicerça e constrói as praxeologias em torno dos estudos propostos para o trabalho do tornem-se modelos epistemológicos de referência. A Teoria Antropológica do Didático, com isso, nos levar a professor. questionar e propor praxeologias que constribuam para o preenchimento dessas lacunas, onde os saberes Outro fator que legitima as observações acerca desse vazio didático, está nos resultados estruturados a partir de questionários que teve como referência metodológica o pesquisador norte-americano Cobern (2000). referentes apresentem a sua produtividade, seu ensino e a sua utilização igualmente valorizados comos os saberes já postos oficialmente. Esta metodologia versa realizar entrevistas (nosso caso, questionário semi-estruturado) com sujeitos participantes, nela não se fala diretamente o assunto a ser tratado. É trazido à tona, com o diálogo entre entrevistador e entrevistado sobre o assunto interessado. Portanto, nas nossas questões, tratamos sobre leis e diretrizes educacionais, sem tendenciar, nem direcionar sobre a Lei 10639/03 e as suas Diretrizes curriculares. Na estrutura das questões, interrogamos, além de outras situações, questões didáticas, como por exemplo: ao conhecerem as leis, de que forma as propostas contribuem, são traduzidas e incorporadas nos processos de ensino e aprendizagem? De que forma essas leis são presentes e relevantes nos livros didáticos60 – enquanto modelo epistemológico dominante – adotado pelos estabelecimentos de regência? Em resposta às indagações, apresentamos os resultados aferidos nessas entrevistas que corroboram o vazio didático instalado na praxeologia docente diante da Lei 10.639/03. Quando entrevistamos os professores da escola básica do município de Salvador, Taperoá, Jacobina, Saubara, Santo Amaro e Valença constatamos que apenas 28% conhecem a Lei 10.639/03. Desse quantitativo 90% sentem dificuldade em trabalhar a Lei e, dos que trabalham (10%), o fazem incluindo no Tema, segundo o nível de codeterminação de Chevallard (1991). Esses 10% que trabalham a Lei 10639/03, 5% acredita que a mesma está incluída nos Livros Didáticos e, 5% percebem que a Lei não está contemplada nos Livros Didáticos. Quando nos referimos a Tema, com relação ao nível de codeterminação de Chevallard, estamos propondo que esta Lei, além de valorada, seja também priorizada e utilizada em toda Metodologia Epistemológica de Referência (MER) contribuindo na redução do vazio didático diante à Organização Histórica escolar. CONSIDERAÇÕES Ao longo de anos da promulgação da Lei 10639/03, ainda é apresentado grande desafio à sua REFERÊNCIAS ALGARVE, Valéria Aparecida. Cultura Negra na sala de aula: pode um cantinho de africanidades elevar a auto-estima de crianças negras e melhorar o relacionamento entre as crianças negras e brancas? São Carlos: UFSCar, 2005. BOSCH, Marianna y GASCÓN, Josep. Fundamentación antropológica de las organizaciones didácticas: de los ―talleres de prácticas matemáticas a los ―recorridos de estudio e investigación. In: Apports de la théorie anthropologique du didactique Diffuser les mathématiques (et les autres savoirs) comme outils de connaissance et d‘action. IUFM: Montpellier, 2010.pp.55-91 BRASIL. Lei 10.639 de 09 de janeiro de 2003. Inclui a obrigatoriedade da temática « História e cultura afro-brasileira » no currículo oficial da rede de ensino. Diário Oficial da União, Brasília, 2003. CHEVALLARD, Y. El Análisis de las Prácticas Docentes en la Teoría antropológica de lo Didáctico.Recherches en Didactique des Mathématiques. Vol. 19, nº 2, 1999. COBERN, W.W.; GIBSON, A.T; UNDERWOOD, S.A. Conceptualizations of Nature: An Interpretive Study of 16 Ninth Graders’ Everyday Thinking. Journal of Research in Science Teaching, vol. 36, n.. 5, p. 541– 564, 2000. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das relações étnico-raciais e para o Ensino de história e Cultura Afro-Brasileira e Africana_Parecer Homologado. Despacho do Ministro, publicado no Diário Oficial da União de 19/5/2004. Resolução Nº 1, de 17 de junho de 2004. FARIAS, Luiz Márcio Santo. O Vazio Didático na prática do professor de matemática. In: Etude Des Rôles Réciproques Du Numérique-Algébrique Et Du GéométriqueDans L Enseignement Mathématique Secondaire. Cas Des Systèmes Éducatifs Brésiliens Et Français (Tese).LIAPEME: UEFS, 2010. MALAVOTA, Claudia Mortari. O Ensino de Histórias das Áfricas e a Historiografia. Cap.1. In: Introdução aos estudos Africanos e da Diáspora. UDESC, 2014. NEVES, Erivaldo Fagundes.Historiografia sobre o Negro, a Escravidão e a Herança Cultural Africana na Bahia. POLITEIA: História e Sociedade: Vitória da Conquista. Vol.10.n1.p.151-171, 2010. OLIVEIRA, Ivone Martins de. Identidade e Interação na sala de aula: Pre/conceito e auto/conceito. (dissertação). UNICAMP: São Paulo, 1993. SANTOS, Maria Durvalina. Conversando sobre a nossa História. In, Bikud@s: Histórias de Cidadania e Consciência Negra. ICSB: Salvador, 2012. pp.29-41. SILVA, Ana Célia da. A Representação Social do Negro no Livro Didático: o que mudou? UNEB: Salvador, 2001. efetividade nos estabelecimentos escolares. É percebido que a Transposição Didática (Chevallard, 1985)61 não vêm dando conta dos saberes ensinados em sala de aula, essa transposição, inicialmente, precisa passar pelos APONTAMENTOS SOBRE PRÁTICAS DE DISCRIMINAÇÃO RACIAL NA ESCOLA: SENTIDOS DE PROFESSORAS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL documentos oficiais, livros didáticos, Projetos Políticos Pedagógicos, matrizes de referência para depois alicerçar as práticas dcentes. ALINE OLIVEIRA RAMOS62 A Transposição Didática nos mostra que restrições existidas no MED continuam impactando no Introdução processo transpositivo corroborando num vazio didático e, consequentemente, na não efetivação da dezmil. A 60 Como nos aponta a profª Dra Ana Lúcia do ILUFBA, em maio deste, na roda de conversas sobre Africanidades e relações raciais: insumos para políticas públicas na área do livro, leitura e bibliotecas no Brasil: “ O livro ainda é um espaço inesgotável de poder, devemos disputar esse poder.” Chevallard (1999) ao propor essa teoria, quis refletir e analisar de que forma o saber (ou saberes) designado a ser ensinado na escola é escolhido e reinterpretado em conteúdos dos currículos das disciplinas. A sociedade brasileira de princípios do século XIX é marcada pela escravidão, o trabalho servil atingiu todos os setores da sociedade escravocrata. Ao comparar escravidão do mundo antigo com a ocorrida no 61 134 62 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia- UESB. Mestre. 135 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. chamado mundo moderno pode- se perceber que se [...] uma linguagem que exprime a realidade social deste momento histórico, e que ela corresponde, no nível No mundo antigo [...] o escravo não é senão a resultante de um processo evolutivo natural cujas raízes se prendem a um passado remoto [...] Constitui um elemento como qualquer outro naquela sociedade. A escravidão na Grécia ou em Roma seria como o assalariado em nossos dias (PRADO JR, 2011, p.286). simbólico, a uma busca da identidade” (ORTIZ, 1994, p.37). De modo sintético apresentaremos dois dos principais resultados das teorias defendidas sobre o típico brasileiro e seus respectivos defensores. Sílvio Romero (apud MUNANGA, 2008) acreditava que o Brasil No Brasil o processo de escravidão foi marcado pela retirada à força de pessoas do seu lugar de origem, poderia chegar a ter um rosto original. Por meio da mestiçagem “[...] resultará a dissolução da diversidade além de ter havido o uso da força física no trato com os homens e mulheres escravizados, no sentido de impor a racial e cultural e a homogeneização da sociedade brasileira, dar-se-ia a predominância biológica e cultural violência como mecanismo de dominação. No mundo antigo o processo de escravidão era um elemento branca e o desaparecimento dos elementos não brancos” (SILVIO ROMERO, 1975 apud MUNANGA, 2008, “natural” na sociedade, podendo ser compreendida como uma organização social legitima para todos que ali p.49). Acreditava na prevalência do gene preponderante, no caso do homem branco e mais, acreditava no viviam. desaparecimento total do negro e indígena pelo processo de miscigenação. Contrariamente a ideia defendida No mundo moderno [...] ela nasce de chofre, não se liga a passado ou tradição alguma. Restaura uma instituição quando ela perdera sua razão de ser. Surge como um corpo estranho. Contrariando todos os padrões morais e materiais estabelecidos (PRADO JR, 2011, p.286). por Romero (1975), Rodrigues (1975, apud MUNANGA, 2008 p.45), desenvolveu uma nova tese afirmando que “[...] era possível desenvolver no Brasil, uma civilização a partir da fusão da cultura “branca” com as contribuições negras e índias, sendo as duas últimas consideradas por ele espécies “incapazes” ” (MUNANGA, Quando a sociedade moderna pensava em avançar nas formas, modelos e diferenciais de organização, 2008, p.51). Rodrigues admitia o branco como superior e os índios e negros como atrasados, colocando-os surge repentinamente o interesse de retomar a escravidão, mas, em moldes bem peculiares como nunca visto ou como dotados de “desequilíbrios e perturbações psíquicas”. Levando a risca a tese da incapacidade do não imaginado. O uso da força física para o trabalho pesado não se comparava ao uso da violência sem precedentes, negro e do índio, sugere “[...] A institucionalização e a legislação da diferença [...] para responder à dificuldade utilizada nesse novo modelo de escravidão. O homem escravizado era “animalizado”, à questão sexual e de construção de uma única identidade nacional” (MUNANGA, 2008, p.53). No entanto, o desejo de Rodrigues reprodutiva eram dadas como condição “inerente” a mulher escravizada, pois sobre ela repousava a relativo a uma legislação da diferença, que separasse legalmente negros de brancos baseado na inferioridade responsabilidade de repor a mão de obra que se utilizaria no futuro, portanto, os novos escravos, que mental do negro, não foi aceito. Vejamos a discordância de Rodrigues, da ideia de Romero [...] Não acredito na alimentariam o ciclo daquela sociedade. Diferente dos homens que eram escravizados no mundo antigo, que futura extensão do mestiço luso-africano a todo o território do país, considero pouco provável que a raça branca contribuíam culturalmente com aquela sociedade, na escravidão ocorreu no Brasil, o escravo era visto como consiga predominar o seu tipo em toda a população brasileira (RODRIGUES, 1894, p.126, apud, MUNANGA, não humano por isso mesmo teve negado o direito de expor seus conhecimentos e foi estigmatizado como sem 2008, p.54). No posicionamento exposto por Rodrigues é possível inferir que a miscigenação, na sua complexa cultura. estrutura, não seria capaz de determinar a “uniformização étnica da sociedade brasileira”, atingindo o padrão O pensamento desenvolvido no Brasil sobre mestiçagem no final do século XIX e inicio do século XX, demonstra que “[...] A pluralidade racial nascida do processo colonial representava, [...] uma ameaça e um branco. A questão que suscitamos é que “[...] a miscigenação constitui-se em uma política eugênica que, grande obstáculo no caminho da construção de uma nação63 que se pensava branca” (MUNANGA, 2008, efetivamente, visa a eliminar o fenótipo66 adverso” (MOORE, 2012, p.208). p.48). A mobilização de intelectuais como: Oliveira Viana, Gilberto Freyre, Edgar Roquete Pinto, Silvio trouxe de algum modo, uma complexidade de definições para a sociedade brasileira. Em dado momento, os Romero, Euclides da Cunha, Nina Rodrigues, e, outros64, imbuídos em formular uma “teoria do tipo étnico filhos de mulheres escravizadas nasciam com a cor da pele clara, o embranquecimento de alguns ocupantes a brasileiro”, precisavam responder teoricamente como transformar a pluralidade racial e suas variáveis, em uma menor escala social refletiria nas relações raciais. Como é o caso do mestiço que transitava na indefinição identidade nacional. A grande questão comum à maioria desses intelectuais era a influência exercida pelo racial, não podendo se definir como sendo negro ou branco, encontrava uma possibilitava de fugir da opressão “determinismo biológico do fim do século XIX e inicio deste, eles acreditavam na inferioridade das raças não imposta pela cor escura. Ao lado disso, foi-se construindo uma cultura de negação do racismo e de aceitação brancas, sobretudo a negra, e na degenerescência do mestiço” (MUNANGA, 2008, p.49). É no século XIX que do mito da “democracia racial”. As imagens propagadas sobre harmoniosas relações raciais vivenciados entre O processo de miscigenação se forja uma ideologia de uma Brasil-cadinho65, veremos brevemente “[...] como a categoria do mestiço torna63 O conceito de Nação implica a noção de unidade, mas as disparidades socioeconômicas e raciais constadas no Brasil constroem uma nítida e cruel polarização da população (MOORE, 2012 p.20) Não aprofundaremos sobre a mestiçagem no pensamento brasileiro, mas indicamos a obra Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus identidade negra (MUNANGA, 2008). 65 A ideologia do Brasil cadinho relata a epopeia das três raças que fundem nos laboratórios das selvas tropicais. Como nas sociedades primitivas, ela é um mito cosmológico, e conta a origem do moderno Estado brasileiro, ponto de partida de toda uma cosmogonia que antecede a própria realidade (ORTIZ, 1994, p.38) 66 [...] O fenótipo é um elemento objetivo, real, que não se presta à negação ou à confusão. É ele, não o genes, que configura os fantasmas que nutrem o imaginário social; que serve de linha de demarcação entre os grupos raciais e como ponto de referencia em torno do qual se organizam as discriminações raciais (MOORE, 2012, p.19). 136 137 64 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. branco, negro e índio no Brasil constituía um interesse político ideológico67, não correspondia à realidade as metade do século XIX no Brasil, e estudos aprofundados sobre a sociedade brasileira, e a apropriação do relações cotidianas, a democracia racial em si não se concretizava, e por isso passa a ser denunciada como um entendimento do racismo como uma ordem sistêmica da humanidade, que tem como propósito restringir o mito. acesso aos bens materiais e imateriais a um pequeno grupo, que representa o grupo dominante, podem ajudar professores a repensarem as relações sociais e raciais presentes no ambiente escolar, reverem sua pratica [...] Pois é patente a lógica desse padrão histórico de justiça social. Em nome de uma igualdade perfeita no futuro, acorrentava-se o “homem de cor” aos grilhões invisíveis de seu passado, a uma condição subhumana de pedagógica e apresentarem um novo olhar. Nesse aspecto a educação pode se tornar um caminho possível para questionamentos dos modelos existência e a uma disfarçada servidão eterna (FERNANDES, 2008, p.309). prontos e unilaterais que insistem em perpetuar na sociedade brasileira, com grande reflexo na escola. A A afirmação de Fernandes nos ajuda a compreender a ambigüidade das relações raciais no Brasil e hierarquização da sociedade brasileira demarca os lugares, define quem comanda e quem obedece e produz demonstra como “[...] Engendrou-se, assim, um dos grandes mitos de nossos tempos: o mito da “democracia modelos universalistas que beneficiam uns em detrimento de outros, marginalizando e excluindo muitos do racial brasileira” (idem, 2008, p.309). A democracia racial poderia de fato ter ocorrido no Brasil após a direito de ser diferente. Urge a necessidade de se repensar a sociedade brasileira de modo que, todos se sintam Abolição da Escravatura se a sociedade brasileira representada pelos seus dirigentes se preocupasse com: “[...] respeitados integralmente, é imprescindível considerar a diferença como elemento crucial, “O respeito às o modo de lidar com os problemas suscitados pela destituição do escravo, pela desagregação das formas de diferenças implica numa reciprocidade na igualdade de relações” (SILVA, 2004, p.31). O direito em ser trabalho livre [...] pela assistência sistêmica a ser dispensada à “população de cor” em geral” (idem, p.311). diferente precisa ser reivindicado como um direito que por muito tempo foi negado à parte da sociedade Esse comportamento foi negado à população livre de negros e mulatos, que aspirava um lugar social e o direito brasileira. A escola organizada em torno de uma diversidade de pessoas deve ser o lugar cujas diferenças devam de torna-se um cidadão. O mito da democracia racial, ser consideradas como fundamentais para pensar o respeito ao outro e o enfrentamento de Práticas de Primeiro, generalizou um estado de espírito farisaico, que permitia atribuir à incapacidade ou a irresponsabilidade do “ negro” os dramas humanos da “ população de cor ” da cidade, [...]. Segundo, isentou o branco de qualquer obrigação, responsabilidade ou solidariedade morais, de alcance social e de natureza coletiva, perante os efeitos sociopáticos da espoliação abolicionista e da deterioração progressiva da situação Discriminação Racial. O conceito de discriminação racial é tomado do documento elaborado na Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, no seu artigo I, socioeconômica do negro e do mulato. Terceiro, revitalizou a técnica de focalizar e avaliar as relações entre “negros” e “ brancos ” através de exterioridades ou aparências dos ajustamentos raciais (FERNANDES, 2008, [...] “discriminação racial" significa qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência fundadas na raça, cor, p.311). descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por fim ou efeito anular ou comprometer o reconhecimento, o gozo ou o exercício, em igualdade de condições, dos direitos humanos e das liberdades O racismo é um fenômeno eminentemente histórico ligado a conflitos reais ocorridos na historia dos povos (MOORE, 2012, p. 31) e, é a partir dele que se torna possível a compreensão das praticas de discriminação racial e das desigualdades sociais. É nesse sentido que se faz necessário entender à ordem racista que faz perpetuar tais comportamentos. O racismo é um sistema permanente e de renovação constante de seus mecanismos, independe do tempo, sendo ele um fenômeno universal. fundamentais nos domínios político, econômico, social, cultural ou em qualquer domínio da vida publica. (NAÇÕES UNIDAS, 1965). Destacamos que os sentidos que constituem a prática de discriminação racial estão inseridos no processo histórico de racialização brasileira e na análise dos sentidos das professoras sobre práticas de discriminação racial que existe puramente a partir do fenômeno do racismo que tem como principal função “[...] blindar os A questão racial parece um desafio do presente, mas trata-se de algo que existe desde há muito tempo. Modificase ao acaso das situações, das formas de sociabilidade e dos jogos das forças sociais, mas reitera-se privilégios do segmento hegemônico da sociedade, [...] ao tempo que fragiliza, fraciona e torna impotente o segmento subalternizado” (MOORE, p.2012, p.229). Para reafirmamos a perspectiva do racismo como um continuamente, modificada, mas persistente (IANNI 2004, p.21). fenômeno histórico, compartilhamos que, Portanto, longe de recuar “[...] diante da educação e da ciência, e em vez de ser contido pelo acúmulo 2012, p.232). É o sistema racista que produz os padrões com base na superioridade que corresponde ao grupo A questão racial parece um desafio do presente, mas trata-se de algo que existe desde há muito tempo. Modifica-se ao acaso das situações, das formas de sociabilidade e dos jogos das forças sociais, mas reitera-se continuamente, modificada, mas persistente (IANNI, 2004, p.21). As questões de discriminação racial que perpassam o cotidiano escolar, de forma sutil, inclusive nas dominante, fenotipocêntrico, ou seja, branco, e produz o Outro, inferiorizado possuidor do fenotípico preto. O brincadeiras, não devem ser ignoradas pelo educador, “o conhecimento sobre raça e etnia incorporado no conhecimento sobre as ideologias, que construíram um lugar inferiorizado para o negro, produzidas na segunda currículo não pode ser separado daquilo que as crianças e jovens se tornarão como seres sociais (SILVA, 2004, crescente de conhecimento, o racismo adentra-se na ciência e converte-se em modo de educação” (MOORE, 67 “[...] a ideologia permanece como conceito de uma dimensão de poder, a coerência semiótica, ajustada ao dispositivo dominante de produção. Do ponto de vista da linguagem é uma matriz pela qual o sujeito se constitui pensando, agindo ou falando” (SODRÉ, 2005, p.52). 138 p. 102). O preconceito designado por “preconceito de marca” é o que se apresenta no Brasil, assim, 139 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. Determina uma preterição; Serve de critério o fenótipo ou aparência racial; Ele tende a ser mais intelectivo e estético; Onde o preconceito é de marca, as relações pessoais, de amizade e admiração cruzam facilmente as fronteiras de marca (ou cor); No local onde existe preconceito de marca, a ideologia é, ao mesmo tempo, assimilacionista e miscigenacionista; [...] ficando o preconceito de raça disfarçado sob o de classe; A luta do grupo discriminado tende a se confundir com a luta de classes [...] (NOGUEIRA, 2006, p.293 - 299). O limite entre quem discrimina e é discriminado no Brasil é, segundo Nogueira, (2006, p.293) “[...] indefinido, variando subjetivamente”. E a peculiaridade do preconceito de “marca” ou “cor” na sociedade brasileira mostra a ambigüidade do racismo aqui manifestado e das múltiplas variações das praticas discriminatórias. É importante ressaltar que o combate a discriminação racial não é uma função que se limita a escola, pois as práticas de discriminação racial atravessam instituições como: família, universidade, entre outros, e produzem modelos apresentados como únicos, sustentando e controlando o imaginário da população. O entendimento do que estamos chamando de racismo é assim definido [...] o racismo cumpre funções mais amplas de dominação como ideologia de hegemonia ocidental que transmite e reproduz o processo de desumanização dos povos dominados. Essa ideologia sofre mutações de acordo com as condições históricas, [...], atuando por meio de representações sociais em nível do subconsciente ou do imaginário social (NASCIMENTO, 2003, p.58) A luta do Movimento Negro levou a aprovação em janeiro de 2003 da Lei 10.639/2003, que estabelece o ensino obrigatório da História e Cultura Afro- Brasileira e Africana na Educação Básica. A partir da lei as Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afrobrasileira e africana, traz alguns importantes apontamentos para o enfrentamento das praticas de discriminação. Apontamentos sobre o preconceito racial nos anos Iniciais do Ensino Fundamental: sentidos de professores A prática de discriminação racial está presente nos anos iniciais do ensino fundamental e é apontada e descrita pelas professoras Ana e Luiza. Segundo Ana (2013) [...] tinha uma menina pretinha e aquela menina ia pra escola sem tomar banho, ai eu ouvia: ela fede [...] aquela criança era muito rejeitada. E as outras crianças pretas, pobres, é hipocrisia dizer que hoje essas crianças não sofrem rejeição68. Reconhece tal pratica como prática de discriminação racial e seu possível enfrentamento [...] exige que se questionem relações étnico-raciais baseadas em preconceitos que desqualificam os negros e salientam estereótipos depreciativos [...]. Reconhecer exige a valorização e respeito às pessoas negras, à sua descendência africana, sua cultura e história [...] ser sensível ao sofrimento causado por tantas formas de desqualificação: apelidos depreciativos, brincadeira, piadas de mau gosto sugerindo incapacidade [...] (BRASIL, 2005, p.12). De acordo com Luiza (2014) existem práticas discriminatórias [...] dentro da escola de negros, índios e homossexuais. A existência de discriminação na escola pode levar os sujeitos discriminados a adotarem varias posturas de repulsa ao ambiente educacional e até mesmo o abandono dos estudos, pois A discriminação racial tem sido identificada como fator de estimulo à evasão escolar e indutor de baixa autoestima entre alunos afro-brasileiros, prejudicando seu rendimento escolar, aumentando a possibilidade de repetência e reduzindo sua freqüência às salas de aula (NASCIMENTO, 2003, p.121). Segundo Ana (2013) [...], na escola, [...] o povo negro [...] se retrai ou ele se esconde [...] quando eu vejo um menino muito lá no canto, aquele último eu gosto sempre de trazer para o meio, para frente. A maioria dos estabelecimentos públicos de ensino tem em sua maioria alunos negros e nesse contexto, necessitamos “[...] professores competentes no domínio dos conteúdos de ensino, comprometidos com a educação de negros e brancos, [...] sendo capazes de corrigir posturas [...] e discriminação” (BRASIL, 2005, p.14). Luiza (2014) 68 afirma que [...] o maior preconceito, ainda infelizmente é essa questão de racismo [...] ao presenciar a discriminação [...] eu sou de agir. O enfrentamento do racismo na sala de aula não pode se limitar a boa vontade de alguns profissionais, nem está à mercê de interpretações do senso comum, faz-se necessários que, [...] as instituições de ensino desempenhem a contento o papel de educar, é necessário que se constituam em espaço democrático de produção de conhecimentos e de posturas que visam a uma sociedade justa. A escola tem papel preponderante para a eliminação das discriminações e para emancipação dos grupos discriminados e para emancipação dos grupos discriminados [...] (BRASIL, 2005, p.14-15). Para Ana, ser professora negra diante de uma sociedade racista e de uma escola excludente é um [...] processo e continua sendo, tem dia que eu choro, sofro, mas [...] quando você é humilhado é rejeitado a tendência é baixar a cabeça [...] Eu não sei se eu fosse uma professora loirinha dos olhos claros, se eu teria essa determinação (ANA, 2013). O posicionamento e o enfrentamento da discriminação racial na escola, por parte de Ana, contribuem para mudanças de comportamentos, de modo particular para aqueles estudantes que assumem a discriminação como uma pratica normal. [...] tratar da discriminação racial em ambiente escolar não significa ajudar a criança negra a ser forte para suportar o racismo [...]. É tarefa da escola fazer com que a Historia seja contada a mais vozes [...]. É necessário romper o silencio a que foram relegados negros e índios na historiografia brasileira, para que possam construir uma imagem positiva de si mesmos (SANTOS 2001, p.106) Ana diz: [...] eu tenho essa preocupação de trazer a cultura afro, o pensamento da ética, do amor, do olhar diferente com o outro (ANA, 2013). A Lei 10.639/200369 que alterou a Lei 9.394/1996, estabelecendo a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileiras e africanas, é um suporte legal não somente para Ana, mas para a educação brasileira. Contudo os educadores e formadores devem atentar para questões primordiais, pois, Luiza (2014) aponta uma possibilidade para o fim de práticas racistas na escola: [...] O amor acabaria todo preconceito conta o negro, contra o albino [...] O amor resolve tudo. Pensar na eliminação da discriminação é muito serio e para que de fato ela ocorra, o professor não pode contar apenas com bons sentimentos, pois estes não são extensivos a todas as pessoas, nem dão uma garantia de cumprimento da justiça social tão urgente no Brasil. Desse modo, “[...] a escola e seus professores não podem improvisar. [...] Isso não pode ficar reduzido a palavras e a raciocínios desvinculados da experiência de ser inferiorizados vivida pelos negros [...]” (BRASIL, 2005, p.15). Entendemos que os professores contribuem na construção da consciência critica da criança; é o professor que organiza e orienta as praticas em sala de aula e desse modo, ele deve estar atento aos tipos de relações que se estabelecem entre os estudantes, preocupando-se não apenas com a dimensão cognitiva da criança, mas com sua formação como um todo, incluindo seus valores culturais e sua composição racial. Segundo Ana (2013): [...] os mais pobres são os negros. Por ser o mais pobre é o mais rejeitado. Na história do Brasil é possível encontrar resposta para compreendermos o lugar social e econômico que foi dado ao negro pela sociedade brasileira, [...] Como ex-agentes do trabalho escravo e do tipo de trabalho manual livre que se praticava na sociedade de castas, o negro e o mulato ingressaram nesse processo com desvantagens insuperáveis. As conseqüências sociopáticas da desorganização social imperante no “meio negro” ou da integração deficiente à vida urbana concorreram para agravar o peso destrutivo dessas desvantagens, aniquilando ou corroendo até as disposições individuais mais sólidas e honestas de projetar “o homem de cor” no aproveitamento das oportunidades em questão (FERNANDES 2008, p.301). 69 Alterada pela Lei 11.645/08. A partir da referida Lei, fica estabelecido no Artigo 26-A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 9394/96: Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Optamos por colocar em negrito a fala das professoras entrevistas para diferenciá-las das citações e das observações da pesquisadora. 140 141 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. Encontramos presentes nas relações sociais entre negros e brancos, ainda hoje, comportamentos vivenciados e legitimados no passado brasileiro, os regimes de opressão que imperaram no Brasil e que encontraram mecanismos de sobrevivência na consciência do povo brasileiro e a resistência de praticas de discriminação racial. Cabe ao educador e a educadora compreender como [...] o contexto do racismo [...] este fenômeno interfere na construção da autoestima e impede a construção de uma escola democrática. É também tarefa do educador e da educadora entender o conjunto de representações sobre o negro existente na sociedade e na escola, e enfatizar as representações positivas construídas politicamente pelos movimentos negros e pela comunidade negra (GOMES, 2003, p.77). Logo, a superação de praticas discriminatórias na escola não se esgota em discussões esporádicas, cursos de formação temporários de professores e/ ou projetos estanques em datas que se reconhece o negro como historicamente importante na construção do Brasil, ou nas discussões sobre racismo. Podem-se considerar essas atividades como paliativas, entretanto, a articulação dos movimentos sociais e a instituição escolar em ações que ultrapassem os muros da escola podem contribuir para mudança de padrões de inferioridade do negro na sociedade brasileira, reconhecer e apoiar as inquietações relativas à naturalização de práticas discriminatórias pode levar a mobilização contra o modelo hegemonicamente estabelecido e dar voz aos excluídos. Situações de discriminação, na escola, pressupõem um currículo pensado como prática de significação que considera as questões entre cultura e educação como nesse aspecto [...] o currículo não pode ser visto simplesmente como um espaço de transmissão de conhecimentos. O currículo está centralmente envolvido naquilo que somos, naquilo que nos tornamos, naquilo que nos tornaremos. O currículo produz, o currículo nos produz (SILVA, 2006, p.27). É dentro dessa amplitude que a educação para as relações raciais pode ser pensada não somente pelo professor, mas pelas instituições de ensino do Brasil e com responsabilidade. CONVENÇÃO Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Disponível em:<http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/discrimina/lex81.htm>. Acesso em 15/01/2014. CUNHA JR. Pesquisas Educacionais em temas de interesse dos afrodescendentes.In: Lima I. C; Romão J. Silveira S. M (Orgs).Os negros e a escola brasileira. Florianolopis. N. 6, Núcleo de Estudos Negros/ NEN, 1999. FERNANDES, F. A integração do negro a sociedade de classes: (o legado da “raça branca”), volume 1; prefácio Antonio Sergio Alfredo Guimarães. – 5. ed. – São Paulo: Globo, 2008. GOMES, N. L. Educação, identidade negra e formação de professores/as: um olhar sobre o corpo negro e o cabelo crespo. Educação e Pesquisa. São Paulo, v.29, n.1, p.167-182, jan./jun.2003. IANNI, O. (2004). O preconceito racial no Brasil. Estudos Avançados 18(50), 6-20. MOORE, C. Racismo & Sociedade: novas bases epistemológicas para entender o racismo. 2ª ed.- Belo Horizonte: Nandyala, 2012. MOREIRA, C. Branquitude é Branquidade? Uma Revisão Teórica da Aplicação dos Termos no Cenário Brasileiro. In: CARDOSO, L. SCHUCMAN, L. (Orgs) Apresentação Dossiê Branquitude. Revista da ABPN • v. 6, n. 13 • mar. – jun. 2014 • p. 73-87 MUNANGA, K. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus identidade negra. – 3. Ed. – Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 128p. NASCIMENTO, Elisa Larkin. O sortilégio da cor: identidade, raça e gênero no Brasil.São Paulo: Summus, 2003. NOGUEIRA, O. Preconceito racial de marca e preconceito racial de origem: sugestão de um quadro de referencia para a interpretação do material sobre relações raciais no Brasil. Tempo Social revista de sociologia da USP, v.19, n.1, nov.2006. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/ts/v19n1/a15v19n1.pdf > Acesso em 23 de abr de 2014. ORTIZ, R. Cultura brasileira e identidade nacional. 5. ed. – São Paulo: Brasiliense, 1994. PRADO JUNIOR., Caio. Formação do Brasil contemporâneo: colônia/ Caio Prado Jr.; entrevista Fernando Novais; posfácio Bernardo Ricupero.-1ª Ed.- São Paulo: Companhia das Letras, 2011. SILVA, Ana Célia. A discriminação do negro no livro didático. 2. Ed. – Salvador: EDUFBA, 2004. 112 p.il. SILVA, P. E. d.Contribuições aos Estudos da Branquidade no Branquitude Brasil: e Ensino Superior. In: CARDOSO, L. SCHUCMAN, L. (Orgs). Apresentação Dossiê Branquitude. Revista da ABPN • v. 6, n. 13 • mar. – jun. 2014 • p. 08-29 SILVA, T. T. O currículo como fetiche: a poética e a política do texto curricular – I Ed., reimp.- Belo Horizonte: Autentica, 2006. 120p. SODRÉ. M. 1942- A verdade seduzida. 3.ed.Rio de Janeiro: DP&A, 2005. Considerações finais: Os Apontamentos sobre o preconceito racial, nos anos iniciais do ensino fundamental, demonstram que não depende da boa vontade de educadores, para o enfrentamento efetivo sobre o racismo e seus desdobramentos, mas de uma ação social coletiva que concorra para o bem de todos, pelo reconhecimento imediato da necessidade, de fazer ocorrer na prática educativa, uma sociedade de direito pleno para todos os cidadãos. Alguns elementos para o enfrentamento dessa realidade, na escola, passam por uma formação intelectual, moral e social dos educadores. O livro didático como dispositivo necessário para o auxilio da aprendizagem pode ser utilizado com ética, responsabilidade e questionamentos dos padrões que inferiorizam alguns povos e exalta outro, seja no estereótipo físico ou ainda na questão de classe. O currículo como instrumento problematizador da diversidade social brasileira e das diferenças. O conhecimento e estudos aprofundados sobre as relações raciais, sobre a sociedade brasileira e aprofundamento da lei 10.639/2003, não podem estar ausentes da formação dos educadores. Os professores não são os únicos responsáveis pelos processos de discriminação racial, mas são agentes fundamentais no questionamento de comportamentos que tenha como conteúdo as relações raciais e possíveis desigualdades decorrentes dela, na escola. A formação continuada do professor, no que tange a questão racial, é fundamental no enfrentamento das praticas de discriminação racial na escola, principalmente, a partir do entendimento do racismo como um sistema normativo da realidade social. Referências BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico- Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília: MEC/ SEF, 2005. CARDOSO, L. SCHUCMAN, L. Apresentação Dossiê Branquitude. Revista da ABPN • v. 6, n. 13 • mar. – jun. 2014 • p. 05-07 142 143 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. Brasileira e Africana, em todas as instituições de ensino básico deste país, bem como a promulgação da lei AS RELAÇÕES ETNICO-RACIAIS NO LIVRO DIDÁTICO DE SOCIOLOGIA 11.684/2008, que tornou obrigatório o ensino de sociologia no ensino médio, relata a necessidade de uma ADRIANA SILVA OLIVEIRA70 abordagem mais incisiva das questões étnico-raciais nos livros didáticos de sociologia. Com base nestas leis NUBIA REGINA MOREIRA71 analisamos o livro didático “Sociologia para o Ensino Médio”, 2ª edição, São Paulo 2010, do autor Nelson Dacio Tomazi, escolhido por professores de unidades escolares baianas. A Lei visa o reconhecimento, RESUMO valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, bem como a garantia da igualdade para a O presente texto se dedica a analisar de que forma são apresentadas as Relações Étnico-Raciais no livro valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias s e asiáticas. Com Lei didático “Sociologia para o Ensino Médio”, editora Saraiva, do PNLD 2010, 2º edição, do professor Nelson 10639/2003 em vigor, temos como proposta didático-pedagógica ressaltar os valores civilizatórios e culturais Dácio Tomazi, usado na escola Instituto de Educação Euclides Dantas, do município de Vitória da Conquista - dos povos africanos nos conhecimentos afro brasileiros, destacando a importância de uma educação antirracista. BA. Para a análise, usamos como parâmetro a lei 10.639/2003 que institui estudo da História da África e dos O livro didático é tomado como objeto da nossa analise por ser uma ferramenta fundamental e às vezes Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, a única disponibilizada e utilizada por professores e estudantes. A elaboração do livro didático é resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. responsabilidade dos profissionais da área, bem como dever do Estado, sendo impresso nele o posicionamento Palavras Chaves: livro didático, relações étnico-raciais. Lei 10639/2003. para o desvendar do mundo, as teorias e as ressignificações. Após a elaboração e promulgação da Lei 11648/ 2008, que institui como obrigatório o ensino de Introdução A proposta do trabalho é compreender como são apresentadas as relações étnico-raciais no livro didático de sociologia. O livro didático escolhido para análise foi “Sociologia para o Ensino Médio”, do professor Nelson Dacio Tomazi, do PNLD, por ser o primeiro livro adotado nas escolas estaduais baianas, no município de Vitória da Conquista. A temática das relações étnico-raciais aparece no capitulo “As desigualdades sociais no Brasil”, no tópico Raça e Classe, que é analisada pelo autor, explicitamente, em um parágrafo que associa as questões étnico-raciais às desigualdades e à estrutura social brasileira. Nossa intenção é expor o encaminhamento teórico-didático sobre a temática e compreender as possíveis conexões com Educação das sociologia no ensino médio, instaura-se um novo período no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). São feitas alterações, onde as motivações se deram em função das necessidades didáticas dos docentes com a temática, abrindo assim a perspectiva de produção e distribuição do livro didático de sociologia. Mesmo sendo longo o caminho das Ciências Sociais na abordagem da questão racial no Brasil, percebe-se que há muita dificuldade em propor essas discussões, tanto no campo de ensino-aprendizagem, como na especificidade do ensino de sociologia na educação básica. Enfrentam-se desafios e obstáculos dentro da educação básica, enquanto a permanência da mesma no currículo nas séries finais. Então, dentro dessa problemática encontrada pela Sociologia, que também a Filosofia encontrava todos Relações Étnico-Raciais de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, amparada na lei 10.639/03. Por intermédio da Lei 10.639/0, buscamos também refletir a qualidade do ensino desta temática, sobretudo a falta de formação e informação, que deixa as relações étnico-raciais serem retratadas de maneira superficial, muitas vezes, juntamente com os assuntos relacionados à desigualdade social. Desconsiderando, os materiais a que os docentes tinham acesso, eram de forma pessoal ou mesmo retirados de fonte como a internet. Desses, muitos não atendiam às exigências de conteúdo da disciplina, conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). A partir do momento que o livro didático chega à escola passa por uma transformação favorável, onde os profissionais que lecionam a disciplina têm nas mãos uma ferramenta que trás dessa forma, o fato histórico e sociocultural do povo africano e seus descendentes na diáspora. Levando em consideração a importância da disciplina sociologia, também como mediadora das questões raciais, visto que a sociologia questiona e forma opinião, é de suma importância o estudo e debate históricosociocultural. Sobretudo, esta temática, faz com que os estudantes superem o senso comum, tornando-os os conteúdos de forma sistemática. O Ministério da Educação, através do Programa Nacional do Livro Didático, a partir de 2010, e com a abertura do edital para as editoras para elaboração do livro de sociologia e, dois anos mais tarde, com a distribuição, chega às unidades escolares públicas de todo o país os primeiros exemplares. Antes disso, os indivíduos críticos e politizados. professores e gestores tiveram a oportunidade de conhecer os mesmos e fazerem as suas escolhas. Porém, como Cultura Afro-Brasileira e Africana A promulgação da lei 10.639/2003 que institui a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro- sabemos, os conceitos raciais não são de interesse de todos, e mais uma vez, as questões étnico-raciais são deixadas em segundo plano ao se observar como ela é abordada nesses respectivos livros. 70 Aqui não podemos deixar de citar os motivos, os quais levam à marginalização desse conteúdo de Graduanda em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). <[email protected]> Doutora em Sociologia pela Universidade de Brasília, Brasil(2013) Professora Adjunto da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia , Brasil. <[email protected]> extrema importância nos livros didáticos e também pelos docentes. Primeiro, falando a partir da realidade das 144 145 71 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. escolas estaduais no município de Vitória da Conquista, que se situa entre o Sul e o Oeste do estado da Bahia, de Pesquisa. Também orientou trabalhos na graduação e pós-graduação. É mestre em História pela com cerca de 340.199 habitantes (IBGE, 2014), e 17 unidades escolares estaduais com turmas do ensino médio, Universidade Estadual Paulista de Assis e doutor em História pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). segundo a Diretoria Regional de Educação – (DIREC 20), onde os professores que ensinam sociologia, na Atualmente é professor aposentado, dedicando-se a escrever e programar ações que visem à efetiva implantação grande maioria não são habilitados na área. E, outro problema que ocorre na escolha do livro didático, as da sociologia no Ensino Médio. editoras de grande poder financeiro oferecem materiais para a gestão escolar para que tenha o livro de sua O Livro Sociologia Para o Ensino Médio, da editora Saraiva, edição 2010, volume único, contém: a publicação escolhido. introdução ao estudo de Sociologia, com sete unidades e um apêndice; bibliografia e relação de sites. Nossa O livro didático de Sociologia análise está baseada na unidade três: “A estrutura social e as desigualdades”, que contém três capítulos, do Após o primeiro PNLD de sociologia, que foi uma conquista garantida a partir da Lei 11648/2008, começamos a ver direcionamentos de pesquisas que procuram analisar os conteúdos que estão chegando às sétimo ao nono. O conteúdo abordado nessa pesquisa se encontra no nono capítulo, intitulado “As desigualdades sociais no Brasil”, com o subtítulo “Raça e classes”. salas de aula, por entender que o livro didático seja a forma mais democrática de universalização do Dentro de toda obra compreende-se como abordagem étnico-racial apenas esse capítulo. Numa conhecimento. E, aqui, escolhemos uma única unidade escolar estadual, o Instituto de Educação e primeira citação, o autor apenas indica pesquisas sobre o tema das questões raciais dentro da estrutura geral da Conhecimento, situado no centro da cidade, s/n, o qual funciona nos turnos matutino e vespertino, contando do sociedade brasileira: Ensino Fundamental 2 ao Ensino Médio. Focamos nossa pesquisa no Ensino Médio, onde se aloca a disciplina “A relação entre as desigualdades e as questões raciais voltou a ser analisada na década de 1950, numa de sociologia. perspectiva que envolvia a situação dos negros na estrutura social brasileira. São exemplos os trabalhos de Luiz Para entender, trazemos alguns dados da unidade escolar. Ela conta, hoje, com 20 turmas de ensino médio nos dois turnos, sendo a carga horária da disciplina de sociologia dividida entre duas professoras. Quanto à formação, são habilitadas em Pedagogia e não possuem nem uma especialização na área. E, como elas Aguiar Costa Pinto, que em 1953 publicou O negro no Rio de Janeiro, e de Roger Bastide e Florestan Fernandes, que também publicou em 1953 lançaram o livro Negros e brancos em São Paulo. Eles abordaram a questão do ponto de vista das desigualdades sociais, procurando desmontar o mito da democracia racial brasileira, e colocaram o tema da raça no contexto das classes sociais” (TOMAZI, 2010, 88.) mesmas disseram, ainda não participaram de nenhuma formação oferecida pelo Estado para lecionar a A formação da população brasileira é marcada por uma base e o ápice, comparando a uma pirâmide disciplina. No processo de escuta das mesmas, podemos perceber a escolha do livro se deu conforme orientação social. Na base encontra-se a pobreza que está diretamente ligada à população negra. As camadas sociais é uma do Ministério da Educação (MEC), obedecendo os critérios do Guia Nacional do Livro Didático. A ausência característica que muda de posicionamento na pirâmide social à medida que passam por um processo de das questões raciais em suas formações, consequentemente na relação ensino-aprendizagem, deixando de fora branqueamento. Para Florestan Fernandes, a solução do preconceito seria resolvida com a modalidade das as relações étnico-raciais, como um dos parâmetros importante na escolha do livro didático de sociologia. classes sociais. Não foi possível, pois nos tempos atuais, a economia, tecnologia, globalização e modernização Não podemos deixar de perpassar pelas práticas pedagógicas das educadoras, onde em relato, colocam tornaram-se ainda mais excludente. Sendo “raça e classe” fatores integrados e o caminho para as desigualdades que as formas de racismo, as questões que envolvem a população negra, são tratadas de forma secundária e raciais, bem como determinante para exploração da força de trabalho e consciência do negro, constituindo um esporádica. Como exemplo, elas relatam que, quando surge algo na mídia que os educandos trazem para a sala racismo sútil no Brasil. de aula, buscamos conversar sobre, mas nada profundo, demonstrando grande desinteresse pela temática. Florestan Fernandes e Roger Bastide em Negros e brancos em São Paulo (1955) estudaram o Na rede estadual da Bahia circulam, entre as escolas, três livros didáticos de Sociologia das editoras, comportamento das classes sociais diante do preconceito racial e como o negro era inserido na sociedade de Moderna, Saraiva e Scipione, sendo que a unidade escolar que escolhemos para esta pesquisa adotou o livro da classes no período de desenvolvimento do Brasil. As conclusões dos estudos mostraram que a população de São editora Saraiva “Sociologia para o ensino médio”, de Nelson Dacio Tomazi. Analisamos, neste trabalho, a Paulo ainda reproduzia um pensamento escravocrata, mesmo com traços de modernidade. forma que o autor aborda as questões étnico-raciais neste livro didático, na edição de 2010, e levando em conta que esta edição está em mãos dos docentes e discentes desta instituição e que se trata de volume único. Noutra parte, o autor volta a falar de pesquisas e de pesquisadores que fizeram estudos sobre as Para entendermos o livro didático em análise, comecemos com o autor: Nelson Dácio Tomazi nasceu em 1945, no interior de Santa Catarina. Formou-se em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná, questões étnico-raciais nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. Significa, por exemplo, que não são nem mesmo indicados estudos sobre a região nordeste, com predomínio da população negra, e que abordamos nesse estudo. em 1972. Trabalhou como sociólogo na área de planejamento urbano e educacional e, a maior parte do tempo, “Na década de 1960, alguns trabalhos podem ser tomados como por exemplos da continuidade dessa discussão. foi professor na Universidade Estadual de Londrina, onde lecionou Sociologia, Ciência Política e Metodologia Florestan Fernandes (A integração do negro na sociedade de classes), Octávio Ianni (Metamorfose do escravo) e Fernando Henrique Cardoso (Capitalismo e escravidão no Brasil meridional), analisaram a situação dos negros 146 147 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. no Sudoeste do Sul do Brasil. Com seus trabalhos, criando-se uma desigualdade constitutiva da situação que seus CARURU DO ODEERE: DESAFIOS E POSSIBILIDADES SOBRE OS ESTUDOS DE ETNICIDADE72 descendentes vivem até hoje. Muitos outros autores, desde então, analisaram essa questão, que continua presente Eudes Batista Siqueira73 Marise de Santana74 no nosso cotidiano” (TOMAZI, 2010, p.88). Resumo: Este artigo faz uma abordagem sobre o Caruru realizado pelo ODEERE – Órgão de Educação e Relações Étnicas – da UESB (Universidade do Sudoeste da Bahia). O texto relata uma experiência etnográfica Conclusão Concluímos, a partir da literatura do livro didático de Nelson Dácio Tomazi, na edição de 2010, que vivida neste evento, discorre sobre as interações étnicas estabelecidas entre as pessoas de diferentes precisamos rever conceitos de que a luta antirracista não está somente na luta de classes, mas vai além das comunidades e discute sobre o caruru enquanto atividade de extensão universitária. desigualdades sociais. Isso é bem frequente nos livros didáticos, sobretudo nos livros da área de humanas, onde Palavras-chave: caruru; legado africano; interação étnica; extensão universitária. trata de forma equivocada, ou apenas negligencia a escravidão ou mesmo todo e qualquer tipo de relação Introdução étnico-racial no país. Através da Lei 10.639/03 é possível adotar políticas educacionais na formação dos docentes, nos A questão central que direciona o presente trabalho é: Quais os possíveis impactos do caruru do ODEERE, currículos e, sobretudo nos livros didáticos, que é um instrumento usado para difundir informação e transmitir o considerando os estudos sobre etnicidade? Ao versar a respeito desta questão, faz-se necessário estabelecer conhecimento, emancipando o individuo. Sendo aliados importantes para os avanços na legislação antirracista, reflexões acerca de algumas categorias de fundamental importância neste trabalho: caruru, legado africano, dando possibilidades para o sistema educacional brasileiro adotar ações afirmativas, politicas e orçamentárias ancestralidade, identidade étnica e extensão universitária, tomando como base as contribuições teóricas de que repara as desigualdades no país, corrigindo a marginalização e inferioridade do negro na sociedade. Barth (2000), (Poutignat e Streiffe-Fernart, 1998), Santana (2004), dentre outros. Metodologicamente, este trabalho se estrutura em dois aspectos: na pesquisa bibliográfica, que busca explicar um problema, a partir de REFERÊNCIA BRASIL. Educação Antirracista: caminhos abertos pela Lei Federal n. 10.639/03. Brasília: Ministério da Educação/SECAD, 2005. CAMILA SOUZA RAMOS E GLAUCO FARIAO - antropólogo Kabengele Munanga fala sobre o mito da democracia racial brasileira, a polêmica com Demétrio Magnoli e o papel da mídia e da educação no combate ao preconceito no país. http://www.revistaforum.com.br/blog/2012/02/nosso-racismo-e-um-crime perfeito/< Disponível Acesso em: 31 de Julho. 2015 MAURECI MOREIRA DE ALMEIDA - relações raciais e os livros didáticos de linguagens e ciências humanas: reflexões e apontamentos http://sinop.unemat.br/projetos/revista/index.php/educacao/article/viewFile/1723/1291< Disponível Acesso em: 31 de Julho. 2015. OLIVEIRA, Luis Fernandes de, 1968. Sociologia para jovens do século XXI/ Luis Fernandes de Oliveira, Ricardo Cesar Rocha da Costa. Rio de janeiro: Imperial Novo Milênio, 2007. OLIVEIRA, Luis Fernandes de, 1968 –3 ed. Sociologia para jovens do século XXI/ Luis Fernandes de Oliveira, Ricardo Cesar Rocha da Costa. Rio de janeiro: Imperial Novo Milênio, 2013r. SANTOS,Gevanilda, 2009. Relações raciais e desigualdade no Brasil, São Paulo: Selo Negro, 2009. TOMAZI, Nelson Dácio. Sociologia para o ensino médio/ Nelson Dácio Tomazi. – 2.ed. - São Paulo: Saraiva, 2010. referências teóricas já publicadas (Silva, 2005); e na experiência etnográfica, na qual, através da observação participante, busquei observar como os diferentes saberes foram sendo articulados entre os grupos e sujeitos presentes no evento. A etnografia se concretiza vinculada à observação participante, que, nas palavras de Clifford (1998, p. 20), obriga seus praticantes a experimentar, tanto em termos físicos quanto intelectuais, as vicissitudes da tradução, requerendo sempre um árduo aprendizado linguístico, algum grau de envolvimento direto de conversação, e um frequentemente “desarranjo” das expectativas pessoais e culturais. Usada como principal procedimento investigativo e associado a muitas técnicas de coleta de dados, a observação participante possibilita um contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado. Para o autor, a observação participante serve como uma fórmula para o contínuo vaivém entre o “interior” e o “exterior” dos acontecimentos: de um lado captando sentidos de ocorrências e gestos específicos, através da empatia; de outro, dá um passo atrás, para situar esses significados em contextos mais amplos. (1998, p. 33). Deste modo, Acontecimentos singulares, assim, adquirem uma significação mais profunda ou mais geral, regras estruturais, e assim por diante. Entendida de modo literal, a observação participante é uma fórmula paradoxal e enganosa, mas pode ser considerada seriamente se reformulada em termos hermenêuticos, como uma dialética entre experiência e interpretação. (1998, p. 34). Consequentemente, assinala o autor, “nem a experiência, nem a atividade interpretativa do pesquisador científico podem ser considerados inocentes”. Torna-se necessário, por tanto, “conceber a etnografia não como 72 Artigo apresentado ao V CBPN – V Congresso Baiano de Pesquisadores Negros. Mestrando em Relações Étnicas e Contemporaneidade (Programa de Pós- Graduação, em nível de Mestrado Acadêmico, em Relações Étnicas e Contemporaneidade – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia). 74 Professora Ph.D. em Antropologia/Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Relações Étnicas e Contemporaneidade/UESB. 73 148 149 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. a experiência e a interpretação de uma “outra” realidade circunscrita, mas sim como uma negociação estando presente em todos os oratórios católicos de famílias que tiveram gêmeos, como reflete Sousa Junior (p. construtiva envolvendo pelo menos dois, e muitas vezes mais, sujeitos conscientes e politicamente 96). Sobre a mesa com as iguarias oferecida às crianças, o autor prossegue: significativos”. (p. 43). ancestralidade”. Neste sentido, “a ideia é de que somos um deslocamento de matérias ancestrais, ou seja: cada Aos meninos é oferecida uma mesa, “arrumada no chão”, à maneira africana. Neste dia, são as crianças que comem primeiro e tem o consentimento até de brindarem à saúde de todos com taças de vinho. Algumas vezes, elas recebem pratos individuais, em outras, a comida é colocada numa grande gamela e todos comem e têm o direito de se “lambuzarem”. Nas duas maneiras come-se com as mãos. Há casos em que as mãos das crianças são limpas na saia da dona da casa. É a inversão da mesa, onde os rígidos códigos ocidentais, como: não conversar, “comportar-se”, usar talheres, comer com a boca fechada, são suspensos a fim de garantir a alegria e a vida através da continuidade da comunidade. (2011, p. 97). Segundo Santana (et. al.), os legados africanos na diáspora são “culturas de um tempo presente, que criança que nasce é um Baba Tundê, um antepassado que retornou para a comunidade; não no sentido de uma rememoram um passado, mas que estão em nossas escolas, nas ruas, nos bairros, nas roças, em diversas reencarnação cíclica, mas como uma semente, que carrega as informações da nova planta” (p. 94). Como diz simbologias e que precisam ser valorizadas, vivenciadas, experimentadas” (2013, p. 106). Nesse sentido, para Sousa Junior, “fato é que Ibeji, ou o Mabaço, possui enorme significado para os grupos, os quais nos referimos Santana (apud Santana, 2013, p. 106), o legado africano encontra-se em “[...] expressões presentes no vestir e anteriormente”. Esta ideia chega ao Brasil com os africanos e africanas e aqui se populariza a ponto de interferir comer, nas palavras cotidianas, nos funerais, nas irmandades, nas folhas sagradas. [...]. A descrição seria na própria representação de santos católicos, como Cosme e Damião, sem esquecer de Crispim e Crispiniano. interminável, pois tais expressões permeiam o mundo visível e invisível dos simbolismos brasileiros”. “Eji, na língua yorubá, significa “dois” ebi é o verbo “nascer”. Desta maneira, a própria formação do nome Explicando de maneira mais profunda, explica o seu sentido. Ibeji é “nascer” ou “o nascimento de dois”. Segundo SOUSA JUNIOR, Poderíamos acrescentar, ademais, que práticas do legado africano se mantêm presentes através de diferentes perspectivas que se atualizam na religião, nos mitos, nos gestos, nas relações com o meio ambiente, em formas de cuidado, em novas formas de quilombagem, no trato com o corpo, na sabedoria das benzedeiras, nos terreiros de candomblés, nas batucadas, congadas, só para citar algumas dessas manifestações. (SANTANA et. al. 2013, p. 106). Neste sentido, “estamos entendendo o Legado Ancestral Africano como um conjunto de saberes de uma matriz Caruru: legado africano na diáspora Segundo Vilson Caetano de Souza Junior (2011, p.93), “para compreendermos o culto a Ibeji75 é preciso entender a importância do nascimento e da morte para os grupos africanos chegados ao Novo Mundo, particularmente ao Brasil”. Prosseguindo, o autor diz que “no continente africano, o nascimento, como a morte, reveste-se de particularidades, pois remete a um dos conceitos mais importantes de sua filosofia: a Certamente os mabaços sempre foram invocados, ora para proteger as famílias africanas fragmentadas e escravizadas, ou mesmo para garantir às crianças a Lei do Ventre Livre, por exemplo, uma das mais difíceis de ser concretizada, pois não libertava a sua mãe. O nascimento dos gêmeos é tão importante que estabelece uma ordem na família, assim, o terceiro filho para os yorubás é chamado Doun, “o terceiro”, ou aquele que veio após os gêmeos. (2011, p. 94-95). O culto aos gêmeos, então, “está ligado à ideia de continuidade e descendência, como o quiabo, comida real dos não ocidental que transcende o espaço dos Terreiros, pois se encontra como sobrevivências africanas nestas faraós do Egito Antigo. Assim como a cebola representava o mundo através das camadas que a compõem, o cidades” (Santana, 2004, p. 28). Ainda segundo Lima (2008, p. 154), quiabo estava ligado à continuidade” (p. 96). Aprofundando sobre a ancestralidade africana presente no caruru, Africanidades brasileiras são repertórios culturais de origem africana que fazem parte da cultura brasileira. Esses repertórios são elementos materiais e simbólicos que são dinâmica e continuamente (re) construídos e vivenciados e que vêm sendo elaborados há quase cinco séculos, na medida em que os/as africanos/as escravizados/as e seus descendentes, ao participar da construção da nação brasileira, trazem como sujeitos da história os repertórios sócio-históricos de suas culturas de origem e as novas produções processadas a partir desses dispositivos de origem. (apud SANTANA et. al. 2013, p. 106). Deste modo, é importante salientar que a manifestação cultural do caruru, como legado africano, tem nos o autor relata: Podemos fazer esta experiência, colocando numa vasilha com água e sementes de quiabo. Com o tempo elas vão se juntando, formando a teia, ou o futu, tão lembrado pela Makota Valdina, uma espécie de pacote que Nganga Zambi fez no início do mundo, onde colocou de tudo. Agora entende-se o porquê de uma das iguarias mais apreciadas pelos gêmeos ser o chamado “caruru”. Na verdade, os gêmeos comem de tudo. “Comem tudo o que a boca come”, como os ancestrais da terra. Isso exemplifica a antiguidade de seu culto. (2011, p. 96). De tal modo, “embora os gêmeos apareçam ligados à morte, os gêmeos são filhos do orixá Oxun76 , uma vez que “vida e morte andam juntas””. O culto aos mabaços, no entanto, extrapola as religiões de matriz africana, possibilitado na prática leituras de respeito aos saberes dos mais antigos, de valorização dos idosos, algo que é próprio das culturas de origem africana; leituras de valorização infanto-juvenil, representados pelos erês, de maneira que em suas festas de caruru as crianças sentam-se à mesa para fazer o ajeum (comer), têm lugar 75 Ancestral de culto cercado de silêncios e mistérios, está presente em todos os padrões rituais reorganizados no Brasil, chamados de “nação”. Tobossi, para algumas tradições jeje, Mabaço para os angola/congo, Ibeji para a tradição ketu, ao menos aquelas presentes na cidade de Salvador, ou simplesmente “dois dois”, “os meninos”, como são chamados carinhosamente pela maioria das pessoas. (Sousa Junior, 2000, p. 93-94). 76 Oxun foi o ancestral nagô que, segundo um de seus mitos, no momento em que Deus distribuiu os poderes aos orixás, através de uma chuva, enquanto alguns se esforçavam para pegar o ferro, a terra e outros elementos, Ela agarrou com as duas mãos o ovo, chamado de eyn. A partir daí ela passou a garantir a permanência de tudo que forma um sistema. Oxun regula, assim, o ciclo menstrual, mas também o ciclo da terra que garante os frutos. Tempos atrás, este fato era relembrado na cidade de Salvador no mês de Dezembro quando se oferecia as chamadas “frutas do ano” em frente à igreja de nossa Senhora da Conceição da Praia. Oxun também cuida do intestino e de tudo que é “de dentro”. Assim ela garante a permanência dos gêmeos e todas as crianças. (Souza Junior, 2000, p.96). 150 privilegiado e se tornam as personagens mais importantes da cerimônia; leituras, enfim, que possibilitam conviver o diferente. 151 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. Caruru do ODEERE: atividade de extensão universitária Cosme e são Damião, enfeitado com fitas de várias cores; no mesmo local um altar com esculturas dos mesmos 77 O caruru de Cosme e Damião, Erês, Wunjes e Ibejis, como é denominado pelo próprio Órgão , faz parte das santos, com as oferendas (pratos de caruru e doces) iluminadas por velas. Não se trata obviamente de uma tradições populares e é realizado todos os anos pelo Odeere. “Participam desses preparativos: pessoas da ornamentação aleatória, sem seleção, sem preparação ou planejamento. A forma como as pessoas comunidade, professores e alunos dos cursos de Pós-graduação e Extensão. Vale salientar que as aulas de ornamentaram o ambiente pode ter sentido com a categoria étnica do realce, na medida em que elas planejaram culinária fazem parte da carga horária e do currículo dos cursos supramencionados” (Odeere, 2014). O e combinaram antecipadamente quis cores seriam expostas e como seriam organizadas para combinar com o ODEERE explica ainda que altar dos santos e ibejis e suas oferendas, bem como qual identidade estariam assumindo naquele momento. A culinária afro-brasileira é muito rica, não apenas em diversidade de pratos, mas também de saberes e símbolos que são identificados a partir da produção e consumo desses alimentos. Sendo assim, durante dois dias, antes do evento, o Odeere realiza várias atividades para a produção do caruru, incluindo OFICINAS de decoração, de moquecas de peixe, de abará, de vatapá, de omolocum, de acarajé e de outras iguarias que compõem as tradições da cultura afro-brasileira. (ODEERE, 2014). Para os membros do ODEERE, o Caruru é uma atividade de grande relevância social, uma vez que “Mais de 50 crianças da região do Pau Ferro e as pessoas da comunidade comparecem à essa devoção. Assim, o Odeere, enquanto Órgão da Uesb, através do caruru e de outras atividades, sela seu compromisso extensionista e reforça os vínculos culturais da comunidade” (Odeere, 2014). Deste modo, o caruru do ODEERE, não é uma atividade para simplesmente aprender fazer as comidas do caruru, mas, através das oficinas e das relações estabelecidas entre as pessoas, de aprender com o Caruru. Aprender, neste sentido, requer vivenciar as formas simbólicas implícitas desde a organização do evento até a sua concretização. Neste aspecto, a participação da comunidade é o foco central da questão, uma vez que as oficinas das comidas de cada orixá são coordenadas e produzidas por pessoas da própria comunidade, pessoas dos terreiros de candomblé, senhores e senhoras mais velhas que dominam as culinárias afro-brasileiras, e tantos outros sujeitos de diversas cidades, envolvidos nas atividades, Como nota Putgnat e Streiffe-Fenart (1998, p. 168) “o realce mais ou menos acentuado, das distinções étnicas depende do tipo de jogo interacional autorizado em uma situação dada, e não das proximidades ou diferenças culturais objetivas”. Segundo os mesmos autores, O realce da identidade étnica exprime-se, assim, inicialmente através de um rótulo étnico entre outros meios possíveis de identificação das pessoas. É apenas depois de ter selecionado esse rótulo (depois que a etnicidade foi realçada pelo procedimento mesmo de sua seleção) que os comportamentos, as pessoas, os traços cultuais que elels designam surgem quase naturalmente como “étnicos”. (Putgnat e Streiffe-Fenart, 1998, p. 167). De certa forma, na ornamentação do estava presente a forma como os sujeitos envolvidos naquela atividade se auto-identificavam, sinalizando significados de seus pertencimentos com as cores e as formas de organização estética dos tecidos, em que o elemento central foi a negociação estabelecida entre os membros reesposáveis pela ornamentação. 2. Cada orixá teve suas comidas preparadas em oficinas, um momento de aprendizado, convivência e troca de saberes. Pessoas de diferentes localidades confrontaram os seus saberes e conhecimentos culinários acerca das comidas do Caruru. Na preparação das comidas, pudemos observar uma grande interação entre diferentes sujeitos na divisão das tarefas e produções culinárias, mas também que algumas pessoas divergiram quanto a forma de preparar os pratos. Para Barth (2000, p. 36-37) aquilo que no nível macro podemos chamar de como foi observado durante o evento. Retomando as alusões aqui já feitas sobre a Observação participante “como uma fórmula para o contínuo vaivém entre o “interior” e o “exterior” dos acontecimentos” (Clifford, 1998), destacamos alguns elementos importantes, dos tantos observados durante a realização do evento, no que se refere às interações étnicas do público presente no decorrer das atividades, nos dias 26, 27 e 28 do mês de setembro de 2014. Os elementos destacados para análise foram os seguintes: 1 – A ornamentação do ambiente; 2 – A preparação das comidas; 3 – As apresentações de dança; 4 – A mesa das crianças e o ajeum. 1. O ambiente foi ornamentado com tecidos de diversas cores, movimento que lembra a diversidade sociocultural e étnica entre as diferentes nações do mundo e também a diversidade de pertencimentos e heranças ancestrais africanas. Na ornamentação do ambiente foi colocado um painel com a imagem de são articulação e separação étnica corresponde, no nível micro, há conjuntos sistemáticos de restrições com relação a papéis. Desta forma, “todos esses sistemas têm em comum o princípio de que a identidade étnica implica uma série de restrições quanto aos tipos de papel que um indivíduo pode assumir, e quanto aos parceiros que ele pode escolher para cada tipo diferente de transação” (p.36-37). Em outras palavras, Se considerarmos a identidade étnica como um status, este será superior em relação à maioria dos outros status e definirá a constelação permissível de status, ou personalidades sociais, que um indivíduo com uma dada identidade étnica pode assumir. (Barth, 2000, p.36-37). Cada oficina de culinária do Caruru foi coordenada ou acompanhada por pessoas da comunidade. Trazendo a sua técnica sobre determinada culinária, a pessoa trazia não só a prática de ensinar fazer a comida, mas também no por que tal culinária deveria ser preparada daquela forma. Neste processo de ensinar esteve presente em muitos momentos o aspecto do aprender, momentos importantes que proporcionaram a percepção da distinção 77 O ODEERE – Órgão de Educação e Relações Étnicas com Ênfase em Culturas Afro-Brasileiras e Indígenas – foi fundado em 2005 na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) Jequié-Ba. O objetivo deste órgão é “dar visibilidade à cultura negra e indígena em suas inferências na configuração educacional e sociocultural de Jequié e região. O ODEERE é correlato aos Núcleos de Estudo de Culturas Afrobrasileiras, implantado nas universidades públicas do Brasil”. Segundo o mesmo Órgão, ele também “conta com a parceria do MEC, UNIAFRO, Prefeitura Municipal de Jequié, APLB Sindicato/Jequié entres outros órgãos de fomento que discutem essa temática”. (Odeere, 2014). (informações colhidas no sitio virtual do Órgão). étnica entre os sujeitos, deixando transparecer que os indivíduos ali presentes vinham de grupos étnicos 152 153 diferentes. 3. Foram realizadas apresentações artísticas de danças. Nas danças dos orixás Iansã, Oxum e Iemanjá, o grupo ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. membros interagem com outros, disso decorre a existência de critérios para determinação do pertencimento, assim como as maneiras de assinalar este pertencimento ou exclusão. (Barth, 2000, p. 33-34). demonstrou as especificidades dos três orixás através dos movimentos, indumentárias e paramentos de cada um deles, bem como, os elementos da natureza que cada orixá predomina. Importante elemento observado foi que durante as apresentações, pessoas da comunidade e tantos outros participantes acompanharam as apresentações de forma calorosa, não só com aplausos, mas também dançando as músicas de formas diferentes daquela que era apresentada pelos jovens. A apresentação transcendeu a dança do grupo que se apresentava, contagiando o público que gingava e trazia movimentos diferenciados, cada um a seu próprio modo, com sua própria forma de Os grupos étnicos, portanto, “não são apenas ou necessariamente baseados na ocupação de territórios exclusivos; e as diferentes maneiras através das quais eles são mantidos, não só as formas de recrutamento definitivo como também os modos de expressão e validação contínuas, devem ser analisadas” (p. 34). Além disso, como reforça o autor, “a fronteira étnica canaliza a vida social. Ela implica uma organização, na maior dançar, mas que se completava naquela interação. Retomando a questão do realce, De acordo Lyman e Douglass, os traços étnicos nunca são evocados, atribuídos ou exibidos por acaso, mas manipulados estrategicamente pelos atores, como elementos de estratagema, no decurso das interações sociais, por exemplo, para exprimir a solidariedade ou a distância social, ou para as vantagens imediatas que o autor espera obter pela apresentação de uma identidade étnica particular. (Putgnat e Streiffe-Fenart, 1998, p. 168). parte das vezes bastante complexa, do comportamento e das relações sociais. A identificação de uma outra pessoa como membro de um mesmo grupo étnico implica um compartilhamento de critérios de avaliação e de julgamento” (p.34). Por outro lado, Barth cita que “a dicotomização que considera os outros como estranhos, ou seja, membros de outro grupo étnico, implica o reconhecimento de limitações quanto às formas de compreensão compartilhadas, de diferenças nos critérios para julgamento de valor e de performance”. (Barth, 2000, p.34). De 3. A mesa das crianças foi o principal momento da festa – as pessoas presentes cantaram e dançaram para os acordo com Barth, a melhor utilização do termo etnicidade “é um conceito de organização social que nos orixás mirins, enquanto as crianças comiam. A mesa é uma dicisa (esteira) ou lençol forrado no chão, onde as permite descrever as fronteiras e as relações dos grupos sociais em termos de contrastes altamente seletivos, crianças sentam organizadas em círculo para fazer o ajeum (comer). Após a mesa das crianças as outras que são utilizados de forma emblemática para organizar as identidades e as interações”. (apud Putgnat e pessoas, crianças maiores e os adultos também fazem o ajeum. O ajeum foi o momento em que as pessoas Streiffe-Fenart, 1998, p. 183-184). compartilharam da produção coletiva (a comida). Nestes dois momentos, o ponto que me chamou atenção, Conclusão considerando as relações de interações étnicas, é que nem todas as pessoas as pessoas comeram de talher. As Os elementos observados no evento podem ter múltiplas interpretações para os sujeitos presentes no evento, crianças que participaram da mesa comeram de mão, uma prática que certamente está ligada ao simbolismo da que seriam mais bem compreendidas naquele contexto se o presente trabalho se desdobrasse cultura negra, entre os terreiros de Candomblé, desempenhando importante significado para os seus adeptos. metodologicamente no sentido de ouvir alguns dos participantes. Neste trabalho, nos atemos a lançar apenas Diferentemente da maioria, algumas pessoas adultas também preferiram comer de mão. Podemos analisar este algumas reflexões sobre aspectos observados em cada elemento destacado, considerando a discussão sobre dado à luz do que Barth chama de fronteira étnica. Para Barth, interação étnica e as abordagens anteriormente mencionadas. Como reflexões acerca deste evento, podemos As fronteiras étnicas são mantidas em cada caso por um conjunto limitado de características culturais. A persistência da unidade depende, portanto, da persistência dessas diferenças culturais, enquanto a continuidade também pode ser especificada através das mudanças na unidade ocasionadas por transformações nas diferenças culturais definidoras de fronteiras. (Barth, 2000, p.66). dizer que o Caruru do ODEERE propicia o aprendizado, o conhecimento da ancestralidade africana e religiosidade afro-brasileira. O caruru é uma manifestação cultural brasileira, herdada dos povos africanos, que ultrapassam as fronteiras das religiões de matrizes africanas, uma vez que está presente não só nos espaços dos terreiros de Candomblé e nas práticas dos seus adeptos, mas na culinária, na vivência e na realidade vivida pela Em sua obra intitulada O guru, o iniciador e outras variações antropológicas, Barth discute a relevância da população brasileira de uma maneira em geral. interação étnica para a manutenção das fronteiras étnicas e das próprias distinções entre os grupos. Para ele, “as A questão da relevância do caruru do ODEERE, considerando os estudos sobre etnicidade, evidencia distinções étnicas não dependem da ausência de interação e aceitação sociais, mas, ao contrário, são oportunidades para quem se dedica ao estudo das relações étnicas e contemporaneidade, uma vez que quando se frequentemente a própria base sobre a qual sistemas sociais abrangentes são construídos”. Entendida desta trata do caruru, enquanto manifestação da cultura negra, e não apenas como um prato típico da culinária maneira, a interação étnica dentro desses sistemas não leva à sua destruição pela mudança e pela aculturação: brasileira, faz-se importante compreender que tal manifestação se torna elemento importantíssimo de afirmação “as diferenças culturais podem persistir apesar do contato interétnico e da interdependência entre etnias” (p. da identidade negra, por que nele está presente a simbologia, a continuação de saberes e práticas sociais, 26). Desse ponto de vista, forjados pelos sujeitos que, de geração em geração, reproduzem e reformulam a ancestralidade africana em solo o foco central para investigação passa a ser a fronteira étnica que define o grupo e não o conteúdo cultural por ela delimitado. As fronteiras sobre as quais devemos concentrar nossa atenção são evidentemente fronteiras sociais, ainda que possam ter contrapartida territorial. Se um grupo mantém sua identidade quando seus brasileiro. Como diz Luckese et al (1998, p. 4), “ainda está viva uma tentativa de gerar, fazer nascer e crescer 154 155 urna autêntica universidade brasileira. São sinais dessa conquista os esforços que fazem tantos intelectuais, dentro e fora do Brasil, de mostrar a realidade em que se move a Nação; de propor um abrir de olhos aos ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. responsáveis pelos seus destinos”. Assim, o Caruru do ODEERE, como extensão universitária, tem um papel de suma importância quando COMUNIDADE QUILOMBOLA DA PIMENTEIRA: ENTRE MEMÓRIAS SILENCIADAS E IDENTIDADES NEGADAS possibilita que as pessoas de diferentes contextos sociais, dentre eles, professores e estudantes, conheçam e Flavia Querino Da Silva78 Benedito Eugênio Gonçalves79 aprendam junto com a comunidade, outros saberes, outras cosmovisões, outras formas simbólicas, que estão no nosso cotidiano e fazem parte da cultura brasileira. Através de atividades como o caruru, o ODEERE se constitui um espaço vivo de possibilidades e desafios de tratar das categorias étnicas. Para além de ser um espaço apenas de estudo, pautado no tecnicismo autocrata institucional, é, ele mesmo, um espaço onde as relações étnicas se efetivam, se criam e se constituem. Retomando Luckesi et al, “as camadas sociais se manifestam, os estudantes tentam se agrupar para pensar o que fazer, discutir o seu papel, descobrir o seu caminho, criar uma forma de atuação e interferência nos nossos destinos” (p. 4). Para Putgnat e Streiff-Fernart, a etnicidade é um campo ainda desconhecido. O fato étnico, segundo os autores, Resumo Este artigo tem como objetivo discorrer acerca da memória, história e identidade da população negra brasileira, em especial, aos quilombolas da comunidade da Pimenteira, localizada na zona rural do município de Camamu/Bahia. Partimos do pressuposto de que, pensar as memórias silenciadas e identidades negadas é condição fundamental para o enfrentamento do silenciamento e da negação da história da ancestralidade a que a população negra fora submetida historicamente, tendo em vista que isso produz consequências e estas repercutem diretamente na forma como as pessoas se reconhecem e se autoidentificam e como se consideram na relação com o outro. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, pautada na leitura de artigos produzidos sobre a temática. Palavras-Chave: Memória; História; Identidade; Quilombos. “não é algo que deve ser definido, e sim descoberto: descobrir o sentido que sua presença obstinada e multiforme tem em nossas vidas e, para o sociólogo, descobrir os processos organizacionais pelos quais esse Introdução sentido é socialmente construído” (p. 184). Neste sentido, é que vemos o ODEERE não como um celeiro único A vinda dos africanos para o Brasil fora resultado de um processo subentendido do capitalismo, no a ser considerado, mas como um espaço em que diferentes sujeitos, além de se dedicarem ao estudo, se intuito de explorar as colônias americanas para obter lucros no continente europeu, que no contexto histórico do transformam também, eles mesmos, em objetos de estudos, em objetos-sujeitos, que se atuam e se questionam século XV atravessava uma crise após impossibilidade de negociar com as Índias. diante de estudos como o das interações étnicas. Nessa perspectiva, os africanos foram introduzidos no Brasil, após os colonizadores europeus terem Referências BARTH, Fredrik. O guru, o iniciador e outras variações antropológicas. (Trad. John Cunha Comerford). Rio de janeiro: Contra Capa Livraria, 2000. CLIFFORD, James. A experiência etnográfica: antropologia e literatura no século XX. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1998. LUCKESI, Cipriano et al. Fazer universidade: uma proposta metodológica. 10. ed. São Paulo: Cortez, 1998. Disponível em: http://www.silviamota.com.br/direito/EMERJ/dirnotarial/texto_cipriano_luckesi_universidade_criacao_e_prod _de_conhec.doc./Acesso em: 02 de dezembro de 2014. ODEERE. Odeere convida a comunidade para o caruru de setembro. (Texto postado em 09 de agosto de 2014). Disponível em: http://odeereuesb.blogspot.com.br/ Acesso em: 02 de dezembro de 2014. POUTIGNAT, P.; STREIFFE-FENART, Jocelyne. Teorias da Etnicidade: seguido de grupos étnicos e suas fronteiras de Fredrik Barth. 2. ed. São Paulo: UNESP, 1998. (Trad.: Elcio Fernandes). SANTANA, Marise de. Legado ancestral africano na diáspora e o trabalho do docente: desafricanizando para cristianizar. Tese de Doutorado, PUC-SP. (Pontifícia Universidade Católica) São Paulo, 2004. SANTANA, José Valdir Jesus de; SANTANA, Marise de; MOREIRA, Marcos Alves. Cultura, currículo e diversidade etnicorracial: algumas proposições. Práxis Educacional Vitória da Conquista, v. 9, n. 15, p. 103125, jul./dez. 2013. SILVA, Mary Aparecida Ferreira da. Métodos e Técnicas de Pesquisa. 2 ed. Curitiba: pebex, 2005. SOUZA JUNIOR, Vilson Caetano de. Na palma da minha mão: temas afro-brasileiros e questões contemporâneas. Salvador: EDUFBA, 2011. (il. Rodrigo Siqueira). travado diversos conflitos com os indígenas e terem concluído que a participação dos mesmos na escravização não atingiria os resultados pretendidos pelos mesmos, o que para os africanos, não seria uma realidade impossível de alcançar, uma vez que, tais trabalhos aos quais seriam submetidos já era uma prática comum em sua terra de origem, ao contrário dos índios que necessitariam ser domesticados para tal função. Neste artigo, resultado de uma pesquisa bibliográfica, abordamos a importância do trabalho com as memórias silenciadas das comunidades negras, particularmente as quilombolas. A vinda dos africanos para o Brasil e suas consequências no processo de formação identitária do país Ao longo dos anos, os negros africanos foram escravizados nas terras brasileiras para dar conta de corresponder aos anseios da metrópole portuguesa, ao passo que a utilidade dos negros era apenas para favorecer o processo de comercialização entre a colônia e a metrópole. Assim, entendidos como mercadorias, os negros eram vendidos e trocados entre senhores conforme suas formas físicas, posturas e habilidades funcionais. Dessa forma, a história dos negros escravizados no Brasil perpassa pela história de “diferenças e 78 Mestranda em Relações Étnicas e Contemporaneidade pelo Programa de Pós Graduação em Relações Étnicas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, bolsista pelo financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal – CAPES graduada em Pedagogia (UNIME – Itabuna) e especialista em Psicopedagogia (ISEO – Itabuna). 79 Doutor em Educação, Mestre em Educação, Vice Coordenador do Programa de Pós Graduação em Relações Étnicas, Coordenador da Especialização em Educação e Relações Étnicas e Professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 156 157 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. desigualdades”, quando no século XIX as doutrinas raciais buscavam respostas que justificassem as diferenças desigualdades e a discriminação de cor, e só em 1970 que o discurso identitário é retomado na busca pela básicas existentes entre os homens. Respostas que para serem consolidadas como verdadeiras, antes eram reconstrução étnica e cultural, sendo assim, a assunção da Identidade Negra e a retomada da categoria de raça estudadas e analisadas em laboratórios das ciências naturais e biológicas para que, de forma positivista, os fatos pelos negros, tendo em contrapartida, a imobilização e não reconhecimento das desigualdades e discriminação tivessem cunho científico. Nessa perspectiva, o negro era o objeto de estudo da ciência, a busca incessante por pelas elites políticas e as classes média. compreender, o que os diferenciava, além da cor, e como tais diferenças poderiam repercutir na formação da Sob a premissa de pensar as comunidades quilombolas como comunidades étnicas que vivem de forma sociedade brasileira. E assim, os novos homens, eram descritos como estranhos em seus costumes e diversos harmoniosa entre si, tendo suas raízes, legados e tradições bem definidas, destaca-se a comunidade quilombola em sua natureza, e mediante as pesquisas entendia-se as correlações rígidas entre patrimônio genético, aptidões da Pimenteira que esta localizada no município de Camamu – Bahia, reconhecida como a menor comunidade intelectuais e inclinações morais e Buffon caracterizava o continente americano sob o signo da carência. quilombola do município e que tem na sua história as marcas do Ser Negro no Brasil, seja na luta pelas Na busca por definir de fato, o que diferenciava os negros, a base fora apoiada na introdução do termo conquistas da educação escolar na comunidade, pela negação da religião de matriz africana e manifestações raça, por Georges Cuvier destacando-a como heranças físicas permanentes, de um lado a Antropologia Cultural culturais, pelas dificuldades em ter acesso aos meios de comunicação, por ainda não ter energia instalada, seja definia que a desigualdade explica a hierarquia e de outro o Determinismo Racial entendendo a miscigenação pela conquista da primeira mulher da comunidade eleita como presidenta do sindicato rural do município. como negativa, ou seja, o cruzamento como erro e “a mestiçagem como sinônimo de degeneração não só racial como social”. E assim, proponho pensar a comunidade da Pimenteira, suas memórias silenciadas e as identidades negadas buscando evidenciar como as pessoas que vivem em comunidades quilombolas se percebem, como No contexto da globalização, Schwarcz (2014) aponta os finais de século como bons para pensar, e nada entendem seus pertencimentos étnicos de matriz africana, ao passo que exista ou não uma relação histórica mais intensos para o momento histórico do que abordar a preocupação da sociedade brasileira em confirmar a entre passado-presente-futuro, e a importância do reconhecimento que favorece para ter bases no enfrentamento sua autonomia enquanto país, Nação que tem um povo, uma língua e um território, e no tocante do fenômeno da junto à sociedade que não deseja saber e difundir os seus legados, gerando assim, fragmentações que retiram o globalização eclode as diferenças raciais, o racismo e a afirmação da etnicidade. Enfim, era preciso afirmar que caráter de identidade. Um estigma de ser quilombola que no trânsito da memória geram o esquecimento, o Brasil era um país miscigenado, resultado do cruzamento das etnias indígena, negra e europeia, e muito mais silenciamento e o não reconhecimento identitário. que isso, afirmar que o Brasil era um país que as diferenças entre os homens resultava no discurso do preconceito racial para com os negros e na ação racista para com os mesmos. Logo, a naturalização das O papel da memória na afirmação da identidade: O passado é uma memória viva no coração diferenças não se dava de forma democrática nem tão pouco de forma harmoniosa como afirmara Gilberto Freyre em sua obra Casa Grande e Senzala. Qual a significação do silêncio sobre o passado? Pensar acerca do silêncio sobre o passado nos remete Por ora, essa frágil cidadania, lograda no mito da democracia racial, da sociedade mista brasileira, onde ao questionamento na premissa de que o silêncio é sempre fruto de uma negação, ou tentativa de esquecimento as diferenças se complementam e a paz reina suavemente entre os povos vem à tona, quando as ações de determinadas situações experienciadas que não são lembradas por provocar angústia e tristeza pelo fato de “bondosas” nascidas nas premissas de emancipação e abolição da escravatura deixam nas entrelinhas as reviver o acontecido. Existem nas lembranças de uns e dos outros, zonas de sombra, silêncios “não-ditos”. verdadeiras tentativas de eugenizar o país, de limpar as ruas das peles mais que negras, para assim, dá ao Estado Segundo Pollak (1992) a memória colabora no sentimento de identidade “na medida em que ela é brasileiro um caráter de país-Nação, e quanto aos escravos negros a afirmação de não serem cidadãos, e ao também um fator extremamente importante no sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de mesmo tempo em que ressoavam a bondade para com os escravos de outro lado, estava os interesses pautados um grupo em sua reconstrução de si”. Por isso, a necessidade de não esquecer e não silenciar, mas, vivificar as na economia nacional de outro lado. E assim, a introdução da imigração no país serviu como válvula de escape memórias no constructo interacional pertinente à identidade e a memória coletiva do grupo. para a ascensão econômica e embranquecimento da população, e mais uma vez, a preocupação: o que fazer com O ser negro no Brasil perpassa pela lógica de além da cor, já nascer com o desprivilegio mediante a os escravos recém-libertados? Deportá-los? Extingui-los? Enfim, qual seria o lugar do negro e do mestiço na sociedade “branca”. Uma característica que, de forma acentuada, favorece aos não negros (de cor) nas mais sociedade brasileira? diversas esferas da sociedade, seja no campo educacional, econômico, político, social, cultural e religioso. Dentre os vários conceitos utilizados ao longo dos anos para definir o ser negro, o lugar do negro e a Logo, é de suma importância, pensar como os membros da comunidade Pimenteira tem vivenciado suas questão racial entre os estereótipos da sociedade, é de suma importância compreender o processo histórico práticas ancestrais e se as mesmas têm favorecido ou não para o fortalecimento da Identidade étnica do Ser brasileiro que para Guimarães (2002), entre 1930-1970 o termo “raça” some dos discursos, porém, cresceram as Negro no Brasil, mediante aos mais diversos enfrentamentos, preconceitos e atitudes racistas que se perpetuam 158 159 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. na sociedade até os dias atuais. Fundação Cultural Palmares e ao longo dos anos o desvelamento de entraves no que se refere ao pertencimento A premissa nos remete “Recordar é Viver!”, nessa perspectiva é possível relacionar a recordação com o étnico, é pertinente pensar: Quais meios foram utilizados para o processo de reconhecimento? De que forma os reviver, rememorar, trazer para o presente as memórias vividas no passado. Estudioso de identidade, Pollak membros da comunidade acolheram a novidade de ser uma comunidade quilombola? O que os membros da aborda a dimensão política, afirma que a constituição da memória coletiva é resultado de batalhas travadas sob comunidade entendiam como ser quilombola? Houveram resistências no processo de certificação ou tudo a égide da dominação do que deverá ser lembrado e o que deverá ser esquecido, estando a memória e o ocorreu de forma pacífica? esquecimento num mesmo lado da moeda. Quando a proposta segue para uma comunidade quilombola, tendo É de suma importância os focos para tais reflexões no sentido de compreender como os membros da como foco o trabalho com a memória e identidade dos membros da comunidade quilombola da Pimenteira, no comunidade relacionam suas práticas atuais com as práticas de seus ancestrais? E como eles tem buscado intuito de investigar o que as identidades individuais têm em comum e como elas resultam na memória coletiva perpassar ou não seus legados para as novas gerações da comunidade. E ainda, se os mesmos têm silenciado da comunidade, sob a premissa que para D. Vieillon (1987, p.53) é “a interação entre o vivido e o aprendido, o suas práticas por interferências externas ou mesmo, têm negado tais práticas, e assim estabelecer relações entre vivido e o transmitido. E essas constatações se aplicam a toda forma de memória, individual e coletiva, as gerações. Por ora, o silencimento e negação são fatores que impedem que as gerações futuras mantenham familiar, nacional e de pequenos grupos”. vivas as memórias e práticas do grupo étnico, logo, como os membros se categorizam após certificada a Segundo Ricouer (2007-48) “...porque amanhã será preciso não esquecer...de se lembrar. Aquilo que [...]chamaremos de dever de memória consiste essencialmente em dever de não esquecer. A busca pelo passado comunidade quilombola? Como esses entendem/ interpretam como os outros os percebem? Quais fronteiras étnicas definem o grupo étnico da Pimenteira? dos familiares tendo como aporte os testemunhos orais e documentais como forma de presentificar a busca pelo Pensando as fronteiras sinalizadas por Barth (2015), quem são eles/nós, quem foram “eles” que passado, que no dever de tudo se lembrar e nada esquecer tornar possível a constituição da memória coletiva da chegaram à terra e disseram que ali era uma comunidade quilombola e apresentaram as vantagens de ser comunidade. quilombolas, como afirmara Marilene81 em entrevista. São pontos de análise que merecem ser fundamentados Não podemos generalizar que só teremos ganhos no processo de organização da memória coletiva, uma sobre aportes teóricos que afirmam a necessidade de pensar identidade quilombola no Brasil. vez que, existem vulnerabilidades no tangente dos abusos da memória, que permeia os impedimentos e Nessa perspectiva, é relevante o levantamento de hipóteses sobre as questões que permeiam a manipulações da mesma, porém, é na perspectiva de articular as lembranças no plural e a memória no singular comunidade desde: a negação sendo apenas de ser quilombola? Ou a negação de ser negro? Remetendo à que objetiva o diálogo entre a recordação e o esquecimento. Neuza Souza Santos (1983) em seu livro Tornar-se Negro, a negação de ser negro é a possibilidade de construir uma história de conquistas na sociedade: “o negro que se empenha na conquista da ascensão social paga o preço Identidade Étnica: Pertencer ou não a uma comunidade quilombola? do massacre mais ou menos dramático de sua identidade, (p.18), é válido o questionamento: até que ponto, o ser Pensar a identidade como reflexo de lembranças silenciadas de gerações e que por permanecerem vivas devem ser transmitidas oralmente. Na perspectiva de romper com o silêncio e trazer à tona as memórias negro no Brasil, e para além, o ser quilombola, favorece ou não a pertença étnica e a conquista do seu espaço e reconhecimento identitário dos atores sociais? Enfim, a conquista do reconhecimento identitário das comunidades quilombolas é um passo para ter o individuais que no tocante das experiências vividas favorecem a memória coletiva do grupo. Vivificada nas identidades individuais, a memória coletiva como resultado de contribuições dessas memórias individuais tendo como sujeitos os atores que vivem na comunidade quilombola da Pimenteira no município de Camamu e que atualmente acordaram para a questão de ser ou não ser quilombolas, num conflito entre aceitação e negação da pertença e que no curso da História trazem marcas de vivências de matriz africana que na contemporaneidade tem sido silenciada pelas novas ideologias e domínio do protestantismo religioso. que comemorar, já que no último capítulo de Brasil Mito Fundador, Chauí, nos interpela: Comemorar? E apresenta as inúmeras situações e fatores que negligenciam a sociedade brasileira no decorrer dos anos, sendo ela: desigualdades entre brancos e negros, crianças, idosos, má distribuição de renda, os resquícios da colonização e escravidão do passado que se atualizam no presente, dentre outras, e que não apontam possibilidades de comemorações. Para Nora (1993, p.22) “os lugares de memória nascem da vontade de memória. “Lugares, portanto, mas Contribuições Finais lugares mistos, híbridos e mutantes, intimamente enlaçados de vida e de morte, de tempo e de eternidade”. Mediante ao processo de “reconhecimento”80 da Comunidade da Pimenteira em abril de 2008 pela Quando a memória é silenciada pelos membros de uma comunidade quilombola evidencia assim, A utilização da palavra “reconhecimento” entre aspas é um grifo meu, pois acentua o processo burocrático pelo qual a Comunidade foi legalizadas como Comunidade Quilombola. 81 Marilene Santos Silva, líder da comunidade Pimenteira, presidente do Sindicato Rural do município de Camamu. Entrevista realizada no dia 17 de abril de 2015, às 10h00, pelos mestrandxs para produção do documentário de História Oral, solicitado pela prof. Drª Maria de Fátima di Gregório, no curso de Pós Graduação em Nível Mestrado Relações Étnicas e Contemporaneidade da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 160 161 8080 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. diversos fatores que implicam em tal posicionamento. Nessa orbita, a identidade negada tem reflexo direto no silenciamento de tais membros. CURRICULO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS DE LÍNGUAS PARA EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS Ao passo em que pretendeu-se investigar quais fatores contribuem para tal silenciamento e negação SELMA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA82 identitária, vem à tona diversos elementos que estão imbricados na ancestralidade do grupo em estudo. As comunidades quilombolas em sua maioria existem como resultado de um processo de organização de vida desde o período da escravidão, onde os escravos fugidos como prova de resistência criaram novos espaços de manutenção de suas raízes e perpetuação de suas vidas. No documentário de Antônio Olavo, Quilombos da Bahia, o autor fez diversas visitas em comunidades quilombolas da Bahia e nelas são descritas as formas como vivem os membros das comunidades, como mantem suas raízes e tradições, suas formas de sobrevivência e em meio aos depoimentos, também são evidenciadas as compreensões que os entrevistados tem ou tiveram acerca de Quilombo. RESUMO Resultante dos anseios sociais e de uma longa luta dos movimentos negros, as Ações Afirmativas, no Brasil, vêm materializar o desejo de muitos/as educadores/as que conviviam com um modelo de ensino pautado na cultura hegemônica, que não valorizava a identidade negra na formação histórico-cultural do país. Uma perspectiva pós-colonial exige um currículo multicultural que não separe questões de conhecimento, cultura e estética de questões de poder, política e interpretação. Nessa comunicação, trazemos um breve cotejo que apresenta uma imagem do andamento da pesquisa e das reflexões teórica iniciais do estudo. Teoricamente, utilizamos algumas contribuições da linguística aplicada e dos estudos culturais, no intuito de compreender aspectos das relações étnico-raciais relacionados à formação de professores/as de línguas. Palavras-chave: Formação de Professores/as; História da Cultura Afro-brasileira; Lei 10.639/2003. Logo, torna-se de fundamental importância discorrer acerca da necessidade de dá a voz aos membros de comunidades quilombolas, para que assim, os mesmos apresentem suas formas de vida, suas tradições e através INTRODUÇÃO dos depoimentos e diálogos possam expressar seus contentamentos e descontentamentos sobre o que lhes faz Sob o manto da falsa ideologia da democracia racial, o Brasil tem alimentado uma prática racista que, sentir pertencente ou não à uma comunidade quilombola, e para além, se reconhecer ou negar sua identidade muitas vezes, se manifesta de forma indireta. Todavia, como nunca visto antes, vivemos uma época na quais as quilombola. preocupações com as desigualdades raciais têm provocado a busca de soluções, em especial a adoção de Ao fim deste artigo, exponho a necessidade de estudos e aprofundamentos acerca da identidade e políticas públicas visando o combate ao racismo e a conquista da justiça social. Segundo Hélio Santos (2001: pertencimento étnico em comunidades quilombolas, bem como a Pimenteira, que por diversos fatores, ainda 85), o racismo parte do pressuposto de “superioridade de um grupo racial sobre outro” assim como da ‘crença apresentam entraves no processo de reconhecimento identitário. de que determinado grupo possui defeitos de ordem moral e intelectual que lhe são próprios”. O homem ao nascer se vê rodeado de uma série de costumes que aos poucos vai assimilando através da Referências OLAVO. Antônio. Documentário Quilombos da Bahia. Produção Portfolium. 98 min. GONÇALVES, Janice. Pierre Nora e o tempo presente: entre a memória e o patrimônio cultural. História. Rio Grande, Vol. 3, n. 3, 2012, p. 27-46. GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. Raça e Pobreza no Brasil. In: Classes, Raça e Democracia. São Paulo: Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo. Ed 34. P. 47-75. Marilene Santos Silva. Entrevista realizada no dia 17 de abril de 2015, às 10:00, para produção do documentário de História Oral, no curso de Pós Graduação em Nível Mestrado Relações Étnicas e Contemporaneidade da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. OLIVEIRA, Eliene Dias de. TEDESCHI, Losandro Antonio. Nos Caminhos da Memória, nos Rastros da História: Um Diálogo Possível. In. Revista Rascunhos Culturais. Coxim/MS, Vol. 2, n. 4, 2011, p. 45-54. POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento, Silêncio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, Vol. 2, n. 3, 1989, p. 3-15. SCHWARCZ, Lília M. O espetáculo das raças. 12ª reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. SCHWARCZ, Lília M. FONSECA. Raça como negociação. In: Brasil Afro-brasileiro. Mª Narazeth Soares (Org.) Belo Horizonte: Autêntica, 2000. POUTIGNAT, Philippe; STREIFF_FENART, Jocelyne. Teorias da Etnicidade. Seguido de Grupos Étnicos e suas fronteiras de Fredrik Barth. Tradução de Elcio Fernandes. 2. ed. – São Paulo: Ed. Unesp, 2011. SOUZA, Santos Neuza. Tornar-se Negro: as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1983. linguagem e da imitação com base nos conhecimentos e costumes adquiridos dos que lhes antecederam. Seguindo este raciocínio e tendo como respaldo a história europeizada da classe dominante brasileira, não é de se estranhar que um pensamento preconceituoso foi agregado e perpetuado por gerações estigmatizando qualquer cultura diferente da cultura hegemônica do continente europeu. Após séculos negligenciando as contribuições e heranças da cultura africana, surge o reconhecimento da importância de se estudar África, berço da evolução humana e suas relações históricas. Resultantes dos anseios sociais dos negros e principalmente dos movimentos negros organizados, foram lançadas diversas políticas de reparação das injustiças sociais, reconhecimento e valorização da população afro-brasileira. Compondo um conjunto de ações sociais, as ações afirmativas, ganham importância na medida em que a sociedade brasileira reconhece o valor da história e da cultura africana trazida pelos escravizados ao Brasil. Sendo fruto de uma longa luta dos movimentos negros, as ações afirmativas em questão vêm materializar o desejo de muitos educadores/as que conviviam com um modelo de ensino excludente uma vez que não valorizava a identidade negra na formação histórico-cultural do Brasil. No conjunto de ações afirmativas, podemos citar a Lei 10.639, 82 Mestranda em Crítica Cultural, pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus II. Bolsista CAPES. Sob a orientação da Profa. Dra. Maria Nazaré Mota de Lima. E-mail: [email protected] 162 163 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. sancionada em 9 de janeiro de 2003 pelo então presidente Luís Inácio Lula da Silva, que alterou a Lei de sendo que o acesso à escola era reservado à elite colonial, Anjos (2005) ao se referir à forma como era visto o Diretrizes e Bases da Educação Nacional e incluiu a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro- continente africano destaca que: É relevante não perder de vista que a África foi marcada por vários séculos de opressão, presenciando gerações de exploradores, de traficantes de africanos escravizados, de missionários, que acabaram por fixar uma imagem hostil dos trópicos, cheios de forças naturais adversas ao colonizador europeu e de homens ditos indolentes. [...] Nesse contexto, não é de causar espanto o lugar insignificante e secundário que foi dedicado à geografia africana em quase todos os sistemas e níveis de ensino (ANJOS in MUNANGA, 2005: 175). Brasileira em todos os currículos escolares. Nesta perspectiva acredita-se, que nós possamos buscar a igualdade em todos os espaços, começando pela educação, que, durante séculos, foi elitizada, seletiva e consequentemente excludente, na qual a história foi distorcida, os negros foram omitidos nos livros didáticos, sua imagem, que é o que as crianças mais absorvem implicitamente, foi estereotipada e sua história e contribuições negadas. As ações afirmativas ainda são alvos de muitas críticas, nem sempre positivas, mas muitos acreditam que estamos começando a construir as bases da igualdade racial, onde cada um luta (quase que individualmente) pelos direitos que lhe são prioritários. O sistema político da época se encarregava de perpetuar a exclusão e os estereótipos, cuidando para manter os negros africanos e os brasileiros afro-descendentes, juntamente com todos aqueles desfavorecidos Tendo por herança um ensino básico deficiente, muitas vezes concebemos a história dos africanos e seus descendentes escravizados no Brasil como uma história de figurantes, sofredores, verdadeiros coitados apenas vítimas de algo mais forte que eles, sem a isto reagirem, simplesmente mártir do sistema escravista e não enquanto protagonistas da história. Isto posto, devido ao arsenal ações que foram criadas e executadas socialmente, longe dos bancos escolares e consequentemente impossibilitando-os de adquirir o conhecimento sistematizado oferecidos pelas escolas, mantendo-os submissos, perpetuando assim a política de que o acesso ao conhecimento era restrito a poucos, tidos como donos do saber dotados de capacidades superiores, principalmente no que diz respeito ao branco em relação aos negros. Para Anjos (2005), socialmente durante séculos, que tinham por objetivo estigmatizar os negros africanos e seus decentes. No Não podemos perder de vista que entre os principais entraves ao desempenho do negro brasileiro na sociedade brasileira destaca-se a inferiorização deste na escola. A raiz dessa desigualdade secular estaria localizada na pré-escola. O sistema escolar tem sido estruturado para a perpetuação de uma ideologia sócio-político-econômica que, junto com os meios de comunicação social, mantém uma estrutura classista, transmissora de valores distorcidos e individualistas (ANJOS apud MUNANGA, 2005: 173). entanto, é inegável que um ensino mais reflexível, possibilita desvendar os percursos históricos e as contribuições dos negros africanos e afro-brasileiros escravizados no Brasil, possibilitando assim, desvelar o que foi historicamente ocultado. Para tanto, é preciso que preparemo-nos para o enfrentamento. Uma vez desmistificada a farsa da democracia racial no Brasil e diagnosticado o racismo aqui existente e sua forma dissimulada de perpetuação, onde as questões raciais e os preconceitos estão presentes em todos os Durante muito tempo o conhecimento foi apenas repassado e reproduzido nos bancos escolares, meios sociais, e por conseqüência, também presentes nas escolas que são espaços de reprodução e/ou afirmação contemplando uma pequena minoria. Atualmente o acesso à educação respaldado por leis, passou a ser um das diferenças (de forma tanto positiva quanto negativa), nosso interesse se volta para as unidades educacionais direito de todos, mas na prática o currículo escolar não mudou muito, ou seja, não contempla a realidade de públicas estaduais a fim de averiguarmos a forma como o tema em questão é tratado pela comunidade escolar e todos. Não é por acaso que o modelo de ensino está voltado à perpetuação da visão dominante, relegando ao como os professores/as de línguas tem se formado e trabalhado para implementar no cotidiano escolar as esquecimento qualquer postura que venha a contribuir para a fragmentação desse modo de pensar. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. O mero papel de reprodutor do conhecimento pronto e acabado não é algo a ser vangloriado em qualquer que seja o campo do conhecimento. Priorizar a visão oficial dos colonizadores é contribuir para a Assim sendo, este texto é uma imagem do andamento da pesquisa de mestrado em crítica cultural e das reflexões teórica iniciais do estudo. formação de uma consciência ingênua e perigosamente limitada. A história deve ser concebida como uma leitura e não como uma recuperação de uma suposta verdade. CURRÍCULO E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES/A: CAMPOS DE LEGITIMIDADE DA EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS Sabemos, em oposição a uma postura etnocêntrica, que não existem critérios para declarar uma determinada cultura mais válida que outra, e que quando se adota tal postura, fatalmente serão gestadas idéias A formação cultural do Brasil se caracteriza pela alteridade de etnias e culturas, pela contínua ocupação encharcadas de distorções e desvios, muitas escolas permanecem perpetuando um currículo descomprometido, de diferentes regiões geográficas, pela diversidade de fisionomias e paisagens e também pela multiplicidade de sem uma proposta pedagógica eficaz que contemple a historia e a contribuição dos diversos povos responsáveis visões sobre a miscigenação em sentido amplo. Dessa forma, nada é mais coerente do que tratar sobre essa pela formação do Brasil, dando ênfase à história de África e dos brasileiros afro-descendentes, como sugere diversidade em sala de aula. Silva (2005): Mesmo com tanta diversidade, o Brasil ostenta uma educação elitizadora e excludente, como fruto de um país que nasceu na desigualdade. O sistema educacional brasileiro teve sua origem no período colonial, Todo esse processo de aquisição de conhecimentos e de formação de atitude respeitosa de reconhecimento da participação e contribuição dos afro-brasileiros na sociedade brasileira requer que preconceitos e discriminações contra este grupo sejam abolidos, 164 165 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. que sentimentos de superioridade e de inferioridade sejam superados, que novas formas de pessoas negras e não negras se relacionarem sejam estabelecidas (SILVA in MUNANGA, 2005: 158). 194). O currículo define através de processos seletivos socialmente produzidos o que deve ser ou não incluso nas aprendizagens. Durante muito tempo a escola foi vista como salvadora, ficando por conta desta a tarefa de Muitos são os motivos que geram o preconceito, o racismo e descriminação em sala de aula, apesar de educar, a família e a sociedade se omitiam e não se viam como responsáveis diretos no compromisso para com sabermos que os motivos para tais atitudes entre alunos, professores/as e a comunidade escolar e social como a educação, levando o sistema educacional ao caos. Agora mais do que nunca se faz necessário um um todo serem secular, é importante que o professor/a esteja sempre atento, pois atitudes preconceituosas, reformulação curricular, que possibilite conceber o currículo para além do rol das disciplinas, incluindo racistas e discriminatórias, frequentemente levam ao desenvolvimento da baixa auto-estima, a aversão à escola conteúdos que valorize a realidades dos alunos, que contemple os valores humanos, proporcionando um e a evasão escolar. Precisamos estar atentos para os instrumentos que auxiliam essas atitudes, um deles é o livro trabalho que integre a comunidade escolar e a sociedade. Favorecendo a implantação de um currículo multi- didático que por muito tempo foi um dos portadores de estereótipos, levando o negro afro-descendente a auto- cultural, impulsionando docentes e discentes a iniciarem no âmbito escolar atitudes que possibilita o efetivo rejeição como afirma SILVA in MUNANGA (2005: 31) “As mil formas de fazer o negro odiar a sua cor são rompimento de posturas e pensamentos racistas, preconceituosos e discriminatórios perpetuados por uma veiculadas habilmente, dissimuladamente. [...]. A vítima do racismo torna-se o réu, o executor; e o autor da sociedade rica em diversidade cultural, porém alimentada por estereótipos. trama sai isento e acusador”. Neste sentido, percebemos a importância de uma adequada formação docente, visto ser a escola um É urgente o respeito e o reconhecimento da riqueza promovida pela diversidade sócio-cultural brasileira, espaço privilegiado para mudança de comportamento e atitudes preconceituosas, bem como combate ao o que torna imprescindível uma mudança de concepção do currículo e da postura no cotidiano escolar. Negar racismo, formando cidadãos críticos e lúcidos da realidade que os envolvem para que possam atuar de modo que há diferenças entre as classes, mascarando atitudes preconceituosas como se estas não existissem, significativo e consciente, intervindo no seu meio, convertendo-o para melhorá-lo. perpetuando ações que renegam e excluí os negros, são atitudes que precisam ser superadas. Desse modo, o compromisso de promover uma sociedade mais justa e igualitária não pode ser uma Desse modo, a escola precisa preparar o aluno não apenas para o mercado de trabalho, mas prepará-lo tarefa apenas dos professores/as, nem tão pouco realizar-se somente no âmbito escolar, este por sua vez, exige para a vida, de forma que ele sinta orgulho de suas origens, das experiências adquiridas com seus pais avós e um comprometimento solidário das varias instâncias da sociedade, visto que, cada um dos brasileiros tem uma ancestrais, para Moura (2005): dívida secular para com os descendentes dos negros africanos e demais povos, a exemplo dos índios, que A escola não leva em conta o saber diferenciado que o aluno pode trazer da vivência no seio de sua família, aprendido com seus pais e avós ou no seu meio social de origem. Assim, ela desconhece a origem étnica dos alunos e a formação cultural de sua clientela. Mais ainda, a hegemonia desse modelo exclusivo tem conseqüências que se estendem por todo o sistema educacional. A escola não prepara para a vida, na medida em que não proporciona uma formação profissional diversificada, mas faz com que todos queiram ser doutores, herança portuguesa do Brasil-colônia, quando o bacharel tinha regalias na Corte (MOURA in MUNANGA, 2005: 79). contribuíram para a formação da nação brasileira tão rica em diversidade cultural. NOÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS DE LÍNGUA EM ESCOLAS PÚBLICAS DE GUANAMBI - BA83 Um dos grandes desafios que o processo educacional brasileiro enfrenta em nossos dias é o de proporcionar um melhor ensino-aprendizagem nas instituições escolares, desafio este que se esbarra nas tendências da globalização neo-liberal, no tradicional modelo positivista de ensino, na falta de investimentos Educadores engajados na promoção e efetivação de uma educação igualitária, cidadã e participativa, não por parte dos governos, dentre outros. Com o objetivo de construir o conhecimento ao invés de simplesmente podem ser ingênuos a ponto de acreditar que esta será uma tarefa fácil, muito menos serem pessimistas diante transmiti-lo, o sistema educacional passa a atribuir novos papéis aos integrantes desse processo, em especial ao dos obstáculos e dificuldades, pois apesar de constituir-se em uma tarefa árdua, este é um desafio possível, vale professor/a que passa de interlocutor a mediador do conhecimento. ressaltar que uma educação para igualdade só é possível quando há integração escola-sociedade, neste sentido, Segundo SILVA (1995) “para que se entenda profundamente o dinamismo entre os diversos é preciso focar as atenções para a composição do currículo. Como concepção, podemos entender por currículo, componentes de uma unidade escolar é necessário que se identifiquem os elementos agentes do seu currículo como nos mostra STEPHANOU (1998: 17) “[tudo] aquilo que os estudantes têm oportunidade de aprender na uma vez que esse está centralmente envolvido na produção do social”. Por essa perspectiva, a instituição escola, oculta ou explicitamente, bem como aquilo que não lhes é oportunizado”. Para que se alarguem os escolar é vista como um espaço em que aprendemos e compartilhamos não só conteúdos e saberes escolares, perímetros de tal concepção, observamos a colocação de Tomaz Tadeu sobre o currículo no ensino: mas também valores, crenças, hábitos, preconceitos raciais, de gênero, de classe e de idade, veiculados O currículo é também uma relação social, no sentido de que a produção de conhecimento envolvido no currículo se realiza através de uma relação entre pessoas. Mas uma relação social também no sentido de que aquele conhecimento que é visto como uma coisa foi produzido através de relações sociais de poder (SILVA, 1995: 193166 socialmente. 83 Guanambi é um município brasileiro do estado da Bahia. Está distante 796 quilômetros a sudoeste de Salvador, sendo interligado à capital pela BR-030, BR-242 e BR-324. Cidade onde desenvolvo a minha pesquisa de mestrado em Crítica Cultural, pela UNEB – Campus II. 167 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. Considerando que agregado aos currículos escolares existem fundamentais relações entre cultura e e a formação de professores/as para as relações étnico-raciais considerando a necessidade de efetivação de um poder, e partindo do pressuposto de que as unidades educacionais sirvam como reprodutoras da cultura currículo que atente e valorize a diversidade cultural brasileira, bem como a importância da integração escola e dominante é possível perceber o motivo pelo qual a cultura africana ou das minorias não ligadas à cultura do sociedade; Destacar as alterações ocorridas na legislação educacional brasileira a partir de 2003, algumas ações “dominador” são tratadas como periféricas. A esse respeito, voltamos nossos olhares para a cultura africana resultantes das lutas da comunidade civil e militantes dos movimentos negros, visando reconhecimento e trazida pelos escravizados ao Brasil que não encontra, dentro das instituições educacionais, um ambiente fértil valorização das contribuições dos negros (africanos e afro-descendentes) na formação do Brasil; E analisar o para que propague seu conteúdo e valor. modo como os/as professores/as de línguas têm se formado para o ensino de História e cultura afro-brasileira e O estudo da temática objetiva um maior aprofundamento das questões que possibilitam pensar uma educação que não empobrece a racionalidade com narrativas da certeza, mas que potencializa a criação, a africana nas escolas públicas estaduais de Guanambi – BA. CONSIDERAÇÕES invenção, a diferença, a variação e outras forma de (co)existir na relações entre toda comunidade escolar. Neste Partindo do pressuposto de que o ser humano não nasce com uma bagagem de valores e que esses são estudo, o interesse se volta para as unidades educacionais públicas estaduais, objetivando dimensionar os aprendidos, fica óbvio concluirmos que o homem não nasce racista. Atitudes racistas são aprendidas através do resultados e as principais barreiras que dificultam a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a meio, onde desde pequeno a criança repete o que viu e ouviu. Muitos brasileiros não se vêem como racistas, Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, mas muitas vezes, reproduzem um comportamento racista que foi adquirido e repassado através do meio em focalizando a formação de professores/as e os deslocamentos da comunidade escolar frente aos movimentos que vivem. Isso nos mostra que a questão racial permeia em nosso meio e, muitas vezes, está camuflado sob a curriculares necessários para contemplar os 6 eixos do plano de implementação das diretrizes curriculares para falsa afirmação da existência de uma democracia racial. as relações étnico-raciais em educação. O racismo é perpetuado diariamente em diversos espaços, é um comportamento negativo praticado na Tendo em vista tal objetivo, surgem as seguintes indagações, a saber: Como os/as professores/as de sociedade e também nos espaços educacionais. Ao mencionarmos o espaço escolar, nos referimos as atitudes e línguas tem se formado para trabalhar com as diretrizes e quais os desafios encontrados?Como estes/as discursos discriminatórios, racistas adotados pela comunidade escolar e também presentes nos livros didáticos, professores/as pensam currículo e quais concepções de currículo são adotadas por eles/as? Houve movimentos discursos estes que muitas vezes são propagados em decorrência da herança histórica da nossa formação curriculares pós lei 10.639/2003 e quais foram estes movimentos? Quais as mudanças ocorridas no Projeto cultural de influencia eurocêntrica. Isso tem reflexos no meio educacional e compromete de forma significativa Político Pedagógico – PPP? Buscando respostas para tais indagações, apresenta-se como hipótese: Seria o a educação escolar, sendo necessário um efetivo compromisso de toda a comunidade educacional para currículo em movimento para as relações étnico-raciais em educação um campo de potências de afirmação da promover um ensino que trabalhe a história e a realidade de forma contextualizada. diferença e empoderamento político-cultural afro-descendente? Combater o racismo, o preconceito e a discriminação racial e social não é uma tarefa fácil, muitos/as Através de pesquisa colaborativa com perfil etnográfico, que tem uma inclinação para o que Roberto professores/as não sabem como proceder, revelando assim a importância da formação adequada. É necessário Sidnei Macedo (2000) chama de endo-etnografia, utilizando questionários, entrevistas semí-estruturadas, diário que haja uma (re)significação no campo educacional, onde possa ser oferecida uma educação sem de itinerância e grupos de discussões, o estudo esta em desenvolvimento nas duas principais escolas da rede discriminação, que promova a igualdade racial, não seria uma educação com viés unitário para a promoção da pública estadual de ensino da cidade de Guanambi-BA. Ambas as unidades acolhem clientela variada, auto-estima a crianças negras. O objetivo não é o negro, apenas, e sim a sociedade brasileira. Em sala de aula o geralmente oriunda de escolas públicas, compõe o corpus da pesquisa o grupo de professores/as com formação foco volta-se para o tipo de relações que se estabelecem na escola entre crianças negras e não negras. É preciso em línguas. Assim, ao delimitar a pesquisa para a formação de professores/as de línguas, estamos direcionado o superar a forma de como o negro tem sido representando, porque quando se trabalha história e cultura afro- estudo para o eixo 2 (Política de formação para gestores e profissionais de educação) das Diretrizes brasileira não se pode falar da história do negro no Brasil separada da história do Brasil. A história e cultura Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura afro-brasileira é uma história do Brasil com a população negra, em lugar de destaque, já que esta deu Afro-Brasileira e Africana. significativa contribuição na formação do nosso país. Teoricamente respaldado nos estudos culturais e na linguística aplicada indisciplinar como resultado da pesquisa, intenta-se apresentar considerações sobre o racismo, preconceito e discriminação, conceitos e REFERÊNCIAS posturas que se constituíram em estereótipos que ajudaram a perpetuar os processos de exclusão desencadeados no Brasil e alimentado de diversas formas na atualidade; Discutir sobre as concepções de currículo pós-colonial BRASIL. Secretaria de Ensino Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Pluralidade Cultural e Orientação Sexual, temas transversais, Volume 10. Brasília: SEF, 2000. BRASIL. Lei nº. 10.639 de 09 de janeiro de 2003. Inclui a obrigatoriedade da temática “História e Cultura 168 169 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. Afro-Brasileira” no currículo oficial da rede de ensino. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10.01.2003. BRASIL. Diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Brasília: MEC-SECAD/SEPPIR /INEP, 2004. BRASIL. Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-raciais. Brasília. Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. MEC-SECAD, 2006. BRASIL. Plano Nacional de Implementação das diretrizes curriculares nacionais para educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afrobrasileira e africana. Secretaria especial de Políticas de Promoção da Igualdade racial. Subsecretaria de políticas de Ações afirmativas. Brasília: MEC, 2009. MACEDO, Roberto Sidnei. A etnopesquisa crítica e multirreferenciada nas ciências humanas e na educação. Salvador: EDUFBA, 2000. MOREIRA, Antônio Flavio; SILVA, Tomaz Tadeu da (Orgs.). Territórios Contestados: o currículo e os novos mapas políticos e culturais. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. MUNANGA, Kabengele. Negritude: usos e sentidos. São Paulo: Ática, 1998. MUNANGA, Kabengele (org.). Superando o Racismo na Escola. 2 ed. revisada. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. SANTOS, Hélio. Discriminação racial no Brasil. In: SABÓIA, Gilberto Vergne; GUIMARÃES, Samuel Pinheiro (Orgs). Anais de seminários regionais Alguns termos e conceitos presentes no debate sobre relações raciais no Brasil: uma breve discussão preparatórios para a conferência mundial contra o racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata. Brasília: Ministério da Justiça, 2001. STEPHANOU, Maria. Currículo de História: Instaurando maneiras de ser, conhecer e interpretar. São Paulo: Revista Brasileira de História V. 18 Nº 36, 1998 p. 15 – 38. vários âmbitos, entre eles, na escola, onde um primeiro efeito deste processo é o desempenho escolar diferenciado, em que a cor aparece como um indicador importante. Assim, a primeira década do século XXI pode ser considerada um marco de uma mudança fundamental na percepção de quem somos nós, os brasileiros, conforme discute Silvério e Trindade (2011). Os autores explicam que a mestiçagem e a miscigenação, realmente existentes, têm sido deslocadas de seu sentido anterior - no qual pouca ou nenhuma importância era conferida às origens ancestrais de muitos - para um reconhecimento de sua centralidade no processo de estigmatização ou mobilidade social de um grupo. Dessa forma, o imaginário social que conferia à mestiçagem o estatuto prioritário de nomeação de boa parte dos brasileiros, encobrindo suas origens, tem dado lugar, por exemplo, aos prefixos afro, euro, etc. Gomes (2005) e Silvério (2002) afirmam que a adoção de políticas de enfrentamento dos preconceitos e ideologias que legitimam e sustentam as práticas racistas devem ser desenvolvidas dentro do sistema educacional e junto aos meios de comunicação, uma vez que, para sua efetividade, é imprescindível considerar tanto o aspecto cultural que determina o ingresso de certas práticas no imaginário coletivo, banalizando-as e dissimulando-as no cotidiano, quanto os efeitos atuais da discriminação passada. Assim, visando à concretização de ações voltadas à superação das desigualdades raciais entre negros e brancos, institui-se as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (que aqui denominaremos DCNERER) contidas no Parecer 003/2004, que regulamenta a alteração trazida pela Lei nº 10.639/2003 à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394, de 1996, nos seus artigos 26A e 79B, posteriormente alterada pela Lei nº 11.645 de 2008, que torna obrigatório no ensino fundamental e médio, nas escolas brasileiras públicas e particulares, o estudo da História e Cultura Afro-brasileira e Indígena. Tais normativas reiteram a função da escola de promover o respeito e a valorização da diversidade brasileira. Essa dimensão da diversidade pretende contribuir com a formação de uma identidade positiva àquelas pessoas que antes eram definidas de forma racializada pela inferiorização ou negação de suas histórias, suas culturas, seus conhecimentos e formas de conhecer, suas línguas, medicinas e religiões. Neste sentido, ao estabelecer-se a escola como local privilegiado para forjarmos alterações em nossa realidade social, devemos contribuir com a formação dos/as professores/as e todos os profissionais da educação na perspectiva de uma pedagogia que compreenda, reconheça e valorize as diferenças e enfrente o racismo e os efeitos que ele provoca, porque o reconhecimento da existência do racismo é fundamental para a compreensão de como são articulados os mecanismos que operam a reprodução das desigualdades raciais no Brasil (SILVA, 2004; SOUZA; CROSO, 2007, p. 17). A pluralidade cultural é um dos temas transversais sugeridos por esse material, que representou, à época, uma tentativa de evidenciar as diferenças culturais e raciais, com a perspectiva de integrá-las ao currículo, dialogando com as antigas reivindicações do movimento negro. O desafio de uma proposta de educação plural é conseguir incorporar com êxito as diferenças e diversidades. Tendo esse desafio como horizonte, varias iniciativas de formação docente para as relações étnico-raciais passaram a acontecer em diferentes munícipios brasileiros. Observamos formações de natureza bastante distinta que variam tanto em seus objetivos, no desenho de suas propostas pedagógicas, quanto em sua duração ou modalidade da formação. O curso de especialização em Educação para as Relações Étnico-Raciais, sob coordenação geral do professor Valter Riberto Silvério, pretendeu constituir-se em instrumento de formação continuada para que gestoras/es e educadoras/es pudessem atender às alterações à LDB nº. 9.394/1996 determinadas pela Lei nº. 11.645/08, sobretudo, as determinadas pela Lei 10.639/2003, incluindo nos projetos político-pedagógicos e nos currículos das escolas a temática da história e cultura afro-brasileira e indígenas, numa prática educativa, de fato, anti-racista, na perspectiva de Munanga (1996). CURRÍCULO E FORMAÇÃO DOCENTE EM UMA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS A DISTANCIA ERICA APARECIDA KAWAKAMI JACQUELINE DA SILVA COSTA THAIS FERNANDA LEITE MADEIRA ALONSO BATISTA DOS SANTOS DIONÍSIO DA SILVA PIMENTA 1. EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NO BRASIL A experiência do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros (Neab) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) com o curso de especialização em Educação para as Relações Étnico-Raciais, na modalidade a distância, objeto da discussão proposta neste artigo pretende contribuir para o debate sobre o potencial da educação a distancia na formação docente nessa temática, introduzir nesse debate elementos que nos permitem refletir sobre questões relativas ao currículo, entendido como prática social que mobiliza, circula e tensiona significados no espaço social e que contribuem, intensamente, para a construção de identidades sociais e culturais, na perspectiva de Moreira e Candau (2007). A abertura política ocorrida no país a partir das duas últimas décadas do século XX trouxe no seu bojo um conjunto de manifestações de segmentos sociais que não se sentiam contemplados nas políticas públicas em diversas esferas da vida social. Uma das evidências desse descontentamento foi a emergência de inúmeros movimentos reivindicatórios dos quais vale destacar o Movimento Negro e o Movimento de Mulheres. Negros e mulheres passaram a expressar reivindicações no sentido de coibir o tratamento discriminatório que recebem no seu cotidiano relacional. Essas manifestações contribuíram para dar visibilidade aos processos de discriminação que ocorrem em 170 2. NEAB/UFSCAR E A FORMAÇÃO PARA (RE)EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO171 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. RACIAIS Neste item, pretendemos apresentar e discutir os principais aspectos que caracterizaram a experiência do curso proposto pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal de São Carlos (Neab/UFSCar). Apenas para efeitos de organização do texto, apresentamos cada aspecto separadamente, embora todos eles estivessem fortemente imbricados uns nos outros. a) Objetivos O curso elaborado e implementado pelo Neab da UFSCar teve a pretensão de contribuir para que uma nova gramática das relações étnico-raciais pudesse ser forjada no país. Ofertado na modalidade a distância, o curso promoveu a formação de professores e gestores da educação básica, especialmente da educação infantil e fundamental, para que pudessem compreender os temas das relações étnico-raciais e introduzi-los transversalmente na prática pedagógica das escolas. Buscou-se possibilitar o contato dos cursistas com novos temas e problemas que estão na base das lutas sociais do passado e do presente e propiciar-lhes um conjunto de novas possibilidades de tratamento de questões que atravessam seu cotidiano no interior da escola, além de permitir tanto uma visão da origem e dos sentidos das mudanças sociais em curso quanto da forma como as transformações passaram a ser vivenciadas pelos brasileiros contemporaneamente. Assentado na modalidade a distância, o curso pretendeu, portanto, levar os educadores do ensino básico a refletirem criticamente sobre a necessidade de construção de relações étnico-raciais pautadas no anti-racismo, no direito à diferença, no reconhecimento e no respeito à diversidade étnico-racial e sobre o papel da educação, consequentemente, o papel dos professores nesse processo. Como um objetivo paralelo aos demais, além de adequar o material didático elaborado pelos professores-conteudistas para este curso, foi produzida uma coletânea de textos referentes aos conteúdos trabalhados no curso para que pudesse subsidiar tanto pesquisas, quanto reflexões acerca das práticas docentes nesse campo de atuação. O curso foi realizado por meio da realização de 14 módulos ou disciplinas, com carga horária de 20 a 30 horas cada um, e duração total 380 horas, estendendo-se por 18 meses. Os períodos de férias e o tempo destinado à elaboração e defesa presencial da monografia como trabalho de conclusão de curso não foram computados na carga horária total do curso. Nessa modalidade, promovíamos um encontro presencial ao mês, sempre aos sábados, no período diurno, e no polo escolhido no ato de inscrição. Como o curso foi ofertado na modalidade semipresencial, os encontros mensais foram obrigatórios e destinavam-se às atividades presenciais, como avaliações, seminários, aulas e conferências, dentre outras. c) O desenho do curso Além da equipe da Secretaria de Educação a Distancia da UFSCar, que hospeda os cursos na modalidade a distancia e coordena as atividades dos profissionais na plataforma virtual, o curso contou com o trabalho de três coordenadores (um coordenador geral, uma adjunta e uma pedagógica), uma profissional de apoio técnico, uma secretária e uma supervisora de tutores. Buscou-se trabalhar num modelo de gestão compartilhada e horizontalizada, com reuniões semanais presenciais, inclusive com a formação presencial dos tutores presenciais e virtuais para atuação em cada um dos módulos, o que acontecia em geral bimestralmente. Os quatorze módulos do curso, foram definidos em função de experiências anteriores do Neab com a formação nessa temática, em cursos de menor duração e distintos objetivos. Além disso, a orientação metodológica do curso procurou observar as recomendações sistematizadas pela equipe que conduziu uma consulta a quinze escolas municipais de São Paulo, Salvador e Belo Horizonte, nas duas primeiras etapas da educação básica, a respeito dessa questão central: Quais são as possibilidades e os desafios que os espaços escolares oferecem para acolher a implementação da Lei nº 10.639/2003? (SOUZA; CROSO, 2007). A proposta inicial do curso em relação à definição das disciplinas era a de oferecer oportunidade para que os cursistas pudessem ter uma ampla visão da temática, a partir de diferentes eixos. O que de certa forma foi possível, mas ao término da primeira edição avaliamos, em consonância com o que discute Kawakami (2014), a necessidade de se definir núcleos de formação em que um eixo comum a um grupo de disciplinas pudesse articulá-las. Esses núcleos de formação permitiriam agrupar os módulos em torno de subtemáticas como: expressões do racismo no Brasil – mídia, discursos representações; DCNERER no contexto das lutas históricas do Movimento Negro; reconhecimento das diferenças culturais; relações étnico-raciais no Brasil; África nos currículos escolares; ERER na perspectiva dos Direitos Humanos e outros. b) Os educandos O curso disponibilizou inicialmente 495 vagas para educadores (professores e gestores) da rede municipal de Educação Básica de todo o Estado de São Paulo, sendo que a matrícula inicial no curso foi de 420 cursistas. A caracterização dos cursistas a partir da análise dos dados referentes à faixa etária, sexo, autodeclaração étnico-racial, formação e atuação dos cursistas mostraram que a maior parte (46%) possuía entre 32 a 39 anos de idade, majoritariamente do sexo feminino (88%) e autodeclarados brancos. A maior parte dos cursistas tinha formação na área de Pedagogia, com alguma pós-graduação Lato Sensu e atuavam principalmente no Ensino Fundamental e Educação Infantil. Ou seja, o curso contou em sua maioria com educandas jovens, mulheres, brancas, com até dez anos de atuação docente. Os dados levantados junto aos cursistas indicaram ainda que 47% já havia tido contato com a temática da Educação para as Relações Étnico-Raciais, enquanto 51% dos cursistas não. Possivelmente, em função dos trabalhos que já vêm sendo desenvolvidos na região de São Carlos em torno da temática, ainda no início dos anos 2000. Em relação à formação em curso na modalidade a distância, 54% dos cursistas afirmaram que já haviam participado de algum curso nessa modalidade, enquanto 30% responderam negativamente. 172 d) Práticas pedagógicas de formação docente O curso foi desenhado tendo em vista as concepções de formação de professores sugeridas por Cole & Knowles (1993), Garcia (1992), Mizukami (2004) e Mizukami et al (2002) os quais compreendem que a docência é aprendida e, portanto, não é um dom. Nessa perspectiva, ela é concebida como um processo contínuo, ao longo de toda a trajetória do sujeito, desde que ingressa na educação básica como estudante, passando pela formação inicial nos cursos de licenciatura, em seus primeiros anos de atuação docente e continuadamente nas diferentes etapas de sua carreira profissional. Nesse sentido, os conhecimentos apropriados pelos docentes ao longo de sua trajetória, articulados a suas crenças e valores, constituem sua base de conhecimento para o ensino, de acordo com Shulman (1987). Segundo este autor, essa base de conhecimentos é permanentemente reelaborada e constituída, além dos conhecimentos de conteúdo específico, de conteúdo pedagógico e de conhecimentos pedagógicos do conteúdo, em função dos conhecimentos sobre os estudantes e dos conhecimentos do contexto educativo. Insistiu-se também numa formação profissional comprometida também com a concepção de aprendizagem da docência definida por Cochran-Smith e Lytle (1999), como “conhecimento da prática”, onde teoria e prática não são desvinculadas, uma vez que os educadores passam a investigar a própria prática e produzirem conhecimento local “de” prática, portanto, sistematizando e teorizando, a partir do contexto sociocultural e político em que desenvolvem suas atividades de ensino. O curso foi delineado, também, de modo a privilegiar o diálogo e a cooperação entre os cursistas, metodologia definida como aprendizagem colaborativa por meio da qual “os estudantes ajudam-se no processo de aprendizagem, atuando como parceiros entre si e com o professor, com o objetivo de adquirir conhecimento sobre um dado objeto” (CAMPOS, 2003, p. 27). Nesse modelo, a qualidade da comunicação estabelecida entre os cursistas é fundamental para assegurar a qualidade do processo educativo como um todo, tendo impacto positivo inclusive na permanência dos cursistas. 173 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. Desse modo, pretendeu-se que o processo de ensino no decorrer do curso estivesse fundamentado na problematização de situações cotidianas e do contexto escolar, reflexão crítica sobre a prática docente, sobre as relações entre as pessoas e sobre os conceitos apresentados e discutidos em cada módulo, bem como no diálogo e debate aberto e plural entre os cursistas a respeito de suas reflexões, seus questionamentos, posicionamentos, conhecimentos construídos e suas vivências, para que se tornasse possível o exame das próprias convicções e práticas, a desestabilização dos discursos hegemonicamente estabelecidos e a construção de novas relações pautadas no reconhecimento às diferenças e no respeito à diversidade étnico-racial, ou seja, a reeducação das relações étnico-raciais. Sabemos que a formação na modalidade a distância exige a aprendizagem autônoma. Portanto, esperávamos que os cursistas se investissem de um repertório que lhes permitisse interagir, colaborar e orientar seus processos de aprendizagem. Contudo, para que efetivamente essa aprendizagem autônoma possa ser verificada é preciso que as ações pedagógicas do curso sejam planejadas considerando mais fortemente a incorporação de atividades práticas, contextualizadas e relacionadas às experiências na escola, tais como análises de casos de ensino; uma distribuição mais adequada da carga horária para as diferentes disciplinas, para que cada leitura recomendada e experiências pedagógicas implementadas possam ser analisadas, discutidas coletivamente e avaliadas, o que nem sempre foi possível. As ferramentas hospedadas em suportes virtuais (especialmente no ambiente virtual de aprendizagem) devem ser de fácil manuseio, compreensão e acesso. O ambiente virtual deve ser, de fato, bastante dinâmico, atrativo e interativo. O enrijecimento das ferramentas virtuais pode ter consequências comprometedoras em relação ao aproveitamento do tempo por parte dos cursistas e por parte da equipe docente, levando a interrupções das atividades ou à realização da mesma atividade mais de uma vez. Dificuldades constantes de acesso á plataforma e morosidade no atendimento dessas dificuldades por parte da equipe de apoio técnico pode ser um dos fatores que levaram à evasão dos cursistas, mais fortemente observada no início do curso, quando os cursistas não tinham familiaridade com a plataforma Moodle, muitas vezes, nem mesmo com as ferramentas básicas de edição de texto ou para navegação na internet. De fato, embora praticamente todos os cursistas possuíssem computador, 51% deles precisaram de auxílio para trabalhar com o equipamento. Para que os objetivos do curso possam ser alcançados, portanto, não só os docentes do curso, mas também projetistas educacionais ou designers instrucionais - os quais vão mediar a relação de ensino e de aprendizagem por meio dos programas computacionais, ambiente virtual de aprendizagem, recursos de internet, programas computacionais, mídias audiovisuais e impressas - devem ter conhecimento e compreensão dos objetivos do curso. e) O ambiente virtual O curso ERER foi realizado em ambiente virtual de aprendizagem, por meio da interface Moodle, um ambiente virtual colaborativo de ensino. Através das suas ferramentas, os cursistas tiveram acesso aos conteúdos dos módulos e puderam interagir com os demais cursistas, professores, tutores, coordenação e demais integrantes do curso. As ferramentas disponibilizadas na plataforma virtual, bem como os recursos didáticos por si só são incapazes de garantir a formação almejada. Para assegurar que os objetivos do curso possam ser alcançados é necessária a participação de uma equipe multidisciplinar, na qual se destaca o papel fundamental do designer instrucional/educacional, responsável por planejar, projetar e materializar no ambiente virtual os objetivos do curso. A intimidade da atuação desse profissional com os objetivos do curso, portanto, é fundamental para que ele, juntamente com a equipe de coordenação do curso, possa “desenhar”, ou melhor, dar vida a esses objetivos ou às atividades planejadas na plataforma, transformando os mapas de atividades dos módulos em ferramentas e atividades que dinamizem e enriqueçam o processo de aprendizagem. A partir de nossa experiência constatamos que, ao longo do curso os fóruns se tornaram uma importante ferramenta de interação, entendimento e socialização dos conteúdos e temáticas propostas. O acompanhamento dos cursistas nos fóruns contribuiu para o encaminhamento de suas questões e possibilitou também um maior contato da coordenação e do corpo docente com as dificuldades vivenciadas pelos cursistas no decorrer do curso, ainda assim a participação dos cursistas não tem sido suficiente, indicando ou a dificuldade de participação em atividades síncronas, ou a necessidade de orientá-los mais adequadamente sobre a importância e função desse espaço, por exemplo, discutindo previamente os objetivos de cada fórum, apresentando a temática que será abordada, sugerindo nos fóruns diferentes recursos. Para isso, é fundamental que também os tutores participem ativamente dos fóruns, o que nem sempre observamos em cursos nessa modalidade. a) Trabalhos individuais e em grupo A formação nessa temática exige a construção de espaços de reflexão e discussão coletivas, para que diferentes perspectivas, representações de alteridade e discursos possam emergir, possam ser reelaborados, deslocados ou descontruídos, conforme sugere diferentes trabalhos, dentre os quais o de Kawakami (2014). Assim, é fundamental o investimento em atividades compartilhadas, seja de análise de textos, elaboração dialogada de planos de aula, de textos, construção de projetos para o aprofundamento da compreensão de determinados conteúdos ou temáticas, conforme analisa a autora. f) O material didático A elaboração do material didático utilizado no curso levou em conta que a sua construção deveria depender da capacidade de conhecer melhor a realidade na qual viviam os educandos e a recusa em qualquer tipo de solução 'empacotada' ou pré-fabricada; recusa a qualquer tipo de “invasão cultural, clara ou manhosamente escondida” (FREIRE, 1985). Por isso, os textos indicados ao longo do curso, assim como o material didático elaborado pelos professores funcionaram como um guia de estudo, para orientar e fundamentar as questões propostas pelos professores. Os principais recursos utilizados no curso foram: material didático virtual e impresso - sendo que cada módulo possuía um ambiente virtual; hipertextos; textos e material audiovisual. O material didático do curso foi composto de um livro (em dois volumes), contendo o texto base dos módulos do curso, com imagens, boxes explicativos, uma seção denominada Para saber mais, com indicação de sites, livros, filmes, músicas e documentários e, também, ao final do livro, um glossário. As sugestões de atividades para sala de aula foram feitas no ambiente virtual de aprendizagem do curso, ao longo das unidades ou ao final de cada módulo. A experiência com o curso de especialização ERER em EaD mostrou que o material didático, quando intensamente discutido e apropriado por toda a equipe de docentes e coordenadores, resulta em atividades menos fragmentadas, mais coesas e permitem que um professor mencione ou recupere conteúdos anteriormente abordados novamente, sob uma outra perspectiva ou não. Por isso, destacamos que cursos dessa natureza devem considerar o fato de que todos os materiais sejam elaborados ou reelaborados pelos próprios professoresformadores. A produção do material didático de forma orgânica, ou seja, de dentro do curso para fora, a partir das experiências dos próprios formadores, favorece a adequação da linguagem do material ao leitor, e a inserção de uma série de recursos que ao longo do curso vão sendo solicitados pelos próprios cursistas. Trata-se de um material dinâmico, que vai se enrobustecendo ao longo do curso, como discute Kawakami (2014). O material impresso do curso, na forma do livro em dois volumes, não contemplou essas recomendações ou observações, mas apenas os materiais disponibilizados no ambiente virtual do curso, os quais permitiram modificações mais intensas e continuamente. 174 175 g) Papel dos docentes Os professores do curso respondem pela condução pedagógica das atividades vinculadas aos módulos, orientação dos trabalhos de conclusão do curso e planejamento do ambiente virtual de aprendizagem, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. elaborando material didático, orientando os tutores e responsabilizando-se pelo processo de avaliação da aprendizagem. Contamos, ainda, que os professores tivessem disponibilidade para atender as necessidades dos estudantes, via tutores virtuais e que pudessem acompanhar e avaliar, sempre que necessário, os trabalhos realizados pelos tutores virtuais. Os tutores, por sua vez, promoveram o contato entre professores e estudantes, além de acompanharem, orientarem e supervisionarem os trabalhos e a participação dos estudantes nas atividades propostas. Os tutores presenciais ficaram à disposição dos estudantes nos Polos de apoio presencial, em dias e horários previamente estabelecidos e informados aos estudantes, para orientá-los em seu processo de aprendizagem, auxiliando-os em questões específicas relacionadas aos conteúdos dos módulos, à navegação no ambiente virtual de aprendizagem e utilização das ferramentas e realização das atividades propostas, entre outras, embora a presença dos cursistas nos Polos, em cursos de especialização, acabe restrita aos momentos de atividades presenciais, avaliativas ou não. Uma das propostas centrais de atuação dos tutores virtuais foi a de que estabelecessem diálogos com os cursistas e os auxiliassem na busca de informações. Os tutores deveriam incentivá-los a se questionarem enquanto docentes e a relacionarem aquelas informações criticamente às suas reflexões, à sua prática docente e às suas aprendizagens para a reelaboração de novos conhecimentos e novas relações. Tutores presenciais e virtuais são elemento central no processo educacional, mas sua importância não está refletida no valor de setecentos e sessenta e cinco reais da bolsa mensal atribuída para uma carga horária de, no mínimo, 20 horas semanais de atuação. No processo seletivo desses tutores é preciso garantir que tenham experiência na temática do curso, para assegurar a formação a partir dos objetivos do curso. É o exercício da experiência na temática, o conhecimento do Projeto Pedagógico do curso, de sua organização, estrutura e funcionamento, bem como o estudo sistemático do material didático dos módulos e a avaliação de suas intervenções no ambiente de ensino virtual que garantirá a qualidade do trabalho dos tutores e uma atuação significativa para a aprendizagem do estudante. Acreditamos que cabe também, nesse momento, a reflexão trazida por Kawakami (2014) a respeito da importância dos feedbacks dos tutores sobre as produções dos cursistas: As observações mais gerais sobre a atividade realizada pelo estudante são fundamentais e elas devem, ao mesmo tempo, indicar o que precisa ser aprimorado e as possibilidades de avanços. Essas observações podem incluir questões que levem o estudante a refletir sobre o seu próprio texto, contribuindo para o desenvolvimento de sua autonomia para aprender também. À medida que o cursista avança, e é incentivado para isso, pode-se fortalecer a confiança do estudante em sua própria capacidade de aprender e superar dificuldades. Para isso, ressaltar os aspectos positivos é importante, não apenas indicando tais aspectos, mas tecendo comentários críticos a respeito deles e propondo questões norteadoras. Quando o processo de construção do conhecimento é mediado por alguém que nos apoia e nos incentiva, nossa aprendizagem tende a ser potencializada. Nesse sentido, os cuidados com a linguagem utilizada, com o tom por meio do qual nos expressamos, com as formulações que utilizamos, com as indagações e as propostas que fazemos e como fazemos precisam estar sempre presentes no trabalho de elaboração do feedback. O tempo que levamos para dar o retorno aos estudantes é igualmente muito importante porque se as orientações tardam a chegar, o feedback perde sua função; não está mais num contexto de diálogo com a produção do estudante. h) Processo de avaliação A concepção de avaliação que orientou as práticas pedagógicas no curso foi a de que se avalia para replanejar o processo de ensino, para formar a partir dos avanços já conquistados. No caso específico da avaliação formativa, ao longo do processo de ensino, suas funções podem se desdobrar em esclarecer o professor sobre lacunas e dificuldades de aprendizagem do estudante, permitir uma readequação didática, orientar o sujeito que aprende, oferecendo-lhe segurança, facilitar mais diretamente sua aprendizagem, corrigindo seus erros e criando condições de diálogo, explica Kawakami (2014). E o propósito da avaliação é sempre dependente do contexto de ensino, da significação do processo de ensinar e, portanto, dos objetivos de ensino. A autora, apoiando-se em Hadji (2005), diz que avaliar exige que se saiba exatamente o que se quer saber ao avaliar, que se tome consciência do contexto de decisão, que se especifique o objeto preciso da avaliação, retomando os objetivos de ensino, que se cuide da instrumentação adequada e que se pense e pratique os encaminhamentos necessários. No caso da avaliação formativa é a intenção dominante do avaliador que a torna formativa, juntamente com sua utilização em virtude de favorecer o desenvolvimento do educando, na medida em que informa tanto o professor quanto o estudante, o primeiro sobre o alcance de sua prática pedagógica, associada à revisão da mesma e o segundo sobre suas dificuldades, avanços e potencialidades (KAWAKAMI, 2014). Por considerarmos, junto com a autora, a avaliação como um processo de coleta de dados para a emissão de juízo de valor com a finalidade de tomar decisões sobre a aprendizagem dos estudantes e das estratégias pedagógicas adotadas, o processo avaliativo aconteceu ao longo de cada módulo e não somente no seu final ou ainda no final do curso. Por considerarmos, também, as diversas formas pelas quais é possível construir, elaborar e aprimorar conhecimentos, o processo avaliativo, com fins de formação, valeu-se de diversos instrumentos de avaliação que possibilitaram compreender o que e como os estudantes estavam aprendendo, por meio da observação de sua participação nas atividades propostas no ambiente virtual de aprendizagem (fóruns, tarefas, fóruns, diário, wikis) e nas atividades avaliativas presenciais. No decorrer de cada módulo, se o cursista não estivesse atingindo os resultados esperados, era orientado a retomar os estudos e refazer as atividades ou realizar atividades equivalentes (que denominamos atividades virtuais de recuperação paralela), de mesmo objetivo e conteúdo. As atividades avaliativas presenciais eram coordenadas pelos tutores presenciais e tinham caráter reflexivo, além de constituírem em oportunidade para se verificar apreensão de conceitos trabalhados no módulo e verificar também a forma como os professores os relacionavam às suas práticas docentes. Assim, solicitou-se como proposta avaliativa a elaboração de plano de aula, de atividade, descrição de intervenção em situação de sala de aula, análise de casos de ensino, comentários, análise de vídeo-documentário, síntese coletiva de textos, entre outras. Para as monografias de conclusão de curso, exigiu-se o trabalho individual dos cursistas, ao longo do curso, não contabilizando essas horas nas demais horas do curso. A defesa da monografia foi realizada presencial e individual. Para o trabalho de orientação das monografias, foram contratados 51 professores com titulação mínima de mestre. O processo de orientação também esteve suportado no ambiente virtual de aprendizagem, o qual contribuiu para aproximar e favorecer a troca de experiências entre cursistas acerca do processo de elaboração do trabalho final e também se constituiu em espaço de discussão e encaminhamento das questões trazidas pelos cursistas. O único encontro presencial de orientação das monografias entre orientador e cursistas, mostrou a relevância desse momento, pois permitiu que os orientadores conhecessem as demandas e questionamentos de cada um de seus orientandos e conversassem com eles sobre as possiblidades que teriam de encaminhar os seus trabalhos, de acordo com os objetivos e interesses de cada um. O encontro também propiciou, em muitos casos, o estabelecimento de uma relação de compromisso, parceria e comprometimento entre orientadores e orientandos. Segundo avaliação dos orientadores, foi possível identificar nesse momento que embora os cursistas, de modo geral, apresentassem domínio das questões étnico-raciais, seria necessário trabalhar mais fortemente questões relativas à metodologia de pesquisa e a escrita do texto acadêmico. Dos 247 trabalhos apresentados, 29 não obtiveram a nota mínima para aprovação, de modo que foram 176 177 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. encaminhados para reformulação, acompanhados de orientação. Dentre os trabalhos finais, 27 foram selecionados para Menção Honrosa devido à qualidade e importância que representam para a temática da Educação para as Relações Étnico-Raciais. Observamos que muitos dos conhecimentos e reflexões construídos pelos cursistas estiveram sistematizados nos seus trabalhos de conclusão de curso e em suas participações nos fóruns de discussão e aprendizagem. vinculação por pelo menos 18 meses, sejam assumidas com bastante dificuldade. Como sugestão geral dos cursistas para a melhoria do curso, mencionamos a intensificação da comunicação entre toda a equipe gestora e docente do curso com os cursistas, investindo, sobretudo na agilidade dos processos. Para garantir agilidade e materialização dos objetivos do curso nas ferramentas da plataforma onde o curso estará hospedado, é imprescindível o trabalho coletivo, prevendo-se encontros periódicos para garantir o entendimento comum dos objetivos e propostas do curso e de cada um dos módulos. De modo geral, o curso foi bem avaliado pelos cursistas. Parte significativa dos concluintes, em processo avaliativo desencadeado pela equipe de coordenação, declarou sentir-se segura quanto à apreensão dos conteúdos trabalhados no curso e percebeu o impacto positivo que o curso teve em sua formação como educadores, alterando a percepção que tinham das relações étnico-raciais, des-invisibilizando temas como o racismo e a produção de estereótipos dentro e fora da escola e, portanto, fomentando alterações em sua prática educativa e na vida pessoal. Mas, alertaram que a implementação da Lei 10.639/2003 esbarra na falta de conhecimento (ou rejeição) das pessoas que participam da vida na escola, na falta de apoio dos gestores escolares, na resistência de parte do corpo docente e na falta de material didático adequado. Alerta que deve ser de fato considerado para a efetividade não só de cursos de formação na temática, mas de qualquer política ou medida que pretenda subsidiar a implementação das Diretrizes nos espaços escolares. Fica um desafio para o Ministério da Educação, para as universidades, para os Neabs e para as escolas de que propostas de formação sobre a temática das relações étnico-raciais tenham continuidade e desdobramentos como a criação de um programa permanente de formação no formato de especialização, mestrado e doutorado. 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS Podemos afirmar, finalmente, que o curso foi realizado e concluído com êxito, tendo em vista os impactos observados na formação dos cursistas, ao longo dos módulos e ao longo desses dois anos. Acreditamos que cursos dessa natureza podem contribuir para o atendimento dos objetivos propostos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. A conclusão do curso de especialização ERER estimulou boa parte dos cursistas a planejarem a continuidade da formação, sobretudo por meio de formação em nível de mestrado. Do total de cursistas concluintes, 79% afirmaram interesse em continuar a formação ou investigação no campo das relações étnicoraciais. Na modalidade a distancia, esse tipo de formação, como aponta Kawakami (2014), tende a ganhar em alcance e extensão, ao permitir que seja oferecida a cursistas de diferentes localidades ao mesmo tempo, favorecendo o compartilhamento de experiências e de conhecimentos e ampliando a acessibilidade, o que permitiu sua oferta de modo absolutamente gratuito aos quase 500 cursistas que deram início ao curso em sua primeira edição. A significativa procura pelo curso de especialização reflete a importância do título de especialista na vida profissional, contribuindo, por exemplo, com a evolução funcional, aumento de salário e aumento na carga horária atribuída aos educadores. Cursos dessa natureza nessa temática estão em expansão em todo o país, o que requer que as experiências sejam, ao mesmo tempo, compartilhadas e avaliadas contínua e sistematicamente, sobretudo, para se avaliar os seus alcances e indicar os aspectos que devem sofrer reformulações. Recomendamos, portanto, que como incentivo à produção de conhecimento, as experiências exitosas sejam em algum momento compartilhadas, dialogadas e registradas em fóruns/espaços de âmbito nacional, estadual e/ou municipal. Mas, aqui retomamos um aspecto que merece ser cuidadosamente acompanhado pela equipe de coordenação de cursos de especialização dessa natureza, ou seja, nessa temática e nessa modalidade a distancia é a evasão de curso. Embora o ERER tenha tido uma taxa de evasão menor que outros cursos semelhantes, essa taxa ainda foi preocupante por considerarmos a relevância desse tipo de formação e o investimento pessoal e profissional realizado pelo cursista para dar início a esse tipo de formação e o que pode significar a sua não conclusão. Além disso, a evasão de curso gera vagas ociosas que não podem ser preenchidas posteriormente. Em levantamento que realizamos ao longo do curso, identificamos diferentes razões para a evasão dos cursistas e o fator mais referido teve relação com questões familiares de comprometimento da saúde física e psíquica, seguido de referência a fatores como a perda do emprego ou mudança de cidade. Além disso, alguns cursistas apontaram para a dificuldade de realizarem as atividades no formato EaD, fosse pela falta de tempo ou pela inexperiência em lidar com ferramentas próprias da Educação a Distancia. Acreditamos, porém, que a evasão de curso pode estar mais fortemente associada a aspectos internos ao próprio curso, que tem a ver com as intervenções das equipes de coordenação e docente. Dependendo da qualidade dessas intervenções, é possível que as taxas de evasão possam ser minimizadas, na esteira do que analisa Kawakami (2014). Acreditamos também, junto com essa autora, que a concepção equivocada de cursos em EaD como cursos que exigem menos leitura, menos dedicação e menos comprometimento, como uma formação de “segunda categoria” para utilizarmos a expressão que aparece em Neves et al (2012), para alguns cursistas, faça com que as exigências posteriores do curso, por meio de uma carga horária intensa e atividades densas, que requerem 178 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BARAÑANO et.all, Dicionário de relaciones interculturales: diversidad y globalización. Madri: Editorial Complutense, 2007. CAMPOS, F. C. A. et ali. Cooperação e aprendizagem online. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2003, p. 27. COCHRAN-SMITH, M., & Lytle, S. (1999). Relationships of knowledge and practice: Teacher learning in community. In the series, Review of Research in Education, 24, 249-305. Washington, DC: American Educational Research Association. COLE, A. L.; KNOWLES, J.G. Teacher development partnership research: a focus on methods and issues. American Educational Research Journal, n.30, v.3, p. 473-495, 1993. FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. GARCIA, M. C. La formación inicial y permanente de los educadores. In: Consejo Escolar del Estado: Los educadores en la sociedad del siglo XXI. Madrid: 2002. p. 161-194. p. 161-194. Disponível em: http://prometeo.us.es. Acesso em 26 jul. 2004. GOMES, J. B. B. A Recepção do Instituto da Ação Afirmativa pelo Direito Constitucional Brasileiro. In: Sales Augusto dos Santos (Org.). Ações Afirmativas e Combate ao Racismo nas Américas. Brasília: MECSECAD, 2005, v. 5, p. 47-82. HADJI, C. Por uma avaliação mais inteligente. Revista Pátio, Artmed, ano IX, n.34, p. 10-13, mai/jul. 2005. KAWAKAMI, E. A. É possível a formação docente para uma (re)educação das relações étnico-raciais a distancia? Texto submetido a parecer. 2014. MIZUKAMI, M. G. N. et al. Escola e aprendizagem da docência: processos de investigação e formação. São Carlos: EDUUFSCar, 2002. MIZUKAMI, M. G. N. Aprendizagem da docência: algumas contribuições de L. S. Shulman. Revista Educação: UFSM. 2004 - Vol. 29 - N° 02. MUNANGA, Kabengele. O anti-racismo no Brasil. In: MUNANGA, K. Estratégias e Políticas de combate à Discriminação Racial. São Paulo: EDUSP, 1996. NEVES et al. Design educacional construtivista: o papel do design como planejamento na educação a distância. SIED/EnPED. UFSCar: São Carlos, 2012. 179 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. Disponível em: <http://sistemas3.sead.ufscar.br/ojs/Trabalhos/145-932-1-ED.pdf>. Acesso em: março de 2014. SILVA, P. B. G. Relações étnico-raciais e educação. 2012. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=3jzxBnlpySY>. Acesso em: abril de 2014. SILVÉRIO, V. R. Ação afirmativa e o combate ao racismo institucional no Brasil. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, nº 117, nov., p. 219-246, 2002. SOUZA, A. L. S.; CROSO, C. (Coords.) Igualdade das relações étnico-raciais na escola: possibilidades e desafios para a implementação da Lei 10.639/2003. Apresentação. São Paulo: Peirópolis: Ação Educativa, Ceafro e Ceert, p. 71-87, 2007. perspective of an education based for ethnicity is considered important the role of the educator / researcher as an agent of the present educational model. Keywords: Applicability. Education. Laws. Multiethnic. Palavras iniciais... O Brasil é um país miscigenado que possui características socioculturais ímpares no cenário mundial. Essa miscigenação reside no trinômio negro-indígena-branco. A luz dessa reflexão é imperativo afirmar que, mesmo diante desta pluralidade ainda vivemos um modelo de sociedade excludente e discriminatório. Sob esta DESAFIOS E AVANÇOS NA APLICABILIDADE DAS LEIs 10639/2003 e Lei 11645/2008 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ITIRUÇU BAHIA premissa, é que é urgente um debate coletivo que se distancie de uma visão eurocêntrica pautado no modelo hegemônico. Nessa esteira de análise, é que a Educação enquanto mola propulsora do desenvolvimento do ser LUCIANA DOS SANTOS BRANDAO CARDOSO84 humano é o móvel principal para uma ação social transformadora. No intuito de fortalecer esse debate é que foi promulgada a lei 10639 em 09 de janeiro de 2003 que torna obrigatório o Ensino de História e Cultura Afro RESUMO brasileira e africanas a serem trabalhadas pelos estabelecimentos de ensino de diferentes níveis e modalidades, O presente artigo inicia uma breve abordagem sobre a formação pluriétnica do povo brasileiro. O texto discute e analisa os desafios e avanços a partir da promulgação dos marcos legais 10639/2003 e 11645/2008 que torna obrigatório o ensino de cultura afro brasileira e indígena nos estabelecimentos de ensino público e privado. Nesse sentido, apresenta reflexões acerca de experiências de práticas educativas vivenciadas como discente nos cursos de extensão em culturas afro brasileiras promovido pelo ODEERE/UESB que resultou numa iniciativa inédita de criação de um órgão municipal que valorize a diversidade étnico racial, bem como, no campo educacional atue efetivamente na aplicabilidade das leis supracitadas em todas as escolas da rede municipal de Itiruçu-Bahia. Esse trabalho menciona também propostas pedagógicas em consonâncias com as diretrizes curriculares das relações étnico raciais. Nessa perspectiva de uma educação pautada para a etnicidade considera-se relevante o papel do educador/pesquisador como agente transformador do modelo educacional vigente. Palavras chave: Aplicabilidade. Educação. Leis. Pluriétnica. ABSTRACT cabendo aos sistemas de ensino, no âmbito de sua jurisdição, orientarem e promoverem a formação de professores e supervisionarem o cumprimento das diretrizes. Alterando a Lei 9394/96 Lei de Diretrizes e Bases da Educação em seu artigo 26. Nesta ótica, de releitura destes compêndios legais é que este trabalho configura-se numa abordagem dos desafios e avanços da aplicabilidade da Lei 10639/2003 em todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Itiruçu Bahia. A relevância do estudo de temas decorrentes da história e cultura afro-brasileira e africana não se restringe à população negra, ao contrário, dizem respeito a todos os brasileiros, uma vez que devem educar-se enquanto cidadãos atuantes no seio de uma sociedade multicultural e pluriétnica, capazes de construir uma nação democrática. É importante destacar que não se trata de mudar um foco etnocêntrico marcadamente de raiz europeia por um africano, mas de ampliar o foco dos currículos escolares para a diversidade cultural, racial, social e econômica brasileira. Nesta perspectiva, cabe às escolas incluir no contexto dos estudos e atividades, que proporciona diariamente, também as contribuições histórico-culturais dos povos indígenas e dos descentes de asiáticos, além das de raiz africana e europeia. (BRASIL, 2004, p. 16 – 17 ). This article begins a brief approach to the multi-ethnic formation of the Brazilian people. The paper discusses and analyzes the challenges and advances from the enactment of legal frameworks 10639/2003 and 11645/2008 No âmago dessas discussões é que emerge múltiplos questionamentos: como um país que se caracteriza mandating the teaching of Brazilian and indigenous african culture in public and private education institutions. pela fusão de etnias esta ainda atrelada a uma pretensa superioridade branca? Como a educação na In this sense it presents reflections about educational practices experiences lived as students in extension contemporaneidade tem discutido a identidade? Como o educador tem sido formado? Como a escola tem courses in African Brazilian crops promoted by ODEERE / UESB which resulted in an unprecedented initiative tratado a temática das relações étnico-raciais no seu cotidiano em suas práticas pedagógicas? to create a municipal agency that values racial ethnic diversity as well as in the educational field act effectively Percebe-se que vivemos numa busca incessante por respostas a cerca da valorização de grupos étnicos in the applicability of the above laws in all municipal schools of Itiruçu-Bahia. This work also mentions historicamente excluídos e que ainda hoje, mesmo diante de inúmeras lutas e conquistas são muitas vezes pedagogical proposals in consonance with the curriculum guidelines of racial ethnic relations. In this invisibilizados, estereotipados e vítimas de um silenciamento criminoso. Numa sociedade como a nossa, na qual predomina uma visão negativamente 84 Graduada em Serviço Social. Graduanda em Letras, pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia- UESB .Especialista em História e Cultura Afro Brasileira. Pós Graduanda em Psicopedagogia Clínica e Institucional. Coordenadora Pedagógica do Núcleo de Educação Afro Brasileira e Indígena – Itiruçu – Bahia. E-mail: [email protected] preconceituosa, historicamente construída, a respeito do negro e, em contrapartida, a 180 181 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. identificação positiva do branco, a identidade estruturada durante o processo de escola aqueles objetivos que digam respeito à cidadania e à democracia e permitam ao socialização terá por base a precariedade de modelos satisfatórios e a abundância de aluno um trabalho continuado contra o racismo, o preconceito e a discriminação [...]. estereótipos sobre o negro (CAVALLEIRO 2003:19). O Brasil precisa de professores dispostos a fazer a revolução das pedagogias. Cada um de nós está convocado a entrar nesse grupo. (MUNANGA, 2005, p. 200). Diante do exposto e na tentativa da ruptura de um silenciamento sócio-escolar discriminatório é que a determinação legal da lei 10639/2003 representou um avanço significativo nas discussões étnico raciais Nesse sentido mencionarei um mosaico de experiências onde as iniciativas tem sua gênese na formação da empreendido pelo movimento negro na década de 80, grupo e pessoas que há séculos lutam por uma igualdade identidade pessoal e profissional. Uma destas experiências é como discente do Curso de Extensão em Educação de direitos. e Culturas Afro Brasileiras e do Curso de Didática das relações étnico raciais ambos promovidos pelo ODEERE É nesse contexto que a Educação é, sem dúvida, o maior segmento social de potencial transformador de – UESB com financiamento do MEC/SEPPIR/UNIAFRO, que propõe uma reflexão acerca das questões valores, condutas arranjadas durante séculos desde o Brasil Colonial. E nesse cenário vergonhoso de exclusão étnicas, inclusive as raciais no Brasil, tendo como referencial a história e a cultura da África e a sua dos negros e indígenas é que impera o fenômeno da branquitude, onde coloca o sujeito branco num padrão e contribuição na formação da identidade cultural do povo brasileiro (Anexo A). A outra experiência é como referência de ser humano. Assim, acaba legitimando a supremacia econômica, social, cultural do grupo branco Coordenadora Pedagógica do Núcleo de Educação Afro Brasileira e Indígena- NEABI no município de Itiruçu- e alimenta um imaginário coletivo intensamente negativo sobre o negro o que é extremamente grave. Bahia. Diante do exposto, é imprescindível ressaltar o papel da escola, enquanto espaço de debates e de práticas Nesse contexto, as discussões abordadas é um convite a um repensar da nossa identidade profissional e se pedagógicas que primam pela valorização da diversidade étnica racial. No entanto, a escola não pode ser o as nossas práticas pedagógicas estão alicerçadas num modelo educacional monocultural. Todas as informações único espaço, mas sim deve se aliar a outros segmentos sociais. advindas dos debates no ODEERE acarretaram mudanças substanciais no meu fazer pedagógico. No espaço escolar são reproduzidos constantemente valores e conceitos pautados numa visão Dentre as atividades desenvolvidas desde as leituras mais complexas de um vasto arcabouço teórico vale eurocêntrica, logo, os negros não se reconhecem nesse espaço escolar, haja vista que até mesmo nos materiais lembrar o estudo do Módulo de Objetivos e Metodologias da Educação Étnica até a feitura do caruru no mês de didáticos são inferiorizados assim numa escola monocrática, que existe um racismo velado e que se silencia, se setembro do ano de 2009 corroboraram para uma mudança de postura principalmente após uma pesquisa de nega a discutir as relações étnicas raciais. E a título de problematização vale ressaltar que esta escola “SOMOS campo pelo recôncavo baiano. Nesse instante, numa análise memorística, é imprescindível trazer à tona o NÓS”. notório saber popular de MÃE MARLENE do terreiro Vintém de Prata do município de Salvador, que Leis e práticas docentes: Colocando a mão na massa... surpreendentemente contribuiu para a prática docente. Nesse percurso epistemológico, no espaço do ODEERE A Lei 10639/2003 é um passo demasiadamente significativo para a educação no Brasil, pois esse marco datado de 2005 até os dias atuais considera-se, a participação em seminários, congressos, encontros estaduais, legal coloca em xeque a valorização da cultura afro brasileira nos currículos escolares. Pensar neste artefato (Anexo B) e até mesmo nos falares sábios e ao mesmo tempo, simplistas dos docentes, discentes e funcionários legislativo implica em dizer que, não se restringe a uma mera imposição conteudista, mas, sim, ter um olhar nos corredores do ODEERE, abriu novos horizontes para a formação identitária e o entendimento do ressignificado das particularidades de grupos étnicos entendendo estes, como protagonistas na formação do pertencimento afro brasileiro. povo brasileiro. Ainda no âmbito das experiências e num comprometimento para uma educação pautada na etnicidade É notório que é um grande desafio trazer esse debate para a sala de aula e nesse processo investigativo de depois de incessantes buscas de conhecimentos que ainda habita na incompletude, surge a iniciativa da criação descobertas é que se percebe a falta de informação dos educadores (as) gerando uma resistência para trabalhar de um órgão municipal que discutisse e atuasse efetivamente a fim de promover uma educação para as relações com a cultura afro brasileira. étnico raciais. No ano de 2005, todas as escolas da Rede Municipal de Itiruçu não tratavam das questões étnico-raciais No ano de 2015, foi criado o NEABI – Núcleo de Educação Afro Brasileira e Indígena – Itiruçu/Bahia, o nas suas práticas pedagógicas. No entanto, nos seus Projetos Políticos Pedagógicos estava explicitamente qual a autora deste artigo é a idealizadora e coordenadora pedagógica. Para viabilizar a institucionalização o descritos em seus textos a realização de intervenções de valorização da diversidade, o que é evidente que só Executivo Municipal cria na estrutura administrativa municipal o NEABI com o Decreto de nº 012 de 30 de existia no papel. abril de 2015 publicado no Diário Oficial do Município (Anexo C) que tem dentre outras atribuições fiscalizar, coordenar e conduzir todas as ações referentes ao estudo da história e culturas afro brasileira e indígena. Cabe ao professor selecionar e retirar do projeto pedagógico em desenvolvimento na 182 183 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. Nesse contexto percebe-se que o NEABI objetiva uma amplitude de ações que perpassa pelos mais diversos segmentos sociais. No tocante a aplicabilidade da Lei 10639/2003 e da 11645/2008 no município de Itiruçu tem nesse momento um avanço considerável. Igualdade Racial situado em Salvador-Bahia – objetivando dar maior visibilidade ao núcleo onde o município assinou o Termo de Adesão ao Fórum de Gestores. Nessa lógica o NEABI tem realizado ações concretas no enfrentamento ao racismo e evidenciado o Pensando no cumprimento destes dispositivos legais e mais ainda na promoção da igualdade étnico racial legado das matrizes afro brasileira, africanas e indígenas na formação do povo brasileiro. surge nesse panorama a necessidade de aquisição de materiais didáticos que apresentassem o negro e o indígena não mais como grupos inferiorizados. Considerações finais Nesse sentido foi adquirido pela Prefeitura Municipal de Itiruçu com recursos do FUNDEB – Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica uma coleção alicerçada em temas transversais. Ética, Cidadania, A guisa de conclusão é válido ressaltar que, com a aprovação das Leis 10639/03 e 11645/2008 Identidade Étnico-racial, Família, Valores, Equidade de Gênero, Meio Ambiente, Acessibilidade, além do intensificou-se o debate das relações étnico raciais. Entretanto, ainda é necessário ampliar o debate e a Calendário Afro-Indígena, no intuito de instrumentalizar os estudantes enquanto seres culturais, históricos e, preparação para efetivar uma Educação antirracista. Nesse sentido é preciso sensibilizar toda a comunidade acima de tudo, cidadãos conscientes do seu papel na sociedade. escolar e local. Esse material didático-pedagógico é voltado para o ensino da História e Cultura Afro brasileira e Numa análise reflexiva no decorrer dessa produção científica, percebe-se que a aplicabilidade das leis Indígena, obedecendo às orientações específicas das Leis citadas. Ou seja, o estudo da História da África, dos supracitadas nos estabelecimentos de ensino ainda não há uma inclusão étnico racial se limitando apenas a Africanos e dos índios; A luta dos negros no Brasil; A cultura negra brasileira e indígena; O negro na formação abordagens estereotipadas mantendo um cenário educacional extremamente excludente e discriminatório. da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política, pertinentes à História do Brasil, para aplicabilidade no Ensino Básico. Nesse complexo processo existem casos isolados em que alguns municípios têm procurado romper com o modelo pedagógico vigente e garantir a visibilidade do afro brasileiro e promover a cidadania e a igualdade Uma das preocupações no que tange a aplicabilidade das Leis supracitadas foi a aquisição de um material didático voltado para a temática das relações étnico raciais. racial, alcançáveis por meio de uma pedagogia multirracial e interétnica. Portanto, considera-se que o educador deve constituir seu trabalho baseado no pensamento de transformação, de forma a promover mudanças que Num outro prisma, foi analisado também a falta de formação dos docentes da rede municipal. A priori, levem seus alunos a outro status. Isso deve ocorrer por meio de sua prática pedagógica que deve propiciar acontecem encontros pedagógicos semanalmente e visitas contínuas a todas as Unidades Escolares respeitando atividades de aprendizado capazes de favorecer uma visão positiva das relações étnico-raciais, que possibilitam a um cronograma específico do NEABI que articula e orienta as práticas pedagógicas. e consolidam o pensamento coletivo da identidade afro-brasileira e suas raízes históricas de forma mais ampla. As atividades desenvolvidas são pautadas numa pedagogia antirracista de valorização do negro e indígena. Na égide desse discurso, a título de exemplificação o NEABI numa ação coletiva trabalha com o Referências Projeto Griô (contadores de história) em toda a Educação Infantil e Fundamental I. Nesse projeto foram BRASIL. Ministério da Educação Conselho Nacional de educação. Diretrizes curriculares nacionais para a trabalhadas as Tranças de Bintou, Menina Bonita do laço de fita, Kiriku e a Feiticeira, O Menino Marrom educação das relações étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Brasília: dentre outros, no intuito de fomentar a discussão sobre os diferentes estilos de cabelo e a valorização dessas Ministério da educação, 2005. diferenças. CAVALLEIRO, Eliane. Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar. 2. ed. São Paulo: Editora Contexto, 2000. Nas Unidades Escolares do Ensino Fundamental II também acontece planejamentos semanais e dentre os projetos trabalhados, merece destaque o de Valorização da Cultura Afro Brasileira, com exibição de MUNANGA, Kabengele. Superando o Racismo na Escola. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2. ed. Brasília: 2005. documentários (vista minha pele), (Heróis do Mundo), (Anexo D) exibição de vídeos (África que ninguém nos mostra), leitura de poemas (Identidade – Pedro Bandeira) dentre tantas e tantas atividades correlatas. Para além das atividades pedagógicas um outro grande desafio que também foi responsavelmente pensado onde o município vêm desenvolvendo momentos de formação docente. A título de exemplificação, o I Seminário de Cultura Afro Brasileira e Indígena. A responsável pelo NEABI tem mantido contato com a SEPROMI – Secretaria de Promoção da 184 185 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. 9 DESCONSTRUCIONISMO: INTERFERÊNCIAS NA E PARA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOS ALUNOS NEGROS NA BAHIA Eryson de Souza Moreira85 Resumo: Este trabalho tem por finalidade fazer reflexões sobre questões relativas à construção da identidade dos estudantes negros na cidade de Salvador-Ba, na região que abrange o bairro da Liberdade e adjacências onde tem a Escola Parque e as Escolas Classes I a VIII, relacionados aos processos de desconstrução sobrepostos nos livros didáticos propostos pelo Governo do Estado da Bahia e desta forma refletir sobre como a Anexo A – Curso de Extensão Afro Brasileira no ano de 2009 ausência e o silêncio de processos e fatos históricos importantes para construção da sociedade brasileira, ligadas diretamente a ações, negociações e movimentos sociais africanos e crioulos interferiram diretamente em momentos cruciais da história do que hoje conhecemos como Brasil. Usando como ponto de partida o livro didático, um importante vetor de conhecimento no processo de ensino aprendizagem, sendo que este compõe os principais pontos norteadores do currículo escolar, ou seja, a seleção mediada pelo professor que se baseia nos conteúdos explícitos e implícitos no livro didático, analisamos alguns dos livros que foram escolhidos nesses pólos escolares e tentaremos perceber as possíveis relações que poderão ter os livros didáticos e o processo de construção ou desconstrução do ser negro no ambiente escolar. Palavras – Chave: Racismo, Desconstrucionismo, Identidade, Igualdade, Desigualdade e Diferença, Livro didático, o negro na Bahia. Anexo B – V Encontro de Combate à Discriminação Étnica (Na foto, na figura 5 na posição horizontal à esquerda – Luciana Brandão). Introdução: O racismo que vem se construindo com a desconstrução da “identidade” sócio – histórica e cultural do negro na sociedade brasileira, sobretudo baiana, no âmbito escolar é algo que a cada dia vocifera e se solidifica de forma mais intensa com a fragmentação das identidades, subjetivas, coletivas e por fim, individual. Passaremos a refletir sobre questões concernentes ao processo histórico o qual “sujeito negro” ou, de “pele negra” passou. Necessário pensar os procedimentos históricos da sociedade “afro – brasileira”, sua cultura, e a cultura ao qual este foi inserido, repensar o processo de construção dentro de uma perspectiva de resistência, Anexo C - Decreto Municipal de Criação do NEABI reinvenção de costumes, valores a partir de um processo de desconstrução a priori ideológico, tendo como ponto de partida a memória coletiva, o silenciamento destas memórias, o esquecimento tanto voluntário como involuntário. O livro didático, sobretudo no Estado da Bahia, é na escola pública principalmente, o maior vetor de Anexo D - Palestra na sede do NEABI/Itiruçu sobre heróis do mundo. (Na foto, Luciana Brandão e educandos da Escola Adalício Novaes) conhecimento posto a “mesa” para os “famintos” das classes subalternas, marginalizadas em todo o processo de construção da “Ideologia” do “Estado Nação brasileira”, ideologia essa que corrobora com a massificação do conceito de humanidade branca, desenvolvimento branco, trabalho e suas dignidades como um atributo do homem branco, o ideal de família branca. O sistema de idéias elaboradas entra na contramão do processo de 85 186 Mestrando em História da África da Diáspora e dos Povos Indígenas pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 187 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. luta dos sujeitos negros que ajudaram a construir a Nação brasileira até dias atuais, ajudaram na implementação não propiciando um processo sadio para os jovens em formação. e obrigatoriedade do ensino de História da África e afro – brasileira nas escolas públicas e privadas do País, esse sistema foi edificado sobre pilares de inferiorização do negro. Por fim, refletiremos sobre o conteúdo que também é condição “Sine qua non”, para que não haja refrações na complexidade do processo de construção da identidade. Pensaremos dentro de uma perspectiva Os estereótipos marginais construídos e estabelecidos na historiografia didática em questão serviram qualitativa e problematizadora, ao invés de corroborar com idéias positivistas, puras e simplesmente como desestabilizadores de “identidade”, criando uma crise da mesma e culminando no que podemos entender quantitativas referentes aos conteúdos selecionados nos livros didáticos de História para o Ensino Fundamental como auto rejeição86. A negação de si mesmo enquanto ser subjetivo, afirmativo de suas ancestralidades, me II. faz entender os indivíduos não só pela cor da pele, mas sim pelo que estes se entendem enquanto sujeitos participantes de um bojo social, onde se manifestam as tensões de uma sociedade que ultrapassam os muros das escolas, reconstruindo nas Instituições de Ensino conflitos que lançam luz a ação velada do Estado sobre grupos Racismo - um conjunto de idéias Tentaremos aqui abordar esse conceito de forma mais específica, tendo em vista a sua complexidade e as diversas formas de atuação desta “Ideologia”, refletindo o racismo no âmbito das relações dialéticas dados como subordinados na dialética social. Os conflitos em uma sociedade, ou em suas várias instâncias fazem emergir conceitos que na sua forma apresentadas na escola pública e seus múltiplos agentes que conflitam, interagem entre si, dentro de uma mais prática são expostos, iniciando assim uma avalanche de celeumas caracterizadas pela “Igualdade, perspectiva de troca “ideológica prática, prática ideológica”. O fundamento deste ensaio está nas possibilidades desigualdade e diferença”, aprofundando ainda mais as tensões sociais traçando uma linha abissal cognitiva que as relações entre os sujeitos sociais se apresentam no campo subjetivo, cultural e material. entre os grupos sociais totalmente distintos que interagem sempre que necessário, seja nos momentos de choque, seja nos momentos de trocas voluntárias ou involuntárias. A escola é em si, um espaço heterogêneo e conflitante, reflexo de relações construídas para além dos próprios muros dominados pelas Instituições de ensino, embora a escola em muitos aspectos se choque com os Dentro de um cenário heterogêneo o qual a escola é o “Locus”, fazendo com que os sujeitos que integram esse espaço gozem de uma estrutura em comum, mas, que neste caso é regida por uma ordem de filtros culturais dos sujeitos que a compõem, ainda sim, esses propiciam ações fundamentais gerando tensões em muitas instâncias por vezes irreversíveis, mas trataremos disto em específico mais a frente. coisas pré – estabelecidas, ou seja, um conjunto de idéias interagindo com sujeitos em pleno processo de As ideologias racistas na atualidade são impostas de forma velada e sutil, de forma a minar a resistência construção. Pensando nisso, nota - se que muitos dos livros didáticos aproveitados nas atividades de formação de sujeitos ainda em formação, e assim, traçando um abismo profundo, rachando a planície das relações levam informações que introjetam no inconsciente e no consciente coletivo e individual toda carga que o subjetivas, sociais e culturais no ambiente escolar atenuando a possibilidade de afirmação dos arquétipos racismo, a desigualdade impõe, anteparando assim a possibilidade de desenvolver uma metodologia que tenha daqueles que nesse jogo são colocados como sujeitos subordinados, quando falo sujeitos subordinados refiro- na “diferença”, o mínimo de probabilidade de uma construção de conhecimento, consolidação da identidade me aos sujeitos negros e seus filtros culturais, como afirmação enquanto menina e menino negro, afro – 87 uma engrenagem multirreferencial . descendente de cabelos crespos, em alguns casos pertencentes às religiões de matriz africana. Além das imagens depreciativas, quando não são caricaturais, os livros didáticos comportam uma forma Os modelos eurocêntricos estabelecidos pela minoria formada nos estratos sociais mais abastados mais gritante na desconstrução do arquétipo humano “afro – brasileiro”, aviltando este de sua condição “Sine insurgem nos momentos em que há o embate prático das identidades subjetivas dos diferentes sujeitos no qua non”, o reduzindo ao nada, onde o “silêncio” reina em diversos aspectos calando a voz de indivíduos “campo” da escola, haja vista que neste momento serão postos os modelos bem aceitos pela sociedade que os indispensáveis para a construção de um Estado Nação. espera todos os dias ao fim das atividades escolares. É comum como professor perceber crianças e adolescentes O “silêncio”, não se limita ao âmbito escolar, mas funciona como uma via de mão dupla, não obstante, no ensino fundamental II se afastando do seu “eu” negro, são as respostas de sujeitos fenotipicamente negros, não haveria desigualdade, ou quem sabe diferenças, mas, nos lares tanto quanto nas escolas ecoam um ou seja, sujeitos providos de alta concentração de melanina dizer quando perguntados sobre sua cor e como ele “silenciamento88 ” imensurável dado a relação escola - família, família - escola, haja vista que os valores se define; - “eu sou moreno”, meu avô é branco; - “eu sou morena”, ou então; - “sou cabo verde, pois tenho o culturais internalizados pelos sujeitos nem sempre são levados em conta pelas Instituições de ensino e assim cabelo liso e tenho o nariz afilado, tenho os traços finos”, percebe – se que em cada afirmação existe uma 86 tentativa exacerbada de afastamento do “eu” negro, e se aproximando do outro branco, criando uma expectativa Silvia, Ana Célia: A DESCONSTRUÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO NO LIVRO DIDÁTICO. In: Superando o Racismo na Escola. 2ª edição revisada / Organizado por: Kabengele Munanga. – [Brasília]: ministério da educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2008, p 18. 87 BARBOSA, Joaquim G. (Org.) Reflexões em torno da abordagem multirreferencial. São Carlos, SP:EdUFSCar, 1998 / In: Teresinha Fróes Burnham; COMPLEXIDADE, MULTIRREFERENCIALIDADE, SUBJETIVIDADE: Três referências polêmicas para a compreensão do currículo escolar. p 45. 88 CAVALLEIRO, Eliane dos Santos. Do silêncio lar ao silêncio escolar: Racismo, preconceito na educação infantil . 5. Ed. – São Paulo: Contexto, 2006, Pp 18 – 19. 188 de aceitação pela parte integrante ou difusora do arquétipo branco, eurocêntrico e hegemônico naquele espaço. Atributos impostos socialmente como ruins são propagados no ambiente escolar fazendo com que alunos negros silenciem sua subjetividade e esgueirando em conceitos deturpados de si mesmo a exemplo do: 189 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. “Ah, meu cabelo é ruim ou duro”, este último nem sempre tem uma conotação adequada. No palco das relações De forma caricatural e depreciativa, os meios de comunicação veiculam imagens que colocam homens, sociais intra – escolares surgem às diversas formas de práticas racistas, onde brancos e não brancos interagem mulheres e crianças negras em condição subalterna, negros como escravos destituídos de vontades próprias, de forma sistemática em um processo intenso de persuasão cultural. mulheres como objeto sexual, símbolo de um País de “mulatas sambadeiras”, a ascensão social só se dá a O “mas” está sempre presente determinando a separação, criando uma fenda incolor, imaginária e partir do futebol e da música, afinal, o Brasil é o País do futebol, capital do Funk e samba carioca, e do pagode introjetando no inconsciente coletivo os padrões de beleza estabelecidos pela sociedade, essa conjunção baiano, os materiais pedagógicos enfatizam ainda mais essa condição marginal, estereotipada, ou seja, adversativa sempre presenteia a comunidade negra com a sutileza a que manda a ideologia do “Mito da despossuindo – os de sua humanidade e cidadania. As representações de humanidade e padrão de sociabilização democracia racial no Brasil” com situações corriqueiras no cotidiano desta sociedade diversificada. – “Você é são estabelecidas dentro dos moldes da cultura do homem branco, judaico – cristão, os modelos de família um negro bonito, mas, esse cabelo”... Ou seja, o cabelo crespo é ruim, não preta, a cor não é negra, mas sim ortodoxa e excluindo outras configurações familiares, a saber, as famílias de base matriforcal, as formas de morena, os indivíduos não são do “Candomblé”, são no dizer extremamente depreciativo, da macumba, fora vestimentas, abolindo as sandálias de couro, batas entre outros, a religião ainda constitui um tabu, sendo as uma gama de atributos carregados de uma tradição opressora e pejorativa como “Nego do leite, buiú, carvão, religiões de matrizes africanas execradas e tidas como demoníacas. nego do ebó” entre outros. As atribuições de normalidade, padrão de beleza estética, moral, sócio – cultural dada ao homem Neste processo, um mediador não menos importante do que os sujeitos em formação, alunos negros e branco, sobretudo aqueles que pertencem aos estratos médios e superiores da sociedade, não descartando a brancos, o professor que pedagogicamente espera – se que esteja preparado para intervir nas relações sociais importância do homem branco, da relevância do patrimônio cultural dos mesmos, mas, nota – se em muitos nesse âmago da sociabilização conflituosa, desvelar de forma operacional e sistemática o processo que está de casos um silenciamento que estabelece uma invisibilidade e conseqüentemente a inferiorização dos valores fato sendo mal construído, como um câncer se instalando no seio das diversas comunidades negras que se históricos, culturais de um povo que foi e é de suma importância para a construção da identidade da Nação relacionam cotidianamente nos espaços escolares. brasiliana. Partindo desses pontos, rasteiramente discutidos como forma de provocação para que venhamos A escola é um espaço determinante, não neutro no processo de construção, ou desconstrução social, os refletir, que todo esse sistema de supressão cultural, cria um afastamento, um sentimento de repulsa89 pelo conflitos e as contradições configuradas fora da escola, são restabelecidos na mesma, o número de professores “Ethos” afro – descendente, um comportamento de rejeição e afastamento do passado “negro”, e aproximação preocupados em refletir sobre as questões raciais na escola vem crescendo, porém, ainda existe um grande do ideal branco, ou seja, do moreno, cabo verde entre outras definições criadas para que a ideologia”, do contingente que ainda analisa o ambiente educacional de forma sócio – econômica, sendo assim, reduzindo toda branqueamento continuasse a se propagar a partir da “democracia racial”. Até que ponto poderemos fechar os uma estrutura a uma análise de certa forma mecanizada, deixando as questões culturais a margem da olhos, ou fingir não ver ou ouvir as palavras sediciosas do “Brazil” com “Z”, para inglês ver? O racismo existe apreciação, questões como o imaginário, os costumes, gênero, raça, os valores e a subjetividade em segundo e no Brasil90 ?. terceiro plano. Para além das relações inter – pares, também existe um agravante nesse contexto que são as O “desconstrucionismo91”, na instância escolar se revela primariamente na seleção dos livros, dos relações entre professores e alunos, sendo que, essas relações se dão de diversas formas, haja vista que tanto conteúdos e as formas com que esse conteúdo é transpassado, ou seja, esmiuçado na condição básica para a professores brancos como não brancos por vezes caem nas armadilhas ideológicas de reprodução racista, seja construção do conhecimento, das subjetividades, das intersubjetividades, e das identidades como cita Ana Célia na omissão em face à brincadeiras consideradas inofensivas, seja na mediação e transposição e reflexões da Silva92 em relação aos livros didáticos analisados por ela em que a mesma constata a personificação do mediantes aos conhecimentos, ou na seleção destes, como já foi citado acima, é de suma importância para que arquétipo branco com um caráter estritamente informativo de modo distributivo, bombardeando de informações indivíduos nesse processo sintam-se integrantes do meio em que estão inseridos como sujeitos. criando um abismo entre o “eu”, e o que “eu devo ser”. O que se deve ser exclui sistematicamente o que se é, desconstruindo o eu, que está no plano do “é”, do “ser” e o deslocando de forma violenta para o plano do Desconstrucionismo e a identidade “estar”, desqualificando as diferenças, desprezando multiplicidade como forma de construção das múltiplas Os processos que levam ao “desconstrucionismo” dos arquétipos sócio – culturais dos sujeitos negros na instância escolar, é um dos produtos que geram a desqualificação da moral, da memória, da história, das identidades sociais. As principais características atribuídas aos negros nos livros didáticos, assim como o branco são de estórias, da forma de pensar o mundo e a si mesmo enquanto ser que pensa, que existe e constrói sua própria história. Por vezes, as representações imprimem um papel fundamental na descaracterização e inferiorização do negro e da cultura negra na sociedade brasileira, nesse caso em específico, na sociedade baiana. 190 89 Fraga Filho, Walter. Encruzilhadas da Liberdade: histórias de escravos e libertos na Bahia(1870 – 1910) / Walter fraga Filho. – Campinas SP: Editora da Unicamp, 2006, p 259. 90 http://www.publico.pt/desporto/noticia/episodios-racistas-no-futebol-brasileiro-so-em-2014-1668672. 91 Hypolito, A. M. e GANDIN, L. A. (Orgs.). Educação em tempos de incertezas. Altêntica: Belo Horizonte, 2000, P 39. 92 Silva, Ana Célia. A discriminação do negro no livro didático / Ana Célia da Silva. 2. Ed. – Salvador : EDUFBA, 2004, P, 37. 191 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. extrema importância em ambientes de sociabilização como as escolas de nível fundamental, sobretudo pelo fato processo vemos uma família bem estruturada com um carro na garagem, um médico, um advogado, os de nesses nichos estarem co – presentes indivíduos que sentem o mundo, vêem o mundo e interferem nele de Presidentes das Repúblicas. forma diferente uns dos outros, atenuando o campo de tensão e aproximando uns dos outros na busca por Acima estão as referências de diferenciação dos indivíduos em uma sociedade onde pregam a respostas sobre o diferente, problematizando sobre o estado da ordem das coisas, dimensionando a partir das “democracia racial”, mito ou verdade? O fato é que a desigualdade numa sociedade egressa da escravidão como formas de falar, vestir, de pensar e de agir uns dos outros a existência do outro, ou seja, reconhecendo ou não o o Brasil visa prevalecer, beneficiar e desmerecer, mas quem, onde, na rua, ou na escola? Neste caso a diferença outro em si e vice versa. pode ser um veto no seio das relações, e inter – relaciona – se onde a diferença é pressuposto para a O que seria essa “ordem das coisas”? Algumas perguntas que provavelmente não serão respondidas aqui desigualdade. poderiam mover uma inquietação nesse sentido de forma a transpassar a idéia de uma resposta pronta. As Podemos entender por diferentes primas, a depender da perspectiva epistemológica93, via de regra, tensões nas escolas começam a partir do momento de reconhecimento mútuo dos sujeitos, perguntas do tipo: postulamos também que a desigualdade é fruto de um processo histórico, que o termo em si explora na prática a Por que ele não tem pai? Por que ele tem a pele mais escura? Por que ele veste branco toda sexta feira? Por que carga de mais de 300 anos de escravidão postulada pela diferença na cor da pele, na religião, e na forma de os sapatos dele não são iguais ao meu? Por que ele não traz lanche como eu? Por que essas correntes coloridas? conceber o mundo, impondo uma identidade social localista dentro da estrutura da sociedade: Que identidade é Então, esses são questionamentos corriqueiros que não encontram respostas nos livros didáticos, ou quando essa? Qual o lugar posto e imposto ao negro? encontram não contemplam a realidade de forma satisfatória e multirreferencial. As coisas saem da “ordem das A diferença é inerente ao ser humano, porém, na engrenagem social, os projetos políticos vislumbrados coisas” sofrendo um processo de refração até a “desordem das coisas”, colocando na mesa mais “leite” do que pela super – estrutura em momentos mais explícitos em outro não de supressão do padrão negro, da cultura se deve ter e menos “café” do que se deveria ter. negra se reinventa de tempos em tempos, sobretudo porque nunca houve de fato uma sociedade rigidamente bi – racial, e sim Multirracial. Pensar sobre a diferença é refletir sobre o “ser”, o humano em sua essência, visto que a desigualdade Desigualdade, igualdade e diferença discorre sobre a pluralidade do contexto a qual será avaliada em diversas óticas: política, cultura, renda, Para abordar esses conceitos partiremos da premissa básica que perante a lei todos são iguais, possuidores dos mesmos direitos e deveres, é vetado qualquer tipo de manifestação preconceituosa, sendo de riqueza, capital, saúde, acesso a serviços, educação, sobretudo tendo em consideração os processos históricos e uma análise de critérios das conjunturas estabelecidas. raça, etnia, religião entre outras questões que não cabe aqui estendermos esse leque. A diferença é algo irreversível se formos olhar de forma objetiva e pragmática, o negro não pode virar Identidade branco, nem o branco virar negro, assim como o homem não viraria uma mulher, nem uma mulher viraria um homem, um animal como um cachorro por sua vez, não se transformaria em uma criança. Sendo assim, percebemos que o “ser” é condição indispensável nessa instância de análise a priori tosca e direta, não obstante, tudo isso só seria possível na ótica das subjetividades humanas, mas, se constitui assunto para uma próxima Apesar de breve, é extremamente salutar falar sobre o processo em que os sujeitos sofrem na construção da “Identidade”, ou, “Identidades”, haja vista que a mesma é algo flutuante, dinâmico, se fosse rígido e exato poderíamos parar de refletir sobre tal questão, pois, desta forma o ser humano e todos os processos o qual sofre nas ressignificações da socialização estariam acabadas. A escola revela diversos tipos de relações que podem ou discussão. Postas as diferenças e partindo do pressuposto que todos, homens, mulheres seja negro ou não negro, são iguais perante a lei, poderíamos estender para uma outra lei, a “lei de Deus”, que também os faz iguais, mas não discutiremos sobre isso aqui. Mas, ao olharmos o processo histórico, social, cultural e político, percebemos que as relações entre os diferentes estão carregadas com o fardo da imposição, da submissão, subalternização e não trazer prejuízos na construção e afirmação de uma identidade afro – descendente. Como lembra Cavalleiro (2006), na escola pública de primeiro grau é possível verificar a existência de um ritual pedagógico que, para Luiz Alberto Gonçalves, vem reproduzindo a exclusão e, conseqüentemente, a marginalização de crianças e jovens. Para ele, o “ritual pedagógico do silêncio” exclui dos currículos escolares a história de luta dos negros na sociedade brasileira e “impõe nas crianças negras o ideal de ego branco”. opressão dentro da lógica cartesiana. A diferença entre negros e brancos vem rompendo gerações associando o negro a animais, incultos, indoutos, promíscuos, ignorantes, passivos, às vezes rebeldes, a mulata, o capoeira vadio, a prostituta, o Partindo das idéias vinculadas acima, é possível refletir sobre uma ressignificação dos projetos de eugenia social, tendo em vista que neste dado momento atuante nocivamente na construção das subjetividades a engraxate, o moleque de rua, o pai de santo, a baiana do acarajé, o pescador. Nas páginas de jornais aparecem um novo assaltante, um estuprador, um assassino, um viciado em craque. Por outro lado, na contra mão do 93 Moreira, Eryson de Souza. A construção social do indivíduo negro no âmbito escolar / Centro de Artes Humanidades e Letras, Quarteirão Leite Alves, Cachoeira – BA 18 a 21 de outubro de 2010, p 9.http://www3.ufrb.edu.br/lehrb/wp-content/uploads/2011/08/ErysonMoreira.pdf 192 193 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. partir da intersubjetividade, da inter – relação com o outrem e com os materiais didáticos e que servem como perspectiva do livro didático, na escola, pode estar no simples fato de proporcionar imagens que reforcem os ferramentas no dever pedagógico mediado pelo professor, quer eles sejam brancas, brancos, negras e negros. modelos positivos do branco como um padrão universal de perfeição com um conjunto de símbolos que A ausência de uns e a presença de outros permitem, ou contribuem para um afastamento, então, dentro fornecem sentido que os tornam compreensíveis na representação da realidade. de uma perspectiva contra – hegemônica no ensino aprendizagem atuando na transversalidade, da cultura como Os estereótipos são fundamentais para reforçar o estigma inferiorizante, pois cumprem uma função poderia de fato propor um ensino multirreferencial, como os contos Africanos poderiam ser inseridos na importante como intermediários na veiculação das ideologias nos materiais didáticos, se relacionando de forma educação baiana, de que forma a mulher negra pode ser conhecida se o estereótipo da baiana do acarajé, dentro negativa com uma parcela da sociedade e de forma positiva com outra gerando assim preconceitos partindo das do aspecto do trabalho a etno – matemática, a culinária, a farmacologia de que forma a Lei 10.639/03 poderá de diversas características evidentes entre os sujeitos que se co – relacionam nos espaços em que habitam. fato ser e não estar no currículo das escolas baianas? Todos esses componentes negativos podem promover a exclusão, cristalização de sujeitos, conceitos e preconceitos de uma classe perante outra estigmatizadas pelos mesmos, causando um sentimento de auto – O livro didático rejeição e baixa auto – estima impedindo a organização desses grupos, das identidades, das subjetividades para Podemos aqui refletir sobre até que ponto as culturas advindas de povos historicamente subjugados, os sujeitos enquanto políticos na sociedade. colocados em posição de subalternidade, cujas tradições não são tidas como significativas importantes a ponto de terem destaque no que, para a maioria da sociedade baiana ainda é o principal instrumento de instrução O negro na Bahia pedagógica usado por professores, para leitura de alunos na busca para apreender conhecimento que é o livro De forma genérica e breve tecerei algumas reflexões de questões que permeiam o cotidiano e as relações didático nas escolas públicas. Por isso, por serem considerados ínfimos tais valores, tradições, costumes é que sociais de indivíduos de pele negra e não negra, palavras, frases e músicas que são relacionas com determinados são minimizados, quando não silenciados colocados como invisíveis nos currículos, poderão servir como objeto sujeitos, sujeitos esses que pertencem a uma classe social bem definida pela sua cor, pela sua religião, pela sua de investigação e ser e não estar parte integrante dos processos das práticas educativas do professores. condição econômica, social, cultural que entrelaça com as estórias e histórias dos diversos centros sociais que Nos livros vemos os negros destituídos de sua humanidade, ainda não sabemos ao certo o grau exato por ainda se tratar de uma reflexão superficial, mas, em muitos vemos o homem branco, a criança branca, a família por fim dialogam com o todo em uma relação de reciprocidade intensa que é a dialética para a formação de uma das diversas subjetividades dos indivíduos envolvidos no processo. branca como arquétipo de humanidade, sendo que os estereótipos e as caricaturas são impostos de forma Alguns jargões são constantemente veiculados em diversos tipos de comunicação. Idéias como: “cabelo violenta para indivíduos de pele negra. As estórias veiculadas, o padrão de normalidade inclusive dotados de duro é cabelo ruim, a coisa tá preta, amanhã é dia de branco”, o cabelo crespo passa a ser algo digno de repulsa nome próprio como lembra Fúlvia Rosemberg94 . e rejeição, quando algo dá errado tudo fica preto e quando chega a segunda-feira o dia é sempre de branco? Ou Para crianças e adolescentes negras e negros na maioria, o livro didático seja a única fonte de leitura, e seja, a máxima se repete em que os negros são preguiçosos e reforçando a lógica Freyriana ou o que dizer de com tal importância e com as “verdades” que nele são impostas, verdades falsamente colocadas com conjuntos músicas que ouvimos desde a infância... “- Boi, boi, boi, boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de de idéias integrantes de uma engrenagem sócio – política que propagam conceitos de culturas na qual careta”... Apelidos que também reforçam ideologias racistas, mas que nos momentos de propagação muitas estigmatiza, inferioriza atribuindo estereótipos sobretudo às comunidades negras. vezes por falta de preparo ou uma análise partindo de uma pedagogia crítica, o professor não intervém como A partir do momento em que estão veiculando imagens, conceitos do cotidiano de homens, mulheres, momento pedagógico, apelidos como “nego do leite, pai de santo, nega maluca” entre outros são algumas das crianças, enfim, famílias de pessoas brancas, trabalhadores brancos, médicos, advogados, notoriamente questões que merecem atenção especial, tendo em vista que todas essas situações relacionam o negro a posições notamos um silêncio e concomitantemente os negros são colocados na condição de “invisíveis”. Perguntas depreciativas e desvalorativas, proporcionando uma relação de causa e efeito devastador na inconsciência e na poderiam ser feitas a esses objetos de pesquisa pelos professores: Por que a criança negra não está aqui? Não consciência coletiva e individual. existem famílias negras? Será que todas as crianças negras são filhos de mães solteiras? E se são mães solteiras, Associações do negro com o feio, com o sujo, com o pobre, com o demônio, a saber, quando se monta são indignas a ponto de não marcarem presenças nos livros? Toda mulher negra é baiana de acarajé? Só existe a uma relação do negro e as religiões de “matriz africana” ao relacionar o “candomblé” como algo demoníaco, capoeira, o samba e o futebol para se referir ao negro e quando lhes são atribuídos? visto que, o modelo de religião proposto pela sociedade se faz conotações positivas na religião judaico – cristã. A Ideologia do branqueamento da população mediante a construção das subjetividades na atualidade na Como desconstruir esses preconceitos que viraram conceitos a despeito do recalque das culturas de matriz africana? Já que, via de regra, nos livros didáticos, nos veículos de comunicação o negro é sempre o favelado 94 Rosemberg, Fúlvia. Literatura infantil e ideologia. São Paulo:Global Editora 1985, p. 77. 194 195 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. que vive abaixo da pobreza, vestindo farrapos de roupa, sem pai, já que o modelo de família é ter um pai, uma Moreira, Eryson de Souza. A construção social do indivíduo negro no âmbito escolar / Centro de Artes Humanidades e Letras, Quarteirão Leite Alves, Cachoeira – BA 18 a 21 de outubro de 2010. Nascimento, Cláudio Orlando Costa do. Jesus, Rita de Cássia Dias Pereira de. Currículo e Formação: Diversidade e educação das relações étnico-raciais. Curitiba: Progressiva, 2010. Rosemberg, Fúlvia. Literatura infantil e ideologia. São Paulo:Global Editora 1985. Silva, Ana Célia: A DESCONSTRUÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO NO LIVRO DIDÁTICO. In: Superando o Racismo na Escola. 2ª edição revisada / Organizado por: Kabengele Munanga. – [Brasília]: ministério da educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2008. Silva, Ana Célia. A discriminação do negro no livro didático / Ana Célia da Silva. 2. Ed. – Salvador : EDUFBA, 2004. mãe entre outros atributos que muitas vezes não contempla a realidade? Considerações finais Vejo que as ideologias são um conjunto de idéias hegemônicas que de todo o caso não imperam soberanas, sozinhas, como se não existisse alguém do outro lado da linha, ou melhor dizendo, não existisse alguém co –habitando no mesmo espaço e atuando de forma contrária, mesmo que timidamente. Pensar assim seria defender a coisificação do negro, defender a inércia do ser, do sujeito que de fato não está inerte as EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO MULTICULTURAL relações sociais que também exerce nessa dialética, um papel de resistência, sobretudo nos núcleos familiares. A ausência, a invisibilidade pode ser o ponto de reflexão requerida pelos professores e alunos para JOSINÉLIA DOS SANTOS MOREIRA95 entender os processos históricos e as nuances que dialogam com a realidade das minorias representadas JURANDIR DE ALMEIDA ARAÚJO96 principalmente nos livros didáticos. Fazer entender que a diferença é fruto de complementaridade e não de inferioridade, desconstruindo a concepção do ruim das associações negativas para com o negro, o sujo, imundo, desprezível, demônio, estereótipos que criam um conjunto de rejeições e auto – rejeição do “eu negro” e aproximação do “não negro”, de elemento que a cada momento o aproxime do outro. É possível formar professores que atuem nas bases do ensino público, que possam mediar de fato à desconstrução de certos estereótipos que conduzem a uma educação ainda colonizada no Brasil, Resumo: O objetivo do pressente artigo é tecer uma análise teórico-reflexiva acerca da Educação de Jovens e Adultos na perspectiva da educação multicultural. Parte-se da compreensão de que esta modalidade de ensino significa a possibilidade dos sujeitos, que por algum motivo não tiveram acesso à educação formal básica, participarem da sociedade letrada, tendo a pedagogia multicultural como resposta positiva ao atendimento educacional destes. O grande desafio será o de estabelecer conexões entre os universos culturais dos educandos da EJA e o universo da cultura letrada, bem como a inclusão de abordagens pedagógicas que contemple a diversidade étnico-racial e cultural do povo brasileiro, e tragam as vozes dos diferentes sujeitos para o centro do processo educacional. Palavras-Chave: Cultura; Educação de Jovens e Adultos; Educação Multicultural. proporcionando aos estudantes um processo multirreferencial, descolonizado, crítico e a depender do local, da região contemplar os sujeitos de forma a abranger as possibilidades do pensar, selecionando e incluindo os Introdução processos e não somente os fatos, transformando os livros didáticos num instrumento gerador de consciência Na atualidade, as discussões sobre a educação para as relações étnico-raciais fazem-se cada vez mais crítica na desconstrução de ideologias racistas, estereotipadas e a construção e cristalização de seus valores presente pela urgência de mudanças que oportunize uma educação para todos. Dessa maneira, busca-se discutir sociais, culturais e históricos situando-se na sociedade como parte integrante e fundamental para construção da abordagens pedagógicas que compreendam o desenvolvimento dos estudantes numa dimensão histórica, social mesma. e cultural, que atendam as suas particularidades e respeitem as diferenças (étnica-racial, cultural, gênero, religiosa, entre outras) em todos os níveis e modalidades de ensino, inclusive na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Referências: BARBOSA, Joaquim G. (Org.) Reflexões em torno da abordagem multirreferencial. São Carlos, SP:EdUFSCar, 1998 / In: Teresinha Fróes Burnham; COMPLEXIDADE, MULTIRREFERENCIALIDADE, SUBJETIVIDADE: Três referências polêmicas para a compreensão do currículo escolar. CAVALLEIRO, Eliane dos Santos. Do silêncio lar ao silêncio escolar: Racismo, preconceito na educação infantil . 5. Ed. – São Paulo: Contexto, 2006. Gomes, Nilma Lino. A mulher negra que vi de perto / Nilma Lino Gomes. – Belo Horizonte: Mazza Edições, 1995. História na sala de aula : conceitos, práticas e propostas / Leandro Karnal (org.) – 6. Ed., 1ª Reimpressão. – São Paulo : Contexto, 2010. Hypolito, A. M. e GANDIN, L. A. (Orgs.). Educação em tempos de incertezas. Altêntica: Belo Horizonte, 2000. Jenkins, Keith. A História repensada / Keith Jankins; tradução de Mario Vilela, 3. Ed., 2ª reimpressão- São Paulo: Contexto, 2009. 196 Assim, as reflexões apresentadas neste artigo têm como objetivo contribuir para a discussão acerca da Educação de Jovens e Adultos na perspectiva da Educação Multicultural, enfatizando a importância da educação no mundo dito globalizada. Reflexões essas realizadas à luz dos teóricos que estudam a temática, tais como: Candau (2002), Gonçalves e Silva (2006), Hall (2003), Motta (2004), entre outros. 95 Doutoranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade – PPGEduC, da Universidade do Estado da Bahia – UNEB. Mestre em Educação, pela UNEB. Membro do Grupo de Pesquisa GRAFHO. E-mail: [email protected]. 96 Mestre em Educação pela Universidade do Estado da Bahia – UNEB. Professor Formador do Curso de Pedagogia EaD/UNEB. Membro da Associação Brasileira de Pesquisadores (as) pela Justiça Social – ABRAPPS. E-mail: [email protected]. 197 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. Educação de Jovens e Adultos: Ideias e pensamentos que se complementam crítico, deve colocar em pauta de discussão a defesa de práticas pedagógicas que levem em consideração a diversidade étnico-racial e cultural de seus alunos e alunas, trazendo suas vozes e suas identidades étnicas e A Educação de Jovens e Adultos apresentou-se, no Brasil, na década de 1930, em um cenário no qual culturais para o centro do processo educativo. estava se consolidando o sistema público de educação no país. No final dos anos 1950 surgem duas tendências relevantes na EJA: a Educação de Adultos entendida como uma educação libertadora, idealizada por Paulo Percepções sobre a Educação Multicultural na EJA e o direito de apreender Freire e a Educação de Adultos entendida como educação funcional (profissional), isto é, voltada para o mercado de trabalho. Há consciência de que o Brasil é um país multicultural e pluriétnico, onde todos devem ter incluídos os A pedagogia desenvolvida por Paulo Freire primou, essencialmente, pela formação crítica do sujeito, direitos civis universais básicos, particularmente, o direito a educação, todavia não é o que acontece de fato. O enfocando, em especial, a camada popular da sociedade, que, segundo o referido educador, encontrava-se em direito de aprender e desenvolver conhecimentos sem precisar negar a sua identidade, nem a sua descendência condição de subserviência perante as camadas sociais mais abastadas. Freire valorizou o sujeito enquanto ser étnico-racial, assim como, a sua cultura, é uma reivindicação antiga dos movimentos sociais, notadamente, do ativo, e não como mero aprendiz a espera do professor detentor do saber e dirigente da sua aprendizagem, como Movimento Negro. Daí a necessidade de uma visão mais crítica acerca das questões relacionadas à valorização faz a educação bancária. Uma vez que, étnico-racial e cultural de todos os povos, principalmente, os que ao longo dos séculos foram discriminados, inferiorizados e mantidos às margens da sociedade. na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da opressão – a absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no outro (FREIRE, 2005, p. 67). Freire, por meio da concepção de educação popular, consolidou um dos paradigmas mais rico da pedagogia contemporânea, rompendo radicalmente com a educação elitista e comprometendo-se com a educação de adultos. Por outras palavras, Freire propôs e colocou em prática uma proposta educacional na perspectiva multicultural, democrática e participativa. Uma abordagem educativa que tem como princípio norteador o respeito e a valorização da cultura popular, isto é, o saber do povo. É importante sublinhar que os estudos de Paulo Freire e as premissas dos movimentos de cultura É importante a inclusão, valorização, respeito e discussão, no contexto da sala de aula, das questões e conteúdos referentes aos grupos étnico-raciais e culturais vistos como inferiores pela cultural hegemônica de forma igualitária. Como adverte Motta (2004, p. 06), Reconhecendo que a multiplicidade de identidades, de patrimônios culturais da humanidade, torna-se cada vez mais visível na sociedade contemporânea e que as relações de poder vêm historicamente favorecendo alguns grupos em detrimento de outros, voltamos para a possibilidade da reformulação do fazer cotidiano da escola, buscando a inauguração de um novo território em que a prática cooperativa das atividades escolares promova o desenvolvimento de uma consciência crítica que valorize o acolhimento das diferenças como ponto de partida para a instalação de uma sociedade mais solidária. popular no Brasil têm sido ampliados sob os olhares dos pensadores que tem como horizonte o Ou seja, faz-se necessário levar para o espaço escolar as múltiplas concepções de mundo, partindo-se da multiculturalismo crítico. O qual vai além da valorização da diversidade cultural do ponto de vista folclórico, compreensão de que “não há um único estilo de apreender e de significar o mundo” (SILVA, 2005, p. 158). As questiona os estereótipos e preconceitos contra as pessoas tidas como “diferentes” nas sociedades desiguais e múltiplas concepções de mundo devem ser componentes dos estudos no universo escolar, haja visto que os excludentes (HALL, 2003). sujeitos devem educar-se enquanto cidadãos participativos em meio à diversidade, seja esta qual for – étnico- Imaginar a educação de jovens e adultos sob a perspectiva do multiculturalismo crítico é refletir a respeito da diversidade e das identidades culturais dos sujeitos. É olhar de forma mais sensível para as racial, gênero, sexual, religiosa, entre outras –, tornando-se sujeitos capazes de construir uma sociedade mais justa, democrática e igualitária. subjetividades e especificidades destes, reconhecendo que os educandos e educandas da EJA, ao procurarem É notório que as instituições formais de ensino tendem a homogeneizar e/ou padronizar os ritmos e pela escola, trazem consigo as marcas da exclusão e do abandono a que foram sujeitados pelo sistema de ensino estratégias direcionados aos seus educandos e educandas, não levando em consideração à diversidade cultural, formal. religiosa, étnico-racial, geracional entre outras existentes na sala de aula. Esse caráter homogeneizador da Contudo, o grande desafio será o de estabelecer conexões entre os universos culturais dos educandos e educandas da EJA e o universo da cultura letrada, como no chama a atenção Candau (2010). Acreditamos, escola dificulta ainda mais o debate sobre questões relacionadas às diferenças, tais como: preconceito, discriminação, racismo, homofobia, xenofobia, exclusão, entre outras formas de opressão. portanto, que uma ação educativa, nas classes de educação de jovens e adultos, na ótica do multiculturalismo Todavia, sabemos que a escola, como aparelho ideológico do Estado, apresenta sempre nas suas 198 199 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. entrelinhas uma posição sociocultural e pedagógica de duas dimensões: uma seletiva e outra inclusiva, sendo a A impressão que fica, portanto, é que a educação de jovens e adultos sempre foi vista a partir de olhares primeira compreendida como a que procede por semelhança, excluindo as diferenças, e a segunda como a que imperceptíveis por parte do sistema de ensino e dos poderes públicos, que deixa uma parcela expressiva da procede pela diferença, incluindo-a no processo de aprendizagem. Assim sendo, desenvolver uma educação população que não conseguiram realizar sua escolaridade nos níveis mais elementares, desatendida e multicultural, no Brasil, requer uma série de medidas urgentes e necessárias, tais como: mudanças curriculares; desamparada, e quando atendida não tem as suas demandas socioculturais atendidas. formação inicial e continuada dos educadores, que lhes deem subsídios para trabalhar com a diversidade; Hoje, no mundo dito globalizado, a escrita e a leitura assume lugar de destaque no dia-a-dia dos materiais didáticos compatíveis com a realidade dos educandos; estrutura física adequada; recurso financeiro; indivíduos. Decorrente, sobretudo, dos avanços tecnológicos e científicos cada vez mais complexos e entre outras. sofisticados. Nesta perspectiva, Gadotti (1992, p. 03) pondera que “o desenvolvimento de uma educação multicultural no Brasil depende fortemente de mudanças no sistema educacional e, sobretudo, da formação do educador”. Entendemos, portanto, que qualquer prática pedagógica preocupada com o pleno desenvolvimento Uma importância que jamais tiveras antes. Desta forma, saber ler e escrever tornou-se indispensável para viver em uma sociedade letrada. Quanto maior for o nível educacional do sujeito maior serão as suas oportunidades no mercado de trabalho, logo, melhor condição econômica. Para Haddad e Di Pierro (2000, p. 128): do indivíduo só conseguirá alcançar tal objetivo se levar em consideração o contexto social em que ele interage, bem como formação inicial e continuada de todos os profissionais envolvidos no processo educacional. No que se refere à educação de jovens e adultos, Ribeiro (1999, p. 195) no chama a atenção para a seguinte compreensão: Os professores de jovens e adultos devem estar aptos a repensar a organização disciplinar e de séries, no sentido de abrir possibilidades para que os educandos realizem percursos formativos mais diversificados, mais apropriados às suas condições de vida. A extrema valorização da educação nas sociedades pós-industriais está relacionada à aceleração da velocidade de produção de novos conhecimentos e difusão de informações, que tornaram a formação continuada um valor fundamental para a vida dos indivíduos e um requisito para o desenvolvimento dos países perante os sistemas econômicos globalizados e competitivos. Neste contexto a educação de jovens e adultos surge com o objetivo de suprir e complementar as deficiências educacionais que não foram adquiridas na infância, uma forma de incluir social e culturalmente os sujeitos que se encontram privados dos códigos da escrita. Surge, também, como condição para a melhoria na Assinala ainda que a EJA “obriga os educadores a focalizar sua ação pedagógica no presente, qualidade de vida destes. Por meio desta, terão a oportunidade de estudar e de exercer plenamente sua enfrentando de forma mais radical a problemática envolvida na combinação entre formação geral e profissional, cidadania, assim como, intervir na relação Estado/Sociedade, isto é, terão a possibilidade de se desenvolver entre teoria e prática, universalismo e contextualização, etc.” (RIBEIRO, 1999, p. 193). As evidências nos leva intelectual, profissional e socialmente. a acreditar que grande parte dos educadores que atua nessa modalidade de ensino não possuem as habilidades É importante ressaltar que a educação de jovens e adultos não se restringe apenas aos sujeitos carentes necessárias e/ou conhecimentos teóricos e metodológicos que lhes deem subsídios para trabalhar na perspectiva de instrução, que não usufruíram do processo comum de alfabetização, mas também àqueles que já possuem um multicultural, tampouco com os sujeitos envolvidos nesse processo de ensino-aprendizagem. domínio básico da leitura e da escrita, àqueles que por algum motivo param de estudar e por motivos diversos – Na atualidade as políticas públicas educacionais voltadas para a Educação de Jovens e Adultos parte de profissionais, individuais, religiosos, etc. –, voltaram a estudar. Na concepção de Di Pierro (2005, p. 122): uma lógica errônea em que se pensa apenas “em construir o futuro, esquecendo-se do passado”, afirma Haddad (2002, p.13). Para o referido autor, os governantes têm se preocupado apenas com o ensino básico, esquecendose das suas dívidas sociais para com aqueles que são deixados para trás por não terem conseguido acessar seus direitos. Existem também os que são contrários a essa modalidade de ensino. Os quais usam o discurso de que Dentre as motivações para a busca de maiores níveis de escolarização após a infância e adolescência, destacam-se as múltiplas necessidades de conhecimento ligadas ao acesso aos meios de informação e comunicação, à afirmação de identidades singulares em sociedades complexas e multiculturais, assim como às crescentes exigências de qualificação de um mundo do trabalho cada vez mais competitivo e excludente. devemos reivindicar dos nossos governantes uma educação pública, democrática e de qualidade na idade certa, e não o fortalecimento da EJA, que, para estes, não faz sentido investir nessa modalidade de ensino. Concordamos em parte com esse discurso, todavia precisamos compreender que a educação de jovens e adultos Assim, a Educação de Jovens e Adultos compreende uma ampla e diversificada prática socioeducativa. Pois, como argumentam Haddad e Di Pierro (2000, p. 108): se faz necessária para atender a uma parcela significativa da população brasileira que por falta de acesso entre outros motivos não teve acesso ou não concluiu os diferentes níveis de ensino na idade considerada adequada. 200 [Tanto] no passado como no presente a educação de jovens e adultos sempre 201 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. compreendeu um conjunto muito diverso de processos e práticas formais e informais relacionadas à aquisição ou ampliação de conhecimentos básicos, de competências técnicas e profissionais ou de habilidades socioculturais. No entanto, no que se refere às abordagens pedagógicas desenvolvidas nessa modalidade de ensino, nos espaços de educação formal, em geral, apresenta-se através de um modelo eurocêntrico e monocultural que não corresponde às necessidades e interesses dos sujeitos atendidos. Neste sentido, Di Pierro (2005, p. 123) salienta que “as demandas e necessidades educativas dos jovens e adultos, quando consideradas, foram abordadas com “normais” pela cultura hegemônica, certamente, causará a fúria desta, e até mesmo daqueles que provavelmente seriam beneficiados. Do ponto de vista de Gonçalves e Silva (2006, p. 29), “o multiculturalismo não interessa à sociedade como um todo, e sim a certos grupos sociais que, de certa forma ou de outra, são excluídos dos centros de decisão por questões econômicas e, sobretudo, por questões culturais”. É notório que com o passar dos séculos as instituições educativas brasileiras têm evoluído significativamente, mas ainda encontramos em suas bases e diretrizes que foram sedimentadas em uma origem centralizadora, selecionadora, transmissora, individualista, etc. (IMBERNÓN, 2005). Estas precisam romper com a funcionalidade de ser um “lugar” exclusivo de aprender apenas as questões básicas (as quatro operações, políticas marginais, de caráter emergencial e transitório, subsidiárias a programas de alívio da pobreza”. Assim, imaginar a Educação de Jovens e Adultos sob a perspectiva do multiculturalismo crítico é refletir a respeito da diversidade e das identidades culturais de seus sujeitos. É lançar um olhar mais sensível para as especificidades dos indivíduos, reconhecendo que os educandos da EJA ao procurarem pela escola uma profissão) e de reproduzir o saber dominante e proporcionar aos educandos um conhecimento pautado nas questões não apenas tecnológicas e burocráticas, mas nas questões dialógicas. Para estabelecer esse novo processo educacional, as instituições de ensino precisam da colaboração das outras instâncias sociais, neste processo de educar. Consequentemente isso implicará numa educação mais trazem consigo as marcas da exclusão e do abandono da educação formal. complexa, refletindo também na profissão docente. Antigamente, para assumir a capacidade de “ensinar”, bastava possuir certo conhecimento formal. Este fato remete à questão da formação tradicional dos docentes Proposições para a pedagogia multicultural na Educação de Jovens e Adultos que acontecia desatrelada da situação político-social e cultural do país, e que considerava o professor como um Na atualidade, em todos os níveis e modalidade de ensino, já se busca colocar em prática uma educação multicultural, entendida como uma abordagem de ensino-aprendizagem voltada para o fortalecimento, para a valorização e incorporação de valores e crenças democráticas no cotidiano pedagógico. Ou seja, para a promoção do respeito mútuo e a igualdade de oportunidades entre os diferentes sujeitos que se fazem presentes especialista em conteúdos, um transmissor de saberes acumulados, desvinculados da realidade dos educandos e da realidade social mais ampla. A expectativa, portanto, é que a partir da compreensão de que a instituição escolar tem por compromisso desenvolver uma práxis pedagógica voltada para a preservação e resgate dos valores necessários à convivência humana, não tratemos a ação educativa de forma superficial, sem exemplos e vivências concretas. É preciso que nos diversos espaços educativos. Nesta perspectiva, Gadotti (1992, p. 02) ressalta que a educação multicultural “é uma educação que desenvolve o conhecimento e a integração da diversidade cultural. É uma educação para a compreensão mútua, contra a exclusão por motivos de raça, sexo, cultura ou outras formas de discriminação”. Acrescenta ainda que “a educação multicultural é ainda, entre nós, um tema novo e falar dela significa assumir riscos e enfrentar problemas”. Pois, segundo ele, “somos um país etnocêntrico. Embora multirracial, o Brasil, nas suas escolas, se comporta como se fosse monoétnico, desconhecendo a existência de outras culturas e etnias que não a ocidental cristã” (GADOTTI, 1992, p. 03). Em outras palavras, ignora a diversidade de sujeitos e culturas que se o/a professor/a se comprometa com esta causa, promovendo uma transformação, onde o futuro que se almeja seja o mais importante legado para as futuras gerações. É preciso também partir do entendimento de que não existe uma verdade única e absoluta, mas “verdades” que podem ao longo dos tempos serem confirmadas ou refutadas, mediante estudos e pesquisas. Insistimos que colocar em prática uma abordagem educacional na perspectiva multicultural será uma tarefa difícil, mas não impossível. Graças à luta incessante dos movimentos sociais, notadamente do movimento negro, os avanços têm sidos significativos, porém lentos. Visto que nas sociedades desiguais, a exemplo do Brasil, um pequeno número de sujeitos “pensa e diz” como o resto da população deve agir e se comportar. Para correlacionam em seu ambiente. Nas atuais condições em que se encontra a educação pública no Brasil, não será fácil colocar em prática uma educação que atenda as demandas, as necessidades e os interesses dos grupos menos favorecidos. Uma educação organizada de forma a permitir a todos/as, independente de grupo social, étnico-racial e/ou cultural, gênero, religião etc., viverem em harmonia com as diferenças. Quando se sabe que por em prática uma educação multicultural é o caminho mais apropriado na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. agravar ainda existem os que se encontram fora desta pirâmide, a exemplo dos loucos, dos mendigos, etc., os quais são socioeconomicamente invisíveis aos olhos da sociedade. Ante tal realidade, como nos orienta o relatório mundial da UNESCO (2009, p. 15), “em sociedades multiculturais cada vez mais complexas, a educação deve auxiliar-nos a adquirir as competências interculturais que nos permitam conviver com as nossas diferenças culturais e não apesar delas”. Qualquer proposta que venha a atender as demandas e necessidades dos grupos que se encontram a margem da sociedade e sobre o julgo da elite ou não correspondem aos modelos de condutas tidos como 202 Considerações finais 203 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. Saber ler e escrever tornou-se fundamental no mundo onde os códigos escritos se faz presente nas funções mais básicas do viver em grupo. Os indivíduos que não sabe codificar e decodificar letras, números e outros símbolos da escrita encontram-se em desvantagem perante aqueles que dominam a lógica do mundo letrado. Pode dizer-se até mesmo que se encontram excluídos e marginalizados na sociedade. Assim sendo, não podemos aceitar que, na época atual em que tudo acontece numa velocidade extremamente rápida, em tempo real, decorrente, sobretudo, dos avanços tecnológicos e da digitalização do conhecimento e da globalização, ainda continuemos a por em práticas uma educação conteudista, eurocêntrica, monocultural, excludente e seletiva. Ignorar tal situação só reforça os pseudodiscursos ainda engendrados na sociedade, em particular, na escola, de que se o aluno não aprende o único culpado é ele mesmo ou a família. Contudo, nos últimos anos, as discussões sobre a educação para a diversidade fazem-se cada vez mais presente pela urgência de mudanças que oportunize uma educação para todos. Dessa maneira, busca-se discutir uma prática que compreenda o desenvolvimento do sujeito numa dimensão histórica, social e cultural, que atenda as suas particularidades e respeite as diferenças. Mas para a educação multicultural tornar-se uma realidade na sala de aula faz-se necessário a reformulação do currículo e das práticas pedagógicas, tomando como base as identidades e as necessidades dos grupos sociais estigmatizados. Municipal de São Paulo, 16-19 de julho de 1992. GONÇALVES, L. A. O.; SILVA, P. B. G. O jogo das Diferenças: o multiculturalismo e seus contextos. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. HADDAD, S. Educação de Jovens e Adultos no Brasil (1986-1998). Brasília: MEV/Inep/Comped, 2002. HADDAD, S.; DI PIERRO, M. C. Escolarização de jovens e adultos. Revista Brasileira de Educação. n. 14, p. 108-130, mai./ago., 2000. HALL, S. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Tradução Adelaide La Guardia Resende. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003. IMBERNÓN, F. Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a incerteza. 5. ed. São Paulo, Cortez, 2005. MACEDO, C. A. Programa Cultural para o Desenvolvimento do Brasil. In: BARROS, J. M. (Org.). Diversidade Cultural: da proteção a promoção. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. p. 76-87. MOTTA, K. Multiculturalismo: perspectivas pedagógicas para uma sociedade mais solidária. In: Formadores: Vivências e Estudos. Faculdades Adventistas Integradas da Bahia: Faculdade de Educação, Cachoeira, Bahia, ano I, jun. 2004. RIBEIRO, V. M. A formação de educadores e a constituição da educação de jovens e adultos como campo pedagógico. Educação & Sociedade, ano XX, n. 68, p. 184-201, dez., 1999. SILVA, P. B. G. Aprendizagem e ensino das Africanidades Brasileiras. In: MUNANGA, K. (org.) Superando o racismo na escola. Brasília: MEC/SECAD, 2005, p.155-172. UNESCO. Relatório Mundial da UNESCO: Investir na diversidade cultural e no diálogo intercultural. Paris, France: UNESCO, 2009. Acreditamos, no entanto, que sendo o Brasil um país pluriétnico a escola tem por obrigação colocar em EDUCAÇÃO DOS ENJEITADOS: AS AÇÕES EDUCATIVAS NO ASILO DOS EXPOSTOS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA (1862-1900) prática uma abordagem educacional em que todos se sintam incluídos. Uma estrutura curricular que garanta a todos o direito de aprender e de ampliar seus conhecimentos, sem ser obrigado a negar a si mesmo, o grupo étnico e/ou cultural a que pertence, assim como, a adotar costumes, ideias e comportamentos que lhes são ANA PAULA DE SOUZA97 adversos; Enfim, cabe salientar que a escola em que se pense democrática tem por obrigação colocar em prática Fundada em 1549, a Santa Casa de Misericórdia da Bahia (SCMB), atuou no cenário sociopolítico da uma educação multicultural, pautada no respeito à diversidade étnico-racial e cultural, e contribua para o desarraigamento de qualquer tipo de preconceito e discriminação, de forma que o respeito às diferenças seja constante. É válido reafirmar que a instituição escolar tem por compromisso desenvolver uma práxis pedagógica voltada para a preservação e resgate dos valores necessários à convivência humana, uma vez que, não podemos mais tratar a ação educativa superficialmente, sem exemplos e vivências concretas. Precisamos nos comprometer com esta causa, promovendo uma transformação, onde o futuro que queremos seja o mais cidade de Salvador desde sua fundação no século XVI até os idos do século XX. Criada para prestar assistência social à população da cidade, esta firmou sua atuação político-administrativa com ações de cunho filantrópico prestando acolhimento aos pobres e crianças enjeitadas. Seja cuidando dos doentes, ou salvando as almas pagãs dos indivíduos que a esta recorria, a SCMB cuidou também de educar para bem servir os pobres e órfãos que lhe eram despejados na Roda dos Expostos98, perante o anonimato que lhe era permitido visando preservar a identidade de quem a ela recorria. importante legado para as futuras gerações. A Roda cumpriu papel importante no cenário da época, pois esta foi “a única instituição de assistência à Referências CANDAU, V. M. Sociedade, cotidiano escolar e cultura(s): uma aproximação. Educação & Sociedade. Campinas, v. 23 n. 79, ago. 2002. DI PIERRO, M. C. Notas sobre a redefinição da identidade e das políticas públicas de educação de jovens e adultos no brasil. Educação & Sociedade, Campinas, v. 26, n. 92, p. 1115-1139, Especial - Out. 2005. FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. GADOTTI, M. Notas sobre a educação multicultural. Encontro de educadores negros do MNU. Câmara 204 criança abandonada no Brasil.” (MARCÍLIO. In: FREITAS, Cortez, 2011, p. 53) Foi na prestação de serviços de assistência social e acolhimento aos doentes que a Santa Casa ordenou boa parte de suas atividades. Em 1716 passou a ofertar o serviço educacional como demanda de seu expediente. A SCMB mantinha suas atividades na sua sede situada à Rua da Misericórdia, no Pelourinho. No ano de 97 Graduada em Pedagogia pela UFBA, Mestranda do Programa de Pós-graduação em História da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 98 A Roda dos Expostos de Salvador fora fundada pela Irmandade da Misericórdia em 1726. (RODRIGUES, 2003, p. 101) 205 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. 1862 transferiu suas instalações para o Campo da Pólvora, e no mesmo ano, mais precisamente, em 29 de junho de 1862, fora instituída a Escola Interna do Asilo da SCMB. Fundado em 1862, o Asilo dos Expostos passou a (...) Tanto em Goa quanto em Macau, Luanda ou na Bahia, os conselhos municipais ter um regulamento no ano de 1863, que por sua vez vigorou até o ano de 1914, quando este foi substituído. eram responsáveis de jure. Mas em todos os casos eram as respectivas Misericórdias Dentre os propósitos do Asilo estavam o cuidado com a preservação da ordem através da educação que recebiam, alimentavam, vestiam e abrigavam as crianças abandonadas pelas mães. Essas Misericórdias não tinham obrigação de assistir enjeitados. religiosa e do trabalho, pois a educação rígida e disciplinar ali prestada conteria as inquietações dos internos. No que tange ao aspecto educacional, a SCMB não se via obrigada a constituir escolas formais, mas assim o fez por iniciativa própria, devido ao entendimento da necessidade de educar as crianças que chegavam Nota-se que o cuidado com a infância durante muito tempo se deu unicamente por meio das ações do a seu abrigo. Crianças de toda ordem: órfãs, enjeitadas, doentes, mas, como “filhas de Deus”, deveriam ser Asilo, que cuidavam dos seus internos desde a atenção à saúde até o cuidado espiritual – a preocupação com o batizadas, cuidadas, alfabetizadas e preparadas o mais cedo possível para ganharem dignamente seu sustento no batismo dos internos era candente na Santa Casa. Registros apontam que imediatamente o ingresso do enjeitado mundo exterior, em conformidade com um projeto assistencial consolidado, herdado do sistema colonial. era providenciado seu batismo a fim de que não se mantivesse pagão99 –, pois a “primeira preocupação do A ação educacional da Escola Interna, seguindo uma orientação tradicional, possuía um forte vínculo com a religiosidade católica e suas noções de formalismo, disciplinamento, avaliações quantitativas e diferenciação quanto a sexo, pois a educação concedia às meninas deveria se diferenciar da oferecida aos meninos ali abrigados. sistema para com a criança nela deixada era de providenciar o batismo, salvando a alma da criança: a menos que trouxesse um escritinho – fato muito recorrente”. (MARCILIO, 2011, p. 54) O cuidado com a vida dos expostos compunha a pauta da Santa Casa, tendo em vista as interdições legais que estes sofriam diante ações estatais. Pois, leis imperiais eram regulamentadas impermeabilizando seu O ingresso dos expostos que ali eram recolhidos se dava por meio da Roda dos Expostos, único meio de acesso à educação escolar. Dentre elas está o Aviso Imperial 144, de 1864 – dois anos após a fundação da acolhimento destes na época. Devido às mazelas a que eram submetidas às crianças ainda no Império, a Roda Escola Interna do Asilo – que: “proíbe matrícula escolar aos portadores de doenças contagiosas; escravos e não com sua função caritativa evitava que estas estivessem submetidas aos maus tratos da fome e do frio quando vacinados”. (ROMÃO, NEAB/UNIAFRO, 2013) jogadas à rua. E as crianças recolhidas, de acordo (SANTANA, 2008, p. 83): Em contraproposta ao que dizia a Lei Imperial, a instituição se mantinha ativa sua atenção à saúde dos expostos recorrendo periodicamente aos cuidados médicos e de vacinação a estes: As crianças asiladas eram agrupadas de acordo com a idade: meninos e meninas de 0 a 3 anos ficavam na casa de amamentação; de 3 a 7 anos ficavam no chamado asilo inferior; meninas de 8 a 21 anos eram alojadas no asilo superior e meninos ocupavam um outro alojamento. Cada espaço era regido por regras previstas no Regulamento. De acordo com os Relatórios da instituição, a idade limite para a permanência de meninos era 12 anos (ASCMB, Relatório..., 1884-1885); acima desta idade só permaneciam meninos “[...] anormais e incapazes de qualquer proveito intellectual.” (ASCBM, Relatório..., 1914, p. IV); em 1921, o Relatório refere-se à saída dos meninos ao atingirem a idade de 14 a 15 anos, sem maiores explicações (ASCBM, Relatório..., 1921-1922). No tocante às meninas, o Regulamento de 1863 (ASCBM, Regulamento..., 1874, p.12) traz textualmente, no Artigo 31: “As meninas, depois da idade de seis anos, serão educadas no Asilo, de onde sairão para casar, ou para companhia de alguma família capaz, debaixo de contrato, ou ainda para viverem sobre si, se o quiserem, depois de completar a maioridade”. Officio ao mesmo. Santa Casa, 14 de outubro de 1881. Illustrissimo Senhor Communico a Vossa Senhoria em solução ao pedido, por seu intermedio fez o digno facultativo desse estabelecimento que o Governo da Provincia por officio de 1º do corrente em resposta ao desta Provedoria de 4, declarou-me ter determinado ao Dr. Director do Instituto Vaccinico que um dos medicos do mencionado Instituto compareça no Asylo dos Expostos, nos primeiros dias de cada mez, às 9 horas da manhã para praticar a vaccinação. Deus guarde Vossa Senhoria. Illustrissimo Senhor Comendador Adolpho F. Hasselmann. O Provedor Conde de Pereira Marinho.100 É importante salientar que com o advento da Lei do Ventre Livre no ano de 1871, o número de A linha tênue entre orfandade e abandono se esmiúça no sentido de que a criança órfã era aquela sem pai e sem mãe, isenta de qualquer figura parental que pudesse lhe prestar assistência. Já a criança abandonada enjeitados no Asilo aumentou devido ao grande número de ingênuos – filhos de escravizadas nascidos livres – que foram recusados pelos senhores de engenho que não quiseram arcar com a criação daquela criança. era aquela enjeitada, jogada ao desprezo e renegada socialmente. Tão logo, a assistência lhe era prestada através do abrigo em orfanato e asilos de acolhimento a menores, já que não havia nenhum tipo de assistência à infância à época, pois a municipalidade, responsável pelo acolhimento dos menores abandonados, alegavam falta de recurso. Ainda de acordo (RUSSEL-WOOD, 1981, p. 234- 235): 206 99 “A tratar do interno Marcollino de Mattos, menino pardo de idade de cinco mezes deixado na Roda do Azylo pela meia noite do dia 6 de Janeiro de 1865. Baptizou-se no dia 7 de Janeiro de 1865”. ARQUIVO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA. Livro da Roda ou Registros de Admissão dos Expostos, nº 2, 1865-1975. Ocorrência registrada com o número 151, de 6 e 7 de janeiro de 1865 100 ARQUIVO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA. Mordomia Asylo dos Expostos, Livro 1, nº 150. Registro de correspondência com Mordomo do Asilo dos Expostos, 1871-1899. Ofício nº 378. 207 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. E aqui, na Província da Bahia, no ano de 1873, logo após a primeira lei abolicionista, fica Ao longo dos anos outras demandas eram cumpridas no Asilo. As crianças eram educadas nos moldes regulamentada a instrução pública com base na lei 1.335, de 27 de setembro, em que o Artigo 83 mostra: “Não religiosos para que fosse mantido o bom caráter do indivíduo, e separadamente, meninos e meninas cresciam serão admitidos à matrícula, nem poderão freqüentar as escolas (...) os meninos que padecem de doenças predestinados a constituírem suas famílias e se tornarem pessoas de bem. Educadas para serem boas mães e contagiosas, os não vacinados e os escravos”. (ROMÃO, no prelo) cuidadoras do lar, as meninas se apropriavam de prendas transmitidas pelas irmãs de caridade, e aprendiam Além das imposições legais do Estado sobre à população oriunda da escravidão como era o caso dos rudimento de leitura. ingênuos, a Santa Casa na sua ação caritativa preservou o cuidado com esse grupo, prestando-lhe apoio As mudanças com o novo estatuto não chegaram a ser diametrais, pois muito do que havia sido posto no necessário à preservação da sua saúde física, espiritual e educacional. Pois era grande o número de crianças de antigo estatuto, havia sido preservado no novo. Alguns pontos de ordem administrativa foram revistos, pois cor enjeitadas. Ainda de acordo com o livro da Roda – livro de registro de ingressos pela Roda dos Expostos da cargos que eram de ocupação da Superiora, normalmente uma irmã de caridade da Casa, passou a ser ocupado Santa Casa – crianças “cabras, creoulas e pardas” eram constantemente rejeitadas: por educadores. Tratou-se de pequenas mudanças substanciais na ordem administrativa da entidade. Quanto ao que concernia à admissão das crianças, condicionou-se a manutenção da Roda, mas algumas exigências foram implantadas mediante a admissão destas. O batismo das crianças que ingressavam na Santa Pelas noves horas e um quarto da noite foi exposto na roda do Asylo da Santa Casa da Mizericordia um menino cabra de idade de 15 dias doente trouxe os seguintes objetos. 1º 1 camisa de madrasto com bico 2º 1 cueiro de chita verde 3º 1 tira de pano de madrasto servindo de cinto 4º 1 touca de cassa de carossinho com bico Este menino trouxe consigo a carta seguinte Illustrissimo Senhor Comendador Manoel José de Figueiredo Leite Junto a esta vai o pequenino João Paulo filho de Jezuina Adr. de Souza que hoje recolheo na Santa Caza de Mizericordia pelo seu estado de saude e pobreza e como faltão-lhe os meios precizos para o seu tratamento [ilegível] a Vossa Senhoria a fim que tenha nos menores dos desvalidos até que torne restabelecido da sua saude. Esperamos esta graça e caridade de Vossa Senhoria. O Menino nasceo no dia 26 de Junho do corrente anno. Sou com todo o respeito e estima Placido Moreira Dantas101 Casa passou a ser obrigatório, e isso de acordo o estatuto de 1863, ainda foi mantido no que fora substituído, o de 1914, e consta no Art. 6º o seguinte: O exposto que não trouxer nome receberá o do Santo do dia de sua exposição; e se por qualquer circumstancia não for possível, o que o Mordomo lhe der: e terá o cognome do padrinho, se elle nisso convier, e sempre o de – Mattos – e prova do reconhecimento ao primeiro Bemfeitor da Santa Casa. (RODRIGUES, 2003, p. 103) O cuidado com o registro civil das crianças busca obedecer não só ao seu novo estatuto, mas também as leis republicanas, fazendo assim com que a responsabilidade que era da Igreja passe a ser do Estado. Com a passagem do Império para República nota-se a mudança da configuração social que representava a criança. O que por sua vez não passa a demonstrar maior atenção à criança, e sim uma preocupação em reconfigurar um significado social frente ao novo regime nos moldes que se esquivam de qualquer resquício À medida que os anos se passaram mais crianças eram recolhidas na Roda, e com isso foi aumentando o contingente de expostos. E para isso, algumas medidas contempladas pelo estatuto de 1863 precisavam ser suplementadas por um novo regimento, que só foi adotado posteriormente no ano de 1914. com a escravidão. Após a Primeira República, os ares de civilização e modernização da sociedade tomaram conta do país, de modo a fazer com que práticas remanescentes do regime escravista fossem postas de lado para conferir à Também deve ressaltar que diversas mudanças transcorreram no Império e na República no intuito de sociedade ares de civilidade trazidos pelos novos tempos que surgiam. melhorar o método pelo qual muitas crianças eram recolhidas nos asilos e casas de acolhimento. Isso se devia Com isso, no ano de 1934, é implantado o regulamento do escritório aberto, que passaria a admitir ao fato de que sem haver uma medida efetiva que evitasse o abandono de crianças à época, o revezamento entre crianças não mais pela Roda, que passou a ser um modo de admissão retrógrado e inadequado aos propósitos entidades filantrópicas e Estado era recorrente. que surgiam para a instituição. Da sua fundação em 1862 até o ano de 1900, a Escola Interna do Asilo, imediatamente à Proclamação Extinta a Roda, o Escritório de Admissão, passou a não mais admitir as crianças por meio da da República, sofreu mudanças no pano de fundo da instituição. Suas ações caritativas agora estariam clandestinidade. O acolhimento das crianças através do escritório estaria condicionado à disposição de condicionadas às demandas do Estado, pois com a mudança do regime político, não lhe cabia mais suprir familiares que passariam a explicar as razões do abandono, mas ainda assim era garantido o silêncio dos lacunas deixadas por aquele em tempos de reestruturação da nova ordem social. responsáveis que deixariam sua prole aos cuidados deste. 101 ARQUIVO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA. Livro da Roda ou Registros de Admissão dos Expostos, nº 4, 1865-1975. Ocorrência registrada com o número 449, de 17 de julho de 1869. Misericórdia, e posteriormente no Campo da Pólvora, isentou o Estado de assumir sua responsabilidade para 208 209 O abandono de crianças através da Roda dos Expostos que vigorou de 1726 a 1934, na Rua da ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. com as crianças abandonadas em Salvador. Mais que isso, permitiu que medidas e ações públicas deixassem de ser tomadas em prol de um pequeno grupo que estava vulnerável aos direitos sociais, que ora não existiam. EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: DESAFIOS NO ENFRENTAMENTO DO RACISMO NA ESCOLA O acesso à cidadania, o direito à saúde, moradia e comida fora assegurado pelo poder da Igreja através Etelvina de Queiroz Santos102 Karla Adriana Fernandes de Castro Pereira103 Maria Luíza Lina Souza104 das ações da Santa Casa. Com isso a educação também se perpetuou, já que era um direito social que libertaria das mazelas do mundo e prepararia para o bem servir. REFERÊNCIAS ARQUIVO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA. Livro da Roda ou Registros de Admissão dos Expostos, nº 2, 1865-1975. _______________________. Livro da Roda ou Registros de Admissão dos Expostos, nº 4, 1865-1975. _______________________. Mordomia Asylo dos Expostos, Livro 1, nº 150. Registro de correspondência com Mordomo do Asilo dos Expostos, 1871-1899. Ofício nº 378. COSTA, Paulo Segundo da. Ações Sociais da Santa Casa de Misericórdia da Bahia. 1ª ed. Salvador: Contexto, 2001. FRAGA FILHO, Walter. Mendigos, moleques e vadios na Bahia do século XIX. São Paulo/ Salvador: HUCITEC-EDUFBA, 1996. FREITAS, Marcos Cezar de (org.). História Social da Infância no Brasil. 8 ed. São Paulo: Cortez, 2011. FREYRE, Gilberto. Casa grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. 51ª ed. São Paulo: Global, 2006. LUZ, José Augusto; SILVA, José Carlos (org.). História da Educação na Bahia. Salvador: Arcadia, 2008. NASCIMENTO, Anna Amélia Vieira. Dez freguesias da cidade do Salvador: aspectos sociais e urbanos do século XIX. Salvador: EDUFBA, 2007. PRIORE, Mary Del (org.). História das crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 2013. RODRIGUES, Andréa Rocha. A infância esquecida: Salvador 1900-1940. Salvador: EDUFBA, 2003. ROMÃO, Jeruse. A Lei Federal 10.639/03 e a Educação das Relações Étnico-Raciais. Florianópolis, Universidade do Estado de Santa Catarina, NEAB/UNIAFRO, 2013 (Artigo do Curso de Educação à Distância sobre a Lei 10.639/03). Disponível em: http://www.moodle.udesc.br/course/view.php?id=1845 Acesso em 26/12/2013. _______________. A escola como um não lugar: Legislação educacional e a interdição do acesso do negro aos sistemas de educação no Brasil (1834- 1887). (No prelo) RUSSEL-WOOD, A.J.R. Fidalgos e filantropos: a Santa Casa de Misericórdia da Bahia, 1550-1755. Brasília: Universidade de Brasília, 1981. SANTANA, Ângela Cristina Salgado de. Santa Casa de Misericórdia da Bahia e sua prática educativa – 1862-1934 (Tese de Doutorado). Programa de Pós-graduação em Educação. Universidade Federal da Bahia, 2008. Resumo O presente trabalho tem como objetivo discutir a omissão do racismo no ambiente escolar e apontar possíveis caminhos para ações de educadores/as em uma perspectiva de enfrentamento da descriminação racial nas instituições de ensino. O referencial teórico que subsidia as reflexões se pauta na legislação vigente Lei 10639/03; Parecer 03/04 do Conselho Federal de Educação e em autores que analisam na perspectiva crítica as desigualdades raciais como: CAVALLEIRO, 2001; HENRIQUES, 2002; BOTELHO, 2000; MUNANGA, 2005. Através dessas leituras e de experiências vivenciadas na prática educacional, se tornou possível concluir que compreender e visualizar a discriminação no ambiente educacional poderá ser a chave para o enfrentamento do preconceito racial. Nesse sentido, é muito importante investir na formação de professores para que a temática da diversidade, principalmente a diversidade étnico-racial, faça parte da proposta pedagógica da escola e que esta seja trabalhada em todas as atividades durante todo ano letivo de maneira consciente e politizada. INTRODUÇÃO Ao longo do meu percurso como professora da educação básica, pude perceber que anegação da discriminação racialnas instituições de ensino impede a identificação da presença do racismo e do preconceito racial nas relações cotidianas na escola resultando na naturalização, contribuindo para a reprodução e sustentação do pensamento racista no seu interior. Segundo Bordieu, o sistema escolar, valendo-se da ideologia da “escola libertadora”, concorre eficazmente para a conservação social, uma vez que legitima as desigualdades sociais, tratando a herança cultural e social como dons naturais. As diferenças de êxito são tratadas, frequentemente, como diferenças de dons e no final “as oportunidades objetivas se encontram transformadas em esperanças ou desesperanças subjetivas (...)” (BoudieuapudNogueira eCatanip. 70). Neste contexto, repensar e discutir a questão racial no ambiente escolar é importante por diversas razões, uma delas é a carência de preparação dos/as educadores/as para enfrentar e debater a temática, outra questão que contribui para a invisibilidade da discriminação racial éa falta da formaçãoe contribuições pedagógicas, pois somente a entrega de manuais, livros, e coleções como o da História Geral da África, não são o suficiente para minimização da situação do preconceito escolar, uma vez que muito desses livros, chegam às escolas e são colocados em bibliotecas sem a utilização, ou mesmo conhecimento dos professores, por isso, fazse necessário repensar a melhor forma de distribuição destes conhecimentos, éimportante que a equipe pedagógica tenha sensibilidade e formação para encaminhar estudos e discussões sobre o tema em atividades extraclasse, para que dessa forma as ações de políticas públicas possam verdadeiramente se efetivar e possibilitar um processo de ensino e aprendizagem comprometido com o combate das ideologias que até então preservaram o racismo e aumenta a evasão de alunos negros e ainda são invisibilizadosna escola. 102 Autora - Docente do Estado da Bahia, graduada em Pedagogia pela UNEB, Historia FTC, Especialista em Gestão de Políticas Publica em Gênero e Raça - UFBA e especializanda em Diversidade Étnico-Racial - UNEB - Campus Caetité. E-mail: [email protected] 103 Graduada em Pedagogia docência e gestão de processos educativos, especializanda em Diversidade Étnico-Racial - UNEB - Campus Caetité. Email: [email protected] 104 Graduada em história pela UNEB campus VI, especializanda em Diversidade Étnico-Racial - UNEB - Campus Caetité. E-mail: [email protected] 210 211 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. A NEGAÇÃO DO NEGRO NA ESCOLA E A LEI 10.639/03: LUTA NO ENFRENTAMENTO DO RACISMO NO SISTEMA EDUCACIONAL professores veem as questões que referem à diversidade racial e cultural do país para nela intervir. “A ausência de iniciativas diante de conflitos raciais entre alunos e alunas mantém o quadro de discriminação. Diante desses conflitos o silêncio revela conivência com tais procedimentos” (CAVALLEIRO, 2001, p.153). O silêncio é um dos fatores que impede a identificação da presença do racismo e do preconceito racial nas Nos últimos anos aeducação brasileira tem alcançado significativos avanços no que se refere ao acesso escolar. Contudo, a questão da qualidade e equidade é um desafio ainda a ser alcançado. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, apontam que as diferenças raciais marcam todos os campos da vida social brasileira, e a educação é um dos fatores preponderante e historicamente marcado pela desigualdade. Ao analisar os dados do PNAD edo IBGE,realizada entre os anos de 1995 e 1999, com pessoas nascidas entre 1930 e 1970 – englobando, portanto quase todo o século XX –, Ricardo Henriques, então pesquisador do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) do Ministério do Planejamento, chegou à seguinte conclusão: De fato, a escolaridade média de um jovem negro com 25 anos de idade gira em torno de 6,1 anos de estudo; um jovem branco da mesma idade tem cerca de 8,4 anos de estudo. O diferencial é de 2,3 anos de estudo. A intensidade dessa discriminação racial, expressa em termos da escolaridade formal dos jovens adultos brasileiros, é extremamente alta, sobretudo se lembrarmos que trata-se de 2,2 anos de diferença em uma sociedade cuja escolaridade média dos adultos gira em torno de 6 anos. (HENRIQUES, 2001, p. 26) Henriques apresentou um gráfico com os dados da PNAD sobre a evolução da escolaridade média por corte e cor no Brasil do século XX, e constatou que a “intensidade dadiscriminação racial é a mesma vivida pelos pais desses jovens eamesmaobservada entre seus avós”. Este gráfico já foi chamado de“eletrocardiograma de morto”, tendo em vista que, embora aumente o nível de escolaridademédia para todos os brasileiros ao longo do século XX, a desigualdade entre negros e brancospermanece a mesma em quase cem anos. Esta afirmação se consolida com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (IBGE, 2010), quando aponta que asdiferenças de escolaridade média entre negros e brancos diminuiu em dez anos, no entanto, continua alta. De acordo com os dados os percentuais de pessoas de 10 anos ou mais de idade sem instrução ou com ensino fundamental incompleto diminuíram de uma forma geral para os brancos, pretos e pardos. De 2000 para 2010, a proporção caiu de 56,6% para 42,8% entre os brancos, de 74,4% para 56,8% entre os pretos e de 73,2% para 57,3% para os pardos. Em relação à proporção das pessoas que frequentavam escola segundo os grupos de idade, as maiores diferenças foram observadas para a faixa de 20 a 24 anos, com pouco mais de 20% dos negros e pardos na escola e mais de 25% para os brancos. Lembrando que, esta faixa etária costuma estar no Ensino Superior. Na faixa etária de 15 a 17 anos, os valores foram bem maiores. Cerca de 85% dos brancos frequentam a escola e 81% dos negros e pardos estão na mesma situação. Apesar dos avançosvale a pena ressaltar que entre os 14 milhões de brasileiros com mais de 15 anos que são analfabetos, 30% são brancos e 70% são negros ou pardos. A esse respeito, Henriques (2001) argumenta que a distribuição da escolaridade entre os negros é significativamente pior do que entre os brancos. O peso relativo dos níveis de mais baixa escolaridade é maior entre os negros do que entre os brancos e, além disso, na medida em que avançamos para níveis superiores de escolaridade, os negros perdem posições relativas frente aos brancos. Neste sentido, observa-se que a universalização é uma realidade que ainda não se concretizou para negros e negras do Brasil. Por isso, educar para as relações étnico-raciais sugere refletir de que maneira os brasileiros, sobretudo 212 relações cotidianas na escola resultando na naturalização, contribuindo para a reprodução e sustentação do pensamento racista no seu interior e contribuindo para o aumento da evasão escolar da população negra da instituição de ensino. Nesse sentido, Barbosa aponta que: [...] evidências das desigualdades raciais no plano educacional, demonstrando que os pretos e pardos apresentam evidentes desvantagens em relação aos brancos, tanto nos resultados educacionais obtidos (medidos em anos de escolaridade) quanto no acesso e nas trajetórias escolares (diferenças na velocidade de promoção, nas taxas de repetência, de atraso e de ingresso tardio). (BARBOSA, 2005, p. 09). Partindo deste pressuposto, pensar a questão racial no ambiente escolar é importante por diversas razões, uma delas é a falta de preparo dos professores para lidar com a questão, o que indica a ausência de contribuições pedagógicos que possibilitem um processo de ensino e aprendizagem comprometido com o combate das ideologias, que até então preservam o racismo e aumentam a evasão de alunos negros da escola. Todas as escolas deveriam fazer os professores e os alunos participarem do currículo anti-racista que, de algum modo, está ligado a projetos da sociedade em geral. Esta abordagem redefine não somente a autoridade do professor e a responsabilidade dos alunos, mas situa a escola como uma força importante na luta por justiça social, econômica e cultural. Uma pedagogia de resistência pós-moderna e crítica pode desafiar as fronteiras opressivas do racismo, mas também aquelas barreiras que corroem e subvertem a construção de uma sociedade democrática (GIROUX, 1999, p.166). Nesse sentido, o autor chama atenção das escolas na construção e/ou reconstrução dos seus currículos, priorizando a participação democrática com atuação dos professores, estudantes e da sociedade na luta por justiça social contra o racismo e por uma sociedade mais democrática. Os Parâmetros Curriculares Nacionais faz o seguinte questionamento: “Em um país culturalmente plural como o Brasil, é pernicioso trabalhar em sala de aula com uma visão que exclui grande parte da população brasileira das representações que a criança costuma ter no discurso pedagógico (o que inclui também representações em material didático): branco, católico, morador do ‘sul-maravilha’, classe média, falante de uma variedade hegemônica etc.” o PCN (BRASIL, 1998, p. 48). Frente a essa realidade, cabe a escola rever o seu currículo de maneira que sua proposta pedagógica propicie aos educadores formações continuadas que priorize a educação inclusiva e a diversidade.“Educar para as diversidades tem como pressuposto uma educação que promova um convívio harmonioso entre os diferentes, não permitindo que os preconceitos se concretizem em discriminações, xenofobias, sexismos e racismos”.(BOTELHO, 2000, p 34). É bem verdade que a escola não pode resolver todos os problemas sociais, mas pode acolher diferenças e diversidades de modo que não se tornem desigualdades. São com essas reflexões que devemos pensar a formação que esteja preocupada em qualificar os professores para que mudem suas atitudes e observem de 213 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. forma crítica a relação entre o sistema escolar e as desigualdades raciais e étnicas e a questão de identidade. Na perspectiva de Botelho (2000), a hegemonia teórica que privilegia apenas o conteúdo eurocêntrico nas escolas brasileiras tem alijado negros e brancos de um conhecimento sócio histórico, presente na cultura brasileira, pertencente a outros grupos étnico-raciais, dificultando uma consciência reflexiva e emancipatória da nossa população. Por isso, é preciso criar novos espaços e eleger outros atores sociais para um conhecimento educacional diferenciado. Diante da situação de humilhação e desprezo, a população negra não silenciou e muitos foram à luta por meio dos movimentos negros em busca de visibilidade e atenção social durante o século XX e XXI. Com isso, o Estado foi convocado a assumir suas responsabilidades que até então estavam omissas, e desde a década de 1980 aspolíticas públicas passaram a incorporar o problema da equidade na educação. Neste contexto, em janeiro de 2003, foi promulgada a lei nº 10.639/03 alterando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394 de 1996), instituindo a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Africana e Afro-brasileira. (BRASIL, 2003). No ano seguinte, a Resolução CNE/CP nº. 01/2004 estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Em seguida, o Parecer 03/2004 buscou atender os propósitos expressos na lei e regulamentar a alteração trazida à Lei 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A lei também estabelece que o calendário escolar inclua o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Os movimentos negros organizados e a academia engajada souberam “[...] atuar estrategicamente para a organização e a definição de políticas públicas que dessem conta de que as leis não fossem meras letras mortas em papel, mas que, ao contrário, ensejassem muitas mudanças”. (DIAS, 2003, p. 59). Estas legislações procuram atender a demanda da população negra na área da educação, pois fomentou políticas de ações afirmativas de reparações, e de reconhecimento e valorização da história e identidade do negro fundamentada nas dimensões sociais oriundas da realidade brasileira, com vistas a combater o racismo e as discriminações que atingem os negros principalmente no ambiente escolar. Após uma década da sanção da lei 10.639/2003. A legislação apresenta uma proposta respeitável de mudanças na educação brasileira, uma vez que estipula e determina diretrizes e práticas pedagógicas que reconhecem a importância de africanos e da população negra no processo de formação nacional. A norma representa uma vitória significativa para o movimento social negro no combate à discriminação racial e valorização e respeito às diferenças frente ao tratamento subalterno da população negra historicamente no contexto da sociedade brasileira. A alteração da LDB, desse modo, visa corrigir o tratamento depreciativo do ponto de vista simbólico e ressignificar a temática da escravidão. (IPEA, 2010, p. 246). Do ponto de vista da política pública, a sua efetivação perpassa por três dimensões: atuação significativa na formação docente, no que tange à formação inicial e continuada de professores e profissionais da escola; confecção do material didático; e a aprimoramento de mecanismos, instâncias e processos de controle social e participação. (IPEA, 2010, p. 246). Referências: BARBOSA, M. L.; et al. (Org.). Os mecanismos de discriminação racial nas escolas brasileiras. Rio de Janeiro: IPEA/Ford Foundation, v. 1, p. 93-120, 2005. BOTELHO, D. M. Ayanini (Coragem). Educadores e Educadoras no enfrentamento de práticas racistas em espaços escolares. São Paulo e Havana São Paulo. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós- Graduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo, 2000. BRASIL. Lei Federal n.º 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. Brasília: MEC, 2003. _____.Lei n. º 9.394, de 20.12.96: estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: [s.n.], 1996. _____. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília: MEC/Secretaria Especial de Política de Promoção de Igualdade Racial, 2005. _____. Constituição da República Federativa do Brasil. 18 ed. rev. ampl. São Paulo, 1998. _____. Lei n. º 10.639, de 09.01.03: altera a Lei 9394/96 para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e cultura afro-brasileira”. _____. Parecer No. CNE/CP 3/2004. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília: MEC Ministério da Educação: Conselho Nacional de Educação: 17 p. CAVALLEIRO, Eliane. Racismo e anti –racismo na educação- repensando nossa escola. – org, São Paulo: Summus, 2001. DIAS, Lucimar. Quantos passos já foram dados? A questão de raça nas leis educacionais – da LDB de 1961 à Lei 10.639, de 2003. In: História da Educação do Negro e Outras Histórias. Coleção Educação para todos. Brasília: Edições MEC/BID/UNESCO, 2003. p.49-.64. GIROUX, Henry. Redefinindo as fronteiras da raça e da etnicidade: além da política educacional. In: Cruzando as fronteiras do discurso educacional: novas políticas em educação. Trad. Magda F. Lopes. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999.p.133-172. HENRIQUES, Ricardo. Desigualdade racial no Brasil: evolução das condições de vida nadécada de 90. Texto para discussão n° 807. Rio de Janeiro: Ipea, 2001. IBGE. Censo Demográfico 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. IBGE. PNAD 1996. Rio de Janeiro: IBGE, 2009. IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Capítulo Igualdade Racial. Políticas Sociais acompanhamento e análise nº 13, 2007. _________. Capítulo Igualdade Racial. Políticas Sociais - acompanhamento e análise nº 16, 2008. __________. Capítulo Igualdade Racial. Políticas Sociais – acompanhamento e análise nº 18, 2010. ________. Do silêncio do lar ao silêncio escolar. Educação e Poder - racismo, preconceito e discriminação na Educação Infantil. São Paulo: Summus, 2000. MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: Identidade nacional versus identidade negra. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. NOGUEIRA, Maria Alice & CATANI (orgs.), Afrânio. Escritos de Educação, Petrópolis, Vozes, 1998. EDUCANDO PARA A DIVERSIDADE: REJEIÇÃO, ADAPTAÇÃO E ESTRATÉGIAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES EVANGÉLICOS CONSIDERAÇÕES Compreender e visualizar a discriminação no ambiente educacional poderá ser a chave para o enfrentamento do preconceito racial por parte dos/as professores/as, além disso, sabe-se que somente se busca solução quando detecta algum problema, neste contexto a sensibilização dos educadores/as quanto a esta problemática, poderá levá-los/las a estudar os manuais e literaturas oferecidos pelo Ministério da Educação. Sabe-se que o combate ao racismo, a implementação da reeducação das relações étnico-raciais não são tarefas exclusivas da escola, contudo as discriminações existentes na sociedade são mais observáveis nas escolas, tendo em vista que a instituição educacional reflete o modelo dominante de uma sociedade, daí a necessidade de formação de professores para melhor trabalhar e desconstruir o preconceito racial dentro do ambiente escolar. 214 DEYSE LUCIANO DE JESUS SANTOS105 Resumo: Pensar na sala de aula hoje é, sobretudo, imaginar que aspectos estão presentes no cotidiano das 105 Doutoranda em Educação e Contemporaneidade na UNEB. Mestre em Educação e Contemporaneidade pela UNEB. Graduada em História pela Universidade Católica do Salvador, Pós-graduada em Psicopedagogia Institucional pela UFBA, Especialista em História e Cultura Afro-indígena Brasileira pela Faculdade São Tomaz de Aquino. Integrante do Grupo de Pesquisa “Educação e Desigualdades” e está relacionado ao projeto “Religião na escola. Etnografia do espaço escolar e de outras instâncias de socialização” (CNPq), coordenado pela Doutora Lívia Fialho Costa. Professora concursada da Educação Básica Rede Pública Estadual de Salvador. Docente do curso de Pedagogia da Faculdade Mauricio de Nassau e Docente do curso de Licenciatura em História a Distância na Universidade do Estado da Bahia. 215 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. instituições de educação que interferem no processo de ensino aprendizagem dos sujeitos ali envolvidos. No Brasil a religião tem interferido no cotidiano dessas instituições, à medida que os segmentos religiosos emergem de suas doutrinas e adentram as salas de aula. O presente artigo propõe refletir a influência das doutrinas evangélicas na educação formal do sujeito, focando o aluno no ensino superior em cursos de licenciatura. A temática faz parte da trajetória da autora enquanto pesquisadora das relações escola, diversidade e religião. Assim, o diálogo aqui estabelecido parte dessa trajetória e do projeto de pesquisa em andamento no doutorado em Educação e Contemporaneidade na Universidade do Estado da Bahia. “... a maior parte dos indivíduos na sociedade não suportam o peso da liberdade e passam a desejar viver em situações nas quais não tenham que enfrentar as responsabilidades de serem livres e assumirem as consequências das decisões que tomam no exercício de sua liberdade. Desse modo, existe uma enorme pressão para que situações do tipo paternalista sejam construídas socialmente levando os indivíduos a abrirem mão da liberdade em troca da ausência da responsabilidade ” (SERPA, 2007 p. 22) Assim, de acordo com o autor supracitado, essas situações podem ocorrer das mais variadas formas na Palavras chave: Educação, Diversidade e Religião. sociedade, desde o sujeito tomar o outro como seguidor por conta de sua conduta vista como “superior” até a escolha de seguir ideias ou doutrinas que representem essa possível anulação de responsabilidade social. Talvez Introdução Ao refletir sobre o significado e uso da palavra democracia no Brasil, me pergunto: o que os cidadãos no nosso país estejamos acostumados a essa visão paternalista de sociedade, onde é mais fácil lidar com as brasileiros compreendem por democracia? Palavra que tem seu conceito fundado na Antiguidade Clássica, com questões diárias, se apegando a algo ou alguém, sem termos de fato experimentado a liberdade. Dessa forma, os cidadãos da famosa Atenas cidade-estado grega, no século VI a.C., que na época visava uma proposta como compreendermos a democracia se ela de fato não se estabelece no conjunto total do que denominamos política onde o governo seria exercido a partir do povo. Seria o cidadão a escolher seu representante na esfera sociedade? Ou deveríamos na conjuntura atual falar de “democracias”? Visto que, o que temos de concreto são governamental e seria para o povo que essa esfera governaria. Em tese, o povo seria soberano e o poder político grupos variados de “cidadãos democráticos” que implementam seu discurso em favor próprio quando na estaria em suas mãos. verdade deveria estar direcionado ao coletivo e não ao individual. Tal conceito ainda naquela época era interpretado de forma equivocada, visto que, nem todos na Pensar como ao longo dos séculos os homens vem interpretando suas ações, registrando e imprimindo famosa Atenas tinham direitos de cidadãos garantidos. Muitos séculos se passaram e a proposta de uma suas personalidades no cotidiano das sociedades, através de suas instituições políticas, educacionais e até sociedade democrática se espalhou pelo mundo, e no Brasil, depois de idas e vindas na formação política desde mesmo religiosas, é, sobretudo, um convite a repensarmos nossas visões de mundo e suas tensões. Dessa forma, a colonização, nos dias atuais nos declaramos um país democrático. Mas, de fato como interpretamos a corroboro com Popper ao afirmar que o desenvolvimento crítico da sociedade põe fim a liberdade humana, democracia? Vivemos um momento muito específico da história do Brasil que corresponde a necessidade de visto que as tensões daí geradas causam cisões sociais que delimitam novos grupos e formas de pensar o mundo reparamos todas as injustiças sociais aqui cometidas ao longo dos séculos. Reparação que ganha força com os a partir de seus valores e crenças. Mas, isso não quer dizer que se trate de retrocessos ou avanços na sociedade, movimentos sociais, a partir da década de 1970, e que traz como obrigatório o trabalho com a diversidade faz parte da conjuntura vivida em cada momento da história, que chamamos atenção aqui de forma a refletirmos étnico racial, cultural e as relações de gênero nas escolas. Mas, a intolerância, o preconceito e a discriminação a religião enquanto uma instituição social de evidência e relevância nas mudanças atuais. por parte da sociedade secularmente educada a partir de uma visão etnocêntrica de mundo, têm travado muitas discussões, o que nos faz questionar a nossa proposta de democracia. Serpa (2007) ao discutir em sua tese de Democracias e educações presentes nas instituições de ensino brasileiras doutorado o pensamento de Popper sobre a sociedade aberta,106 toma como o ponto chave da “democracia”107 a liberdade humana, onde ao mesmo tempo em que a liberdade é fascinante ela também amedronta. Seria esse talvez o nosso problema? O Brasil, no percurso de sua história, se configurou socialmente da mistura de grupos culturalmente diferentes. Para cá vieram povos do mundo inteiro, contribuindo assim não somente com a mistura étnica, mas Segundo Popper, essa liberdade é conquistada com o desenvolvimento social, onde o conhecimento a com suas crenças, valores e desejos. Essa relação tecida a partir de variadas visões de mundo, proporcionou a partir do questionamento e da visão crítica de mundo desestrutura os grupos ideologicamente fechados, gerando emergência de tensões e articulações políticas e ideológicas de forma a garantir a diversidade aqui estabelecida. tensões sociais. Mas, essas tensões que ao mesmo tempo libertam, também geram novas formas de Não foi à toa que proclamamos o discurso da igualdade a partir da Constituição de 1988, fruto dos movimentos aprisionamento, uma vez que: sociais que emergiram a partir dos anos 1970. A diversidade étnica e cultural foi reconhecida em nossa carta magna, assim como nos foi garantida a liberdade de culto e o reconhecimento do Estado Laico. Mas, uma 106 De acordo com Popper a sociedade aberta é aquela na qual ‘os indivíduos são confrontados com decisões pessoais’ que são de responsabilidade pessoal racional, ou seja, o indivíduo reflete racionalmente a respeito das consequências de suas decisões. Já a sociedade fechada é aquela na qual a sociedade opera de forma mágica, tribal ou coletivista, e que com essa forma de operar retira qualquer tipo de responsabilidade dos indivíduos por suas escolhas ao mesmo tempo que, na maior parte das vezes, não oferecem escolhas aos indivíduos. (SERPA, P.28) 107 Nesse caso, essa é a relação que a autora estabelece entre o que se discute acerca de uma sociedade aberta e democracia. 216 laicidade nem sempre respeitada, por conta de uma liberdade cerceada desde os primórdios da colonização quando fomos obrigados a aceitar uma visão eurocêntrica de mundo, negando nossos valores éticos, estéticos, culturais e religiosos que se perpetua até os dias atuais. O que nos compete questionar: de fato onde entramos 217 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. nesse contexto democrático? E a religião foi a grande colaboradora para a aculturação e negação da O que estaria então acontecendo no Brasil? É muito comum hoje adentrarmos as salas de formação de ancestralidade negra e indígena presentes no Brasil, tendo como pano de fundo os projetos de educação professores com maioria desses sujeitos religiosos, e não somente isso, estão crentes de que os saberes enquanto fomentadores dessa centralização cultural na Europa. construídos nos seus espaços de fé se sobrepõem aos saberes científicos, que por sua vez, são negados e em Após cinco séculos de monopólio cultural, em pleno século XXI, apesar de todos os avanços dos alguns momentos execrados pelos mesmos. movimentos sociais, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº. 9394/96, das Diretrizes Curriculares De acordo com a última pesquisa do IBGE em 2010, somando-se os grupos evangélicos – Evangélicas Nacionais, das políticas de ações afirmativas e de reparação que trouxeram para a escola a inclusão da História de missão 12,1%, Evangélicas pentecostal 4,1% e Evangélicas não determinadas - têm 24,6% de pessoas que e cultura afro-indígena brasileira com as Leis 10.639/03 e 11.645/08, ainda vivemos uma realidade de concluíram o ensino superior contra 9,4% de católicos, ficando atrás somente dos espíritas que representam preconceitos e discriminação nas escolas, fruto de um embate político e religioso em nosso país. 31,5%110. A pesquisa do IBGE revelou ainda que o percentual dos que se declaram sem religião e/ou que não De acordo os dados do IBGE (2010) a partir de 1970, a religiosidade no Brasil vem assumindo uma característica cada vez menos homogênea, passando a uma sociedade plurirreligiosa, ainda que se tenha como declaram 8,2% está abaixo dos grupos citados. Os dados apontados confirmam, que ao contrário do que se pensou na modernidade, a secularização ao menos no Brasil não se confirmou. predominância as religiões de matriz cristã. O censo de 2010 pontua que tem havido uma redução do Em seu texto a dessecularização do mundo: uma visão global, Peter Berger (2000), pontua que a catolicismo e que essa foi mais significativa nas regiões Nordeste e Sul108. Como era de se esperar, nessas modernidade inaugurou uma sociedade heterogênea de forma a impor barreiras ao monopólio cultural de regiões o aumento do número de evangélicos foi também significativo desde 1970. Um fato curioso é que ainda qualquer natureza. Havia ali uma compreensão que essa modernidade estaria ligada a uma nova sociedade com base nos dados de 2002 a 2010 a região Nordeste foi que apresentou um crescimento considerável desses secular, onde a religião perderia seu espaço. evangélicos, principalmente os pentecostais, ao contrário do Sul e Sudeste onde houve uma redução percentual desses grupos. Esses dados também revelam que o crescimento do evangelismo no Brasil foi seguido da busca desses por instrução. No censo de 2000, os dados apresentados sobre as taxas de escolarização das pessoas acima de cinco anos idade, segundo a religião, apontam que desde 1991, os evangélicos109 apresentaram taxas de escolarização maiores que os católicos que representam a maioria no Brasil. Quando nos debruçamos nos resultados do censo de 2010, verificamos que o crescimento de fiéis em busca de instrução, é real e no nível superior, não tem sido diferente. Fato que vem chamando atenção por conta de todo o histórico de resistências desses grupos aos espaços de formação intelectual. Então, alguns erigiram a modernidade como inimigo a ser combatido sempre que possível. Ao contrário, outros veem a modernidade como uma espécie de visão de mundo invencível à qual crenças e práticas religiosas devem adaptar-se. Em outras palavras, rejeição e adaptação são duas estratégias possíveis para as comunidades religiosas em um mundo visto como secularizado. (BERGER, 2000. p. 11) Dentro desse contexto, temos visto um número significativo de religiosos evangélicos adentrando os espaços de ensino superior em busca de formação, numa constante relação de rejeição e adaptação a esses espaços, onde suas doutrinas acabam por entrar em choque com os conteúdos científicos. Daí o que Berger chama de estratégias de adaptação, que no mundo democrático onde o direito é garantido a todos, esses grupos Segundo Alves (1987, p. 30/31) costumam se fechar em suas verdades religiosas evitando maiores influências da sociedade circundante. O que o autor chamou de sistema de defesa hermético, que blindam a interpretação religiosa doutrinária desse sujeito, De maneira especial àqueles que devem sobreviver nos labirintos institucionais, sutilezas, linguísticas e ocasiões rituais do mundo acadêmico, é de importância básica que o seu discurso seja assepticamente desinfetado de quaisquer resíduos da imaginação e do desejo. Que a imaginação seja subordinada à observação! Que os fatos sejam valores! Que o objeto triunfe sobre o desejo! Todos sabem nesse mundo da ciência, que a imaginação conspira contra a objetividade e a verdade. Como poderia alguém, comprometido com o saber, entregar-se à embriaguez do desejo e suas produções? de forma a percebermos que, ao contrário do que se imaginou, as comunidades religiosas não só sobreviveram como cresceram de maneira significativa, como vimos nos dados acima apresentados pelo IBGE 2010. E conviver com esses novos valores, não quer dizer que estão menos resistentes, romper com essa barreira pode ser com o propósito de adquirir uma formação para o mundo de trabalho e/ou ainda disputarem seu espaço em todos os campos da sociedade. Afinal, para os evangélicos a religião rege os princípios de sua vida, como diria Rubens Alves (1987, p.11): “A religião não se liquida com a abstinência e a ausência dos lugares sagrados, da mesma forma que o desejo sexual não se elimina com os votos de castidade”. Dessa forma, 108 O Crescimento do evangelismo no Brasil tem levado a escola a repensar seu discurso e ação. Pois contemplar a diversidade cultural nesses espaços tem sido motivo de grandes conflitos, fato que chamamos atenção para a importância dessa discussão na formação de professores. 109 O IBGE separa os evangélicos em: Evangélica de missão, Evangélico Pentecostal e outros evangélicos. Como o trabalho em questão não pretende diferenciar os grupos e sim considerar todos independente de denominação, por compreender haver divergências comuns no campo da educação, que tem sido proposta de investigação, então somando os grupos eles ultrapassam percentualmente em nível de escolarização todos os outros grupos religiosos. Ver gráfico 21 - Taxas de escolarização das pessoas de 5 anos ou mais de idade, segundo a religião – Brasil – 1991/2000. Censo Demográfico 2000. Características gerais da população, religião e pessoas com deficiência IBGE. 218 ainda que adentre o campo da ciência, a “liberdade” é cerceada pela doutrina, o que partindo da discussão 110 Ver tabela 18 – Percentual de pessoas de 15 anos ou mais de idade, por nível de instrução, segundo os grupos de Demográfico 2010. Características gerais da população, religião e pessoas com deficiência IBGE. religião – Brasil – 2010. Censo 219 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. inicial de sociedade aberta, esses sujeitos estariam à margem das tensões sociais uma vez que estabelecem suas por sua cultura religiosa? Não seria essa postura de negação à diversidade um entrave no processo de verdades enquanto únicas e determinam seu discurso a partir de uma prática de fé. Para a religião não importam construção da relação ensino-aprendizagem, prejudicando assim essa criança no decorrer de sua vida escolar? os fatos e as presenças que os sentidos podem agarrar. Importam os objetos que a fantasia e a imaginação podem construir. Fatos não são valores: presenças que não valem o amor (Alves, 1987. p. 30). Tentando compreender essa relação entre a religião cristã, mais precisamente as denominações pentecostais, e a formação de professores nas instituições de ensino superior, passei a refletir a minha própria Assim, as doutrinas se fundamentam em suas verdades fechadas e essas verdades se transformam em prática em sala de aula, e percebi que ainda que disponha de boa vontade e compreenda as subjetividades de saberes, socializados nas instituições religiosas, que não somente se mantêm, como ampliam suas redes de meus alunos, a eles só fará sentido aquilo que lhe for importante, que lhe “edifique”, de resto tudo deve ser lido, significado e chegam às escolas na voz de alunos, funcionários, famílias, gestores e também professores que analisado e respondido estrategicamente como forma de alcançar o objetivo final que é a formação. Surge daí a promovem educações latentes a partir de suas subjetividades. Afinal, como diria Foucault (2013) não há saber sensação de impotência, de não dar conta de uma prática “valorativa” que contribua com a sociedade na neutro. Todo saber é político. E sendo assim, saber e poder dialogam, pois, todo saber constitui novas relações construção de cidadãos mais felizes, menos preconceituosos e mais tolerantes. de poder. Mas do que afinal estaria eu falando? O que significa felicidade para esses sujeitos? Não seria uma pretensão de minha parte achar que tenho o poder de mudar a visão de mundo deles? No último semestre letivo 2015.1, em uma turma de 4º semestre, do curso de pedagogia, ao aplicar O ensinar e o aprender: adaptações e estratégias uma prova final da disciplina Educação para as Relações Étnico-Raciais, uma aluna me questionou como Há cerca de oito anos, a influência da religião nos espaços de ensino vem me chamando atenção. deveria responder as questões discursivas - Professora, essas questões, a senhora quer que eu fale como eu Inicialmente, mais especificamente em 2004, surgia um grande incômodo ao tratar de alguns temas ligados a penso e acredito, ou como a senhora e os autores querem que eu diga?112 No momento, fiquei pensando o que disciplina de história, a qual leciono na educação básica, e a dificuldade de diálogo com os alunos em sala de responder para ela, e, depois de pensar um pouco pedi que ficasse à vontade para se expressar conforme o seu aula ia ficando cada vez mais difícil por conta de seus saberes e por que não educações construídas na família e ponto de vista, desde que argumentasse sua resposta, ela sorriu e respondeu exatamente como na minha nos espaços de fé. Na condição de professora, muitas vezes travei longos debates acerca da importância de uma concepção seria o correto, dialogando com os autores. Naquele momento compreendi que a dificuldade visão crítica e consciente daqueles adolescentes sem que necessariamente precisassem abrir mão de sua opção instalada na disciplina, se deu ao fato da não aceitação do conteúdo trabalhado devido ao conflito com as religiosa, o que na maioria das vezes sem sucesso, pois para eles a ação que o Espírito Santo exerce sobre o verdades construídas pela aluna no seu espaço de fé, o que a levou a uma prova final. Mas, também ficou cotidiano de sua existência é superior a qualquer busca por um entendimento de mundo fora das Escrituras evidente que ela tinha consciência do que estava fazendo e dizendo, e, talvez estar ali e me questionar a respeito Sagradas da Bíblia. seria uma forma por ela encontrada para dizer que nada daquilo fazia sentido para ela, e continuaria não fazendo. Meu único problema é com a sala de aula, porque o livro de História tem um determinado lugar que fala sobre os Deuses, num certo país, lá eles adoram Ratos, os ratos são deuses e ela sem querer entender: “Minha mãe se a Bíblia diz que agente não pode adorar, então porque tá ensinando isso na sala?” Então ela tá tendo uma dificuldade de aprender certas coisas, e a escola dominical ensinou que o trigo não deve se misturar com o joio, então ela diz: “ minha mãe, mas se diz que agente não pode se misturar com pessoas erradas, se minha aula diz que eu não posso me misturar com o joio, eu sou o trigo! ” (dados da pesquisa 2011) 111 Parafraseando Alves (1987), é impossível separar a cultura da educação, pois não existe cultura sem educação, então corroborando com Brandão (1981), não existe educação, mas educações uma vez que, somos culturalmente diferentes. A grande questão está em como enquanto futuros professores, meus alunos darão conta dessas educações presentes em sala de aula, se ele é um outro dentre tantos outros diferentes sujeitos presentes na escola, também dotado de suas subjetividades? Ao tratar da questão dos saberes docentes na formação profissional de professores, Tardif chama atenção que: De fato, dialogar com a diversidade é conflituoso para esses alunos, e no que diz respeito à História e No que diz respeito à subjetividade, um postulado central tem guiado as pesquisas sobre o conhecimento dos professores nos últimos vinte anos. Esse postulado é o seguinte: os professores de profissão possuem saberes específicos que são mobilizados, utilizados e produzidos por eles no âmbito de suas tarefas cotidianas. Noutras palavras, o que se propõe é considerar os professores como sujeitos que possuem utilizam e Cultura Africana se torna ainda mais problemático, pois se trata de uma cultura presente no cotidiano deles como demoníaca e, portanto, negativa. Como então discutir em sala de aula temas e conteúdos programáticos voltados ao reconhecimento e valorização da cultura africana se há, por parte do aluno, uma resistência imposta 111 Informação coletada no grupo focal realizado em Salvador em 10 de fevereiro de 2011. Fala de uma mãe evangélica da Assembléia de Deus (participante 9). A filha tinha 11 anos e era aluna do 7º ano. 220 112 Dados do caderno de pesquisa de campo em andamento do projeto de doutorado junho/2015. 221 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. produzem saberes específicos ao seu ofício, ao seu trabalho. A grande importância dessa perspectiva reside no fato de os professores ocuparem, na escola, uma posição fundamental em relação ao conjunto dos agentes escolares: em seu trabalho cotidiano com os alunos, são eles os principais atores e mediadores da cultura e dos saberes escolares. Em suma, é sobre os ombros deles que repousa, no fim das contas a missão educativa da escola. (Tardif, 2013. p. 228) Ao término da pesquisa a partir de uma fala de uma mãe que dizia que na faculdade seria pior, me perguntava: e quando esse jovem chegar ao ensino superior? E se ele optasse por uma licenciatura? Como seria essa formação e posteriormente sua prática docente? Hoje na condição de docente do ensino superior na formação de professores, os problemas enfrentados na educação básica se repetem, com um agravante, se tratam de adultos que estão num nível de formação Corroborando com Foucault quanto a não neutralidade do saber, pois esse trata de uma ação política, intelectual científica e não compreendem a importância em discutir muitos conteúdos e temas pertinentes à sua consideremos a subjetividade desses atores mediando a cultura e os saberes educacionais em sala de aula, com formação. Os embates são diários, por conta da rejeição ao saber científico, que conflitam com as suas suas visões de mundo centradas em verdades construídas a partir de suas doutrinas e suas relações de fé. doutrinas religiosas, causando um enorme desgaste na adaptação nesse espaço. Compreendendo a força da Palavra na vida desses sujeitos, a dificuldade de manter a neutralidade em No entanto, o que ficou evidente na fala e comportamento de todos eles, desde o fundamental I, ao determinadas discussões ou conteúdos poderia ser mais complicado, interferindo assim em sua prática. “Nesse Ensino Médio e Superior, é que estratégias são construídas para sua manutenção e presença nos espaços de sentido interessar-se pelos saberes e pela subjetividade deles é tentar penetrar no próprio cerne do processo educação. Afinal, “Tudo é permitido, mas nem tudo é oportuno. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica” concreto de escolarização, tal como ele se realiza a partir do trabalho cotidiano dos professores em interação (1Coríntios, 10:23). Parafraseando Tomaz Tadeu da Silva (2005), o que me faz ser eu é que eu não sou o outro, com os alunos e com os outros atores educacionais.” (Tardif, 2013. p. 228) portanto, não existe identidade sem diferença, mas devemos compreender que deve haver respeito à Então, como formar professores nesse contexto religioso, se há uma rejeição a muitas práticas e discursos em sala de aula? Não seria a questão religiosa uma interferência na sua futura prática docente? diversidade, seja ela étnica, cultural, de gênero ou religiosa, na condição de educadores precisamos neutralizar nosso preconceito e educar de forma de fato democrática. O que é preciso compreender é que independente de sua constituição subjetiva a escola deve estar atenta à diversidade étnica, racial, cultural, social, religiosa e de gênero. E sabemos que esses são pontos de tensão na sala de aula, não somente na educação básica, mas também no ensino superior. Inconclusões Há dez anos atrás me perguntava como seria possível o ensino de história e cultura africana com turmas tão resistentes ao diálogo com a diversidade cultural. Naquele momento, muitas vezes perdi a paciência ao tentar avançar em discussões que na minha concepção, eram de extrema relevância para a compreensão de mundo e construção da visão crítica de meus alunos enquanto cidadãos. Se tratavam de crianças e adolescentes afro descendentes da educação básica, em uma escola da rede pública estadual de Salvador-Bahia, em sua maioria evangélicas de denominações pentecostais. Precisava dialogar com eles e não sabia como, até ir a campo e compreender como pensavam. Descobri que para aqueles meninos e meninas, a relação com a igreja estava acima de qualquer coisa e a fé deles era inquestionável e de fórum íntimo, me despindo assim de meus preconceitos. Em 2012, resolvi como projeto de mestrado investigar como suas famílias compreendiam o espaço escolar na formação de seus filhos. E para a minha surpresa eles revelaram ser esse espaço um mal necessário às suas crianças, pois elas Referências ALVES, Rubens. O que é religião. Editora Brasiliense, São Paulo, 1984. BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. São Paulo, Brasiliense, 2013. Coleção Primeiros Passos. 57ª reimpressão da 1ª edição de 1981. BERGER, Peter. A Dessecularização do Mundo: uma visão global. Religião e Sociedade, Rio de Janeiro, 21(1): 9-24, 2000. Disponível em: http://www.uel.br/laboratorios/religiosidade/pages/arquivos/dessecularizacao. Acesso em 10/10/2012. FISCHMANN, Roseli. Estado Laico, Educação, Tolerância e Cidadania para uma análise da Concordata Brasil – Santa Sé. São Paulo: Factash Editora, 2012. FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. 27. ed. São Paulo: Graal, 2013. IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: Http://www.censo2010.ibge.gov.br/resultados. Acesso em 10/10/2012. Acesso em: 10/10/2012. POPPER, Karl. A sociedade aberta e seus inimigos. Belo Horizonte. Editora Itatiaia, 1998. SANTOS, Deyse Luciano de Jesus. “Tá repreendido em nome de Jesus! ”: Religião, identidade e conflito com a implementação da lei 10.639. Curitiba: Appris Editora, 2012. ______. A Palavra E A Escola: Negociação E Conflito No Trabalho Com A Lei 10.639/03. PPGEDUC – Programa de Pós-graduação em Educação e Contemporaneidade – UNEB – Universidade do Estado da Bahia. Salvador 2012. SERPA, Luiz Gustavo Martins. A sociedade aberta e seus amigos: o conceito de sociedade aberta no pensamento de Popper, Schumpeter, Hayek e Von Misses. 2007 (Tese doutorado), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2007. SILVA, Tomaz Tadeu (org.). Identidade e diferença - Plural, mas não caótico. Petrópolis: Vozes, 2005. TARDIF, Maurice. Saberes Docentes e Formação Profissional. 15. Ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2002. precisam crescer e adentrar o mercado de trabalho. Assim, ainda com muitas ressalvas, a conteúdos e disciplinas, para eles dispensáveis para a formação do ser humano, havia por parte da igreja e dos próprios pais orientações de como se comportarem e responderem as atividades escolares. 222 223 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. FORMAÇÃO DOCENTE E RACISMO NAS AULAS DE HISTÓRIA JOÃO PEDRO PEREIRA ROCHA113 Resumo: O racismo como problema social e presente no cotidiano de milhares de pessoas é um grande desafio para instituições e sujeitos envolvidos com o processo de formação educacional. É possível questionarmos, por exemplo: qual a importância da formação docente frente a abordagens da temática, racismo, nas aulas de História? Nesse sentido o presente trabalho objetivou verificar a importância da formação docente, no contexto de problematização do racismo na disciplina História. Assim foi possível pontuar alguns resultados: a formação acadêmica deve oferecer elementos que capacitam o professor para problematização das datas cívicas ligadas à luta contra o racismo; no processo de formação é imprescindível ao docente a reflexão crítica, de modo que a história da África não apareça como coadjuvante ou vítima, mas como protagonista inserida no processo histórico. As discussões sobre racismo nas aulas de história encontra na formação docente, viés que legitima uma formação acadêmica em prol do rompimento com um modelo de ensino que desvirtua o papel social da disciplina História. Palavras-chave: Racismo. Disciplina História. Formação Docente Introdução O racismo, enquanto tema, já rendeu e rende inúmeros trabalhos, discussões e intrigas, concordâncias e divergências que fazem deste, um assunto cada vez mais atual e necessário de reflexões. Marca própria da sociedade brasileira, a união entre diferentes povos e culturas fez surgir, o que hoje em dia figura entre os maiores problemas a ser enfrentado por instituições públicas, privadas e sociedade em geral. É nesse contexto que se faz importante a contribuição de discussões acerca do racismo no seio de instituições responsáveis por promover a formação de indivíduos, as escolas. Assim, faz-se necessário desenvolver reflexões que estejam atentas ao modo como às escolas tem abordado e discutido o racismo com sua clientela, ao tempo que verificar o papel da formação docente nessas ações. Diante da importância do tema para o contexto nacional, logo, podemos perceber a riqueza da contribuição que este tópico possui, mediante a intenção em fazer com que o negro reflita sobre seu papel e de sua contribuição social. Em publicação num jornal eletrônico, a professora Jurema Werneck foi contundente em dizer que o brasileiro o racista, e que “o racismo produz privilégios”, a autora completa que o fato de políticas afirmativas, qu tem por base a cota racial, não ser aceita, ocorre devido o espaço que o racismo ocupa na sociedade brasileira. A partir da importância social da escola, alguns questionamentos são necessários: qual o real valor que há na formação docente para o trabalho com racismo? Qual posicionamento o professor deve ter em relação à representação que é feita de instituições e organizações negras, ainda, em alguns pontos, carentes de ressignificações atualizadas? Como professores em suas disciplinas ou campo de atuação podem vir a contribuir para discussões sobre racismo e sociedade? E ainda, pensando o caso especifico deste estudo, qual o papel da formação de professores de história em relação as abordagens sobre racismo em sala? O trabalho teve o objetivo de analisar o papel da formação de professores de história no trabalho com racismo na Educação Básica e face da construção de reflexões acerca do racismo em sala de aula e das relações raciais construídas na sociedade brasileira. Assim, este trabalho é oriundo de pesquisa desenvolvida junto ao Programa de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) do curso de História, na modalidade Licenciatura, da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), como forma de socializar os estudos bibliográficos desenvolvidos pelos bolsistas do programa. A intenção é lançar algumas reflexões sobre a formação de professores de história, tendo como base de análise algumas problemáticas de nosso tempo, neste estudo, mais especificamente o racismo. Fundamentação e revisão teórica Inicialmente o desenvolvimento desta pesquisa ocupou-se do racismo como conceito sociocultural, mas sem deixar de lado o fato de este, o racismo, ser um fenômeno histórico. Assim, apensar de recorrer a uma linha de discussão descentralizada, não se atendo a discussão social, antropológica, histórica ou psicológica, houve 113 maior atenção para questões sociais, isso porque a discussão, esteve voltada para o campo educacional, onde a escola figura entre as principais organizações sociais de nosso tempo. No espaço das discussões que giram em torno do racismo e do universo docente, os trabalhos de Maggie (20052006) e Gomes (2003) são representativos para reflexões acerca do uso do racismo no meio educacional. Em seu artigo “Uma nova pedagogia racial?”, a professora Yvonne Maggie desenvolve um estudo sobre o modo como algumas escolas públicas abordavam e discutiam o racismo, em sua relação com as normativas assinaladas pelas “Diretrizes”. Já Nilma Gomes (2009) levanta uma respeitável contribuição para as discussões sobre racismo e formação docente. Gomes se preocupou em aprofundar os estudos sobre racismo e educação e chama atenção para abordagens que, ao pensar formação docente e racismo, atente para elementos constituintes da identidade negra, no caso particular o corpo e o cabelo negro e de suas ligações com a experiência das relações raciais existentes no Brasil. Partindo da ideia de que os trabalhos que pretendem debruçar-se sobre racismo, podem recorrer usar de reflexões que o classificam como problema social crônico da sociedade brasileira, uma sociedade na qual os resquícios da escravidão ainda são latentes. Sobre esse aspecto os estudos de Hebe Mattos, especialista em escravidão, são importantes para pensarmos o racismo como construção, sócio histórica, onde a escravização de negros, segundo a autora, fora responsável pelo forjamento da identidade negra no Atlântico114. Os trabalhos de Mattos também são enriquecedores por desenvolver discussões em torno do racismo, assim a autora se aproxima do papel docente neste embate, e consequentemente tece contribuições ao comentar a importância da formação e da prática docente em relação ao racismo e de suas abordagens em sala de aula. Em um contexto de discussão em torno do racismo e de sua relação com a formação docente, as “Diretrizes” são fundamentais, não apenas em sua estruturação jurídica, mas no aspecto de orientação aos envolvidos com a educação e a formação na Educação Básica. Assim, o conjunto de normas, mais que estabelecer e reafirmar a Lei 10.639/03, que trata sobre a obrigatoriedade do Ensino de Historia e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica, auxilia e informa sobre os caminhos que devem ser trilhados por escolas, gestores, educadores, Estado e sociedade, para que haja um cenário onde seja possível a formação para cidadania plena, em direitos e deveres. Caminhos da pesquisa Para atender o objetivo deste trabalho a metodologia para pesquisa aconteceu a partir da reunião bibliográfica de textos e estudos que discorrem sobre: formação de professores, racismo e educação ou, ainda, trabalhos que em algum momento dialogam com estas áreas. Assim a pesquisa atentou-se para uma literatura que auxiliou nas reflexões e conclusões acerca destes dois eixos, racismo e formação de professores, para posteriormente pensar a questão da formação de professores de história em sua relação com o racismo. Priorizou-se uma busca por textos que ampliam as reflexões em torno da importância que há na formação de professores, para além de aspectos pedagógicos, um ponto fundamental na seleção dos textos. Artigos, capítulos de livros e livros foram selecionados de modo a fornecer um campo maior de discussão, aproximando a esfera da política, do social e do cultural, sem perder de vista o campo educacional. Com isso, a reunião dos textos esteve orientada no entendimento de que o racismo, enquanto problema social esteve sendo forjado ao longo do processo de formação da sociedade brasileira. Após a reunião de estudos que pudessem servir como base para discussões, reflexões e conclusões, houve uma comparação entre os aspectos teóricos e conclusívos dos autores selecionados, visando identificar os pontos que os aproximavam ou distanciavam. Essa ação também se justifica pelo volume de trabalhos sobre formação de professores e racismo, algo que congrega não apenas profissionais da área de Educação, mas também da Antropologia, da História, da Sociologia, entre outras. Resultados e discussão O campo da formação docente pode ser visto como área de importantes discussões, isso em ocorre, em parte, devido aos novos olhares que estão sendo lançados sobre a educação e em particular sobre a profissão docente. Assim, tendo em vista as diversas formas de abordagens e reflexões que podem ser feitas sobre a formação docente, percebe-se a complexidade que gira em torno deste tema. No entanto, quando da preocupação em discutir formação docente e relações raciais, para o contexto educacional, pode-se indicar a formação Licenciando em História pela Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) / Centro das Humanidades. Bolsista CAPES no Programa Institucional de Bolsa de Iniciaçao à Docência (PIBID). 114 O termo “Atlântico” foi usado, neste trabalho, com intuito de fazer referência aos povos africanos que serviram a escravidão moderna, que teve no Oceano Atlântico suas principais rotas de comércio e tráfico de escravos. 224 225 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. acadêmica como ponto de partida para nossas reflexões. Longe de parecer uma temática na qual as discussões geradas, a partir dela, podem ser sintéticas ou reduzidas, a formação docente e sua relação com o racismo representa assunto ainda carente de estudos mais aprofundados, no que tange uma maior articulação entre áreas de conhecimento que informam sobre relações raciais no Brasil. Sob esse prisma, novos planejamentos, visões e objetivos podem ser traçados no intuito de enriquecer as discussões sobre racismo ainda na universidade. Nilma Gomes cita que: discriminatórias e exclusivistas. Nesse sentido e sobre o combate ao racismo, Hebe Mattos cita que é preciso “Historicizar o processo de racialização dos negros nas Américas, em sua relação com a memória da educação, e suas implicações em termos de definição de direitos civis nos países do continente.” (MATTOS, 2009, p. 138). Tomando a escola como apêndice da sociedade, uma vez que os acontecimentos identificados no ambiente escolar podem facilmente ser identificados na esfera social, é possível perceber o papel não apenas dos sujeitos professores, mas também de disciplinas que em muito se aproximam da temática, racismo, em vista de discutir discriminação racial em sala de aula. Nesse contexto é notável a contribuição da disciplina história para debates em torno do racismo nas sociedades, sendo que está é, oficialmente, a responsável por discutir a História da África e da Cultura Africana e Afro-brasileira, na Educação Básica, oficialmente estabelecidas a partir da Lei 10.639/03. Embora haja considerável contribuição a partir da lei e das pesquisas sobre culturas afrodescendentes, afrobrasileiras e acerca da História da África, estudos (ABREU; MATTOS, 2008) apontam para um real exame de consciência dos professores que optam por lançar esforços para o trabalho com racismo em sala de aula, a partir do que sugere os documentos oficiais. Assim, é preciso que o docente busque construir sua própria formação crítica de modo a evitar abordagens de cunho tradicionalista, factual, acrítica, etnocêntrica, que muito facilmente pode repetir erros grosseiros e tendenciosos, ou mesmo alimentar uma veia de formação próxima das ideologias racistas do passado e do presente. Dessa forma, espera-se da formação docente a capacidade de, por exemplo, problematizar as datas cívicas que normalmente são associadas ao movimento negro contra o racismo, e outras questões, (ABREU; MATTOS, 2008), mas que paralisam as reflexões em datas isoladas, sem um trabalho contínuo, mais um aspecto que evidência a importância da formação docente. Um dos primeiros caminhos a serem trilhados nessa direção poderá ser o da inserção, nos cursos de formação de professores e nos processos de formação em serviço, de disciplinas, debates e discussões que privilegiem a relação entre cultura e educação numa perspectiva antropológica. (GOMES, 2003, p. 169) Podemos perceber que a formação docente tem suas raízes de importância ainda no universo da licenciatura, sendo que as concepções sobre o que ensinar e como ensinar, é formado ainda na academia. O espaço da carreira acadêmica e sua relação com o racismo é preocupação de pesquisadores e estudiosos (GOMES, 2003); (MAGGIE, 2006); (SILVA, 2007); (MATTOS, 2009); (OLIVA, 2009), mas que também pode ser identificada nas “Diretrizes” uma vez que estas chamam atenção para necessidade de haver nas escolas, professores qualificados e com formação para o trabalho com questões conflituosas como é o racismo e a descriminação. Anderson Oliva (2003) em seu artigo A História da África nos bancos escolares. Representações e imprecisões na literatura didática chama atenção para a dificuldade que muitos professores demonstram ao abordar África em sala de aula, algo que em muito se aproxima do despreparo construído ao longo da formação docente. É possível perceber que o trabalho sobre racismo em sala de aula pode ser dificultado por uma formação aquém do esperado para responder as expectativas contidas em documentos oficiais, a exemplo das “Diretrizes”, fortalecendo a ação da escola que se ocupa em colocar o racismo no centro de discussão e reflexão. As discussões sobre racismo e educação não podem se afastar da compreensão sobre as influências que a cultura africana deixou sobre o que, hoje, identificamos como cultura nacional, a brasileira. Neste ponto encontramos mais um aspecto que pode representar uma barreira para discussões sobre racismo nas aulas de história, a falta de uma formação plural, sem a exacerbação de um ecléticismo descompromissado. Isso porque abordar questões sobre cultura sugere pensarmos a formação das identidades de determinados sujeitos, algo que envolver o trabalho com subjetividades na contemporaneidade e que pode esbarrar na preparação acadêmica do licenciando. Discutindo sobre identidade negra e da preparação docente para o trabalho com racismo, Nilma Gomes informa que: Entender a importância da simbologia do corpo negro, a manipulação do cabelo e dos penteados usados pelos negros de hoje como formas de recriação e ressignificação cultural daquelas construídas pelos negros da diáspora poderá ser um bom tema de estudo e debate dentro da discussão sobre história e cultura afro-brasileira. Mas, para isso, será preciso que educadores alterem suas lógicas escolares e conteudistas, dialoguem com outras áreas, valorizem a produção cultural negra construída em outros espaços sociais e políticos. (GOMES, 2003, p. 181) A importância contida em refletir o racismo na sociedade brasileira também perpassa o campo prático ideológico, uma vez que as ações concretas são esperadas em vista o combate ao racismo. Assim as abordagens precisam avançar para além dos discursos, pesquisas acadêmicas precisam chegar até a escola e a sala de aula, de modo a “... desencadear aprendizagens e ensinos em que se efetive participação no espaço público.” (SILVA, 2007, p. 490). Silva também concorda com a necessidade presente na construção de um processo de formação atento para experiências históricas no sentido de valorizar a contribuição dos diferentes povos, instituições e organizações na construção da nação. O papel da educação no enfrentamento de problemas ligados as relações étnico-raciais, é algo de suma importância, o que eleva a responsabilidade sobre o processo de formação docente. Silva (2007) cita para melhor avaliar o problema das relações étnico-raciais no Brasil é preciso uma visão sobre o passado responsável pela formação da nação. O autor chama atenção para uma observação histórica processual de formação formação da sociedade brasileira, atributo que abre caminho para historicizar o racismo presente na sociedade brasileira. Essa ação contribui para formação docente, no sentido de que, assim, o professor de história poderá se apossar de uma visão crítica sobre o papel do movimento negro frente às práticas 226 Considerações Parciais Ao final deste trabalho não é exagero ou repetição de discurso apontar a importância presente no processo de formação de educadores que são responsáveis pela formação de gerações de indivíduos que constituem e constituirão a sociedade brasileira. Assim, sendo em relação ao racismo, espera-se do professor atitudes e ações pedagógicas que viabilizam uma contribuição para o movimento de combate ao racismo em nossa sociedade. Essas ações, embora pareçam evidentes, são determinadas a partir de uma serie de fatores ideológicos, e que, na prática deve respeitar as orientações oficiais, contidas em documentos que regulamentam o exercício do profissional docente (PCN e “Diretrizes”), por exemplo. O fato de haver, nas ultimas décadas uma crescente nos estudos que se ocupam do racismo em sua relação com a Educação propomos também ser necessário, por parte do corpo docente, uma atualização constante sobre os discursos que estão sendo construídos. A atualização, portanto torna-se importante na medida em que, ao passo que estudiosos e especialistas se debruçam sobre o tema racismo, novos elementos são inseridos com intuito de enriquecer o debate, tendo em vista a complexidade que há em abordar o problema do racismo e o papel da educação na busca por “soluções”. Nesse sentido as indicações de Nilma Gomes sobre a presença do cabelo e do corpo negro são reveladoras, ao trazer a tona aspectos de extrema relevância prática para discutir racismo em sala de aula, aproximando-se de elementos materializantes do racismo e que estão presentes no cotidiano da educação. Enfim, é preciso que as Instituições de Ensino Superior fomentem momentos de debates, discussões e reflexões por meio dos quais a comunidade acadêmica, e em especial os futuros professores de história, possam ter contato com o que está sendo produzido e pensado acerca do racismo e como a formação docente contribui para um trabalho educacional eficiente, no sentido de promover a igualdade e o respeito às diferenças. Referências Bibliográficas ABREU, M. C; MATTOS, H. Em torno das “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana”: uma conversa com historiadores. Estudos históricos, Rio de Janeiro, vol. 21, nº 41, 2008, p. 5-20. ARAÚJO, I. A.; BERNARDES, V. A. M. Discriminação racial em sala de aula. In: RODRIGUES FILHO, G.; BERNARDES, V. A. M.; NASCIMENTO, João Gabriel. (org.) Educação para as relações étnico-raciais: outras perspectivas para o Brasil..) Uberlândia, Belo Horizonte: Editora Gráfica Lopes, 2012, p. 523-540. FLORES, Elio Chaves. Etnicidade e ensino de história: a matriz cultural africana. Revista Tempo, v.11 nº 21 a.06, 2007, p.65-81. 227 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. GOMES, Nilma Lino. Educação, identidade negra e formação de professores: um olhar sobre o corpo negro e o cabelo crespo. Educação e pesquisa, São Paulo, v.29, n.1, 2003, p. 167-182. MAGGIE, Yvonne. Uma nova pedagogia racial? Revista USP, São Paulo, nº 68, 2005-2006, p. 112-129. MATTOS, H. O ensino de história e a luta contra a discriminação racial no Brasil. In: Ensino de História: conceitos, temáticas e metodologias. ABREU, M.; SOIHET, R. (org.) Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2009, p. 127-136. OLIVA, Anderson Ribeiro. A história da África nas escolas brasileiras. Entre o prescrito e o vivido, da legislação educacional aos olhares dos especialistas (1995-2006). Revista de História. São Paulo, n.28, v.2, 2009, p.143-172. SILVA, G. O. ; NOVAIS, Gercina Santana. A inserção do negro na sociedade brasileira. In: Educação para as relações étnico-raciais: outras perspectivas para o Brasil. RODRIGUES FILHO, G.; BERNARDES, V. A. M.; NASCIMENTO, João Gabriel. (org.) 1. ed. Uberlândia, MG : Editora Gráfica Lops, 2012, p. 499-522. SILVA, P. B. G. e. Aprender, ensinar e relações étnico-raciais no Brasil. Revista Educação. Porto Alegre/RS, ano 30, n. 3 (63), 2007, p. 489-506. VIANA, L. M. Democracia racial e cultura popular: debates em torno da pluralidade cultural. In: Ensino de história: conceitos, temáticas e metodologias. ABREU, M.; SOIHET, R. (org.) Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2009, p. 103-115. WERNECK, J. P. “O racismo produz privilégios”. Disponível em: http://www.geledes.org.br/o-racismoproduz-privilegios-diz-jurema-werneck-em-entrevista-ao-correio/. Acesso em: 25 de maio de 2014 sociais. Relações essas que produziu “identidades sociais novas: índios, negros e mestiços”. Com a violência direta dos primeiros encontros, que levou ao extermínio de milhares de nativos, iniciou uma “codificação das diferenças” entre colonizadores e colonizados. Na interpretação de Quijano tal codificação trata-se do início da “ideia de raça, ou seja, uma supostamente distinta estrutura biológica que situava a uns em situação natural de inferioridade em relação a outros” (QUIJANO, 2005). O fim da escravidão representou mais do que a oficialização [institucionalização] da mudança nas relações de trabalho exigida pela nova conjuntura econômica do Brasil no contexto da economia Ocidental: representava o início de uma nova era rumo a evolução que em breve apagaria uma das máculas da história e origem do povo brasileiro: a herança africana. Na mentalidade da época não havia de se discutir nenhum tipo de reparação ou política de inclusão da população negra na sociedade; ao contrário, a exclusão e o esquecimento da “marca” deveria ser promovido com as comemorações do dia da abolição “para a reafirmação solene e anual da impressão de que, com a lei de 13 de maio de 1888, ficavam satisfeitas todas as possíveis reinvindicações da população de cor” (NOGUEIRA, 1998, p. 108). Fica explicito, portanto, que não havia nenhuma intencionalidade do Estado e seus dirigentes de promover cidadania plena para a população afro e seus descendentes117. Documentos consultados: Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-raciais. Brasília: SECAD, 261 p. 2006. Tal realidade fez com que a História do Negro no Brasil ficasse com muitas lacunas, pois a nossa IDENTIDADE E ANCESTRALIDADE: VISIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO NEGRA EM UMA ESCOLA DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA. colonização europeia não permitiu de fato contar a História dos vencidos. Somente nos é apresentado a versão dos vencedores. Sob esse viés e detectado essa lacuna, identificamos que ainda precisa ser trabalha essa temática nos espaços de formação, e durante o estágio supervisionado do curso de História 2014.2, foi possível JÉSSICA SILVA PEREIRA115 BENEDITO DE SOUZA SANTOS116 Resumo: Este artigo pretende abordar sobre os traços diacríticos afro-brasileiro e africano utilizados pelos alunos do Centro Educacional Machado de Assis. Sendo este resultado de um contato com o universo escolar, durante o estágio curricular supervisionado de 2014.2, dessa forma trataremos de indivíduos diversos de diferentes espaços com traços em comuns. Nesse contexto será analisado os traços diacríticos utilizados pelos alunos, desmistificando essa construção de identidade étnica racial afro-brasileira e africana, e também investigando se são apenas características que compõem uma tendência atual em curso no cotidiano escolar. Apresentando uma abordagem relevante para História do Negro no Brasil, pois é muito comum falarmos em traços diacríticos da cultura indígena havendo certa lacuna com relação o recorte do negro. Para melhor evidenciar o objeto de pesquisa, foi utilizado recurso metodológico a pesquisa de campo e bibliográfica, junto ao método foi necessário o emprego de técnicas como observação em lócus, questionário quantitativo, e análises de entrevistas. Para a bibliografia foi necessário a utilização de estudos empreendidos por GUIMARÃES (1999), PALMEIRA (2011), SILVA (2005), entre outros estudos que são de extrema importância para a abordagem da temática. Entender esses traços diacríticos é importante para a população de Teixeira de Freitas – BA, pois apresenta especificidade que não é fácil encontrar em qualquer lugar. Além de propiciar debates, em que precisam ser evidenciados aspectos que por muitas vezes são ocultados na História. Palavras-chave: Negros - Traços Diacríticos. Cultura Afro-brasileira e africana. um contato diferenciado com o ambiente escolar, em especial no Centro Educacional Machado de Assis onde foi desenvolvido todo o projeto de intervenção. Esse artigo tem como objetivo: analisar os traços diacríticos usados pelos alunos do Centro Educacional Machado de Assis, desmistificando essa construção de identidade. Tendo como principal fonte as entrevistas feitas pelos alunos, a observação em lócus, questionários socioeconômicos, além da revisão bibliográfica para contrastar os dados coletados. A pesquisa surge da necessidade explicitada durante o estágio, além também de corroborar para a construção do TCC-Trabalho de Conclusão de Curso. E para além disso colaborará ainda para Universidade do Estado da Bahia-Campus X, tendo em vista ser um tema inédito no campus a partir da abordagem proposta e sem dúvidas ainda apresentará contribuições para a História do Negro no Brasil. E diante da realidade pode nos apontar outros questionamentos que podem ser explicitados em pesquisas outras. 2. RAÇA E MISCIGENAÇÃO As teorias raciais do século XIX surgem em um contexto emblemático onde, no caso do Brasil, era necessário pensar a ideia de Estado-Nação e manter a ocupação de determinados espaços pela elite branca que recorrerá ao discurso da inferioridade das “raças” não-brancas. Assim “a existência das raças consiste na 1. INTRODUÇÃO A colonização do Brasil também protagonizou encontros de grupos que promoveram novas relações 115 116 Graduanda em História pela Universidade do Estado da Bahia - UNEB Campus X. E-mail: [email protected] Doutorando em Estudos Étnicos e Africanos pelo Centro de Estudos Afro-Oriental CEAO/UFBA. E-mail: [email protected] 228 117 Ainda sobre a identidade nacional, a discussão tornou-se muito mais acirrada no final do século XIX com o advento das mudanças políticas e sociais que culminou na abolição da escravatura e proclamação da 1ª república brasileira. Nina Rodrigues e Silvio Romero também discutiram o futuro da nação e a identidade nacional a partir de sua composição racial com forte tendência de combate à herança afro-indígena e evidente defesa ao branqueamento. 229 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. afirmação da existência de grupos humanos cujo membros possuem características físicas comuns (SANTOS, O estágio curricular supervisionado de 2014.2 foi desenvolvido nessa instituição de ensino sendo um 2002, p.46).” Esse é um dos fatores aos quais o “racialismo” irá se apropriar, e para complementar essa espaço muito rico tanto de aprendizagem como lócus de pesquisa. Esse estágio tinha um caráter de intervenção afirmação apresentam uma continuidade entre o físico e o moral se apropriando ainda de traços culturais, em sala de aula do ensino médio, onde foi aplicado em duas turmas cada uma com suas especificidades e mostrando assim argumentos para enquadrar cada indivíduo em um grupo racial a partir dessas particularidades buscando atender para além dos conteúdos curriculares a temática do Negro no Brasil. citadas. O projeto de intervenção tinha como proposta final com uma das turmas de 2° serie ao qual foi aplicada Nesse sentido é perceptível que a prática do racismo é mais recorrente quando há uma conjuntura que a intervenção, a construção de um vídeo em formato de documentário com os próprios alunos da escola. Pois oriente a conveniência de “naturalizá-lo” nas relações sociais118. É assim que tentam implementar diversas foi possível notar uma presença muito forte de certos traços que remetem a cultura afro-brasileira e africana ideias no seio da sociedade buscando comprovar que a situação em que os negros se encontravam durante a usada pelos alunos, sejam eles usados inconscientemente ou de forma consciente. escravidão e no pós-abolição, era algo natural e inerente a sua incapacidade enquanto raça inferior. A ideologia Como metodologia usamos as entrevistas de áudio e vídeo, questionário que foi montado pelos alunos da “democracia racial” 119, que foi defendida nos meados do século XX pela sociedade brasileira, esperava que com o auxílio necessário dos estagiários, os estudantes desenvolveram a pesquisa com 07 alunos do Centro o mestiço servisse somente numa transição para uma sociedade totalmente branca e que sua permanência era Educacional Machado de Assis - CEMAS, depois da entrevista foram feitas as edições transformando todo vista como “produtos anormais” (híbridos sociais) que também representaria o atraso de qualquer povo que material em um documentário. desejasse ser uma civilização expressiva. A partir do momento em que se propõem estudar o negro se torna necessário a utilização do conceito de Percebe-se que tal conceito fundamentaram o Darwinismo social, ditando um determinismo racial. raça, até porque etnia não abarcaria todas essas discussões pertinentes ao assunto. Pensando nessa problemática “Essas doutrinas, como as modernas teorias raciais, muitas vezes depositaram uma ênfase central na aparência surgem diversas questões a serem refletidas neste contexto escolar: Os alunos utilizam os traços diacríticos física ao definir o “outro”, bem como na ascendência comum ao explicar porque os grupos de pessoas exibem devido vestígios socioeconômicos e étnicos raciais? Esses alunos estão construindo uma identidade étnica racial diferenças em suas atitudes e aptidões (APPIAH, 1997, p.30)”. ou é apenas uma tendência atual? Quais resíduos fazem conexões com os traços diacríticos usados pelos alunos do Centro Educacional Machado de Assis? Esses alunos sofrem algum preconceito com relação a utilização dos 2.1. O ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NO CEMAS: Subsídio para uma traços diacríticos da cultura afro? pesquisa cientifica. O Centro Educacional Machado de Assis (CEMAS) surgiu da demanda que necessitava o bairro São 2.2. TRAÇOS DIACRÍTICOS: construção de identidade via ancestralidade. Lourenço (região periférica de Teixeira de Freitas) no que tange aos aspectos educacionais, sendo fundado no Por muitas vezes temos a ideia que uma identidade étnica racial só pode ser construída no isolamento ano de 1988. Inicialmente, apresentava como entidade mantenedora o município, com turmas de 1° a 4° serie geográfico, para que não haja uma contaminação cultural com os outros povos, isso gera uma série de conflitos do ensino fundamental I. Em 1990 o Centro Educacional passou a lecionar da 5° a 8° serie do ensino porque é preciso os indivíduos participarem dos processos sociais para que esse contato fundamental II, e, para atender as demandas da comunidade, em 1996 foi estadualizada oferecendo 5ª a 8ª construção de diferenças. E essa diferença que trará as características básicas para a construção e transformação séries. Em 1997 implantou o ensino médio com as modalidades de EJA e formação geral. dessa identidade étnica racial ainda em formação. Outro fator que corrobora para uma identificação étnica e a Localizada na periferia da cidade de Teixeira de Freitas, essa Unidade de Ensino é constituída em um ponto estratégico para o atendimento de alunos provenientes do bairro São Lourenço e comunidades circunvizinhas como Liberdade I, Liberdade II, Redenção, Vila Vargas, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Luiz Eduardo, Vila Caraípe, Urbis I, Urbis II, e também alunos de zona rural. O CEMAS situa-se em um bairro que apresenta altos índices de violência, envolvendo jovens que acabam se tornando vítimas das drogas ou possibilite a crença em um lugar comum, no caso dos afro-brasileiros a África mítica. Os negros escravizados na Europa e nas Américas possuem um passado comum: a origem africana, isto é, o fato de terem sido retirados do continente africano a força e/ ou serem descenderem de pessoas que passaram por tal processo. A diáspora africana é preciso salientar foi um processo imposto aos africanos. Estes foram retirados brutalmente do continente africano e levados a outros espaços. (PALMEIRA, 2011, p.22) assassinados por traficantes, o que reflete diretamente na imagem da escola. Esse lugar comum que por muito tempo quiseram apagar das nossas mentes, devido aos preconceitos 118 disseminados durante o final do século XIX e grande parte do século XX, é um processo que gerou a não 119 aceitação do próprio negro enquanto uma raça, pois ao assumir sua condição racial estaria se colocando Ver GUIMARÃES, Antônio Sérgio Alfredo. Racismo e Antirracismo no Brasil. São Paulo: Fundação de Apoio a Universidade de São Paulo, Ed. 34, 1999. Como afirma Gislene Santos: “A existência de uma ilusão que nos conduz a pensar que, no Brasil, haveria uma democracia que permitiria um tratamento igualitário para brancos e negros. Sob a égide da democracia racial, inúmeros preconceitos se escondem e se multiplicam (2002, p.150151)”. 230 enquanto uma raça inferior e esses reflexos ainda são visíveis atualmente. Durante as entrevistas com os alunos 231 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. do CEMAS a maioria se declaram “pardos”, e o que seria essa categoria dentro da classificação racial no Brasil? Uma gradação de cor que traz uma mobilidade social, e de certa forma ameniza a carga histórica de preconceito sofrido pelos negros tanto na historiografia quanto no cotidiano. Por que a utilização desses traços culturais e físicos tem um significado étnico racial para esses alunos não apenas uma questão de aparência? Na fala da aluna L. Silva nos dá essa sensação: “Não. É tipo assim meus Mas ao mesmo tempo em que ocorre uma contradição nesse processo, ainda que a questão racial não estilos é meio que afro-brasileiro, o cabelo cacheado, esses negócios, tranças eu gosto muito da cultura esteja bem resolvida para esses alunos eles utilizam de traços diacríticos que lembra um passado comum os brasileira por que eu acho que isso tá na raça, no sangue e que tipo assim que a gente tem que mostrar nossas seus “ancestrais africanos”. Isso pode se caracterizar como uma forma de resistência e de identidade afro- raízes da onde a gente saiu, onde a gente viveu, eu acho que é isso.”120 brasileira uma vez que a cultura imposta pela nossa sociedade ocidental não os representam a partir das suas Vemos na fala de uma garota de 16 anos, sentimentos outros que não conseguimos identificar através diferenças. E afinal porque usar esses traços físicos e culturais? Esses alunos estão construindo uma identidade apenas do que está visível, sua aparência nesse caso, pois a cultura ganha para ela um sentido diferenciador e étnica racial ou é apenas uma tendência atual? É importante ressalvar que a maioria desses alunos advém de por isso irá compor um traço diacrítico tendo em vista que seu estilo é reflexo das suas origens, do lugar ao qual bairros periféricos de Teixeira de Freitas como podem visualizar no gráfico abaixo, e como ressalva Florestan mora, da raça a qual representa. Fernandes (1958) a estratificação social está diretamente ligada a questão racial. No caso dos alunos entrevistados do CEMAS ao invés de perder essa cultura está havendo um retrocesso, uma busca de um lugar comum ainda que há uma articulação entre influências culturais diversas. Afinal a cultura não deve manter uma integridade e sim uma diferenciação com relação as outras, e podemos perceber que esses alunos têm noção disso ainda que inconscientemente. Na fala a seguir poderemos ver que o aluno não descarta a ideia da influência que as tendências atuais trazem para o seu cotidiano, no entanto as marcas culturais estão ali: “Eu acho que é um pouco dos dois pois, a gente vem seguindo o padrão dos nossos pais, só que também somos influenciados pela mídia pela moda isso faz com que varia e equilibra os dois.”121 Esse equilíbrio apresentado por esse aluno nada mais é do que Leévi-Strauss (1989), chama de bricolage, que seria uma peça, um conceito, que foi criado para uma finalidade que após sofrer transformações corrobora para a criação de uma outra função podendo ser empregada em outros contextos. Pensando na cultura afro-brasileira esse termo se aplicaria perfeitamente, tendo em vista que apesar de sofrer diversas influências Gráfico 1. Pesquisa realizada com alunos do ensino médio do CEMAS, em 09.12.2014, por Jéssica Pereira. culturais, que influencia no sentido que lhe é dado, ela possui um diferencial que é a representação da cultura Logo esses alunos que se consideram “pardos”, ocupam o espaço geográfico reservado para a raça negra, é claro levando em conta que classe e raça não estão desligados um do outro. Portanto o fator “pardo” não é determinante, tendo em vista que a ascendência familiar é de origem afro-brasileira que remete a ancestralidade africana como podemos conferir no gráfico a seguir. negra remetendo a um lugar comum a África. E quais são os elementos que esses alunos utilizam que compõem os traços diacríticos da cultura afrobrasileira e africana? Para além da raça ou cor, a maioria utilizam do cabelo cacheado e crespo, tranças e o cabelo black, os meninos usam boné aba reta, boina, roupas folgadas que lembram o hip hop norte-americano baseado nos aspectos culturais afro-americanos, e todos ouvem música de influência afro. Esses são alguns aspectos marcantes na estética desses indivíduos, que permite a sociedade identifica-los como portadores de um traço diacrítico que remete a características dos povos africanos que para cá vieram e corroboraram para construção e ressignificação cultural brasileira. Dessa forma eles conseguiram fundir vários elementos, e transforma-los em traços diacríticos da cultura afro-brasileira, tendo assim um diferencial que compõem uma identidade étnica racial sendo visualizados de forma diferente na sociedade e muitos deles sofrendo preconceito devido a bagagem histórica que esses traços remete. Essa garota afirma que já foi vítima de preconceito: “O meu estilo. (Entrevistador interrompe: Porque?) 120 Gráfico 2. Pesquisa realizada com alunos do ensino médio do CEMAS, em 09.12.2014, por Jéssica Pereira. 121 232 Entrevista concedida aos alunos e a autora pelo responsável da aluna L. dos Santos Silva, em 24 de novembro de 2014. Entrevista concedida aos alunos e a autora pelo aluno, Miquéias Lima de Jesus, em 24 de novembro de 2014. 233 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. O jeito de, pra muitos o que eles mais criticam além da pele é o cabelo, [...] muitas vezes eu não fui atendida identidades a partir da negação de agentes externos. Ocorre então o empoderamento dos atores sociais que por causa do me jeito de ser, por que pensa que é humilde, num tem dinheiro, não tem condição entendeu?” É representam e utilizam a sua ancestralidade como resistência; nesse caso, uma identidade étnica. importante ressaltar que essa garota refere a cor e ao cabelo, sendo ela uma das que se considera parda, logo sua Dessa forma podemos perceber que os traços diacríticos utilizados por esses alunos representam uma cor é um traço diacrítico que remete a raça negra, e isso também é um indicativo de não ter condições, ou seja a tendência atual sob base de uma identidade ancestral invisibilizada, ainda que essa ancestralidade influencie a raça é um indicativo de classe menos favorecida, o que para essas pessoas que a julgam entendem como falta de construção de sua identidade afro-brasileira. Pois tudo o que construíram foi um processo de transformação, status. onde percebemos a força do lugar onde moram, da descendência, da mídia, da moda, cultura afro-brasileira e Por muito tempo o negro esteve ligado a tudo de ruim que acontece na sociedade, e de tanto falar em “democracia racial” esquecemos que isso ainda ocorre nos dias atuais são estereótipos que começa a ser africana, da cultura “afro-americana”, fazendo e refazendo, constituindo assim uma identidade de recorte, uma bricolage. formulado no pós-abolição e se desdobra por séculos. Esses alunos são vítimas de preconceito racial, exatamente pelos traços diacríticos, cor de pele, textura do cabelo, penteados que usam, acessórios, em fim uma REFERÊNCIAS: série de marcas físicas e culturais que ainda hoje não é bem aceita na sociedade. ALBUQUERQUE, Wlamyra R. de. O JOGO DA DISSIMULAÇÃO: abolição e cidadania negra no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. ALBUQUERQUE, Wlamira R. de, e FRAGA FILHO, Walter. UMA HISTÓRIA DO NEGRO NO BRASIL. Salvador: Centro de Estudos Afro-Orientais; Brasília: Fundação Cultural Palmares, 2006. APPIAH, Kwanne Anthony. NA CASA DE MEU PAI: A África na filosofia da cultura. Tr. Vera Ribeiro; Ver. Trad. Fernando Rosa Ribeiro. – Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. FERNANDES, Florestan. COR E ESTRUTURA SOCIAL EM MUDANÇA. IN: BASTIDE, Roger e FERNANDES, Florestan – Brancos e Negros em São Paulo: Ensaio Sociológico sobre Aspectos da Formação, Manifestações Atuais e Efeitos do Preconceito de Cor na Sociedade Paulista. 2° ed. – São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1958, p.76-161. GUIMARÃES, Antônio Sérgio Alfredo. RACISMO E ANTI-RACISMO NO BRASIL. São Paulo: Fundação de Apoio a Universidade de São Paulo, Ed. 34, 1999. LEVI-STRAUSS, Claude. A CIÊNCIA DO CONCRETO. In: O pensamento Selvagem/ Claude Levi-Strauss. Trad. Tânia Pellegrini – Campinas – SP: Papirus, 1989, p.15-49. NOGUEIRA, Oracy. PRECONCEITO DE MARCA: As relações Raciais em Itapetinga. São Paulo, Edusp, 1998. PALMEIRA, Francineide Santos. IDENTIDADE ÉTNICA E LITERATURA AFRO-BRASILEIRA. IN: Revista Multidisciplinar da UNESP - SABER ACADÊMICO - n º 11 - Jun. 2011, p.20-32. SANTOS, Gislene Aparecida dos. A INVENÇÃO DO “SER NEGRO”: Um percurso das ideias que naturalizam a inferioridade dos negros. – São Paulo: Educ/Fapesp; Rio de Janeiro: Pallas, 2002. SILVA, Cristhian Teófilo da. IDENTIFICAÇÃO ÉTNICA, TERRITORIALIZAÇÃO E FRONTEIRAS: A perenidade das identidades indígenas como objeto de investigação antropológica e a ação indigenista. IN: Revista de Estudos e Pesquisas, FUNAI, Brasília, v.2, n.1, p.113-140, jul. 2005. SCHWARCZ, Lilia Moriz. O ESPETÁCULO DAS RAÇAS: Cientistas, instituições e questão racial no Brasil – 1870 -1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. QUIJANO, Anibal. COLONIALIDADE DO PODER, EUROCENTRISMO E AMÉRICA LATINA. IN: LANDER, Edgardo (Org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais: Perspectivas LatinoAmericanas. Buenos Aires, CLACSO, 2005. Sendo assim o estilo utilizado por eles não é apenas uma tendência atual, se constitui enquanto uma identidade afro-brasileira e africana ainda em transformação e sofrendo as influências necessárias para serem o grupo “diferente” do CEMAS e da sociedade ao qual fazem parte. Pois o ser diferente ganha outra conotação nesse grupo de alunos que foram entrevistados e uma fala de um deles traz uma sensação que poucos conseguem sentir: É o melhor sentimento do mundo de ser negro, só pelo meu nome já diz tudo né, eu gosto de falar, meu sobrenome é Gejo né, tem origem ganesa, eu gosto de falar que eu sou negro, tenho orgulho de ser negro, não tenho problema nenhum, se os meus amigos quiserem me aceitar tem que ser desse jeito, odeio preconceito, não gosto de gente preconceituosa, é guardo um pouquinho de rancor de pessoas que, cometem preconceito eu acho que não é só cometeu e acabou e apagou tudo, não apaga é isso ai.122 A diferença que separou muitos afrodescendentes da cultura africana, hoje aproxima-os em busca da visibilidade mostrando o que para muitos é invisível criando assim um cerco de resistência. E os negros que um dia resistiram a toda dor que a sociedade lhes impôs a passar hoje deixou descendentes para se levantar mais uma vez e ir de encontro aos padrões imposto pela sociedade europeia, seja mostrando o orgulho de ser negro ou fazendo com que os outros aceitem o seu estilo. 3. CONSIDERAÇÕES O uso desses traços físicos e culturais de certa forma remete aos alunos um passado, a uma ancestralidade comum, que lhes fornece motivações visíveis para resistirem à discriminação racial e de classe; assim é apresentada nova versão desse perfil afro-brasileiro que está sendo construído no século XXI. A manipulação de culturas tende a oferecer possibilidades de reconstruções e readaptações no universo da construção cultural. A medida que surgem demandas conjunturais, as tradições tendem a ser usadas com princípios políticos. Apesar dos alunos não usarem esses traços diacríticos sob esse olhar crítico, com o tempo percebem suas 122 Entrevista concedida aos alunos e a autora pelo responsável do aluno, L. Santos Gelo, em 24 de novembro de 2014. 234 235 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. IDENTIDADE ÉTNICA NO CONTEXTO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA: UM PROCESSO EDUCACIONAL E POLÍTICO Para tanto, refletir acerca de conceitos antropológicos que dizem respeito ao trato do outro, torna-se fundamental para realização de um trabalho pedagógico, no qual os alunos possam ser educadas e orientados considerando-se a diversidade étnica existente socialmente, assim como o respeito a cada pessoa com a qual as CLÁUDIA MOREIRA COSTA123 relações se estabelecem. Partindo da abordagem teórica embasada nos estudos da Antropologia, a categoria usada para dar RESUMO fundamentação ao objeto de estudo desse artigo é identidade étnica. Isso posto, apresenta-se a seguir uma Este artigo faz parte de uma pesquisa de mestrado realizada através do Programa de Pós-Graduação em Relações Étnicas e Contemporaneidade da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, tendo como objetivo discutir e reconhecer a identidade étnica presente no ambiente escolar. O encontro interétnico, neste espaço, tem se construído na fricção dos diferentes grupos, uma vez que as diferenças culturais costumam ser visualizadas e comunicadas a partir de uma tendência à folclorização reforçadora de estereótipos inferiorizantes. São consideradas as situações de interculturalidade para compreender a identidade étnica e suas variadas formas de manifestação no campo educacional, a partir da Lei 10.639/03 que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana na educação básica. Parte-se do conceito antropológico a fim de traçar um parâmetro científico de discussão e em seguida realiza-se uma análise sobre o reconhecimento étnico como processo educacional e político pela tomada de decisão que abarca as questões inseridas nas relações estabelecidas no ambiente escolar. Palavras-chave: Identidade Étnica. Escola. Encontro interétnico. revisão teórica sobre este objeto. A discussão aqui apresentada está organizada em dois tópicos: no primeiro são expostos conceitos de identidade étnica sob o olhar da Antropologia, a fim de traçar um parâmetro de análise entre os autores abordados; no segundo é realizada uma reflexão sobre a identidade étnica como processo político nas relações estabelecidas no contexto escolar e a necessidade de promover encontros interétnicos permeados pela dialética das diferenças. Reflexões teóricas sobre Identidade Étnica: um viés antropológico A compreensão de como a identidade étnica é trabalhada no contexto escolar, perpassa por categorias Considerações Iniciais O artigo a ser apresentado nesse encontro faz parte da pesquisa de mestrado, ainda em andamento, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Relações Étnicas e Contemporaneidade da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB. O objetivo é discutir a identidade étnica no campo educacional a partir da Lei 10.639/03 que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana na educação básica. As discussões aqui apresentadas, fazem parte do levantamento bibliográfico realizado durante o primeiro semestre do mestrado a fim de compreender uma das categorias que subsidiará o objeto de estudo a ser antropológicas que discutem as relações étnicas num contexto mais amplo. Assim, toma-se como base autores que subsidiam a discussão acerca desta temática partindo do campo da etnicidade, para a partir deles entender como a escola possibilita e lida com as relações étnicas em seu cotidiano. Barth (2011), autor consagrado no campo da etnicidade, fundamenta estudos nas teorias interacionistas, não se preocupando com a estrutura da sociedade, mas com a análise da interação e seus contatos. Assim sendo, considera a etnicidade como um processo organizado em agrupamentos dicotômicos: nós e eles, requerendo ser expressa e validada na interação social. Para o autor, a identidade étnica não é investigado: identidade étnica. Na educação básica brasileira muitas são as críticas acerca da visão eurocêntrica que direciona o ensino de História contemplado no livro didático e ação docente. Este direcionamento reforça aspectos que denotam a superioridade branca em detrimento dos demais grupos étnicos. Assim, as escolas têm sido provocadas a promover uma educação que valorize as relações étnicas, principalmente a partir da implementação da Lei 10.639/03, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nos sistemas de ensino da educação básica como uma alternativa de buscar equilibrar o espaço de aprendizagem destinado à Europa, América e África dentro de sala de aula. Alguns avanços ocorreram após as políticas de ações afirmativas para descendentes de africanos implementadas pelo Governo Federal. No entanto, hoje, doze anos após a promulgação da referida lei, ainda há práticas pedagógicas marcadas por preconceitos e discursos de racismo, resquícios de uma história de colonização. Respeitar a diversidade até esse momento tem sido um problema imposto à educação brasileira. estática, se transforma a partir da interação entre os sujeitos e os diferentes grupos, permitindo transformações contínuas que modelam a identidade. Os estudos de Barth (2011) acentuam que as diferenças culturais passam a adquirir um elemento étnico, não como modo de vida exclusivo e tipicamente característico de um grupo, mas quando as diferenças culturais são percebidas como importantes e socialmente relevantes para os próprios atores sociais. Poutgnat e Streiff-Fenart (2011), realizaram um extenso estudo sobre etnicidade e a consideram como [...] o estudo dos processos variáveis e nunca terminados pelos quais os atores identificam-se e são identificados pelos outros na base de dicotomizações Nós/Eles, estabelecidas a partir de traços culturais que se supõe derivados de uma origem comum e realçados nas interações raciais (POUTGNAT E STREIFF-FENART, 2011p. 141). Os autores abordam a etnicidade, com base em Barth (2011), sinalizando-a como aquela que provoca ações e reações entre este grupo e outros, numa organização social em constante evolução. Partindo dessas considerações, Poutgnat e Streiff-Fenart (2011) tratam a identidade étnica como sendo 123 UESB. Mestranda em Relações Étnicas e Contemporaneidade. 236 237 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. uma construção no processo de transformação e interação dos grupos. Grupos estes que possuem linhas Na visão de Munanga (2004), a compreensão de identidade étnica parte das causas da discriminação demarcatórias e critérios de pertença na interação social e, nesse contexto, os grupos terão ganhos e perdas de racial e educacional do negro brasileiro, abordando os efeitos do silenciamento identitário e do mito da significação no curso da sua história. democracia racial no cotidiano escolar. Para ele, a construção da identidade configura-se em uma prática Estudos de Cardoso de Oliveira (2000) apontam o contato interétnico sendo um dos fenômenos mais política, sendo fruto de construção social. O autor ressalta que “o surgimento de uma etnia brasileira, capaz de comuns no mundo moderno, sejam eles nacionais, culturais ou raciais, devido à expansão das civilizações e envolver e acolher a gente variada que no país se juntou, passa tanto pela anulação das identificações étnicas de modernização no mundo. Partindo dessa premissa, o autor classifica a identidade étnica em duas dimensões: índios, africanos e europeus, quanto pelas várias mestiçagens” (MUNANGA, 1999, p. 100). Neste contexto, é individual e coletiva. Ambas se complementam, mas é no nível coletivo que a identidade se edifica e se realiza, preciso refletir como a pessoa negra é ou não inserida, desde a infância, no processo de tomada de consciência no processo de diferenciação na relação com o outro, o que ele chama de identidade contrastiva. de sua identidade individual e coletiva. Identidade contrastiva parece se constituir na essência da identidade étnica, à base da qual esta se define. Implica a afirmação do nós diante dos outros. Quando uma pessoa ou um grupo se afirmam como tais, o fazem como meio de diferenciação em relação a alguma pessoa ou grupo com que se defrontam. É uma identidade que surge por oposição. Ela não se afirma isoladamente. No caso da identidade étnica ela se afirma “negando” a outra identidade, “etnocentricamente” por ela visualizada (CARDOSO DE OLIVERA, 2000, p. 120). Diante dos conceitos apresentados, a identidade étnica passa pelo entendimento da construção, da tomada de consciência e no reconhecimento realizado nos contatos interétnicos. Assim, os grupos e instituições com os quais se convive, exercem grande influência nesse processo de percepção. Para tanto, a educação seria, enquanto mecanismo reflexivo e intercultural, um instrumento promotor do reconhecimento étnico como processo político nas relações estabelecidas no contexto escolar. Para o autor, a identidade étnica se constrói com base no contraste da aceitação do nós pelos outros, se Identidade étnica no contexto escolar da educação básica constituindo uma forma de identidade social. Cunha (2009), assim como Barth (2011), aborda a identidade étnica no plano da organização social e defende que toda identidade é necessariamente contrastiva. A autora parte da abordagem neoculturalista e compreende a etnicidade atrelando-a aos conceitos de cultura, natureza histórica e linguagem, sendo este último, elemento essencial para compreendê-la por ser um sistema simbólico que organiza a percepção de É sabido que a escola é um dos espaços em que mais encontramos diversidade. Nas relações estabelecidas rotineiramente no ambiente escolar da educação básica, as diferenças são transformadas em desigualdades tendo como parâmetro os padrões e valores culturais disseminados por um saber cultural e social de cunho eurocêntrico, e que não dialoga com os demais saberes culturais (MUNANGA, 2005). mundo. O princípio de natureza histórica também é fator decisivo para conceituar etnicidade, uma vez que a etnicidade é linguagem não simplesmente no sentido de remeter a algo fora dela, mas no de permitir a comunicação. Pois como forma de organização política, ela só existe em um meio mais amplo (daí, aliás, seu exacerbamento em situações de contato mais íntimo com outros grupos), e é esse meio mais amplo que fornece os quadros e as categorias dessa linguagem. (CUNHA, 2009, p. 237) A linguagem é abordada pela autora nas suas dimensões prática e simbólica, considerando-a como Partindo dessa perspectiva, ao falar em relações étnicas no contexto escolar, é preciso, antes de tudo, considerar que as identidades se afirmam no processo de interação entre o nós e o eles (BARTH, 2011). No caso da educação brasileira, o nós está relacionado com a cultura do colonizador e o eles aos demais povos, entre eles os negros e indígenas. Assim, o encontro interétnico no ambiente escolar tem se construído na fricção dos diferentes grupos étnicos, uma vez que as diferenças culturais costumam ser comunicadas, ainda, a partir de uma tendência à folclorização da cultura negra, relacionando-se muitas vezes, ao racismo e a discriminação. organização política. Para Silva (2000), a identidade deve ser entendida sob a perspectiva da produção social da identidade e Em se tratando de identidade étnica, torna-se importante deslocar, assim como Barth, o foco de investigação da constituição da história de cada grupo para as fronteiras étnicas existentes no contexto escolar. da diferença, ressaltando as relações de poder presentes nas relações sociais. A identidade, tal como a diferença, é uma relação social. Isso significa que sua definição - discursiva e lingüística - está sujeita a vetores de força, a relações de poder. Elas não são simplesmente definidas; elas são impostas. Elas não convivem harmoniosamente, lado a lado, em um campo sem hierarquias; elas são disputadas. (SILVA, 2000, p. 81) O autor argumenta que a identidade e a diferença são criações sociais e culturais e estão estreitamente relacionadas às formas pelas quais a sociedade produz e utiliza classificações, dividindo o mundo social entre "nós" e "eles". 238 Nesse caso, para investigar como a identidade étnica das crianças negras está sendo construída, é preciso localizar quais são as fronteiras existentes entre as diferentes etnias que compõe o espaço da escola e como as mesmas dialogam. Na perspectiva de Barth (2011) o conteúdo cultural das categorias étnicas são classificados em duas ordens: Sinais ou signos manifestos – os traços diacríticos que as pessoas procuram e exibem para demonstrar sua identidade, tais como vestuário, a língua, a moradia, ou o estilo geral de vida; 2. e orientações de valores fundamentais – os padrões de moralidade e excelência pelas quais as ações são julgadas (BARTH, 2011, p.194). 239 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. Desse modo, é mister perceber como as identidades étnicas são tratadas no ambiente escolar e o que historicamente desfavorável aos povos negros no Brasil. Segundo Munanga (2005, p. 17), “cremos que a cada grupo étnico reivindicam para si, percebendo assim como essas identidades ganham sentido através da educação é capaz de oferecer tanto aos jovens como aos adultos a possibilidade de desconstruir os mitos de linguagem e dos sistemas simbólicos pelos quais elas são representadas através de suas fronteiras. superioridade e inferioridade entre grupos humanos introjetados pela cultura racista”. Corroborando com o Pensar estas fronteiras requer reconhecer a pluralidade de sujeitos e de culturas que compõe o espaço escolar. Sendo assim, faz-se necessário situar a escola como um local onde as diferenças culturais possam autor, a educação brasileira precisa ser repensada continuamente, a fim de superar a visão do trabalho com a diversidade hierarquizada em culturas superiores e inferiores. dialogar, levando em consideração a linguagem e o pensamento como elementos estruturantes que permitem a Desde o momento em que as políticas de ações afirmativas no Brasil assumiram um caráter mais comunicação entre diferentes etnias, partindo do princípio da razão prática e simbólica da linguagem defendido sistemático e institucional, a cultura negra passou a ter maior visibilidade. Mas alguns equívocos persistem no por Cunha (2009), “a questão da língua é elucidativa: a língua de um povo é um sistema simbólico que organiza trabalho pedagógico. Conforme aponta Munanga (1999), é necessário conferir, no trabalho em sala de aula, a sua percepção do mundo, e é também um diferenciador por excelência.” (CUNHA, 2009, p. 237). Partindo das existência de uma população negra plural, complexa, evitando, assim, a visão de uma cultura ou identidade considerações da autora, para melhor entender como é tratada a identidade étnica de crianças negras no espaço unitária e monolítica. escolar, deve-se observar através dos discursos produzidos na escola se a identidade étnica passa pelo Com base nessa premissa, faz-se necessário considerar que as práticas educativas devem ser entendimento da construção, da tomada de consciência e do reconhecimento realizados através dos contatos elaboradas dentro de um cenário político e histórico de luta contra a produção social da identidade e da interétnicos ou se continua a hierarquizar as etnias presentes na comunidade escolar, colocando o branco como diferença, conforme Silva (2000). Pensar a escola requer reconhecer a diferença e a identidade que a compõe, um ser superior. assim como colocar em evidência questionamentos que transcendam as declarações benevolentes de boa Por muito tempo a prática escolar esteve centrada no parâmetro de naturalização da hierarquia social, cultural, econômica e política do colonizador. Nesse contexto, o étnico é o outro que representa as minorias, vontade para com a diferença (SILVA, 2000). Silva (2000) caminha pela vertente onde a diferença e a identidade estão em estreita dependência, como negro, indígenas. No entanto, ainda que a escola de modo geral tenha o objetivo de reproduzir uma ambas sendo fabricadas no contexto das relações sociais e culturais. O autor chama a atenção para a cultura hegemônica e, assim, viabilizar a consolidação de uma identidade homogênea, ao mesmo tempo, necessidade de questionar as relações de poder que produzem a identidade e a diferença, para não cair no erro percebe-se que o ambiente escolar se constitui como um espaço privilegiado de negociação de identidades na de naturalizá-las ao assumir a posição liberal de apenas celebrar a diversidade do outro. É preciso problematizar medida em que expressa as contradições culturais da sociedade em que está inserida. esses dois conceitos, questionando sempre o poder fundador e a atribuição de sentido dados a cada um deles. As relações interétnicas são expressas como um sistema de oposições ou contrastes. Na visão de Outro ponto importante que Silva (2000) suscita é acerca das relações de poder existentes na Oliveira (2003), este sistema é chamado de identidade contrastiva, em que a concepção de identidade se demarcação das fronteiras determinantes da identidade étnica. Ao utilizar critérios para determinar quem faz ou relaciona com a definição e reconhecimento da diferença estabelecidas nas situações de contato, uma vez que não faz parte de um grupo, se está, antes de qualquer coisa, utilizando fortes traços de demarcação de poder e “é na relação com o outro que me identifico como o não-outro” (OLIVEIRA, 2003, p. 27). É necessário indicando as posições do sujeito. Nessa ótica, normalizar significa determinar uma identidade como parâmetro conhecer a identidade do outro para tê-la como referência e assim afirmar uma identidade ou para refutá-la ao para as demais, como afirma o autor: “quem tem o poder de representar tem o poder de definir e determinar reconhecer que o outro não representa a identidade em questão. identidade” (SILVA, 2000, p. 91). Logo, quem classifica detém o poder e se considera como normal a partir de Mediante o exposto, é preciso considerar que a abordagem das questões étnicas no espaço escolar, por seus princípios, e as demais pessoas são as anomalias sociais. Essa é uma realidade bem visível no âmbito muitas vezes, é reduzida ao olhar da cultura dominante, que suprimindo um universo cultural, apresenta apenas escolar, mas deve ser questionada e problematizada uma vez que o contexto da escola é marcado pela seus aspectos exteriores e superficiais, reforçando a imagem de inferioridade ao apresentar uma imagem multiplicidade de sujeitos, culturas e saberes. estereotipada da cultura dos povos africanos. Esta atitude se justifica pela dificuldade de desconstruir antigas Partindo do princípio de que na escola a construção da identidade étnica passa pelas relações de poder, representações do negro, pautadas em estereótipos definidores dos povos africanos e seus descendentes no é necessário ressaltar essas relações como demarcadoras do reconhecimento do outro e do fortalecimento do Brasil. Tal representação é fruto do imaginário coletivo que construiu uma imagem da pessoa negra como sentimento negativo ou positivo das identidades que permeiam o espaço escolar. Logo, a escola sendo indivíduo inferior, ao considerar os africanos como herdeiros de costumes rudimentares, manifestações propagadora de conhecimento e de cultura, deve problematizar a identidade e a diferença enquanto produção grosseiras e até demoníacas. social. Abordar a diferença partindo de uma visão dialética, como propõe Silva (2000), é permitir que Não se pode perder de vista que a educação continua sendo um referencial na superação de um quadro 240 aconteçam diálogos de um núcleo com outras identidades sem que uma se sobreponha a outra. 241 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. Salvador: EDUFBA, 2011. 182 p. SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2000. Considerações finais O diálogo entre antropologia e educação traz contribuições significativas para a fundamentação do LEI 10.639/2003 E FORMAÇÃO DOCENTE: INDÍCIOS DE ENFRENTAMENTO AO DISCURSO DA DEMOCRACIA RACIAL? pensar e do agir educativo, no que concerne as relações étnicas. Pensar a escola nessa perspectiva induz ao reconhecimento e valorização da pluralidade de sujeitos e de culturas que a compõe. Sendo assim, faz-se PAULO DE TARSO LOPES124 necessário situar a escola como um espaço onde as diferenças culturais possam dialogar na ótica da promoção RESUMO de uma educação atenta à diversidade. Este estudo é resultado de um estudo exploratório para desenvolvimento da qualificação a ser apresentado no Refletir acerca da identidade étnica no ambiente escolar partindo das discussões aqui apresentadas, Programa de Pós Graduação Strictu Sensu em Relações Etnico Raciais do Centro Federal de Educação requer uma consciência de pensar a diferença presente no cotidiano da escola. Esse pensar suscita alguns Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, sito em Rio de Janeiro, alicerçado numa análise dos resultados de questionamentos: de que maneira a diferença é tratada e compreendida no ambiente escolar? De que maneira o pesquisa documental e institucional em instituições públicas do Espírito Santo, tomando por revisão de encontro interétnico interfere nas relações educativas, de aprendizagem e socialização, dentro ou fora da literatura Guattari e Rolnik (2008), Maingueneau (2002), entre outros, dialogando com a obra de Gilberto escola? Como é identificada e reconhecida a identidade étnica dos alunos? Em que os materiais didáticos e as Freyre (2002). interlocuções dos professores contribuem na construção da identidade étnica dos alunos? Palavras chave: Democracia Racial. Análise do Discurso. Formação Docente. Em consonância com o exposto acima e do entendimento da identidade étnica na perspectiva antropológica, é imprescindível que a escola esteja preparada para valorizar a identidade étnica de cada aluno. É INTRODUÇÃO preciso fazer educação com o propósito de contribuir para a valorização das diferenças e não mais na Este estudo é parte integrante de um processo de pesquisa realizado no Espírito Santo, que culminou no projeto perpetuação, legitimação e reprodução do preconceito e da discriminação. Desse modo, a educação deve ser de qualificação do Programa de Pós Graduação em Relações Étnico Raciais (PPRER). Baseado numa pesquisa concebida dentro do contexto do reconhecimento das diferenças localizadas nos encontros interétnicos documental, partimos do seguinte problema: Tomamos o seguinte problema para realização desse trabalho: em permeados pela dialética das diferenças. que medida, após 12 (doze) anos de promulgação da Lei 10.639/2003, já há indícios de enfrentamento aos enunciados discursivos que fundam a intenção de convivência idílica nas relações étnico raciais? REFERÊNCIAS Tendo por instrumento visitas institucionais, acompanhadas de análise acurada de documentos específicos de BARTH, Fredrik. Os grupos étnicos e suas fronteiras. In: POUTIGNAT, Philippe; STREIFF_ FENART, Jocelyne. Teorias da Etnicidade. Seguido de Grupos Étnicos e suas fronteiras de Fredrik Barth. Tradução de Elcio Fernandes. 2ª ed. – São Paulo: Ed. Unesp, 2011. 250p BRASIL. Lei nª 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Diário Oficial da União de 10 de janeiro de 2003. CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. O trabalho do antropólogo. 2 ed. Brasília: Paralelo 15; São Paulo Editora UNESP, 2000. __________. Identidade étnica, identificação e manipulação. In. Sociedade e Cultura, V. 6, N. 2, jul./dez. 2003, p. 117-131. __________. Identidade étnica, reconhecimento e o mundo moral. In. Revista Anthropológicas, ano 9, vol. 16 (2), 2005. CUNHA, Manuela Carneiro. Cultura com aspas e outros ensaios. São Paulo: Cosac Naify, 2009. MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus identidade negra. Petrópolis: Vozes, 1999. ______. A importância da história da África e do negro na escola brasileira. São Paulo, Mauá. Organizado pelo NEINB (Núcleo Interdisciplinar sobre o Negro Brasileiro). 2004. ______ (org). Superando o racismo na escola. 2. ed. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. POUTIGNAT, Philippe; STREIFF_ FENART, Jocelyne. Teorias da Etnicidade. Seguido de Grupos Étnicos e suas fronteiras de Fredrik Barth. Tradução de Elcio Fernandes. 2ª ed. – São Paulo: Ed. Unesp, 2011. 250 p SILVA, Ana Célia da. A representação social do negro no livro didático: o que mudou? por que mudou?. órgãos públicos, tanto na esfera federal, como estadual e municipal, com foco no Município da Serra - ES, 242 buscamos reflexões teóricas baseadas no viés da “ordem do discurso”, tomando por referenciais teóricos Michel Foucault e Sueli Rolnik, que formará também nosso referencial metodológico, num viés de cartografia, analisando os enunciados que subjazem nossos resultados. Num primeiro momento estaremos abordando um breve resumo da obra literária de Gilberto Freyre, num viés de compreensão melhor de todo processo de descrição do trabalho. Num segundo momento estaremos analisando o processo cartográfico e histórico que culminou na legislação em questão. Posteriormente trabalharemos a pesquisa em foco, analisando todo processo de implementação dessa legislação no Espírito Santo. 2. Refletindo a obra literária no contexto do discurso A obra “Casa Grande & Senzala”, publicada em 1933, de autoria de Gilberto Freyre, parece marcar uma construção do conceito de nação e origem da população brasileira, num viés de busca incessante pela 124 Estudante de pós graduação strictu sensu (mestrado) do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow Vasconcellos em Relações Étnico Raciais, bacharel em serviço social pela UFES. 243 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. convivência idílica entre as pessoas, como que se “suportando” uns aos outros, mesmo diante das diferenças 2. Por uma cartografia da Lei 10.639/2003: um estudo exploratório das processualidades que norteiam a étnico raciais e das desigualdades geradas em torno dessas. legislação No prefácio a edição do ano de 2003 Fernando Henrique Cardoso, sociólogo e Presidente da República no O desejo pela formação de uma raça ariana que caracterizasse o Brasil como desenvolvido foi um objetivo período de 1995 a 2002, chama a obra de Freyre de “um livro perene”, trazendo para um cunho etnográfico. No perseguido por muitos intelectuais, emergindo diversas teorias que explicavam tal contexto, com destaque aos primeiro capítulo Freyre destaca características da colonização portuguesa no Brasil, descrevendo as origens da “homens de sciencia”, cuja influência de cunho positivista perpassava por uma organização social que Metrópole, exaltando a mulher negra, em detrimento da mulher branca: privilegiava a “civilização e progresso [...] como modelos universais” (SCHWARCZ, 2011, p. 57), o que exigia [...] a mulher morena tem sido a preferida dos portugueses para o amor, pelo menos para o amor físico. A moda de mulher loura, limitada, aliás às classes altas terá sido, antes a repercussão de influ~encias exteriores do que a expressão de genuíno gosto nacional (FREYRE, 2003, p. 73). O autor destaca ainda as diásporas que provocaram a mestiçagem no continente europeu, antes mesmo da uma “purificação das raças”. introdução do índio e do negro no continente a partir das grandes navegações, referindo-se a formação dos Estado Nacionais Ibéricos, evoluindo para um capitulo posterior, onde pontua a influência indígena nas famílias brasileiras. Não nos estenderemos neste capítulo, passando para o próximo, onde reforça a colonização aristocrática e patriarcal no Brasil, falando do colonizador português. Ainda no terceiro capítulo Freyre (2003) já sinaliza em sua obra para uma sociedade brasileira etnicamente passiva: A esses grupos autônomos, olvidados pela narrativa de Freyre, são vistos num viés de micropolítica (GUATTARI e ROLNIK , 2008), as lutas sociais estão, assim, imbricadas no contexto de revoluções molares e moleculares. Os momentos tratados como idílicos por Freyre (2003) se consubstanciam de fato em mobilizações diversas que, do ponto de vista social, culminaram na Lei 10.639 de 09 de janeiro de 2003. Vinte e um anos antes da promulgação da legislação supracitada o Movimento Negro Unificado trazia em seu plano de ação a inclusão da história da África e do negro no Brasil nos currículos escolares. Já em fins do século XX, com a instauração de uma política neoliberal no contexto nacional, a prioridade aos grupos hegemonicamente econômicos forjou uma intensificação de um ideário nacional de uma vivência “pacífica” Híbrida desde o início, a sociedade brasileira é de todas da América a que se constituiu mais harmoniosamente quanto as relações de raça: dentro de um ambiente de quase reciproceidade cultural que resultou no máximo de aproveitamento dos valores e experiências dos povos atrasados pelo adiantado; no máximo de contemporização da cultura adventícia com a nativa, da do conquistador com a do conquistado. Organizouse uma sociedade cristã na superestrutura, com a mulher indígena, recém batizada, por esposa e mãe de família; e servindo-se em sua economia e vida doméstica de muitas das tradições, experiências e utensílios da gente autóctone (FREYRE, 2003, p. 160). Os títulos do capítulo IV e V (continuação) são inusitados: “O escravo negro na vida sexual e da família do entre as raças, num viés de silenciar os grupos vulneráveis. A luta do movimento negro, articulada a uma integração e mobilização internacional democraticamente o país desmonta as estratégias neoliberais e elege um governo central de esquerda, na contramão das intenções internacionais, principalmente norte americanas, com a eleição, em 2002, de Luiz Inácio Lula da Silva, empossado em 01 de janeiro de 2003, assinando em 09 de janeiro do mesmo ano a primeira legislação voltada para atender anseios do movimento negro: a Lei 10.639, que altera a Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (Lei brasileiro”. Ao traçar essa assertiva podemos inferir que: a) a questão sexual parece restrita ao “escravo”; negro, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), no seu Artigo 26 e 79. mesmo os nascidos na condição de escravos, não seriam “brasileiros”. Mas vejam que o autor, na página 160, Em seguida assina o Decreto 4.886 de 20 de novembro de 2003, que institui a Política Nacional de Política de antes de começar a falar do afrodescendente, induz-nos a imaginar uma sociedade brasileira formada numa Igualdade Racial, redundando na primeira Conferência de Igualdade Racial, realizada em 2005125, cujos condição tão idílica da qual o “negro” se instituiria como parte integrante dessa. resultados demonstram a preocupação de implementação da legislação. Posteriormente é assinado o Decreto O autor exalta a população afrodescendente pela força, pela adaptabilidade ao clima, distingue-o do indígena, 6.872, de 04 de junho de 2009 que institui o Plano Nacional de Promoção de Igualdade Racial (PLANAPIR), colocando esse grupo na condição de “atrasados” em relação aos afrodescendentes. Critica as apologias teóricas ocorrendo posteriormente, com aprovação e implementação em 2012 o Plano Nacional de Implementação das que buscam corroborar a inferioridade afrodescendente, mas de forma ambígua, utiliza estudos de Nina Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino da História e da Cultura Africana e afro-brasileira Rodrigues para fins de diálogo com o assunto. Ressalta ainda a manutenção da cultura negra no Brasil, tanto no (PNIDCNEREHCABA). Partindo deste documento buscamos compreender como são as relações existentes tocante ao islamismo, quanto os Nagôs do reino de Iorubá. No que tange a sexualidade, assertiva destacada no entre a legislação e seu cumprimento no interior das instituições escolares. título do capítulo quatro, rechaça a ideia de que a “[...] negra corrompeu a vida sexual da sociedade brasileira Passamos a cartografar os documentos, numa perspectiva de ter nestes a principal fonte de investigação. Nossa [...]” (FREYRE, p. 398), atribuindo esse fenômeno a escrava e a índia. primeira etapa deu-se por um movimento exploratório da pesquisa, junto as chefias imediatas de instituições Freyre (2003) não olvida as relações de escravidão, menos ainda a condição de objeto sexual que as mulheres públicas, voltadas a educação escolarizada, sendo no âmbito Federal, representada pela Universidade Federal negras representavam para os brancos, destacando a influência cultural afrodescendente no contexto social do Espírito Santo e Instituto Federal do Espírito Santo, a partir dos Núcleos de Estudos Afrobrasileiros brasileiro. 125 Esta ocorreu em Brasília – DF, com o tema: Estado e Sociedade: http://www.seppir.gov.br/publicacoes/conapirI.pdf. Acessado em: 12/06/2015. 244 Promovendo a igualdade racial. Disponível em: 245 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. (NEAB), no âmbito estadual a Secretaria Estadual de Educação (SEDU) e no municipal a Secretaria Municipal resultados: eguinte situação: 02 (dois) homens presentes e 26 (vinte e seis) mulheres, numa turma de 50 de Educação (SEDU). (cinquenta) matriculados, no seminário de 15/12/2010; 03 (três) homens e 32 (trinta e duas) mulheres no 3. Visita Institucional como instrumento para cartografia documental seminário de 15/05/2010 Vamos iniciar pelo NEAB/ UFES, cuja existência remonta a última década do século XX, institucionalizando- O Curso Cultura e saberes: Direitos Humanos e diversidades, já realizados após 2013, com uma carga horária se oficialmente a partir da Portaria 171 A, de 21 de fevereiro de 2006, cujo documento (em anexo) trará apenas de 180h (cento e oitenta horas), entre os meses de setembro e dezembro, apresentou os seguintes resultados: de a criação e a coordenação da Professora Leonor Franco de Araújo. Segundo o Relatório NEAB/UFES de 2008, 62 (sessenta e dois) matriculados e matriculadas nas terças e quintas feiras, 12 (doze) desistiram. Num contexto o objetivo da instituição é: formado basicamente por mulheres, donde foram constatados apenas 05 (cinco) homens matriculados, 100% [...] se constituir como um centro de referência que articule e promova atividade de ensino, pesquisa e extensão relacionadas ao campo de estudos afro brasileiros; construir políticas de expansão interdisciplinar/ multidisciplinar nas escolas públicas que ofertam a educação básica (BRASIL, 2008). O NEAB/UFES está, consoante Regimento Interno, vinculado à Reitoria Universitária, em 2010 ofereceu o destes frequentaram as aulas, enquanto entre as mulheres, apenas 38 (trinta e oito) chegaram ao final do curso primeiro curso de pós graduação no âmbito das relações étnico raciais, com foco na África, com 200 (duzentas) vagas, recebendo 180 (cento e oitenta) inscritos, matriculando 155 (cento e cinquenta e cinco), conseguindo a diplomação de 84 (oitenta e quatro). Do total de matriculados, 42 (quarenta e dois) não defenderam a monografia, 12 (doze) desistiram no decorrer do curso. em questão. As turmas de sábado possuíam 51 (cinquenta e um) matriculados, com a presença de dois homens, 49 (quarenta e nove) mulheres, 35 (trinta e cinco não concluíram o curso. A partir dessa cartografia, tomamos novo rumo: a direção agora era o estado do Espírito Santo, na Secretaria de Estado de Educação (SEDU). Essa instância tem sofrido fortes modificações, encetadas na gestão do atual governador do estado, eleito para um mandato de quatro anos, num período que durou de 2003 a 2006, reeleito para um mandato de 2007 a 2010, construindo uma base aliada que elegeu seu sucessor para mandato de 2011 a 2014, com rompimento da aliança (PMDB e PSB) e reeleição do atual governador para gestão de 2015 a 2018. Para além dessa atividade, o NEAB/ UFES ofereceu seminários, palestras, entre outras ações, integrando as turmas de pós graduação e demais componentes da sociedade civil organizada. No entanto, em fins dos anos 2012, todo os anos de 2013 e 2014 as atividades foram mais endógenas. Esse breve histórico funciona como perspectiva para compreensão de que a base sucessória dos governantes do Espírito Santo não funcionaram como óbices para uma intervenção governista que interagisse enquanto fomento de desconstrução da política estadual iniciada na primeira gestão do atual governador. Todo processo Ainda no âmbito Federal, temos o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), cuja criação do NEAB126 se deu em 21 de agosto de 2009, pela Portaria n. 1026/2009. Ao contrário do NEAB/ UFES, o setor não dispõe de espaço próprio para execução de suas atividades, funcionando na biblioteca do IFES com sede em Vitória (capital do Espírito Santo). Em 2009 foi realizado curso de formação docente no município da Serra - ES, além de dois seminários realizados nos anos de 2010 e no ano de 2013, inexistindo quaisquer relatórios que deem conta dos aspectos mais gerais dessas atividades, tais como: listas de presença, avaliação, entre outros documentos que venham forjar uma análise mais acurada de todo processo. funcionou como continuidade de aspectos gerenciais, cujas reformas perpassaram apenas pelo âmbito da estrutura, não de práticas específicas. Partindo de Guattari (2000), vemos que tais mudanças não implicam, de fato, em uma nova “arquitetura”, mas numa perspectiva “subjetidade parcial”, cuja alteração toma um viés de centralização, escapando a “desterritorialização”. A mudança de governo, então, toma um aspecto em que o que de fato vemos é quase que “mais, do mesmo127”, ou seja, a gestão 2011 a 2014 assume o estado de modo provisório, devolvendo o mandato para o atual governador, que o antecedeu, rompendo a aliança e retornando por sufrágio universal. Na Secretaria de Educação (SEDU), que integra a estrutura organizacional da Prefeitura da Serra, consoante a Lei Municipal 2.356 de 29 de dezembro de 2000, Art. 1º, Inc. VI, encetamos nossa cartografia em âmbito municipal, sendo encaminhada a Gerência de Formação, chegando ao Centro de Formação de Professores, cuja coordenação encontra-se na gerência da Dra. Profa. Marina Rodrigues Miranda. Como forma de corroborar tal informação, verificamos que as atividades assumidas pelo Centro de Formação dos Profissionais da Educação do Espírito Santo (CEFOPE) se institui enquanto um órgão vinculado hierarquicamente ao Gabinete da Secretaria da Educação, substituindo a Gerência de Formação do Magistério (GEFOR), integrando a estrutura hierárquica da SEDU. Em 2013 a nova gestão acabou com o CEAFRO, criando a coordenação de Estudos Étnicos Raciais e Diversidade, a qual vem atuando na perspectiva da diversidade, ampliando os olhares para outras demandas (tais como índios e outras raças). Em 2011 foi elaborado e executado o Curso de Pós Graduação Com isso, nosso estudo exploratório não se esgota nessa pesquisa, demanda um procedimento de continuidade, indo desde a prática documental a pesquisa institucional, numa metodologia da qual passamos a descrever nesse instante. ‘Aperfeiçoamento’ Educação e Afrodescendência, iniciado, de fato, em 2010, em parceria com NEAB/IFES, oferecendo 50 vagas para professores, com prioridade aos da rede pública municipal, obtendo os seguintes Aqui, ao contrário do NEAB/ UFES, trataremos por NEAB/ IFES, significando Núcleo de Estudos Afro brasileiros do Instituto Federal do Espírito Santo. 127 Tomamos este termo do título da música de um grupo de rock brasileiro de grande sucesso surgido nos anos 80, do século passado, em Brasília – DF, denominado Legião Urbana, cujo sucesso ainda é contemporâneo, mesmo com o fim da Banda, a partir da morte de seu principal componente: Renato Russo (1960 – 1996). 246 247 126 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. em estratégias homogeneizadoras que excluem a diferença e o múltiplo. Um trabalho de formação como processo que pretende escapar da produção de trabalhadores como mercadorias amorfas, silenciosas e serializadas e se constituir espaços que possam gerar indagações e propostas que possibilitem a criação de novas práticas educacionais (BARROS, 2008, p. 91). 3. Refletindo o discurso da formação docente: indícios de enfrentamento a “democracia racial”? O termo “democracia racial” não é utilizado por Gilberto Freyre em sua obra. No entanto, a forma idílica como trata a formação étnico racial no Brasil enuncia essa postura. Não obstante, ao pensarmos a formação docente, a que enunciados discursivos estamos nos remetendo? Econômicos? Pedagógicos? Literários? Se o enunciado possui marcas de modalidade, vestígios, embreagens (MAINGUENEAU, 2000), entre outras Caminhar por este viés tornará o clamor por formação uma prática engendrada na busca por alternativas características, a enunciação “formação docente” passa a apresentar um aspecto modal na medida que criativas, centradas na diversidade, na direção da inclusão social. comparece nas diferentes vozes profissionais do magistério, presentes em diversos documentos oficiais que Considerações finais reforçam essa perspectiva nos planos de ação. Sendo assim, no tocante a questão étnico racial estamos repletos Respondendo nossa inquirição inicial, percebemos que, historicamente, as micro revoluções inerentes ao de documentos que comparecem como alternativa de enfrentamento aos pré conceitos herdados em nossa movimento negro são a prova cabal desse processo, os documentos até então produzidos apontam para estes história frente ao contexto África e cultura afro-brasileira. Chegamos a um outro impasse: cultura. indícios, a modificação na Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Deixamos o contexto sociológico do termo e avançamos para uma concepção mais resumida trabalhada por Nacional), em seus Artigos 26 e 79 também facultam-nos enxergar estes indícios, as formações continuadas a Guattari e Rolnik (2008), que vai além dos costumes, da transmissão da informação, tratando-se de uma “[...] docentes em exercício também são testemunhas desses indícios. maneira que as elites capitalísticas exporem [...] um mercado geral de poder” (2008, p. 27). Podemos aduzir Corroborados por meio dos documentos oficiais que trazem à tona essa discussão, as prerrogativas enunciativas dessa assertiva que o enunciado "formação docente” vem ao encontro de uma “exigência” do capital ao exército que fundam a intenção de “democracia racial” parecem ainda cristalizadas junto aos docentes que clamam por industrial de reserva face ao desenvolvimento do sistema econômico vigente, cuja demanda por “trabalhadores” formação, haja vista o rechaço de grande parte dos professores por uma formação voltada a questão étnico é cada vez menor. racial, demandando uma atenção especial do Poder Público frente aos aspectos formativos, tanto do ponto de Portanto, ao falarmos de formação docente, retratamos dois momentos: a formação inicial e a formação vista da oferta, quanto do monitoramento dos aspectos que consubstanciam a realidade institucional escolar, continuada. A primeira, exigida pela Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, é o que licencia o professor para oportunizando aos discentes um conhecimento histórico além do viés positivista, numa perspectiva de interação assento na cadeira docente, a segunda vem ao encontro de diversos cursos, seja extensão e/ou pós graduações e inclusão social, tomando a história e arte africana e afro-brasileiras integrantes dos aspectos que estão que comparecem para “atualizar” o professor, colocando-o numa condição de especialista, podendo competir de imbricados na história geral e do Brasil. maneira mais “pré”parada para competir no mercado de trabalho. Sendo assim, analisando a história da Lei 10.639/2003, tomando a literatura brasileira esboçada na obra de REFERÊNCIAS Gilberto Freyre e o discurso da “formação docente”, a promulgação da Lei supracitada se situa como “[...] [...] desmanchar os territórios de saber-poder, ‘estilhaçando as fôrmas de ação’ [...] e os lugares assépticos dos especialismos, que têm produzido saberes-propriedade apoiados 1. BARROS, Elizabeth Barros de. Formação de Professores/as e os desafios para a (re)invenção da escola. In: FERRAÇO, C. (Org.). Cotidiano escolar, formação de professores(as) e currículo. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2008, p. 68-93. 2. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. 3. _______. Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional e dá outras providências. Brasília: Senado Federal, 2004. 4. _______. Lei 10.639 de 08 de janeiro de 2003. Dispõe sobre alteração do Art. 26 da Lei 9.394/96 e dá outras providências. Disponível em: http://www.seppir.gov.br/publicacoes/pnpir.pdf. Acessado em: 10/04/2015. 5. _______. Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação das relações étnico raciais para o ensino. Disponível em: HTTP://www.seppir.gov.br. Acessado em 30/05/2015. 6. DOMINGUES, PETRONIO. Movimento negro brasileiro: alguns apontamentos históricos. Programa de Pós Graduação em História da UFES, 2008. p.101-122. 7. FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. 3.ed. Rio de Janeiro: Nau, 2005. 8. FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. 48.ed. São Paulo: Global, 2003. 9. GUATTARI, Caosmose: um novo paradigma estético. 3 ed. São Paulo: Editora 34, 2000. 10. GUATTARI, F.; ROLNIK, S. Cartografias do desejo. 9.ed. Petrópolis: Vozes, 2008. 11. MAINGUENEAU, Dominique. Análise de textos de comunicação. São Paulo: Cortez, 2000. 248 249 emergência de novas formas de subjetividade [...]” (FOUCAULT, 2005, p. 11). Guattari e Rolnik (2008) trazem a noção de subjetividade alicerçada no viés da fabricação, da modelação, do consumo. Sendo assim, a noção de um enunciado de formação docente pode ser concebida como uma subjetivação voltada a perspectiva do consumo, daí, muitas vezes, o consumo exacerbado de cursos e formações aleatórias, muitas vezes atendendo às idiossincrasias do capital. Mas não é qualquer formação que interessa ao professor, a subjetivação da perspectiva democrática racial impõe aos docentes uma desnecessidade de compreender a África e as africanidades brasileiras, levando ao quadro supracitado, donde menos que a metade dos que formaram os selecionados para uma formação gratuita oferecida pelo NEAB/UFES conseguem concluir o curso de pós graduação Educação e Afrodescendência, entregando as monografias (critério para consecução do certificado). Com isso, a formação docente, pensada num viés discursivo pode ser pensado numa perspectiva que tangencie: ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. 12. ROLNIK, Suely. Cartografia sentimental: transformações contemporâneas do desejo. São Paulo: Estação Liberdade, 1989. 13. SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil 1870 – 1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. Contesta-se muito a intolerância religiosa, por exemplo, das religiões de matrizes africanas. No entanto a reflexão deve alcançar patamares mais elevados no sentido de conceber uma sociedade que efetivamente respeite o direito a diversidade e a condição dos sujeitos tais quais são. Com seus modos de vida, sentidos e cosmovisões. As quais fazem parte indiscutivelmente do processo da prática educativa e o campo didático. Sob O DESAFIO DE APRENDER E ENSINAR RELAÇÕES ÉTNICAS: REFLEXÕES DE UMA EDUCANDA /EDUCADORA SOBRE SUA PRÁTICA tal perspectiva igualdade e diferença são elementos que devem modular-se a partir de um mesmo eixo: o LÚCIA FERRAZ VARGES DE SOUZA128 REGINA MARQUES DE SOUZA OLIVEIRA129 respeito ao sujeito humano em sua diferença e igualdade. Não se pode apriori afirmar a existência de uma didática que dê conta dessa diversidade, uma vez que esta não se apresenta como algo estanque. Porém, alguns estudiosos, a exemplo da pesquisadora Vera Maria O presente texto- baseado na análise de experiência da disciplina estágio e docência do Mestrado em Candau, têm sugerido algumas possibilidades de uma primeira reflexão e construção de tal ferramenta. A relações Étnicas e Contemporaneidade ODEERE/UESB130 se configura como uma base importante para refletir “didática Fundamental131”, como ela bem salienta pode representar um avanço, quando se pondera o papel da sobre os desafios enfrentados pelo educador que reconhece em sua prática uma possibilidade, mesmo que didática para o ensino das relações étnicas132. Isso ao considerar que o “grande desafio da Didática é pequena, de transformar a realidade de seus educandos. Realidade esta, que se baseia nas diversas relações desenvolver a capacidade crítica em formação dos educadores para que eles possam analisar de forma clara a estabelecidas no cotidiano escolar, onde as diferenças teimam em representar desigualdades. Para tanto, a realidade de suas práticas de ensino. Articular os conhecimentos adquiridos sobre o “como” ensinar e refletir formação continuada do educador para o ensino das relações étnicas se configura como uma exigência sobre “para” quem ensinar, “o que” ensinar e o “por quê” ensinar”. Para tanto, alguns aspectos devem ser necessária, frente aos desafios que se apresenta a sociedade brasileira, nessa segunda década do século XXI. De considerados, quando se tem por objetivo a concretização de práticas de ensino e aprendizagem que privilegie a fato, quando se defende tais práticas de ensino deve-se considerar como fio condutor, as diversas contribuições igualdade e valorize as diferenças, nos termos de Boaventura de Sousa Santos (2003), devemos lutar pela das diferentes culturas presentes em nossa sociedade, de modo especifico, a indígena e a africana e não as igualdade toda vez que a diferença nos inferioriza e devemos lutar pela diferença toda vez que a igualdade nos práticas culturais baseadas unicamente no modo eurocêntrico de pensar o mundo. Sendo assim, é preciso descaracteriza. “adotar referenciais teóricos que permitam abordar a diversidade humana, expressa em diferentes maneiras de Nesse embate, a primeira dificuldade de mudança por parte significativa de educadores (as) se esbarra interpretar o mundo físico e social, de viver as relações entre as pessoas, seus grupos, de interpretar a si mesmas em uma formação que tem se constituído de forma deficitária, com marcas profundas de uma cultura de e suas realizações, (SILVA, 2010, p.182-183). supremacia europeia, que tende a ignorar uma das marcas distintivas da sociedade brasileira: “o seu caráter Como premissas para o início do plano de trabalho do estágio, duas questões se fizeram pertinentes: multicultural, plurirracial e pluriétnico, formado por contingentes humanos das mais diversas origens, que para 1 - Existe uma Didática para o ensino das relações étnicas?; cá trouxeram diferentes hábitos e costumes, diferentes formas de ver o mundo, diferentes contribuições nas 2 -Qual o perfil do educador para trabalhar as relações étnicas no contexto escolar na áreas do saber”, (NASCIMENTO,1997, p.109). Mas também esbarra nas subjetividades desses profissionais, contemporaneidade? uma vez que, exige uma perspectiva para além das práticas tradicionais de ensino, a partir de contextos Tais questionamentos expõem parte do desafio imposto pela ação educativa tanto nos espaços formais, a escola; quanto nos informais, associações, grupos comunitários etc. multiculturais, que se configuram em relações sociais de proximidade entre o campo educativo, na pessoa do educador e do campo comunitário, na pessoa do educando. Nesse sentido, torna-se imprescindível refletir sobre o importante papel da didática para o ensino das relações étnicas, que ultrapasse a instrumentalidade, e se configure em uma ferramenta que possibilite práticas Torna-se ainda mais compreensíveis o desafio de educar e educar-se numa realidade multicultural como educativas para além do “tolerar”, e alcance o respeito e a valorização das diferentes cultural que permeiam os espaços educativos. 128 Professora dos anos iniciais do Ensino Fundamental da rede municipal de Cândido Sales-Bahia. Pedagoga, pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Psicopedagoga pela Faculdade Montenegro- FAM, Especialista em Educação e Diversidade Étnico-cultural- UESB, Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Relações Étnicas e Contemporaneidade- ODEERE/UESB 129 Professora do Programa do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade (UESB), Docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Especialista em Psicoterapia Psicanalítica (INEF – Instituto de Estudos e Orientação da Família), Mestre em Psicologia Social(PUCSP) e Doutora em Psicologia Social( PUC/SP- Brasil e EHESS-Paris/França) 130 Órgão de Educação e Relações Étnicas com ênfase em Culturas Afro-Brasileiras, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB. 250 131 A perspectiva fundamental da Didática assume multidimensionalidade do processo de ensino- aprendizagem e coloca a articulação das três dimensões, técnica, humana e política, no centro configurador de sua temática. Procura partir da análise da prática pedagógica concreta e de seus determinantes. Contextualiza a prática pedagógica e procura repensar as dimensões técnica e humana, sempre “situando-as”. Analisa as diferentes metodologias explicitando seus pressupostos, o contexto em que foram geradas, a visão de ser humano, de sociedade, de conhecimento e de educação que veiculam. Elabora a reflexão didática a partir da análise e reflexão sobre experiências concretas, procurando trabalhar continuamente a relação teoria-prática. Nesta perspectiva, a reflexão didática parte do compromisso com a transformação social, com a busca de práticas pedagógicas que tornem o ensino de fato eficiente (não se deve ter medo da palavra) para a maioria da população, (CANDAU, 2007, p.23). 132 Segundo Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, o processo de educar as relações entre pessoas de diferentes grupos étnico-raciais se inicia a partir de mudanças no modo de se dirigirem umas àsoutras, a fim de que desde logo seja desconstruído o sentimento de superioridade e inferioridade, se desconsiderem julgamentos fundamentados em preconceitos, deixem de se aceitar posições hierárquicas forjadas em desigualdades raciais e sociais, (SILVA, 2007, p.490). 251 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. a apresentada pela sociedade brasileira: tornar possível a ocorrência do diálogo, a fim de que este cresça e transforme os processos civilizatórios Tais mudanças nem sempre são compreendidas e vistas como desejáveis e viáveis pelo professorado. Certamente, em muitos casos, a ausência de recursos e de apoio, a formação precária, bem como as desfavoráveis condições de trabalho constituem fortes obstáculos para que as preocupações com a cultura e com a pluralidade cultural, presentes hoje em muitas propostas curriculares oficiais (alternativas ou não), venham a se materializar no cotidiano escolar. Mas, repetimos, não se trata de uma tarefa suave, (CANDAU e MOREIRA 2003, p.157). humanos e impeça a presença da violência que é a condição intrínseca do não diálogo. Da supremacia de um Ao refletir sobre os desafios para ensinar e aprender relações étnicas e raciais é atravessar uma grande nível de Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade - ODEERE/UESB, como ministrante de margem de um rio. No qual ambos os lados fazem parte de seu curso, mas que no cotidiano, um dos lados é disciplina Didática para o ensino das Relações Étnicas, no curso de extensão “Educação e Culturas Afro- sempre interditado com proibido, não necessário, não existente, não válido. brasileiras”-ODEERE/UESB. As sobre o outro. O estágio como possibilidade de educar e educar-se Sendo a formação do educador apresentada como um dos primeiro desafios para se pensar uma construção de práticas educativas pautadas no respeito à diversidade cultural. Faz-se necessário o fomento de algumas reflexões sobre a experiência na disciplina Estágio e Docência do Programa de Pós-Graduação em O principal objetivo da disciplina é analisar o papel da didática para o ensino das relações étnicas para ciências e o campo acadêmico sempre negaram a existência do valor das culturas não europeias. E também este aspecto formativo do professor agrega-se e faz eco na dimensão do seu “caldo cultural” individual e coletivo. além da instrumentalidade, de modo a considerar o ensino e a aprendizagem como uma relação perpassada pelo reconhecimento da identidade do educador e do educando e conhecimentos situados em um contexto de Se no cotidiano o valor das matrizes negro africanas e indígenas são negados, também no campo formal culturas, clivadas por embates e trocas de saberes. Dizendo de outra maneira, “reconhecer e tentar compreender o hibridismo133 das culturas. Isto é, a articulação, a combinação de diferentes interpretações do mundo, da vida, acadêmico esta reiteração ecoa a magnitude da significação do que se quer por verdade. Mesmo a maioria da população brasileira sendo majoritariamente negra, pertencente a matriz étnica africana, a escola, as instituições formais, os espaços de poder e de “saber” retroagem e permanecem na das relações sociais, raciais; em suma, das relações de poder que nos sustentam ou nos destroem”, (SILVA, 2010. P.183). Mesmo tendo a compreensão que abordar sobre relações étnicas no Brasil, exige um vasto desqualificação e desconsideração dos fatos. Os desafios de ensinar e aprender relações étnicas e raciais implica a condição de transgredir estas conhecimento das diversas etnias que compõem a nossa sociedade, (bem como um espaço de tempo maior). condições milenarmente impressas nos gestos, pensamentos e psiquismos das pessoas, adentrando os padrões Neste trabalho, a proposta foi predominantemente voltada para a valorização e reconhecimento das experiências normativos das instituições. Portanto, uma educação voltada para o ensino das relações étnicas deve ter em culturais dos povos afrobrasileiros, por entender que ainda tem sido um desafio trabalhar a História da África e vistaaspectos como: o desafio de aproximar as pesquisas realizadas no campo acadêmico das universidades que aCultura Afro-brasileira no interior da sala de aula. As palavras de Julvan Moreira de Oliveira ajudam a melhor compreender o quanto é positivo trabalhar são desenvolvidas com e na escola como “catalisadoras de experiências”, a transformação do cotidiano escolar em um espaço de reflexão, de crítica às ações que privilegiem a homogeneidade e não a diversidade cultural. as dimensões culturais afro-brasileiras: A compreensão das experiências educativas e do pensamento, presentes no interior das comunidades tradicionais afro- brasileiras é fundamental, e não só para os negros, mas para a sociedade brasileiramulticultural. Os temas que trabalham com cultura, nas mais diversas concepções do termo, são reféns dos paradigmas reducionistas, seja do racionalismo, do empirismo ou do positivismo, situando-se assim entre uma visão excludente. Esses tipos de abordagem privilegiam ora um, ora outra dimensão do real, e desse modo tem dicotomizado, de forma radical, os estudos dos grupos sociais, trazendo enorme prejuízo para o conhecimento das inúmeras dimensões das experiências sociais, principalmente no que diz respeito às questões da cultura afrobrasileira, (OLIVEIRA, 2009, p. 07). Uma vez que, “a cultura dos educadores brasileiros é marcada por lógicas reducionistas e excludentes, as mesmas que dominam há séculos o pensamento ocidental” (OLIVEIRA, 2009. p. 33). As representações que o educador tem de si mesmo e do seu educando e como esse último se vê representado no discurso e nas práticas desenvolvidas no dia a dia da sala de aula, também se revela fator importante. Esse educador se percebe a partir da visão dos menos favorecidos? Permite por meio de suas práticas pedagógicas a participação e uma escolarização para todos? Percebe sua prática pedagógica como uma ação política e não como uma mera ação de repetir conteúdos homogêneos e padronizados? Se assim o for, torna-se possível uma relação de ensino e Para o fomento inicial das discussões foram escolhidos textos de autores, que em toda a sua trajetória aprendizagem firmada não em verdades inquestionáveis, mas em “conflitos e diálogos entre diferentes culturas”. Quando se fala em diálogo, significaque não há relação de superioridade e inferioridade, apenas não mediram esforços para ampliar o conhecimento da cultura afro-brasileira e da história da África fundada em valores que em muito se diferenciam do que foi apresentadopelo colonizador europeu. diferenças que vem somar, (CANDAU e MOREIRA, 2003, p. 160). As discussões 133 E no âmbito da diferença a abordagem psíquica também é solidária e fundamental na perspectiva de Hibridismo deriva do termo híbrido, que não se apresenta no texto num sentido pejorativo, tampouco ambíguo. Indica que a tradição foi recriada, dadas as relações de poder discriminatórias, impositivas, dominadoras e também a convivência e intercâmbio, pautados poucas vezes, em tolerância, (SILVA, 2010, p. 183). 252 253 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. apresentadas pela pedagoga Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva sobre “Aprender, ensinar e relações étnico- África, mas das Áfricas com a sensibilidade e a riqueza de detalhes que tão vasta, nobre e soberba esta cultura raciais no Brasil” se configuraram como primordiais para se pensar as “Relações Raciais e Racismo na se apresenta. Como são evidenciadas nas palavras de (LEITE, 2003, p.10) 135, sobre os modos como devem ser educação: desafios de ensinar e aprender”. Sua defesa é que nós, brasileiros pertencente aos mais diversos abordadas as diversas realidades africanas: Procuro sempre lembrar que existem duas maneiras principais de abordar as realidades africanas. Uma delas, que pode ser chamada de periférica, vai de fora para dentro e chega ao que chamo de África - objeto, que não se explica adequadamente. A outra, que propõe uma visão interna, vai de dentro para fora dos fenômenos e revela a África – sujeito, a África da identidade profunda, originária, mal conhecida, portadora de propostas fundadas em valores absolutamente diferenciados. grupo étnicos, aprendemos a nos situar na sociedade, bem como o ensinamos a outros e outras menos experientes, por meio de práticas sociais em que relações étnico-raciais, sociais, pedagógicas que podem nos acolher, rejeitar ou modificar. Deste modo, construímos nossas identidades – nacional, étnico-racial, pessoal –, apreendemos e transmitimos visões de mundos que se expressam nos valores, posturas, atitudes que assumimos, nos princípios que defendemos e ações que empreendemos, (SILVA, 2007, p.491). Dentro da reflexão sobre as relações étnicas temos como referência para as discussões identidade e a Ainda como procedimento didático para enriquecer as reflexões,propusemos aapresentação do vídeo “Relações Étnico-raciais e Educação” da própria autora. Esta metodologia teve seu significado, principalmente nos relatos de algumas experiências no ensino, na aprendizagem das relações étnicas vivenciadas pelos estudantes do curso de extensão que realizamos o estágio docente. Para o fomento de algumas reflexões sobre a Didática e Relações Étnicas, o textoutilizado foi o texto da professora Elenice Silva Ferreira,“Didática e Relações Étnicas”, que apresenta como possibilidade de conhecer alguns desafios de identidade negra, para tanto trabalharemos esses conceitos como forma de interpretação elaborada pelos sujeitos alunos/professores e alunas/professoras da sua historicidade, da vida e da cultura. Entendendo que esta historicidade perpassa pela história do sujeito, suas origens, as realizações dos seus antepassados, seu contexto de vida e as influências destes na sua realidade. Esse processo possui dimensões pessoais e sociais que não podem ser separadas, pois estão interligadas e se constroem na vida social, (OLIVEIRA, 2008, p.174). Outro ponto que precisa ser considerado no processo de construção de uma didática voltada para o uma Didática voltada para a prática educativa no ensino da História da África e da cultura afro-brasileira na Educação Básica, a partir das experiências como docente do curso de extensão do ODEERE (Órgão de Educação e Relações Étnicas). Nesse sentido, já se configura como uma reflexão da prática. Dentre os indicativos do texto são reforçadas propostas de trabalhos como projetos. A título de exemplo apresentamos o projeto “Viagem aos contos africanos” (Ferraz, Varges, 2011) como uma importante ferramenta metodológica, que torna possível adentrar os estudos atuais sobre a educação das relações étnico-raciais visando à valorização da cultura africana, como uma das fontes que aspira a nossa rica ensino das relações étnicas, é, como já dissemos, a própria identidade do educador e também do educando. Na resposta a uma questão aparentemente simples - “Quem sou eu? - pode servir de base para sábias reflexões sobre a identidade dos sujeitos presentes nos espaços educativos. “Quando esta pergunta surge podemos dizer que estamos pesquisando nossa identidade. Como em qualquer pesquisa, estamos em busca de respostas, de conhecimento. Por se tratar de uma pergunta feita a nosso respeito é fácil darmos uma resposta; ou não é?”, (Antônio da Costa Ciampa)136 Para concretizar práticas pedagógicas a partir de uma perspectiva multicultural, numa sociedade clivada cultura brasileira. Por entender que um dos objetivos da educação das relações étnico-raciais é a formação de indivíduos com uma gama de conhecimento que o possibilite respeitar à diversidade cultural presente em nossa sociedade, a apropriação de alguns contos africanos tem uma representação significativa, para mostrar um Cabe nesse momento um destaque especial para o conto Madiba: a lenda viva, do livro Lendas da África Moderna, escrito por Heloisa Pires Lima e Rosa Maria Tavares Andrade e ilustrado por Denise Nascimento. Nesse conto subentende-se que a história narrada é do saudoso Nelson Mandela, que assim como Madiba, “havia conquistado muitas amizades com seu estilo de apenas conversar para desmanchar encrencas”. Nas palavras das autoras, “lenda viva não tem sereias, cobra-grande, nem bruxos, mas tem homens e mulheres decoragem e, sobretudo, as esperanças de um final feliz para muita gente. Isso, sim, é sobrenatural, extraordinário, fantástico”, (LIMA e ANDRADE, 2010, p.53) realidade dos educandos e educadores. É preciso fazer umareflexão inicial por parte de cada educador (a) sobre sua própria identidade cultural: como é capaz de descrevê-la, como tem sido construída, que referentes tem sido pouco da riqueza cultural da África e da cultura negra brasileira. 134 de relações excludentes como a brasileira, torna-se necessário além de valorizar o “marco contextual” da privilegiados e por meio de que caminhos. Uma vez que os níveis de autoconsciência da própria identidade cultural encontram-se, na maior parte das vezes, poucos presentes- inconscientes - e não costumam constituir objeto de reflexão pessoal. O objetivo foi reforçar a ideia de quem você “é”, e “como” esse reconhecimento se firma na sua relação com o “outro” e com toda a sua trajetória e experiências vividas. Se considerarmos a identidade negra, essa trajetória teria um caminho reverso, até a ancestralidade africana, (CANDAU; MOREIRA, 2003). No decorrer das atividades práticas do estágio, essas reflexões possibilitaram o fomento de ações . De fato, na pessoa dos educadores, a escola tem um grande desafio de recontar as histórias não de 135 136 134 Fábio Rubens da Rocha Leite. In: BÂ, Amadou Hampâté. Amkoullel: o menino fula. São Paulo. Palas Athena/Casa das Áfricas 2003. CIAMPA, Antônio da Costa. Identidade: as categorias fundamentais https://psico48.files.wordpress.com/2012/04/ciampa-a identidade.pdf-acesso -12/05/2015. LIMA, Heloisa Pires; ANDRADE, Rosa Maria Tavares. Lendas da África moderna. São Paulo: Elementar, 2010. 254 na Psicologia Social. In: 255 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. educativas de combate ao racismo e as discriminações na escola. Isso porque, esse tipo de exercício, segundo desenraizamento é o mal maior de nossa sociedade, pois nega a convivência com grupos de origem, (SILVA, CANDAU e MOREIRA (2003 p. 167)pode aflorar histórias de vida, fortemente dramáticas, em que as questões 2010, p. 193). Ela nos aconselha e chama a atenção de professores e educadores para que observem a culturais resultaram em muito sofrimento. complexidade da educação da diversidade e na diversidade; pois, muito além dos procedimentos pedagógicos, é Aprendemos com Munanga a importância de considerar a dimensão emocional e psíquica para os necessário de quem se propõe a ensinar nesta perspectiva, no caso particular dos negros, e não diferente dos estudos e fazeres em relações étnico raciais pois ao relatar os preconceitos e discriminações reprimidos e povos indígenas, conhecer sua história, ser sensível aos sofrimentos a que são constantemente submetidas a silenciados, expressar-se, dizer sua palavra, tem-se um efeito libertador, permitindo que a experiência do população negra. É importante compreender sua visão de mundo, e aliar-se as suas lutas por seus direitos. Mais “outro” se aproxime da nossa. E num coletivo pode-se pensar nas possíveis propostas de enfrentamento de cada do que isto, é preciso empenhar-se na educação de novas relações raciais, o que significa ter presente que estes situação que fora apresentada. De modo a se concretizar práticas educativas que favoreçam novas vivências no não são problemas dos negros ou dos indígenas, mas de toda a sociedade brasileira, (SILVA, 2010, p. 194). espaço escolar, com a valorização da nossa diversidade cultural e étnica, onde as diferenças deixem de ser sinônimo de desigualdades. Seria na verdade uma possibilidade de uma educação que passasse pela “integração racial”, no sentido de viver harmoniosamente juntos, iguais e diferentes, (MUNANGA, 2000, p.05). Nesse sentido, em meandros da segunda década do século XXI, faz-se necessário a realização de pesquisas que envolvam a teoria e a prática nos espaços educativos, que tenham como fio condutor os referenciais de subversão dos sujeitos negros afro-brasileiros, que torne visíveis outras verdades, levando em consideração as importantes dimensões afetivas emocionais da psicologia, pois a exemplo da influênciaegípcia na formulação do pensamento grego e desconstrução e falsificação de história africana, que fora contada pelos europeus e se mantém viva no imaginário de uma grande maioria da população brasileira, e, porque não dizer do mundo, como a verdade científica incontestável, (NASCIMENTO, 1997, p.38.). Acreditamos ainda mais: se concretizada tais produções em práticas pedagógicas cotidianas, tornar-se-á possível às crianças de ascendência negro-africana alçarem vôos inimagináveis e ultrapassarem as fronteiras dos confinamentos conceituais, epistemológicos que a sociedade as aprisionou em categorias de: “crianças boas de ritmo”, “hábeis para a prática do esporte”, “adeptas dos coloridos das vestimentas e da boa culinária exótica”. Elas, jovens, crianças e famílias negras encontram-se presas nestas categorizações sociais reiteradas pelo discurso da ciência e reproduzida por pesquisadores e professores. Referências: CANDAU, Vera. (org) A didática em questão. Petrópolis: Editora Vozes, (1983) 2007. FERREIRA, Elenice Silva. Didática e relações étnicas. Revista África e Africanidades, Rio de Janeiro, ano 3, n. 9, maio 2010. Disponível em: <http://www.africaeafricanidades.com/documentos/Didatica_relacoes_etnicas.pdf>. Acesso em: 25 Mar. 2015. MOREIRA,Antonio Flavio Barbosa; CANDAU, Vera Maria. Educação escolar e cultura(s): construindo caminhos. In: Revista de Educação. Maio/Jun/Jul/Ago 2003 Nº 23. MUNANGA, Kabengele: Entrevista realizada por Antônio da Costa Ciampa. "Qual é a explicação dessa ausência e desse silêncio..." Psicologia & Sociedade; 12 (1/2): 5-17; jan./dez.2000. NASCIMENTO, Abdias do. PronunciamentosMulticulturalismo no Brasil. IN: Thoth/ informe de distribuição restrita do senador Abdias Nascimento, n. 1 (1997) Brasília: Gabinete do Senador Abdias Nascimento, 1997 Quadrimestral (janeiro - fevereiro - março - abril). OLIVEIRA, Julvan Moreira de. Africanidades e Educação: ancestralidade, identidade e oralidade no pensamento de Kabengele Munanga. São Paulo, USP, 2009. (Tese de doutorado). OLIVEIRA, R.M.S. Sobre crianças no espaço híbrido da esperança: reflexões da psicologia social e da psicanálise. Dissertação de Mestrado – Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – São Paulo, 2003. SANTANA, Marise de. ODEERE: formação docente, linguagens visuais e legado africano no sudoeste baiano. Vitória da Conquista: Edições UESB, 2014. SILVA, Petronilha B. G. Aprender a conduzir a própria vida: dimensões do educar-se entre afrodescendentese africanos. In: BARBOSA, Lúcia M. de A. (Org.). De preto a afrodescendente;trajetos da pesquisa sobre relações raciais no Brasil. São Carlos,EDUFSCar, 2010. p.181- 197. __________. Aprender, ensinar e relações étnico-raciais no Brasil. In: Educação. Porto Alegre/RS, ano XXX, nº3(63), p.489-506, set./dez.2007. O desafio de ensinar e aprender relações étnicas e raciais é possibilitar a construção de uma práxis pelo professor que seja libertária, emancipatória e autônoma, no sentido materialista histórico da psicologia social, a fim de que as crianças e jovens negros possam também serem vistos como excelentes pensadores, como astutos, entusiasmados e promissores intelectuais, capazes de se inscreverem socialmente em diferentes campos do O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO BRASILEIRA E AFRICANA: APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS ENTRE A LEI 10.639/2003 E O COTIDIANO DE UMA ESCOLA PÚBLICA EM IPECAETÁ - BA conhecimento tais como a política, a economia, as engenharias, a física, as ciências da computação, a DÉBORA ARAÚJO LEAL137 astronomia, as matemáticas, as ciências médicas, enfim, na gama infinita dos domínios tecno-científicos do Resumo patrimônio humano que às populações negras e indígenas é reiteradamente obliterado, interditado. O presente estudo é fruto de pesquisas anteriores desenvolvidas na Pós Graduação do Curso de Gestão de Políticas Públicas de Gênero e Raça da Universidade Federal da Bahia. O mesmo tem por objetivo verificar Nossas conclusões observam que aprender e ensinar em relações étnicas e raciais é um exercício de vida. De condição de entrega aos descortinamentos do mundo a partir das vivencias e observações da vida da população negra africana. Como Petronilha nos ensina: é preciso ter sensibilidade e considerar que o 137 Doutoranda em Relações Interculturais - Universidade Aberta de Portugal-UAB PT; Doutoranda em Educação-Universidad Internacional Tres Fronteiras-UNINTER PY; Mestre em Educação Fundação Iberoamericana- FUNINBER; Mestre em Ciências Sociais- Fundação Cultural e Teológica da Bahia-FATECBA; Professora do Centro de Educação Básica da Universidade Estadual de Feira de Santana-CEB UEFS, e-mail: [email protected]. 256 257 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. como se dá o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e sua relação com a Política Pública implementada através da Lei n° 10.639/03 na escola Municipal Manoel José Gomes no município de IpecaetáBA, bem como discutir questões relacionadas à inserção do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira, ressaltando a importância e a necessidade da aplicabilidade da temática em sala de aula, alertando sobre a sua importância no processo ensino-aprendizagem. Dentro dos procedimentos de análise do artigo, foi feita entrevistas com 10 docentes semi estruturada e 10 discentes das turmas do 9º ano do Ensino fundamental II e 1º ano do Ensino Médio, com o objetivo de verificar as propostas metodológicas aplicadas sobre a temática em questão. Palavras chave: Ensino de História; Cultura afro brasileira; Lei 10.639/03. campo das atividades humanas. (FERREIRA, 1988, p. 214). A intervenção nos casos de discriminação, racismo, preconceito e demais formas de desagregação social é fundamental para que não se perpetuem atos contra a humanidade em nome da superioridade de uma “raça” em detrimento de outra. No Brasil o fio condutor do processo histórico centralizou-se assim, no colonizador português e, no imigrante europeu e nas contribuições braçais dos africanos e indígenas. Entende-se, portanto que na História em que os elementos da cultura nacional são colocados em segundo plano, privilegiando-se a História Geral, nega um dos princípios da disciplina que é conhecer as 1 Introdução O presente estudo é fruto de pesquisas anteriores desenvolvidas na Pós Graduação do Curso de Gestão de Políticas Públicas de Gênero e Raça da Universidade Federal da Bahia. O mesmo tem por objetivo verificar características fundamentais do país, além disso, essa proposta prioriza como foco-eixo fatos históricos relativos à cultura europeia, desconsiderando os demais valores civilizatórios culturais indígena, africano e afro-brasileiro, base da formação do povo brasileiro. como se dá o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e sua relação com a Política Pública implementada através da Lei n° 10.639/03 na escola Municipal Manoel José Gomes no município de Ipecaetá- Breve contextualização do município de Ipecaetá BA BA, bem como discutir questões relacionadas à inserção do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira, ressaltando a importância e a necessidade da aplicabilidade da temática em sala de aula, alertando sobre a sua De acordo com Rocha (1998), a história de Ipecaetá começa com os primeiros habitantes do Vale do Paraguaçu até a serra do Sincorá, lá habitavam os povos gentios Caytytés e Payayás. Sua população de acordo importância no processo ensino-aprendizagem. com último senso de 2012 é de 15.331 (quinze mil trezentos e trinta e um) habitantes. Por volta de 1655, João Peixoto Viegas recebeu de Portugal uma concessão de terras que ficou conhecida como “Morgadio da Casa de Breve contextualização da Lei 10.639/2003 Esta pesquisa, de natureza sócio-histórica, tem por objetivo verificar como se dá o ensino de História e João Peixoto Viegas das Itapororocas” e por lá construiu a capela de São José das Itapororocas, hoje distrito de Cultura Afro-Brasileira e Africana e sua relação com a Lei n° 10.639/03 na escola Municipal Manoel José Maria Quitéria, município de Feira de Santana. Os índios Ipecas ramificados dos Payayás, habitava o Vale do Gomes, que confere à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, lei maior de nossa nação, baseados na Curumataí, a região de Patos, onde foram castigados e escravizados. prevalência dos Direitos Humanos, na tolerância às diferenças e repúdio a quaisquer formas de discriminação, Como era um aldeamento pequeno e ali existiam muitos patos silvestres, os indígenas dessa região que tiveram, no campo educacional maior especificidade no tocante ao ensino de História e Cultura da África e receberam o nome de Ipecas, que na língua Tupy significa “Patos”. Por isso, a região que hoje se localiza o dos afrodescendentes por meio do respeito às manifestações culturais, bem como um currículo que atenda às município de Ipecaetá, ficou conhecida como “Os Patos”. Em 1889, o senhor Antonio Luis de Cerqueira necessidades de todas as partes envolvidas na relação ensino e aprendizagem. (conhecido como Totonho do Pirim) fez surgir dentro da caatinga semi-árida esta comunidade denominada Esse tipo de educação causou inúmeros danos aos povos negros e indígenas, trazidos pelos efeitos do racismo e concretizados cotidianamente nas várias versões de desigualdades socais encontradas na sociedade hoje de Ipecaetá. E devido ao seu comércio comprou a fazenda Orobó onde passou a residir com a família. Em 1914, foi constituída a Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, subordinado à paróquia de Santo Estevão. brasileira. O espírito de luta, independência e liberdade serão e são as contrapartidas da situação de miséria e de Em 1933, pelo Decreto 8389 de 17 de abril de 1933, foi criado o Distrito de Paz de Patos subordinado exclusão sociais do povo negro, como marco de resistência. As comunidades de terreiro, os diversos grupos ao município de Cachoeira. Em divisões territoriais datadas de 1936, o distrito de Patos, figura no município de culturais, esportivos e religiosos, a imprensa negra e as entidades sociopolíticas e religiosas, além dos Santo Estevão. Com o decreto 141 de 31 de dezembro de 1943 o topônimo foi mudado para Ipecaetá, sendo um incontáveis quilombos, constituíram-se como instrumentos eficazes de combate ao racismo e a discriminação vocábulo tupi que significa “planta de casca grossa, planta cascuda”. A escola pertence à rede Municipal de ensino, fica localizada na sede de Ipecaetá – BA. Atende ao longo de toda a história do Brasil. Não é fácil para nenhum educador colocar em prática tantas mudanças acerca do currículo escolar. atualmente desde a Educação Infantil, o Ensino Fundamental, Médio e EJA. Tem por objetivo oferecer uma Neste prisma, torna-se imperativo ao professor adotar uma decisão. Ser apolítico nestas circunstâncias implica educação pública de qualidade. Os discentes que compõe o corpo escolar são da zona urbana, de localidades em pactuar com a injustiça e a desigualdade em sala de aula. Muitos ainda abraçam a postura reacionária. No vizinhas. A mistura de etnias valoriza a troca de informações e a interação sociocultural, assim como também a minidicionário escolar encontra-se definido reacionário como aquele que se opõe a quaisquer inovações no origem de conflitos. 258 259 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. “superior e civilizada”, de matriz européia. Na educação brasileira, a ausência de uma reflexão sobre as relações raciais no planejamento escolar Aspectos Metodológicos Por meio de pesquisa bibliográfica e coleta de dados em campo pela professora da escola, autora do tem impedido a promoção de relações interpessoais respeitáveis e igualitárias entre os agentes sociais que trabalho, apresentamos a relação entre o ensino de História da África e Cultura Afro- brasileira com a Lei nº integram o cotidiano da escola. É notório nas falas das Professoras A e B, os desafios a serem superados para a 10.639/03 determinando mudanças nas bases curriculares das disciplinas no país. A pesquisa qualitativa está no realização do trabalho pedagógico: centro da escolha metodológica, foi utilizado entrevista aberta com perguntas norteadoras aos docentes das duas turmas sendo elas 9º ano do ensino fundamental II e 1º ano do Ensino Médio no turno vespertino, bem como aos alunos das referidas turmas com o objetivo de verificar se as propostas metodológicas dos docentes constituíram-se em elementos para uma construção emancipatória da identidade étnico-cultural a partir da A possibilidade de trabalharmos a identidade negra nos alunos negros (as) nos faz refletir sobre nossa própria história, pois sempre convivermos com a identidade do branco, como educadores temos a missão de valorizar a história e a cultura dos nossos antepassados, africanos e isso implica na superação das injustiças sociais e discriminatórias por quais passamos. (Professora A). História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Para se compreender a singularidade da temática: O Ensino de História e Cultura Afro Brasileira e Africana: Da lei 10.639/2003 ao cotidiano escolar da Escola Manoel José Gomes em Ipecaetá - BA, adotaram- Porém a desconstrução da ideologia do branqueamento incutida nas crianças e jovens negros (as) principalmente através da mídia não será posta em um currículo da noite para o dia, depende de vontade política e social. (Professora B). se as concepções teóricas da metodologia qualitativa com cunho de pesquisa colaborativa por esta permitir uma melhor compreensão da realidade social do objeto em questão, e particularmente do objetivo geral da pesquisa que é: Analisar como se dá o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e sua relação com a Lei n° O ensino-aprendizagem acerca dos conteúdos de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, e do conhecimento dos alunos sobre si, um resgate da autoestima do aluno negro, em uma tomada de consciência, no sentido de construir, com a classe, um ambiente humanizado, pautado no respeito e na tolerância ao outro se 10.639/03 na escola Municipal Manoel José Gomes no município de Ipecaetá-BA. A abordagem qualitativa busca aprofundamento e compreensão de um grupo social, de uma organização, de uma instituição ou de uma representação. Para tanto se sugere que os sujeitos envolvidos com a pesquisa possuam os atributos que se deseja conhecer e que contenham o conjunto de experiências que se torna urgente no contexto escolar. O ensino de História no Brasil é marcado tanto pela historiografia e suas mudanças como também pelas características sociais e políticas de cada tempo. Foram muitas as lutas principalmente da população negra para desvencilhar-se das marcas da cultura do colonizador. A Lei 10.639, busca redefinir o sujeito negro dentro do pretende captar (OLIVEIRA, 2006). Com base nesses pressupostos, desenvolvemos uma pesquisa, adentrando o espaço escolar instalado em Ipecaetá–BA, no sentido de contribuir para que alguns de seus interlocutores transformem a legislação em um importante instrumento de trabalho. A população integrante do estudo foi composta por 10 docentes e 10 discentes das turmas do 9º ano do Ensino fundamental II e 1º ano do Ensino Médio. Esta pesquisa foi feita em dois momentos, no primeiro aplicar-se-á uma entrevista aos docentes e caracterização de como estão sendo realizada a Lei 10.639 e articulação com os componentes curriculares. No segundo momento pretende-se utilizar a entrevistada semi-estruturada a 10 discentes, buscando o diálogo e aprofundamento das temáticas. contexto educacional onde se espera que haja a construção da identidade pela criança e pelo jovem negro (a) e venha diminuir as disparidades sociais entre brancos e negros contribuindo para minimizar ou acabar com preconceito racial que ainda é muito forte no país. A escola é o espaço privilegiado para as crianças construírem a sua relação de pertencimento, fortalecer sua identidade e auto-estima, a partir do momento em que estabelece elos com os elementos da sua cultura. (LIMA, 2005, p.89 ) A prática do professor deve dar subsídios ao aluno (as) negro (as) ou não negro (a) para a compreensão da História da África e Cultura Afro-brasileira, diante disso pudemos observar através da análise das entrevistas dos alunos bem como nas questões lançadas aos professores, um pouco da prática do ensino/aprendizagem na A relação metodológica do fazer educacional dos docentes da Escola Manoel José Gomes no tocante a Lei 10.639/03 escola e se ela realmente foi válida para a compreensão das mudanças no ensino de História. O Sujeito no processo ensino/ aprendizagem em História Os alunos que participaram da pesquisa são da própria cidade de Ipecaetá e de alguns distritos da O fato incontestável de que somos uma nação multirracial e pluriétnica, de grande diversidade cultural, não está contemplado ainda, na história das instituições educacionais de nosso país, essa situação de evidência por meios dos currículos, programas de ensino e materiais didáticos que refletem o predomínio da cultura dita 260 mesma. Estão em uma faixa etária de treze aos quinze anos, sendo seis meninas e quatro meninos, somando dez ao total. A maioria pertence à classe média baixa, classificados como alunos estudiosos pelo corpo docente atual. Ao analisar as respostas dos discentes que fazia referencia à cor da pele e a relação entre Historia da 261 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. África e História Afro-Brasileira os alunos manifestaram sentir dificuldades, alguns não responderam e os que dos estudantes, reafirma a necessidade de se trabalhar a História da África e Afro-Brasileira com maior responderam tiveram consciência que a relação existe, mas, não souberam especificá-la. densidade. Ao tratar a história da África como país os estudantes agem com naturalidade e demonstram desconhecer que se trata de um continente, apenas um dos entrevistados demonstrou ter esse conhecimento. Considero-me morena, pois negra mesmo é minha Avó, mas como meu pai é claro sair morena, acho importante trabalhar as questões do negro na escola, por que nossa nação fora formada a partir de uma mistura. (Aluna A). A África é um país que só têm negros, lá tem muita fome, pobreza, as pessoas não sabem ler, é um lugar bem diferente do que agente vive aqui, apesar de nos ensinarem que somos descendentes de africanos. (Aluno A). Ao ser questionado sobre a cor, o clima de concentração foi quebrado na sala, os alunos olhavam uns para os outros, brincavam e questionavam-se a fim de se identificarem com uma cor. A classificação por auto Há uma ideia forte entre os alunos onde prevalece ainda o imaginário de miséria e de analfabetismo; definição foi muito complicada, já que os pardos se diziam brancos e os negros “moreninhos”. Foi possível embora reconheçam a presença de cultura, não se arriscam a desenvolver a ideia. Observa-se entre as respostas perceber, de antemão, quão arraigada são as práticas discriminatórias na vida desses jovens. Este fato é dos alunos o reflexo da falta de preparação e planejamento dos professores. Assim Santos (2001), afirma que fortalecido pelo dado obtido por Silva (1998), o qual revela que: “A carga negativa que esse continente possui no imaginário social Brasileiro subsidia e fundamenta os estereótipos racistas diariamente veiculados sobre afro-descendente no Brasil”. (SANTOS, 2001, p. 21). Diante de uma questão aberta do IBGE foram constatadas em censo, 136 variações de cores. “Isto nos faz refletir sobre os escapes que as pessoas encontram para não serem identificadas como negras. Tenta de todas as maneiras fugir de serem identificadas com essa raça. Que histórias foram contadas, capazes de levar essa imensa massa populacional, pesquisada pelo IBGE, a omitir sua identidade negra? Que historias nos foram contadas na infância e adolescência levando-nos ao medo de dizer:” Eu sou negro “ou” Sou negra “. Como se o ser negro ou negra correspondesse a uma marca negativa, que precisa ser apagada, superada ou esquecida. (SILVA 1998, p. 22). Considerações Finais A escola se firma cada vez mais como o espaço que irá atingir diretamente na formação da identidade das crianças, sejam estas brancas ou negras, no entanto para que este lócus seja o diferencial no cotidiano do educando, é preciso trabalhar com o conceito de responsabilidade por mudanças e não de culpa; cabe ao docente mostrar que essas mudanças estão ocorrendo e continuarão a ocorrer como um processo ao longo da A maioria dos discentes não se percebeu como afrodescendentes e como tem um conhecimento vida. deturpado sobre tal, não quer pertencer a uma etnia subjugada e inferiorizada, assim dava respostas vagas e O principal problema encontrado no processo de ensino e aprendizado da História Africana e não é procurava um branqueamento, talvez, para se auto-afirmar entre os mesmos. Cavalleiro (2001), faz uma relativo à história e à sua complexidade, mas é com relação aos preconceitos adquiridos num processo de abordagem sobre este tipo de comportamento: informação desinformada sobre a África. Estas informações de caráter racistas, produtoras de um imaginário pobre e preconceituoso, brutalmente erradas, extremamente alienantes e fortemente restritivas. Seu efeito é tão Para torna-se alunos ideais, “os outros são sistematicamente levados a negar seus referenciais de diferença. Negam sua negritude, cultura, identidade e referenciais de classe ou, ao contrário, assumem um comportamento de resistência, rebelando-se como expressão de negativa em relação à aculturação. (CAVALLEIRO, 2001 p. 14 ). Alguns demonstraram não ter conhecimento sobre as várias etnias que compõem a formação do povo brasileiro e se perdem no momento da sua identificação, como mostra a resposta de um dos entrevistados: “Tomando por um lado, sou cabocla e por outro sou negra” (Aluna B). Percebemos, mesmo de maneira superficial, que a prática docente neste caso não conseguiu fazer com que o aluno estabelecesse as reais relações entre a história da África e a história dos Afro-descentes e, portanto, a nossa própria história. forte que as pessoas quando colocadas em frente a uma nova informação sobre a África tem dificuldade em articular novos raciocínios sobre a história deste continente, sobretudo de imaginar diferente do raciocínio habitual. A imagem do Africano na nossa sociedade é a do selvagem acorrentado à miséria. Imagem construída pela insistência e persistência das representações africanas como a terra dos macacos, dos leões, dos homens nus e dos escravos. Quanto aos povos asiáticos e europeus as platéias imaginam castelos, guerreiros e contextos históricos diversos. Quanto à História Africana só imaginam tribos selvagens perdidas nas selvas. Há um bloqueio sistemático em pensar diferente das cariaturas presentes no imaginário social brasileiro. As Ou seja, que contar a história da África é também contar uma parte da história do Brasil, uma vez que os negros (as) ou mestiços brasileiros são oriundos do continente africano e sendo assim a prática docente deveria contemplar a formação do aluno (a) como sujeito histórico envolvido dentro do processo e não como um indivíduo à parte. informações novas geram uma constante desconfiança, tendo ocorrido mais de uma vez a pergunta, se eram sobre a África aquelas informações. Quando se desenvolvem tópicos sobre a indústria têxtil africana e as exportações de tecido para a Europa no passado, ou mesmo a informação de que a África precedeu a Europa no uso de roupas, há uma Na questão referente ao o que os alunos sabem sobre a África, a falta de informações básicas da maioria 262 inquietação por parte de docentes e discentes e um conflito emocional onde a dúvida é persistente. 263 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. Ao introduzir a cultura afro-descendente teremos que lidar com a dificuldade de sua amplitude e complexidade, pois a afro-descendência presente em manifestações culturais de diversas regiões do país, por vezes perdeu as marcas que a identifica como de base africana. Muito do que é cultura afro-descendente fica classificado como cultura popular no Brasil, e o popular, muitas vezes, é visto com desprezo, pois se configura como uma concepção contrária à cultura dita “erudita e não é tratado nem estudado como componente importante da nossa cultura. Todas as contribuições e considerações sobre a relação entre a vida cotidiana e seu contexto prático de uma educação voltada para a implementação da Lei 10.639/03 foram bastante úteis em nosso estudo. Conhecer e fazer história são para nós algo incomensurável. Mas tratando de uma investigação planejada, um estudo em profundidade, visando a obter o máximo possível de informação que nos permitissem ampliar o conhecimento e fazer novas descobertas. Na pesquisa realizada na escola Manoel José Gomes, com docentes e discentes, ficou evidente que é muito difícil valorizar a cultura negra a qual durante toda a formação educacional foi considerada como FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio Básico da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988; LIMA, Heloisa Pires. Personagens Negros: Um breve Perfil na Literatura Infanto- Juvenil. In. Superando o Racismo na escola. 2º edição revisada. KABENGELE, Munanga (Org.). Alfabetização e diversidade. Brasília: MEC/SEC, 2005; OLIVEIRA, Samuel Leite de. Tratado de metodologia científica: projetos de pesquisa, TGI, TCC, monografias, dissertações e Teses. São Paulo: Pioneira, 2006; SANTOS, Isabel Aparecida dos. A responsabilidade da escola na eliminação do preconceito racial: alguns caminhos. In: CAVALLEIRO, Eliane (org). Racismo e antirracismo na educação: repensando nossa escola. São Paulo: Selo Negro, 2001; SANTOS, Joel Rufino dos. O que é racismo. São Paulo. Abril cultural/ Brasiliense, 1984; SILVA, Ana Célia. Ideologia do embranquecimento na Educação brasileira e proposta de reversão. In: MUNANGA, Kabengele. Estratégias de Combate à Discriminação Racial (org.). São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Estação Ciência, 1998; ROCHA, José. Terra do Ípecas – Munartgraf, 1998. O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA: UM DESAFIO PARTIR DA HISTÓRIA ORAL inferior. Acreditamos que, percorrida essa breve abordagem acerca da História da África, não temos ainda CLAUDIA SANTOS DA SILVA138 solidificados conhecimentos suficientes para entendermos todo o processo histórico da relação África/Brasil em sua complexidade. Talvez demore mais algum tempo para que possamos - professores e alunos aplicá-los com desenvoltura. Dentre as causas que promovem as desigualdades sociais no Brasil, a educação oficial ocupa lugar de destaque, pois, ainda hoje, é utilizada como um meio de manutenção da estrutura desigual da sociedade Podemos inferir, portanto, que as políticas públicas são fundamentais na sociedade, mas o seu grande desafio está na operacionalização e na fiscalização, pois a ação do educador compromissado em levar a cultura e a história da África e do afro-brasileiro ao cotidiano escolar é fundamental no rompimento com práticas não expressivas, bem como para o avanço qualitativo das relações raciais no âmbito educacional. brasileira, principalmente quando se refere à população afro-brasileira, que tem sua história rechaçada, ainda hoje, mesmo após as Leis 10.639/2003 e 11.645/2008. Assim, percebe-se que, não por acaso, os afro-brasileiros representam a maioria dos empobrecidos, analfabetos, repetentes e evadidos das nossas escolas, assim como são minorias nas universidades e outros espaços onde a educação se faz exigida, como tem ocorrido desde os Entende-se que de forma direta e indireta todos os envolvidos na pesquisa tiveram oportunidade de refletir sobre conhecimentos históricos, étnicos e culturais dando ênfase ao estudo da cultura negra. Estamos certos de que nosso trabalho irá ajudar a consolidar o caminhar para uma educação antirracista na qual os cidadãos não brancos sejam visto como simplesmente brasileiros. Referências BRASIL. Constituição: República Federativa do Brasil. Brasília (DF): Senado Federal, Centro Gráfico, 1988; _______. LEI Nº 9.394 de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Brasília: Ministério da Educação. 1996; _______. Ministério da Educação. Lei nº 10.639, de 9 de Janeiro de 2003. Disponível em: http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=236171. Acesso em: 24 de agosto de 2013; _______.Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação para temas transversais: pluralidade cultural. Brasília (DF): MEC, 1997; _______. Parecer nº CNE/ CP 003/2004 de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília: MEC, 2004; _______. Orientações e Ações para Educação das Relações Étnico-Raciais. Brasília: SECAD, 2006; CAVALLEIRO, Eliane (org). Racismo e anti-racismo na educação: repensando nossa escola. São Paulo: Selo Negro, 2001; 264 primórdios da história oficial do Brasil, a exemplo do que assinala Mattos (2007). Evidentemente, com as características históricas das elites brasileiras, a alternativa não poderia ser outra se não a opção deliberada pela exclusão social e racial. Do mercado de trabalho à educação, não houve setor social em que as populações negras não tivessem que enfrentar as ações discriminatórias, sabotadoras e proibidoras de qualquer tentativa de ascensão social, coletiva ou individual. (MATTOS, 2007: p. 76) Contudo, essa educação é controversa, pois, ao mesmo tempo em que serve ao Estado como instrumento de manutenção da desigualdade social e racial, também se constitui no principal meio de mobilidade social das camadas desprivilegiadas da nação. No meio dessa controversa está o ensino de História, que pode ser um forte aliado da dita manutenção das desigualdades, bem como pode andar na contramão e provocar reflexões e rupturas no processo de ensinoaprendizagem, dependendo, exclusivamente, da escolha política de quem ensina, afinal, ensinar é antes de 138 Mestra em Cultura Memória e Desenvolvimento Regional, professora da rede pública estadual e do curso de Pedagogia da Faculdade Maurício de Nassau. 265 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. aprovadas pelo MEC, legitima a concepção didática da História chamada “integrada”, pelo critério temporal, linear, com base na cronologia da História europeia, articulada, quando possível, à História do Brasil, da América e da África. Revela-se, assim, a força de uma concepção tendencialmente conservadora de História e de organização curricular em nossas escolas, no contexto de revisão e críticas historiográficas e pedagógicas. (FONSECA & SILVA: 2010, p. 28) qualquer outra possibilidade, um ato político, que exige de quem ensina uma tomada de decisões, um lado, pois o/a educador/a deve se responder as seguintes perguntas: para quem ensinar? Para quê ensinar? E o que ensinar? Uma vez feita a escolha esse profissional está pronto e disposto à enfrentar todos os desafios que a sua escolha carrega como consequência. Nessa perspectiva, faço minhas as palavras do professor Wilson Mattos (2007), quando enfatiza: Observemos que, partido dessa realidade, o desafio de ensinar história e cultura afro-brasileira a partir Ao mesmo tempo realço a necessidade de nós, historiadores e outros cientistas sociais negros, através da pesquisa e de uma deliberada posição teóricometodológica afinada com as nossas reais necessidades de crítica dos aspectos mais profundos, retoricamente obscurecidos e menos debatidos do racismo brasileiro, buscarmos a reconfiguração dos quadros da nossa memória, narrando a nossa própria história à nossa maneira. (MATTOS, 2007: p. 76) da história oral está posto. E um inevitável conflito se estabelece: como ensinar a história e a cultura afrobrasileira a partir da história oral num sistema de ensino, no qual ainda impera o currículo tradicional de história, uma vez que os alunos serão cobrados de certos conteúdos por outros professores nas séries posteriores? Para responder a esse desafio, parto de dois princípios que considero complementares. Em primeiro É reconhecendo tal necessidade que apresento esse artigo, que tem como objetivo problematizar acerca lugar, destaco o desenvolvimento de uma metodologia que privilegie a elaboração de textos, a reflexão, a dos desafios do ensino de história e cultura afro-brasileira, a partir da valorização e aplicação da história oral no problematização, a inferência e a interlocução entre os/as estudantes e diferentes linguagens textuais, como ensino aprendizagem da educação básica. imagens, depoimentos, textos narrativos, dissertativos, científicos, informativos, publicitários e filmes, dentre outros, pois, a partir do desenvolvimento da leitura, em sua concepção mais ampla, temos a capacidade de responder à diferentes desafios que nos são postos no dia-a-dia. Em seguida, sugiro um trabalho de O ENSINO DE HISTÓRIA A PARTIR DA HISTÓRIA ORAL: UMA POSSIBILIDADE desconstrução do discurso conservador da história, o que inevitavelmente nos portará para a história tradicional, Um dos papéis do ensino da história, desde a sua origem está intimamente relacionado à identidade, no entanto, apesar dessa prevalência, o conceito e a concepção de identidade já não são os mesmos. Segundo os sem, contudo, nos alienar a essa. O contrário de tudo isso seria autoritarismo. No entanto, consideramos que não existe fórmula pronta para a realização do ensino de história partindo dessas premissas, afinal, a história é subjetiva e, se estamos propondo-o a partir da história oral, temos essa PCN`s de História (1997), subjetividade manifesta como pressuposto metodológico, além de se constituir enquanto conteúdo, prenhe de Inicialmente, a inclusão da constituição da identidade social nas propostas educacionais para o ensino de História necessita um tratamento capaz de situar a relação entre o particular e o geral, quer se trate do indivíduo, sua ação e seu papel na sua localidade e cultura, quer se trate das relações entre a localidade específica, a sociedade nacional e o mundo. (BRASIL, 1997, p. 26) Dessa maneira, considerar a história de vida dos/as estudantes como elemento fundamental para o desenvolvimento do ensino de História não deveria ser mais uma novidade, deveria sim, fazer parte do tantos outros conteúdos. Afinal, de acordo com o que Thompson (1992) preconiza: (...) a história oral pode dar grande contribuição para o resgate da memória nacional, mostrando-se um método bastante promissor para a realização de pesquisa em diferentes áreas. É preciso preservar a memória física e espacial, como também descobrir e valorizar a memória do homem. A memória de um pode ser a memória de muitos, possibilitando a evidência dos fatos coletivos (THOMPSON, 1992: 17). cotidiano de toda e qualquer escola desse país, mas sabemos que isso não é real e o ensino de história atual ainda preserva fortes laços com o ensino de história tradicional. Prova disso são os livros didáticos de História, que, em sua maioria, ainda defendem a forma tradicional na organização dos conteúdos. Realidade detectada pelo Guia do Livro Didático 2008 – 2011, como informam Fonseca & Silva (2010). Entendemos que a utilização da história oral como proposta metodológica no ensino de história da educação básica ainda é uma novidade. A bibliografia sobre esse tema, em sua maioria, tem nos apontado uma tendência que se refere à pesquisa acadêmica, especialmente no que diz respeito à história oral como metodologia de pesquisa. Assim, evidenciamos, nas avaliações dos livros didáticos de História para os últimos anos do ensino fundamental, registradas no Guias do PNLD 2008 e 2011, que a perspectiva curricular dominante, no universo das obras didáticas A história de vida e a história oral tiveram seu reconhecimento epistemológico no âmbito do movimento etnometodológico. Segundo Minayo (2004) a etnometodologia teve como berço a Universidade de Chicago, e como 266 267 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. seu principal arquiteto Robert Park que, desde ás décadas de 1920 e 1930 defende a importância da experiência direta com os atores sociais para a compreensão de sua realidade. (SOUZA, 2007: p. 65). consumiam vinha da mata. Havia uma grande relação de respeito entre o povo, os encantados, as águas, a terra, a flora e a fauna daquele lugar. Lá havia um rio maravilhoso, que também se chamava Yapô Yuca. Esse rio além de ser a força vital Isso sugere que o empenho na utilização da história oral no ensino fundamental deve ser submetida à uma constante observação/avaliação da prática dos/as professores/as, pois se trata de uma ação ainda embrionária ou pouco compartilhada entre os profissionais da área. Para compreender o ensino de história a partir dessa premissa faz-se necessário a renúncia à prática conteudista e uma aproximação entre os conteúdos dos livros didáticos e a vida, as experiências, as memórias dos/as estudantes e da comunidade onde a escola está daquelas terras, servia de morada para muitos encantados. Certo tempo chegou em Yapô Yuca uma gente muito estranha; essa gente falava uma língua que ninguém conhecia, mas foi obrigado a conhecer e aprender a falar. Eles usavam muitas coisas estranhas e invadiram aquelas terras sem pedir licença; não respeitaram nenhum dos habitantes de Yapô Yuca e foram se apropriando daquele lugar. Todos os habitantes lutaram contra os invasores. Foram conflitos desleais e por isso, muitos foram inserida. Dessa forma, compreender e aprofundar o ensino de história para uma perspectiva multidisciplinar e pautada na identidade cultural dos/as estudantes torna-se uma exigência da qual não se pode desviar, pois, não teria sentido algum tratar da história a partir das experiências locais/orais, sem considerar a diversidade cultural, que é determinante para compreendermos a estrutura social que marca o país e, especialmente, para a massacrados, mas ainda assim o povo continuou resistindo. O povo irmão se juntou para lutar contra os invasores; não conseguiram expulsá-los, mas resistiram e conseguiram permanecer em suas terras. Passado mais algum tempo, outras pessoas chegaram em Yapô Yuca, mas dessa vez não eram como os primeiros, essas outras pessoas foram trazidas como escravas pelos primeiros; por isso chegaram muito tristes. Vendo a profunda tristeza dos novos hóspedes, os yapôyucanos resolveram acolhe-los e confortá-los ainda que construção das bases que podem contribuir para a sua efetiva transformação. Isso significa dar visibilidade aos grupos étnico-sociais que historicamente foram excluídos de todos os processos da nossa sociedade, especialmente da educação e que tudo o que tem como garantia (que não é muita coisa) é fruto de uma incessante luta, que evidentemente, também deve ser lembrada no ensino de história. Os Pcn’s que se referem ao tema transversal da pluralidade cultural já sinaliza essa necessidade, que, porém, não também tristes, há algum tempo. Entre esse novo povo, chegaram três pessoas/seres muito especiais e levaram consigo algumas coisas muito interessantes, que eles chamavam de tesouro. A primeira era uma senhora muito velha, mas incrivelmente forte. Segundo ela essa força vinha da lama e que no percurso da viagem veio muito fraca, perdendo todas as suas forças; pensou que não resistiria, mas ao chegar em Yapô Yuca, suas forças se tem sido considerada no dia-a-dia da sala de aula. restabeleceram, pois aquele lugar lhe era muito familiar, lembrava muito o seu berço, por isso, sentiu-se cheia A temática da Pluralidade Cultural diz respeito ao conhecimento e à valorização de características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais que convivem no território nacional, às desigualdades socioeconômicas e à crítica às relações sociais discriminatórias e excludentes que permeiam a sociedade brasileira, oferecendo ao aluno a possibilidade de conhecer o Brasil como um país complexo, multifacetado e algumas vezes paradoxal. (BRASIL, 1997; 121). da sua força vital. E como forma de gratidão se comprometeu em adotar todos os filhos de Yapô Yuca e cuidar deles. Ela levou na sua bagagem um pouco de lama, que misturou com toda a lama existente em Yapô Yuca, e dotou-a de poder vital. O segundo era um ser muito misterioso, pois ninguém conhecia a sua face, mas, ao mesmo tempo, tinha aspectos de todas as plantas e ervas, por isso, imediatamente se relacionou muito bem com toda a flora da sua Sendo assim, podemos nos perguntar se o nosso papel, enquanto professores/as de história é mesmo o nova morada e logo descobriu seus segredos. Nunca se viu tanta intimidade! Mas não divulgou o que descobriu, de ensinar sobre a cultura afro-brasileira, como determina da Lei 10.639/2003 ou é fazer o provocar os/as assim como fazia na sua terra natal. Também trouxe consigo muitas sementes, que se adaptaram muito bem na estudantes para que se observem, se conheçam a partir de suas memórias, que estão nos costumes, nos modos nova terra. Em sinal de gratidão, se comprometeu em cuidar da saúde de todo o povo que o acolheu. de fazer, na forma como compreendem o mundo, enfim, provocar nesses o sentimento de pertencimento, para que assim compreendam sua identidade e nela se identifiquem. A última era uma fascinante serpente encantada. Umas vezes preta, outras colorida. Ela era mágica, aparecia e desaparecia de repente, mas estava sempre presente. Tudo ouvia, tudo via. Essa serpente se relacionou muito bem com o rio, vivia nas suas margens e conversavam horas a fio. A serpente trouxe consigo HISTÓRIA, MITOS E MEMÓRIAS um tesouro encantador, um arco colorido, muito bonito e com esse tesouro se comprometeu em proteger o rio e todas as águas daquela terra. Yapô Yuca Apesar de todas as tormentas sofridas pelos dois povos, agora irmãos, o encontro entre eles foi motivo Yapô Yuca é um lugar muito próximo, que era habitado por seres muito especiais. Contam que naquelas de muita alegria, pois sabiam que se ajudariam mutuamente, sempre. Dizem que sempre que podiam faziam terras habitava um povo muito feliz. Um povo que vivia no mato, na mata. Tudo o que possuíam e tudo o que 268 269 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. muita festa. As moças da lagoa, se uniram com as mães-da’água que vieram das terras distantes. Elas dançavam, cantavam, nadavam sem parar; sempre muito bonitas e arrumadas. Recebiam muitos presentes e às vezes doavam alguns desses. Contam que elas guardavam um baú com um grande tesouro no fundo do rio Yapô Yuca, mas quem se atrevesse a pegar se daria muito mal. Juntos, esses dois povos se tornaram um, e combateram incessantemente os invasores. Tiveram a alegria de também poder contar com entes especiais da origem dos invasores, também bravos guerreiros, que não concordavam com aquela forma deles se comportarem, e foram aliados dos povos da mata e combateram juntos em grandes batalhas. Às vezes, batalhas demoradas e silenciosas. O tempo foi passando e unidos, os povos irmãos conseguiram muitos feitos, ajudaram a libertar os cativos, mas tiveram muitas perdas também, porém, a gente estranha descobriu que o rio era o ponto de convergência de todo aquele povo, então resolveu jogar todo tipo de lixo no rio e esse foi ficando fraco, cada termos, o mito narra como, graças às façanhas dos Entes Sobrenaturais, uma realidade passou a existir, seja uma realidade total, o Cosmo, ou apenas um fragmento: uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano, uma instituição. É sempre, portanto, a narrativa de uma "criação": ele relata de que modo algo foi produzido e começou a ser. O mito fala apenas do que realmente ocorreu, do que se manifestou plenamente. Os personagens dos mitos são os Entes Sobrenaturais. Eles são conhecidos sobretudo pelo que fizeram no tempo prestigioso dos "primórdios". Os mitos revelam, portanto, sua atividade criadora e desvendam a sacralidade (ou simplesmente a "sobrenaturalidade") de suas obras. Em suma, os mitos descrevem as diversas, e algumas vezes dramáticas, irrupções do sagrado (ou do "sobrenatural") no Mundo. É essa irrupção do sagrado que realmente fundamenta o Mundo e o converte no que é hoje. E mais: é em razão das intervenções dos Entes Sobrenaturais que o homem é o que é hoje, um ser mortal, sexuado e cultural. (ELIADE: 1972, p. 06) dia mais fraco. Já não conseguia nem respirar direito. Suas águas, de um alaranjado natural tornaram-se turvas A medida em que as senhoras contavam suas histórias, quando falavam com verdadeira crença como a noite e fétidas como cadáveres. Diante dessa situação, o rio fez uma grande assembléia com todos os habitantes de Yapô Yuca e sugeriu nos entes sobrenaturais, lembranças indígenas foram aflorando, histórias de caboclos, de encantados e que fugissem, que procurassem outro lugar para morar e continuar a cuidar do povo, pois ele não teria nenhuma de resistência nas matas foram ganhando forma e o município de Pojuca que tinha a ancestralidade possibilidade de protegê-los naquelas condições em que se encontrava. Assim, todos aqueles habitantes saíram indígena apenas no nome, começa a se perceber indígena. em busca de outro lugar para morar, sem, contudo, se afastar daquelas terras, especialmente do rio, que agora Diversos constituintes da memória africana foram sutilmente desvelados diante do inevitável processo de lembranças, que a investigação da memória das rezadeiras de Pojuca provocou. Assim, necessitava mais do que nunca deles. A gente estranha pensou que havia vencido, porém, se deram conta que com o sofrimento do rio, mesmo sob couraça dos discursos da razão, do evangelho, do pentecostalismo ou do catolicismo, os também eles sofriam, ficavam fracos e vulneráveis, seus filhos ficavam doentes. Perceberam que morriam saberes africanos existem e resistem, pois são intrinsecamente relacionados com todos os elementos da juntos com o rio. Contam que até hoje eles não sabem o que fazer para reverter esse quadro. natureza, sendo assim, da vida. Diante desse texto, os/as estudantes foram provocados/as sobre as representações dos entes Mas o rio continua lá, mesmo sofrendo, continua lá. E vocês não estão curiosos para saber para onde foi o povo da mata? apresentados e a identificá-los nas falas cotidianas da comunidade. Eles identificaram e se divertiram, Todos caminharam muito a procura de um novo lugar para morar; saíram do rio para não morrer, mas alguns estudantes evangélicos renegaram a veracidade dos entes, mas não tiveram como negar já ter não queriam abandoná-lo, por isso não se afastaram de lá. Encontraram então, um ótimo lugar para morar, ouvido falar aqueles seres. Levaram o texto para suas casas, com a tarefa de conversar sobre essa lenda resolveram habitar na memória, nas lembranças das pessoas, que se comprometeram em protegê-los. Assim, com outras pessoas e ficaram surpresos com muitas confirmações acerca da estória retratada. Em enquanto as pessoas se lembrarem e contarem sobre eles, eles estarão vivos, e, enquanto estiverem vivos, seguida, identificaram os elementos culturais apresentados na lenda, bem como a associação com o povoam as memórias e o imaginário do povo como força de resistência, pois, são elementos fundamentais da processo histórico de colonização do Brasil, que se fez da mesma forma em Pojuca. Com essa identidade cultural dos yapoyucanos. experiência percebemos que a história é viva, vimos na prática que os mitos ajudam a contar nossa Traçando uma linha condutora entre a pesquisa e o ensino de história na educação básica, apresentei aos história e que a memória pode ser lembrada, individualmente e coletivamente também. meus alunos uma lenda que foi escrita a partir de diferentes relatos de algumas idosas nascidas em Pojuca, Segundo Pierre Nora (1993) a sociedade moderna é a “sociedade do esquecimento”. Vivemos sendo a maioria delas rezadeiras. Essa lenda é um exemplo do que Mircea Eliade (1972) chama de mito numa conjuntura marcada por uma infinitude de informações, onde ao mesmo tempo em que tudo é fundador: importante, é também efêmero, facilmente descartado. Por isso, mais do que nunca se faz imprescindível recorrermos à memória. Necessitamos dela para garantirmos a continuação dos nossos (...) o mito conta uma história sagrada; ele relata um acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do "princípio". Em outros 270 projetos, das nossas lutas, das nossas conquistas e por que não dizer, da nossa existência. Afinal, como afirma o próprio Nora (1993): 271 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. A memória emerge de um grupo que ela une, o que quer dizer, como Halbwachs o fez, que há tantas memórias quantos grupos existem, que ela é, por natureza, múltipla e desacelerada, coletiva, 1993. THOMPSON, Paul. A voz do passado. São Paulo: Paz e Terra, 1992. plural e individualizada. (...) A memória se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no O MUSEU AFRO-BRASILEIRO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA: CONTEXTOS DE SEU SURGIMENTO objeto. Sendo assim, recorrer à memória deve ser uma tarefa cotidiana, especialmente, quando trata-se DANIELA MOREIRA DE JESUS139 da necessidade de um grupo, pois, como vimos, ela une. Sabemos também que a memória, por ser subjetiva, é construção de cada um/a, a partir de como cada pessoa se percebe e compreende o mundo, a partir dos seus valores... Então, quando um grupo recorre à memória, cada um contribui a partir da sua subjetividade. Ai está a grandeza de partilhar momentos, experiências, medos, projetos, sonhos... Assim, as formas de fazer as coisas, a relação com as folhas, os cuidados com os santos, os banhos, as rezas, a sabedoria, as sensações, as lembranças... São heranças que agem como elementos constitutivos da identidade do povo afro-brasileiro, ainda que sob a opressão do racismo, da cristianização e do elitismo. São sábias as palavras de Gil (2007), quando se refere às táticas de resistência dos/as africanos/as submetidos ao cativeiro: Resumo: As reflexões apresentadas neste texto são fundamentadas no processo de constituição do Museu AfroBrasileiro da Universidade Federal da Bahia – MAFRO como um “museu de caráter didático”, conceito defendido pelo Professor Agostinho da Silva. Instituído a partir da inauguração do Centro de Estudos AfroOrientais – CEAO, em 1959, o MAFRO teve como principal objetivo o caráter educativo, onde não só seriam apresentadas informações sobre a África e os afro-brasileiros, mas possibilitaria também o intercâmbio entre os países africanos e a sociedade brasileira e baiana. Para tanto, o professor Agostinho da Silva manteve relações com representantes em África, através do CEAO, no intuito de adquirir objetos e trocar conhecimentos para a formação do museu. A pesquisa teve como base as fontes epistolares arquivadas na Biblioteca do Centro de Para continuar resistindo, os africanos submetidos ao cativeiro e seus descendentes tiveram que refazer tudo, refazer linguagens, refazer parentescos, refazer religiões, refazer encontros e celebrações, refazer cultura. Esta foi a verdadeira Grande Refazenda. (GIL: 2007, p. 12). Estudos Afro-Orientais. Palavras chave: Educação; Museu Afro-Brasileiro da Universidade Federal da Bahia; Museu didático. Introdução As abordagens apresentadas neste texto resultam dos estudos para construção da Dissertação de Assim, reconstituir o mito, desenvolver sentimento de pertencimento a partir da identidade afrobrasileira, preservar a memória, se apropriar da história e viver criticamente o cotidiano são Mestrado em Museologia140, que visa estudar as ações educativas desenvolvidas pelo MAFRO entre 2006 e 2008. pressupostos fundamentais para a construção de um ensino de história mais próximo da realidade Fundado em 1959, o contexto de surgimento do Centro de Estudos Afro-Orientais – CEAO relaciona-se histórica dos estudantes, o que lhes provoca reflexões a partir do seu cotidiano e lhes confere autonomia, com o período em que as relações entre o Brasil e o continente africano, promovidas pelo Estado, estavam se bases necessárias para a resistência em busca da conquista da plena liberdade. iniciando. Assim, a proposta de criação do Centro foi estratégica no sentido de aproveitar as bases já estabelecidas. REFERÊNCIAS BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Parâmetros Curriculares Nacionais: História e Geografia/Secretaria de educação Fundamental, 1997. Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro051.pdf > Acesso em: 30/06/2015. ELIADE, Mircea. Mito e Realidade.São Paulo: Perspectiva, 1972. FONSECA, Selva Guimarães & SILVA, Marcos Antonio da. Ensino de História hoje: errâncias, conquistas e perdas GIL, Gilberto. A grande Refazenda: África e Diáspora pós CIAD II. Brasília: Fundação Cultural Palmares, 2007. NASCIMENTO, AD., and HETKOWSKI, TM., orgs. Memória e formação de professores [online].Salvador: EDUFBA, 2007. In: Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 31, nº 60, p. 13-33 – 2010. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01882010000200002. Acesso em 30/07/2015. NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. In: Projeto História. São Paulo: Brasil, 272 A proposta de criação do Centro foi feita pelo Professor Jorge Agostinho da Silva durante a gestão do Reitor da Universidade Federal da Bahia, Edgar Santos. Agostinho da Silva, intelectual português, que em oposição ao regime de Salazar, foi obrigado a se exilar e saiu de Portugal em 1944 e “[...] depois de passar por outros países da América do Sul, se instalou no Brasil em 1947, permanecendo até 1969.” (SANDES, 2010, p. 137). Foi professor na Faculdade Fluminense de Filosofia, na Universidade Federal da Paraíba e colaborou na organização da Exposição do Quarto centenário da Cidade de São Paulo e, em 1955, fez parte do processo de estruturação e fundação da Universidade de Santa Catarina. De acordo com Juipurema Saraff Sandes: “Em 1959, estimulado pelo filósofo Eduardo Lourenço, Agostinho da Silva entrou em contato com o então reitor da 139 140 Universidade Federal da Bahia/Mestranda em Museologia. Título da Dissertação, PPGMuseu/UFBA, sob a orientação da profª Joseania Miranda Freitas. 273 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. Universidade Federal da Bahia, Edgar Santos, e lhe propôs a criação de um centro de estudos voltados para assuntos africanos” (SANDES, 2010, p. 138). A vinculação de estudos sobre o Oriente veio por sugestão do embaixador do Brasil junto a UNESCO, Roberto de Assunção. O embaixador motivou o reitor Edgar Santos para que, através da Universidade Federal da Bahia, os conhecimentos sobre o Oriente pudessem ser amplamente difundidos. Um dos principais objetivos do CEAO, de acordo com Waldir Freitas Oliveira e Nelson Araújo, era “[...] aprofundar o conhecimento, em nível universitário, das culturas africanas e asiáticas, empenhando-se, por outro lado, na pesquisa das influências dessas culturas no Brasil” (OLIVEIRA; ARAÚJO, 1965, p. 125). O próprio Professor Agostinho da Silva descreveu como foi no início e quais expectativas nutria para o CEAO: Assim se fez, nada ensinando eu de África porque a não sabia nem convinha inventá-la. Mas começando biblioteca, organizando exposições, por exemplo, a de arte do Japão, e oferecendo bolsas a quem estivesse disposto a ir a África para África aprender. [...] E, no próprio Centro, se abriram, com professores dos países das línguas, cursos de iorubá, o que franqueou a Universidade aos africanos, quase todos bem humildes, de Salvador, de hebreu e de árabe, se preparando as bases para que houvesse o de japonês. (SILVA, 1995, p. 5). Logo após a criação do CEAO, o professor Agostinho da Silva enviou correspondências informando sobre a criação do Centro e da composição do mesmo, que seria: uma biblioteca, um museu, uma discoteca e uma filmoteca. Os destinatários foram os correspondentes diretos relacionados aos núcleos de arte, de educação e Cônsules daqueles países. As cartas tinham também como proposta o envio de objetos pelos países para compor o museu que pretendia montar. Neste sentido, foram enviadas várias correspondências com a proposta A edição e divulgação em português e idiomas estrangeiros de trabalhos sobre temas africanos e afro-brasileiros; O estímulo à realização de pesquisas originais sobre assuntos afro-brasileiros, mediante a concessão de bolsas de pesquisa e o compromisso de edição dos trabalhos produzidos; Acolhimento de bolsistas africanos, para os quais serão organizados cursos intensivos de português e cultura brasileira, antes de iniciarem estudos regulares em universidades e instituições educacionais brasileiras; A recepção e orientação a personalidades intelectuais africanas em visita ao Brasil; O recrutamento, a pedido do Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da educação e Cultura, de professores para missão educacional e cultural na África; O assessoramento, a pedido do Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da educação e Cultura, na organização de representação brasileira a manifestações artísticas e culturais na África; O incentivo à criação artística de temática afro-brasileira, mediante subvenções ou concursos de natureza literária, música, de artes visuais, cinema, teatro e dança; O estímulo à criação de núcleos universitários e coleções dedicadas a temas africanos e afro-brasileiros; O reinício dos Congressos Afro-brasileiros, mediante a cooperação de universidades e instituições culturais brasileiras, de três em três anos, com a participação de estudiosos afro-brasileiros e africanistas estrangeiros; Outras iniciativas que se ajustem às finalidades do convênio. (TERMO DE CONVÊNIO, 1974, P. 2-3) A constituição de um museu é encontrada logo na primeira atividade de execução do Termo, estabelecendo o nível de importância que deveria ter naquele momento a inauguração de um espaço que pudesse evidenciar as culturas africanas e seu legado no Brasil, bem como tratar da formação brasileira através das culturas formadas aqui, as culturas afro-brasileiras. de troca de informações, que seriam feitas através dos dados anexados aos objetos. A partir da década de 1970, o CEAO começou a passar por dificuldades relacionadas à autonomia em relação a UFBA. Em depoimento à pesquisadora Cristiane Copque da Cruz Yêda Pessoa de Castro, uma das A construção de um espaço que referenciasse essas civilizações se fazia mais que necessário, assim, o MAFRO veio representar um desejo de contribuir para que se evidenciasse a importância que tem essas civilizações para a construção da nação brasileira. Proporcionou aos que se viam pouco diretoras do Centro, relatou que: [...] eu fui indicada para assumir a direção do CEAO num momento em que o CEAO atravessava por uma crise muito grande, inclusive, ameaçado de extinção. Porque, a partir dos anos 70, com a Reforma Universitária, os órgãos suplementares da Universidade perderam a sua autonomia e o sendo assim, os pesquisadores e professores do CEAO tiveram de ser relotados em um departamento da UFBA de sua livre escolha [...] (CRUZ, 2008, p. 90). Ainda de acordo com a pesquisadora (CRUZ, 2008, p. 90), o que possibilitou a continuação do desenvolvimento das ações realizadas pelo CEAO foi a assinatura do Programa de Cooperação Cultural Brasil – África para o Desenvolvimento dos Estudos Afro-Brasileiros em 04 de março de 1974. O professor Guilherme Souza e Castro após voltar da Nigéria, onde desenvolveu estudos etnolinguísticos, no período de 1962 a 1964, assumiu a direção do CEAO em 1972 e sugeriu ao Reitor Lafayette de Azevedo Pondé a representados e valorizados materialmente a oportunidade de se reconhecerem e, mais que isso, de atuarem, através da doação de objetos que são de grande valor histórico para a preservação da memória e do patrimônio vindos de África e construídos no Brasil. As bases educacionais proporcionaram e potencializaram as ações do MAFRO, permitindo que o projeto de estruturação iniciado pelo professor Agostinho da Silva não findasse após sua saída da direção do CEAO, assim como dos diretores e coordenadores que lhe sucederam. O desejo desses sujeitos de abraçar o projeto de construção e firmamento do Museu Afro-Brasileiro foi um fator importante para que ele permanecesse com suas bases sólidas, apesar das adversidades enfrentadas ao longo de sua trajetória. Museu Afro-Brasileiro da Universidade Federal da Bahia: histórico e caracterização constituição do Convênio. Assim, através do Programa foi objetivado: A constituição e manutenção de um Museu Afro-Brasileiro, composto de coleções de natureza etnológica e artística sobre as culturas africanas e sobre os principais setores de influência africana na vida e na cultura do Brasil: Realização de cursos e seminários sobre tais assuntos; 274 A implementação do Programa de Cooperação Cultural Brasil – África para o Desenvolvimento dos Estudos Afro-Brasileiros através da assinatura do Termo de Convênio possibilitou ao CEAO continuar a desenvolver suas ações. A maior parte das atividades do Programa já eram desenvolvidas 275 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. pelo Centro, porém sem muitos recursos, pois dependiam da Universidade e de parcerias para colocá-las em novembro de 1959, enviada ao Reverendo José Marques Ferreira Vicente, do Colégio Cristo Rei em Luanda, o prática. professor volta a expressar que o museu será de caráter didático e se preocupa que os objetos enviados venham Uma das ações já desenvolvidas pelo Centro era a realização de exposições promovidas pelo professor com as devidas informações sobre eles. Assim, ele escreveu que: “O nosso museu será, pelo menos de início, de Agostinho da Silva, oficializada através do Convênio com a constituição de um Museu Afro-Brasileiro. Apesar caráter didático: serve toda a fotografia e todo o objeto, pedindo apenas que venham acompanhados de uma da assinatura do Convênio ter sido realizada em 1974, o MAFRO foi inaugurado oito anos depois, em 1982, legenda sôbre a qual possamos trabalhar depois” (SILVA, 1959, p. 1). devido a dificuldades relacionadas a espaço disponível para acomodar a exposição – o embate com a classe No sentido de defesa da perspectiva educacional do que seria o museu, os contatos epistolares mantidos médica se configurou num fator importante para a demora na inauguração da exposição; a falta de recursos, por Agostinho da Silva com representantes africanos ou brasileiros na África, revelavam a sua intenção de criar dentre outras questões. salas de exposição. Em carta endereçada ao Cônsul honorário do Brasil em Moçambique, o senhor Júlio Gomes A concepção de um “museu didático” pelo professor Agostinho da Silva data de 1959, ano de fundação Ferreira, o professor noticia sobre a intenção de inaugurar com brevidade os trabalhos para a instalação do do CEAO. Em correspondência de 08 de outubro de 1959 ao Cônsul do Brasil em Lourenço Marques141, museu. Desta forma, ele solicita que o Cônsul dê sugestões em relação ao material que pode ser cedido, mas Itajuba de Rodrigues, Agostinho da Silva tratou, dentre outras questões, da criação do CEAO e das perspectivas deixando claro o que deseja. O trecho da carta abaixo demonstra as suas intenções: Gostaria a este respeito de receber sugestões suas quanto a material de Moçambique, objetos de interesse etnográfico, amostras de produtos, fotografias, arte indígena, moedas, selos etc., por exemplo até exemplares de herbários ou coleções de insetos. Dedicaríamos uma sala para Moçambique. Lembrei-me de que um dos pontos de interesse de uma sala deste gênero poderia ser um receituário de alguns pratos típicos de Moçambique que pudessem ser preparados com ingredientes brasileiros (SILVA, 1959, p. 1). As cartas com solicitações de objetos enviadas pelo professor Agostinho foram constantes. Os pedidos em ralação ao funcionamento deste na Bahia. Porém, o que chama a atenção na carta é a informação sobre a criação de um “museu de caráter didático”. Mesmo que o professor já tenha estabelecido outras correspondências informando sobre a criação do Museu como um dos objetivos do CEAO, como foi nas cartas enviadas em 1º de outubro de 1959 a diretores, Cônsules e outras pessoas que ele acreditou serem importantes para o estabelecimento de alianças em prol do Centro de Estudos; ou quando enviou em 07 de outubro de 1959 carta ao Cônsul, solicitando material para a montagem de exposição, foi a primeira vez que ele relacionou museu com didático. Nesta correspondência, ainda que o professor não tenha relacionado conceitualmente o “museu de caráter didático”, a finalidade sobre foram realizados tanto para os representantes dos países africanos como dos asiáticos. As respostas quanto ao envio só irão se concretizar em novembro de 1959. Porém, é necessário levar em consideração que as correspondências, na maioria das vezes, demoravam de chegar ao seu destinatário, e muitas vezes, parecia não esta opção de museu será estabelecida pelas intenções explicitadas ao solicitar material para exposições. A didática, de forma geral, possibilita a maior facilidade do ensino aprendizagem. De acordo com Vera chegar. As promessas de envio de objetos foram consideráveis, a exemplo temos a do senhor Júlio Gomes Maria Candau: A didática ocupa-se da busca por conhecimento necessário para a compreensão da prática pedagógica e da elaboração de formas adequadas de intervenção, de modo que o processo de ensino-aprendizagem se realize de maneira que de fato viabilize a aprendizagem da maioria da população [...] (CANDAU 2001, p. 1). Ferreira, que escreveu para o professor em 12 de novembro de 1959, com a promessa de enviar “[...] material adequado para bem representar Moçambique [...]. (FERREIRA, 1959, p. 1)”. O senhor Nong Kimny, embaixador de Cambodja, informou no dia 06 de janeiro de 1960, que estava enviando por correio livros e objetos de arte. Ele escreve que: Direcionado ao museu, de maneira específica, Agostinho da Silva investiu e considerou possível o aprendizado através da criação de um museu que se apresentasse num formato didático, onde não só seriam apresentadas informações sobre a África e os afro-brasileiros, mas possibilitaria também o intercâmbio entre os países africanos e a sociedade brasileira e baiana. Para tanto, o professor estreitou ainda mais os laços entre o Centro de Estudos e os representantes em África no intuito de adquirir objetos e trocar conhecimentos para a Tenho o prazer de informar de que lhe estamos enviando por correio registrado, de parte do Ministério da Educação do Cambodja, dois volumes contendo livros e objetos d’arte. São eles a contribuição de Cambodja para a exposição temporária que será realizada no centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade (KIMNY, 1960, p. 1). Em 07 de fevereiro de 1960, foi enviada pelo senhor José Vicente, irmão no Colégio Cristo Rei, uma correspondência informando que havia sido enviado em 29 de janeiro do mesmo ano um embrulho com 07 trabalhos de esculturas angolana. O padre Vendelino Lorscheiter enviou em 19 de outubro de 1960, do Tókio, formação do museu. Agostinho da Silva, apesar de não ir à África, mantinha relações estreitas através de cartas com os países africanos. Em cartas datadas de setembro a dezembro de 1959, pode-se verificar o empenho do diretor em estabelecer relações que pudessem vir a resultar no chamado “museu didático”. Em correspondência de 16 de pinturas japonesas para compor o acervo, informando se fosse de interesse havia a possibilidade de enviar outras obras. Os correspondentes, além da promessa de envio de objetos, também os solicitavam. A maior parte das correspondências evidenciava o desejo de troca de informações através de objetos diversos, desde letras de 141 Atual Maputo, capital de Moçambique. 276 277 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. músicas, receitas de comidas, informações sobre a flora e a fauna, medalhas e fotografias que contivessem isto, o Museu de Arte Sacra, local que foi alojada a exposição, prorrogou o prazo, tendo a mesma terminada há informações sobre o Brasil. três dias, ou seja, 27 de dezembro, passando do prazo que deveria ter ficado disponível à visitação. Os objetos Apesar das promessas de envio de objetos para compor o museu, as correspondências evidenciam que foram mais pedidos e promessas do que o envio concretamente de objetos. Em correspondências analisadas no período de 08 de outubro de 1959 a 16 de dezembro de 1962 foi constatado que, em um universo de 09 pedidos, 11 respostas foram obtidas informando sobre o envio de objetos e houve a confirmação de 05 recebimentos. Como as respostas obtidas foram em número maior que os pedidos, concluiu-se que algumas cartas enviadas pelo professor Agostinho da Silva podem não ter sido documentadas ou a confirmação da chegada de mais só foram despachados em 06 de fevereiro de 1961, quando mais uma vez Agostinho da Silva se desculpou e informou que a demora se deu por conta do sucesso da exposição. Ele escreveu que: Embora possa lamentar que a exposição tenha demorando entre nós mais tempo do que aquele que tinha sido previsto inicialmente, muito me congratulo todavia pelo fato de que tal demora ter sido causada pelo grande interesse despertado por tal exposição (SILVA, 1961, p.1). Agostinho da Silva ao insistir na construção de um museu de cunho didático demonstrou que a educação é o principal norteador para a concepção e construção desse museu. A intenção de um museu que, não só objetos pode ter sido feita nos anos posteriores a 1962, períodos não analisados. Dos objetos que chegaram para o museu os que chamaram mais atenção foram os enviados pelo Cônsul em Maputo, Júlio Gomes Ferreira. Em correspondência para o Cônsul em 03 de agosto de 1960 o professor Agostinho da Silva relatou que os objetos chegaram, mas foram considerados como contrabando e apreendidos pela alfândega do Rio de Janeiro. Antes de escrever ao Cônsul, o professor remeteu, em 02 de agosto de 1960, pedido à alfândega para que revisse o fato da mercadoria ter sido considerada contrabando, assim ele segue: “Cremos porém, que esta explicação e o exame dos documentos cuja cópia enviamos habilitarão V. Excia. a conservasse ou expusesse objetos, mas sim de um espaço dinâmico, voltado para o fazer educativo e o intercâmbio cultural entre nações se mostrou como balizador para a montagem de exposições pelo CEAO. Essa concepção de educação se fazia diferenciada, pois a pretensão era divulgar informações culturais e educacionais sobre saberes e fazeres das nações africanas, proporcionado através desse museu a aproximação do continente africano com o Brasil. A aproximação pelas vias cultural e educacional era o diferencial neste projeto, visto que as relações Brasil/África, que estavam se iniciando de maneira institucional naquele momento, foram estabelecidas pelas vias econômicas. Portanto, se tratava, à época, de um projeto visionário decidir pela liberação da remessa e permitir o seu reembarque para êste porto” (SILVA, 1960, p. 1). Não contente, o professor enviou na mesma data, 02 de agosto de 1960, uma segunda carta à alfândega. que envolvia relações mais que diplomáticas, mas de reaproximação de um passado histórico importante para ambas as partes. É possível perceber pelo “tom” das palavras que ele parece irritado e é sarcástico: Meu prezado amigo, desculpe que volte a incomodá-lo com a questão dos pacotes de Moçambique quando o meu Amigo já tanta coisa tem que se ocupe e preocupe. Acho no entanto, que não devemos desistir e por isso remeto ao Inspetor da Alfândega a tal solicitação. Se o Inspetor se negar, baterei à porta do Itamarati, do Ministério da Fazenda e, se for necessário, da Presidência da República. Provavelmente, quando a coisa acabar, já os cigarros estarão todos fumados; mas pelo menos, gloriosamente lhes recolheremos as cinzas (SILVA, 1960, p. 1). Em 02 de setembro de 1960, o inspetor da alfândega, Oswaldo Belo de Amorim, escreveu ao professor Somente depois de mais de quinze anos, contados de 1959 a 1974, verifica-se a proposição de um projeto de museu com espaço definido para tal finalidade. Com a assinatura do Convênio deu-se início a elaboração de um plano diretor para criação do museu e a nomeação de uma comissão presidida pelo então diretor do CEAO, o professor Guilherme de Souza e Castro, que deu início, de forma institucionalizada, a diversas atividades de pesquisa, viagens a países africanos e intercâmbios no intuito de buscar objetos para compor a coleção do museu. informando que o pacote não tinha chegado na alfândega e pedia esclarecimentos sobre o assunto. A troca de Ao consultar as fontes relativas à história institucional foi possível verificar, em grande escala, a cartas do período analisado termina com esta correspondência do inspetor. Não há mais informações se os perspectiva educacional no projeto de criação do MAFRO. Apesar de ainda não ter recebido o nome de Museu objetos chegaram às mãos de Agostinho da Silva. Afro-Brasileiro, como foi denominado posteriormente por Guilherme de Souza e Castro, é possível constatar Em meio a trocas de cartas, promessas de envio de objetos e chegada de alguns, foi encontrada notícia nas negociações do professor Agostinho da Silva que a gestação do Museu já existia desde 1959. As sobre a montagem de uma exposição sobre a China com título Exposição chinesa da Bahia. Em carta de 26 de informações encontradas evidenciam que a criação de um museu era um importante objetivo, demonstrado setembro de 1960, o professor Agostinho da Silva sugeriu que a exposição fosse inaugurada entre 07 e 22 e efetivamente com a exposição sobre a China. O que caracterizou não só a intencionalidade da formação, mas a novembro do mesmo ano. O embaixador da China no Brasil, Ti Tsun Li, escreveu em 13 de dezembro de 1960 concretização de fato de um museu. ao professor Agostinho dando notícias sobre a repercussão positiva que teve no país inteiro a exposição a ponto da Escola de Belas Artes da Universidade de Recife solicitar que ela fosse repetida lá. Pede que os objetos REFERÊNCIAS sejam despachados o mais breve possível para que a exposição seja realizada em Recife. informando que a exposição ocorreu com êxito e elogiou a qualidade das fotografias enviadas e que, devido a CANDAU, Vera Maria. A didática em questão. (Org.) Editora vozes, 20ª edição, 2001. Disponível em: <http://pt.slideshare.net/tawana1/a-didtica-em-questo-vera-maria-candu-org-15556288> Acessado em 04 de maio de 2015. CRUZ, Cristiane Copque da. Introdução aos estudos africanos na escola: trajetórias de uma luta histórica. 278 279 Em nova correspondência, de 30 de dezembro de 1960, o professor escreveu se desculpando e ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. Dissertação (Mestrado em Educação) Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2010. 248 p. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/10548/1/Dissertacao_Cristiane%20Copque.pdf> Acessado em 19 de abril de 2015. OLIVEIRA, Waldir Freitas; ARAÚJO, Nelson. Informações: Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade da Bahia. Revista Afro-Ásia, n. 1, p. 125-128, Salvador, 1965. SANDES, Juipurema A. O Museu Afro-Brasileiro da UFBA e sua coleção de cultura material religiosa afrobrasileira. Dissertação (Mestrado em Estudos Étnicos e Africanos) Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2010. 290 p. SILVA, George Agostinho. O nascimento do CEAO. Afro-Ásia. 16, 1995. p. 5-8. TERMO DE CONVÊNIO. Documento dos arquivos do Museu Afro-Brasileiro. Salvador, 1974. Texto datilografado. 5p. Campus X. A pesquisa se pauta por revisão bibliográfica, no qual se consulta autores e obras bibliográficas que dialogam sobre o tema proposto. Os questionamentos estabelecidos nesse texto partiram principalmente das observações realizadas no CEMAS durante o período do Estágio Supervisionado IV, tendo em vista que essas vivências corroboram não só para a reflexão, mas para possíveis ações que revoguem estas e outras questões. Palavras-chave: Negro – Preconceito – Professores - Estudantes. ACERVO DO CEAO142 AMORIM, Oswaldo Belo de. Carta enviada a Agostinho Silva. Rio de Janeiro, 02 de setembro, 1960. FERREIRA, Júlio Gomes. Carta enviada a Agostinho Silva. Moçambique, 12 de novembro, 1959. FERREIRA, Júlio Gomes. Carta enviada a Agostinho Silva. Moçambique, 03 de agosto, 1960. KIMNY, Nong. Carta enviada a Agostinho Silva. Cambodja, 06 de janeiro, 1960. LORSCHEITER, Vendelino. Carta enviada a Agostinho Silva. Tokio, 19 de outubro, 1960. LI, Ti Tsun. Carta enviada a Agostinho Silva. Rio de Janeiro, 13 de dezembro, 1960. VICENTE, José. Carta enviada a Agostinho Silva. Angola, 07 de fevereiro, 1960. SILVA, Agostinho. Carta enviada a Itajuba de Rodrigues. Salvador, 08 de outubro, 1959. SILVA, Agostinho. Carta enviada a José Marques Ferreira Vicente. Salvador, 16 de novembro, 1959. SILVA, Agostinho. Carta enviada a Júlio Gomes Ferreira. Salvador, 07 de outubro, 1959. SILVA, Agostinho. Carta enviada a Oswaldo Belo de Amorim. Salvador, 02 de agosto, 1960. SILVA, Agostinho. Carta enviada a Oswaldo Belo de Amorim. Salvador, 26 de setembro, 1960. SILVA, Agostinho. Carta enviada a Ti Tsun Li. Salvador, 26 de setembro, 1960. SILVA, Agostinho. Carta enviada a Ti Tsun Li. Salvador, 30 de dezembro, 1960. SILVA, Agostinho. Carta enviada a Ti Tsun Li. Salvador, 06 de fevereiro, 1961. A imagem do negro no cotidiano dos estudantes na escola No decorrer do estágio tivemos algumas perspectivas referentes ao que é a imagem do negro nesse contexto. Percebemos um forte preconceito com relação a religiões de matriz africana, o qual teve suas bases fundamentadas no período da escravidão, através da demonização das religiões dos escravos, por parte dos colonizadores. (NASCIMENTO, 2010, p. 928,929) A convivência nos trouxe olhares, diversas ideias ligadas ao negro; conceitos que em sua maioria relegaram esse sujeito ao sofrimento (associado principalmente à escravidão), a submissão, colocando este em um estado de estagnação, como se não tivesse resistido a esse período que marcou sua história, a do país e ainda sinaliza resquícios que afetam toda uma população afro-brasileira. A atividade que nos fez perceber isso pode ser chama de “árvore das ideias”, na qual desenhamos no quadro branco, e solicitamos aos estudantes que se dirijam ao mesmo, escrevendo dentro da árvore suas impressões acerca do negro no Brasil. Houve palavras como: preconceito, tortura, sofredor, escravo, injustiçado, humildade, as quais evidenciam que as coisas mais marcantes acerca do negro na escola está voltado quase sempre a um sentimento de inferioridade, tornando-o sujeito digno de pena. Nesse processo, o livro didático é um grande aliado no reforço de tais imagens, pois é muito utilizado. (MARTINS; SILVA, 2011, p. 1) Os estudantes não têm na maioria das vezes contato com outras questões que marcaram a trajetória do negro no Brasil, que foi marcada também por resistência, negociação (REIS; SILVA, 1989), e alegria; quando O NEGRO NO IMAGINÁRIO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO NO CEMAS EM TEIXEIRA DE FREITAS143 FELIPE SANTOS FRANCISCO MIRLA KLEILLE OLIVEIRA CORREIA se enfatiza situações negativas como sofrimento, injustiça, tortura, omitindo aspectos positivos de luta e resistência, o preconceito, a ideia de inferioridade, submissão, tendem a aumentar. Viana (2009) elucida que “algumas identidades coletivas, como ser negro, ser pobre, ser habitante de regiões afastadas, parecem mais relevantes que outras na constituição do sujeito” (p. 28). No entanto, por vezes Resumo Quando falamos em preconceitos, quando indagamos acerca deles, especialmente no que diz respeito ao racismo, é muito comum que se tenha uma resposta pronta, já construída, de que “não, eu não sou racista”. No entanto percebe-se que em situações cotidianas o preconceito racial, e este na maioria das vezes dirigido ao negro, está implícito. A pergunta volta-se agora para o espaço escolar: Existe preconceito racial no Centro Educacional Machado de Assis? Se existe, até que ponto está sendo reforçado a partir das práticas pedagógicas, da imagem do negro no livro didático, das ações do professor em sala de aula, e da experiência que o aluno traz consigo de seu convívio externo? Tentaremos responder a estas perguntas no decorrer da pesquisa. Nesse sentido, o objetivo do presente artigo é analisar a imagem do negro construída no imaginário dos alunos do ensino médio no CEMAS, utilizando a vivência de Estágio Supervisionado IV do curso de História da UNEB142 143 As identidades fazem com que se apresentem para o sujeito determinadas reinvindicações por meio do apelo a antecedentes históricos, como é o caso dos afrodescendentes que tem como uma das possibilidades para a construção de suas identidades a reconstrução de seu passado (comum) escravo e da experiência de sofrimento advindo daí. (p. 28) Por isso, importante se faz a ideia de que o professor de História deve a todo custo empenhar-se por modificar essa realidade que marca o negro enquanto sujeito alocado ao sofrimento, a inferiorização constante. No decorrer do estágio, apareceram outros aspectos acerca do lugar do negro; o exemplo disso é a homogeneização deste. Quando perguntamos aos alunos do 2º ano A sobre qual religião eles acreditam que seja Acervo de correspondências arquivadas na Biblioteca do CEAO. Universidade do Estado da Bahia – DEDC Campus X, licenciatura em História. 280 281 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. mais freqüente na África, pareceu-nos que no imaginário em maioria da turma, a religião predominante é a injustiças que o mesmo tenho sofrido durante nossa história. vulgarmente conhecida como “macumba”. Explicamos que apesar de existir muitos adeptos de religiões No livro do 3º ano, observamos informações referentes ao imperialismo na África, e mais desgraças tradicionais africanas no continente, essas não são a maioria, pois se destacam também o cristianismo e o relacionadas ao negro são demonstradas. Como esperar algo além de palavras e conceitos negativos acerca do islamismo. Algo importante, foi o esclarecimento de que o que foi construído pelos escravos no Brasil, é negro por parte dos alunos, dadas características contidas no livro didático? Lopes (2006) já alerta para a diferente do que é parte da cultura africana. Como exemplo disso, temos o próprio Candomblé, estabelecido no questão de que o discurso intrínseco no meio escolar tem um “peso” importante: [...] são múltiplos os produtores de textos e discursos – governos, meio acadêmico, práticas escolares, mercado editorial, grupos sociais os mais diversos e suas interpenetrações –, com poderes assimétricos, são múltiplos os sentidos e significados em disputa (p. 38). Brasil, resignificado como ação de resistência escrava contra o colonizador. (NASCIMENTO, 2010, p. 926). Percebe-se que existe uma tendência a generalizar aspectos relacionados aos negros, e ao seu continente de origem, a África: “todas as religiões de matriz africana parecem uma coisa só, a África é um país, é um grande deserto, todo mundo passa fome, todo mundo é negro, alguns desconhecem que o Egito fica na África”, etc. A pergunta que se faz é: tais ideias, concepções, foram criadas na mente dos estudantes por iniciativa deles Portanto, as informações acerca do negro veiculadas nos livros didáticos de História utilizado no mesmos? Essas ilusões evidenciadas aqui são “coisa da cabeça” dos próprios alunos? Paremos para refletir CEMAS parecem estar contribuindo para uma visão distorcida do mesmo. Acreditamos que a mudança se faz acerca desta questão de fundamental importância. Até que ponto o discurso contido no livro didático e no necessária, como evidencia Santos (2012), quando diz que Analisamos os livros didáticos de História do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio utilizados no CEMAS; O fato de deslocar a força de significado da presença dos negros no Brasil de uma noção de submissão, liberta pela mão áurea dos brancos, para uma perspectiva de heroicidade, resistência e potencialidade, já altera bastante a forma de se entender e tratar deste fenômeno que é a negritude no Brasil. Com isso, o material didático, na aprendizagem das questões étnico-raciais, deve ter o papel de ajudar o educador a levar aos educandos os princípios de fortalecimento da identidade e dos direitos, o contexto histórico da diversidade, a consciência política e as práticas de ações de combate ao racismo e às discriminações, podendo formar honestos cidadãos (p. 9). Nesse sentido, o material didático manuseado pelo educador, deve se manifestar como suporte no no livro do 1º ano verificamos os reinos africanos mais conhecidos: Cuxe e Egito. No livro do 2º ano, foram tratamento em relação às questões étnico-raciais, independente da carência existente em torno de uma ampliados os reinos, englobando-se os reinos sudaneses, os reinos iorubas, e o povo banto, além de serem historiografia que se preocupe em veicular elementos coesos, menos breves, e que não se prenda a aspectos mencionados aspectos cotidianos de povos africanos, como família, vida cotidiano e religião. Todas essas reforçadores do preconceito e/ou ideias inferiorizantes desse sujeito em nosso país. O material didático é um informações são dadas de forma bem resumida. Outros elementos são levantados sobre a escravidão na África, componente de aprendizagem que deve valorizar as particularidades e as diversidades dos grupos instituídos no à vida urbana na África Negra, o islã na África. O resumo, a forma sucinta como são tratados esses aspectos, seio do movimento negro brasileiro. O uso com tal propósito, ao mesmo tempo em que faz a prática tentando torna os mesmos irrelevantes na maioria das vezes para os alunos, muitos deles caem no esquecimento cumprir a lei em sua totalidade, direciona a uma construção de uma identidade racial, por meio de indícios que rapidamente. demonstram uma conscientização acerca do negro não só dentro da escola, mas fora de seu contexto. tradicionalismo/conservadorismo de alguns professores está contribuindo para a formulação desses conceitos, e por que não preconceitos? A visão do negro apresentada no material didático do CEMAS No decorrer de outros capítulos, percebemos vários dados acerca da vida dos escravos principalmente na colônia portuguesa no Brasil. Observamos, além disso, que a maioria desses relatos se relaciona com a Outros fatores que influenciam na construção da imagem do negro para os estudantes do CEMAS servidão, à triste e dificultosa travessia de cativos nos tumbeiros, e alguns aspectos religiosos. Pouco se fala sobre resistência e aspectos que colocam o negro como agente, sujeito de seu tempo. Podemos citar como Como já foi dito, alguns aspectos relacionados à imagem do negro do CEMAS parecem estar exemplo, as poucas linhas que mencionam o Quilombo dos Palmares, toda história de resistência ocorrida ali. contribuindo na construção dessa representação na instituição de ensino. Percebemos que um dos fatores que As informações acerca do quilombo, que foram retiradas de um livro dirigido por um historiador, estão postas tem influenciado isso junto aos estudantes é o tradicionalismo de alguns professores de História. Carvalho de forma resumida. Acerca do Levante dos Malês, significante revolta de negros ocorrida no Brasil, o livro traz (2009) elucida que tendam a evidenciar a resistência escrava, e perspectivas que evidenciem o negro para além dos sofrimentos, Vemos que a capacidade dos professores de se pensar como indivíduo e definir as qualificações desta individualidade é amplamente determinada por suas interações e experiências sociais. A percepção que eles possuem deles mesmos depende de estruturas cognitivas, afinidades comuns e outras qualificações inscritas num cenário 282 283 novamente pouca informação sobre o mesmo. Podemos notar que a tendenciosa ausência do negro no livro didático, perpassa por uma série de motivações, inclusive a falta de interesse em aprofundar-se em temas que ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. que surge das interações com os membros de seu grupo de pertença e dos outros grupos sociais. É justamente essa percepção que faz com que diferentes professores façam diferentes tipos de seleção no interior da cultura e comprova que o modo pelo qual a informação é selecionada está ligada às crenças e valores que orientam suas vidas. A partir das suas escolhas, os professores podem legitimar certas crenças enquanto deslegitimam outras. (p. 5) Essa característica é evidente principalmente, quando, por exemplo, são tratadas somente concepções público, também fomos alvo de preconceito racial, presenciamos a negação da negritude por parte de colegas de contidas nos livros didáticos, sem uma problematização maior sobre a temática. Ocorrendo isso, o aprendizado “Trajetórias escolares, corpo negro e cabelo crespo: reprodução de estereótipos ou ressignificação cultural?” torna-se ruim, as aulas pouco produtivas, enfadonhas e os alunos adquirem e reforçam preconceitos, expõe o resultado de suas pesquisas junto à ex-estudantes, na maioria mulheres negras jovens e adultas, na faixa continuando a propagar os mesmos. Nesse caso, o professor deve o tempo todo se atentar a esses momentos de dos 20 aos 60 anos, constatando que a trajetória escolar [apareceu] em todos os depoimentos como um respostas do grupo estudantil, observar esses olhares que são por vezes positivos e negativos, mas que não importante momento no processo de construção da identidade negra [...]. (p. 41). Estes podem ser considerados deixam de ser um posicionamento político. É perceber que os estudantes por vezes não têm fundamentos coesos pontos positivos, relevantes, pois assumindo tais características, o negro se afirma enquanto tal apresenta ao para alguns conceitos, daí a importância de analisar essas perspectivas étnico-raciais, que dizem respeito a sujeito racista o que é ser afro-brasileiro, e para além de ter orgulho do que é, este sujeito quebra aos poucos culturas diversas existentes. O professor deve usar do material disponível, para mediar/contribuir não só paradigmas da história de preconceitos em relação ao ser negro em nosso país. classe, e até mesmo desejamos não ser negros, tomamos atitudes que estavam relacionadas à camuflagem de características que não evidenciasse que “sou de cor”. É claro que temos observado no CEMAS exemplos de alunos que resistem a esse ocultamento, assumindo sua identidade negra, a partir seu cabelo crespo, cacheado, suas vestimentas, acessórios que dão indícios do que são. Nilma Lino Gomes (2002), em seu artigo intitulado: mostrando essas diversidades, mas valorizando, estimulando diferentes maneiras de conhece-las. O não exercício dessas posturas por parte do educador, reforçam o não-cumprimento ou mal- Considerações Finais cumprimento da Lei nº 10.639/2003, que torna obrigatória a inserção de disciplinas que discutam “a História da África e dos africanos e sua contribuição para a formação histórica do Brasil”. A lei visa que haja conteúdos Percebemos que a sociedade brasileira precisa caminhar muito ainda a fim de abolição do racismo. As que contemplem a História da África e Cultura Afro-brasileira (COELHO, 2010, p. 11). Como já discutimos no mazelas características de nosso cotidiano são reflexos de um processo de afirmações e negações de nossas tópico anterior, a História da África e dos africanos e sua contribuição para a formação histórica do Brasil identidades, constituídos principalmente na escola. Esse espaço, infelizmente ainda é evidentemente marcado e contida no livro didático está carregada de conceitos negativos, os quais são postos de forma dominante sobre continua reforçando estereótipos, recusando o negro enquanto resistente ao sistema opressor, que os conceitos positivos, direcionando os pensamentos e ideias acerca do negro. constantemente reafirma uma ideia de inferiorização do sujeito. Neste sentido, o professor de História, para Wilma de Nazaré Baía Coelho, em seu livro intitulado “A questão racial nas escolas: representações dos além de orientar uma reflexão da história de nosso país, deve provocar e tratar essa resistência negra, agentes da escola sobre os conteúdos étnico culturais”,relata que em suas pesquisas que resultaram no livro confrontando-a com todas as imposições que relegam o negro a uma homogeneização, sendo que este faz parte mencionado de um contexto de tamanha diversidade étnica e cultural. Ao [indagar] alunos das 5ª séries sobre o que é ser negro no Brasil, eles responderam: “é sofrer no mercado de trabalho”; “é ser humilhado”, “é ter pele escura”, “é sofrer discriminação”, “é ser rejeitado”, “é ser pobre” (COELHO, 2010, p. 14). Como se vê, ideias negativas acerca do negro relacionam-se com o currículo escolar, com os livros didáticos de História, e estão impregnadas na mente de muitos estudantes. E o que dizer acerca dos próprios A abordagem do negro dentro da escola básica em relação à sociedade apresenta-se como imprescindível para nossa formação identitária, e que quando ocultada, excluída, acarreta determinantes absurdos como, por exemplo, o próprio racismo dentro da universidade, lugar de início da construção do ser professor(a). estudantes negros, que sofrem com esses estigmas e preconceito? Tudo isso os acaba afetando. É importante ressaltar que no Centro educacional Machado de Assis existem muitos estudantes negros; no entanto, há Referências aqueles que preferem se considerar pardos, negando sua negritude, também por conta dos estigmas racistas CARVALHO, Francione Oliveira. As imagens da cultura negra na escola e a prática docente: uma questão de identidade. ANPUH – XXV Simpósio Nacional de História – Fortaleza, 2009. Disponível em: http://anpuh.org/anais/wp-content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S25.0496.pdf Acesso: 22/12/2014 COELHO, Wilma de Nazaré Baía. A questão racial na escola: um estudo sobre as representações dos agentes da escola sobre os conteúdos etnicoculturais. – Belém: Unama, 2010. GOMES, NIlma Lino. Trajetórias escolares, corpo negro e cabelo crespo: reprodução de estereótipos ou ressignificação cultural? In: Revista Brasileira de Educação. Set/Out/Nov/Dez 2002, Nº 21. LOPES, Alice Casimiro. Discursos nas políticas de currículo. Currículo sem Fronteiras, v.6, n.2, pp.33-52, como estes que a palavra ‘negro’ carrega. É importante ressaltar que isso não impede que eles sofram também preconceito, no entanto, a negação da negritude pode significar a esses alunos um aumento da auto-estima. Dizemos isso com base em observações, e conversas informais com os alunos. Sabemos que essas questões levantadas aqui não são particulares do CEMAS, é algo que se torna mais comum que imaginamos. Enquanto ex-estudantes do ensino 284 285 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. Jul/Dez 2006. Disponível em: http://www.curriculosemfronteiras.org/vol6iss2articles/lopes.pdf Acesso: 22/12/2014 MARTINS, Eduardo; SILVA, H. F. P. da. As imagens do negro no livro didático de História. Revista Pitágoras – ISSN 2178-8243, Nova Andradina/MS, v. 1, n. 1 ago/dez 2011. Disponível em: http://www.finan.com.br/pitagoras/downloads/numero1/as-imagens-do-negro-no-livro-didatico.pdf Acesso: 22/12/2014 NASCIMENTO, Alessandra Amaral Soares. Candomblé e Umbanda: Práticas religiosas da identidade negra no Brasil. RBSE, 9 (27): 923 a 944. ISSN 1676-8965, dezembro de 2010. Disponível em: http://www.cchla.ufpb.br/grem/AlessandraArt.pdf Acesso: 22/12/2014 REIS, João José; SILVA, Eduardo. Negociação e conflito: a resistência negra no Brasil escravista. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. TRINDADE, Azoilda Loretto da. O racismo no cotidiano escolar. Dissertação submetida como requisito parcial para a obtenção do grau de mestre em Educação.Rio de Janeiro,Fundação Getúlio Vargas; Instituto de Estudos Avançados em Educação. Departamento de Psicologia da Educação, 1994. VIANA, Cintia Camargo. Preto tipo A ou pardo tipo A? A construção de uma identidade Étnico-cultural afirmativa na manifestação artística dos Racionais MC’s. Olhares e Trilhas, Uberlândia, Ano X, n. 10, p. 21-32, 2009. Disponível em: http://www.seer.ufu.br/index.php/olharesetrilhas/article/download/13867/7931 Acesso: 22/12/2014 Organizações de Resistência Negra (1995) e Guiné Equatorial: da herança pré colonial à geração atual. (2013) OS CADERNOS DE EDUCAÇÃO DO ILÊ AIYÊ: REFERENCIAIS PARA O ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRICANA E AFROBRASILEIRA – UMA ANÁLISE INTRODUTÓRIA HELOISA FERREIRA DA SILVA144 MIRIÃ ALVES RAMOS DE ALCÂNTARA145 GABRIEL SWAHILI SALES ALMEIDA146 são referenciais para o Ensino da História e Cultura Africana e Afro-brasileira, e tem credibilidade quanto a produção de conhecimentos que propõe outras formas de entender a educação. Palavras chaves: Ilê Aiyê, Cadernos de Educação, Educação Africana e Afrobrasileira. As razões que me fizeram escolher este tema estão baseadas nos estudos étnico-raciais que repercutem na educação como possibilidades de desconstruir as teorias científicas racistas. Na necessidade de dar continuidade no meu trabalho enquanto pesquisadora negra que aborda os Estudos Étnicos Raciais, Estudos Africanos e a Lei 10.639/03. Também me interessa refletir sobre as produções de conhecimentos das populações negras africanas. Assim, repensar sobre perspectivas contemporâneas da educação em prol das populações negras e suas respectivas comunidades. Portanto um dos principais motivos deste trabalho é destacar as contribuições do Bloco Afro Ilê Aiyê no fortalecimento da educação nas comunidades negras de Salvador/ Ba. Os caminhos metodológicos foram trilhados a partir das reflexões que trago sobre o meu histórico pessoal desde a infância, que enquanto estudante negra de escola pública tinha duas referencias de educação: a primeira vinda de casa, com Meu pai que era compositor do Bloco Afro Ilê Aiyê desde a década de 70 e a segunda referência na escola, onde o racismo era algo presente nas atitudes dos colegas e instituição que tentava negar toda a referência de beleza e conhecimento que os sujeitos negros afro brasileiros detinham. O método também esta vinculado às discussões coletivas com a orientadora e co-orientador da pesquisa; a colaboração do Ilê Aiyê e O Trabalho intitulado Cadernos de Educação do Ilê Aiyê: referenciais para o Ensino da História e Cultura Africana e Afrobrasileira – uma análise introdutória, é resultado do Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização em Estudos Étnicos e Raciais: Representação e Identidades no Instituto Federal de Educação da Bahia- IFBA. Com o objetivo geral de indicar linhas de analise que fundamentam as referências para o Ensino da História e Cultura africana e afro- brasileira a partir das edições dos Cadernos de Educação do Ilê Aiyê. informações obtidas em mídia: internet / impressos/ televisão/rádio. Os instrumentos de coleta / O trabalho empírico aconteceu a partir de procedimentos de investigação qualitativa, com análise descritiva de documentos. E a revisão de literatura. Como o trabalho trata de Análise documental, utilizamos como referenciais: Crewell, (2009); May, (2004); Sá-Silva, Almeida, Guindani, (2009) e Corsetti, (2006). Para aprofundar métodos de pesquisa em educação nos referenciamos em E os objetivos específicos são: Discutir os conteúdos apresentados nos Cadernos de Educação de 1995 e 2013 produzidos pelo Projeto de Extensão Pedagógica – PEP do Ilê Aiyê e comparar as principais informações contidas nos cadernos com as novas perspectivas de produção de conhecimentos para a educação. Esta pesquisa é iniciada com uma pergunta: Quais referenciais são fundamentadas nos conteúdos dos Cadernos de Educação do Ilê Aiye para o Ensino da História e Cultura Africana e Afrobrasileira? E com as concepções teóricometodológicos de: Boaventura Souza Santos, (2010), (2009). Adair Ângelo Dalarosa, (2008). Narcimária Luz, (2008). João Batista Martins, (2004), compreendemos que os Cadernos de Educação do Ilê Aiyê: : 144 Mestranda no Programa de Pós- graduação em Educação e Contemporaneidade/UNEB. Bolsista FAPESB. Pedagoga – UFBA. Especialista em Estudos Étnicos e Raciais – IFBA. Pesquisadora do Grupo Griô: Culturas Populares, Ancestralidade Africana e Educação/UFBA 145 Doutora em Saúde Pública (ISC-UFBA), é Professora do Mestrado em Desenvolvimento e Responsabilidade Social (Fundação Visconde de Cairu). Mestre em Saúde Comunitária pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Atualmente é Professora Adjunta de Psicologia do Instituto Federal da Bahia. 146 Pedagogo – UNEB| Especialista em Planejamento e Gestão para Educação- Mestre em Educação e Contemporaneidade- Uneb.Doutorando em Educação- UFBA 286 Gatti, (2012). Sobre Epistemologias: Santos, (2010); Dalarosa, (2008); Luz, (2008), Martins, (2004). E na Revisão bibliográfica, no sentido de coletar pesquisas sobre a Escola Mãe Hilda e o Bloco Afro Ilê Aiyê: Moreira, (2012); Guimarães, (1996); Adinolfi, (2003); Perin, (2007), Moreira, (2013). Conrado, (2004); Guimarães, (1996); Neves, (2008); Lins, (2001). Schaun, (2002). Para tratar criticamente da Relação sujeito/objeto- Clifford (1998); Bourdieu, (2007); hooks (1995); Cuti, (2002); Junior, (2010). E como principais referências Bibliograficas: Ana Célia Silva, (2004); Nilma Lino Gomes, (1994); Eliane Cavalleiro, (2000) Vanda Machado, (2002); Marta Alencar (2008); Petrônio Domingues, (2008). Os Cadernos de Educação do Bloco Afro Ilê Aiyê foram elaborados a partir do Projeto de Extensão Pedagógica – PEP, que aconteceu de 1995 a 1997, este projeto para a formação de professores foi desenvolvido em três Escolas estaduais e municipais do bairro da Liberdade em Salvador Bahia. Sendo que Estadual: Escola Duque de Caxias, Escola Tereza Conceição Menezes e Escola Pierre Verger e da rede municipal a Escola 287 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. Abrigo dos Filhos do Povo, também foi desenvolvido na Escola Mãe Hilda e na Escola de Arte e Educação 2. A Escola Mãe Hilda do Ilê Aiyê Banda Erê. Mãe Hilda é a matriarca do Terreiro, do Bloco Afro e da Escola As primeiras aulas de capacitação do Projeto de Extensão Pedagógica do Ilê foram ministradas pelos/as educadores/ as: Valdina Pinto, Ana Célia Silva, Jaime Sodré, Jorge Conceição e Maria de Lourdes Siqueira. Com a coordenação pedagógica de: Arany Santana e Jônatas Conceição. São vinte e um Cadernos de Educação editados pelo Bloco Afro Ilê Aiyê, destes, selecionamos dois Cadernos para a efetivação deste trabalho de análise: Organizações de Resistência Negra, editado em 1995 e Guiné Equatorial: da herança pré colonial à geração atual, editado em 2013. Todos os Cadernos são elaborados a partir de apostilas de apoio para os compositores. Neste sentido: Os Cadernos de Educação fazem parte das ações do PEP, tendo como objetivo principal encorajar os professores a utilizarem conteúdos complementares que não a são contemplados no sistema oficial de formação para o magistério. Com os Cadernos também pretende -se formalizar e sistematizar os conhecimentos do Ilê Aiyê em forma de material didático e de apoio ao professor , contribuindo de forma concreta para a criação de currículos e programas adaptados à realidade multi-étnica brasileira, uma vez que o material didático que chega às escolas não contém informações sobre a história dos africanos e dos afro-brasileiros.” Silva, (2004, p. 71) Escola Mãe Hilda. Fonte: site oficial do Bloco Afro Ilê Aiyê. Disponível em http://www.ileaiyeoficial.com/acoes-sociais/escola-mae-hilda/ A Escola Mãe Hilda esta situada no bairro da Liberdade, na Rua do Curuzu, Salvador, Bahia. Foi fundada em 1988, pela Yalorixá Mãe Hilda, no Terreiro Ilê Axé Jitolu e é constituída sob a influência do Bloco 1.Conceito de educação para a população de origem Africana no Brasil É um processo de construção de uma educação centrada nos valores africanos e afro-brasileiros, para a organização de estratégias para a transmissão de conhecimentos sobre a África, as manifestações culturais e herança oral. Consideramos que as bancas (reforço escolar) foram uma das principais estratégias de Afro Ilê Aiyê, fundado em 1974 por jovens negros da comunidade. Este bloco tem como objetivo valorizar a consciência negra através da música, estética e educação. A princípio, este Bloco Carnavalesco, já teria a inserção da comunidade negra em seus trabalhos culturais e artísticos. Mãe Hilda foi uma das fundadoras, com os seus filhos consangüíneos e filhos de santo. educação que fundamentam a educação comunitária como acontece na Escola Mãe Hilda. Através das lutas do Movimento Social Negro hoje temos documentos legais que legitimam a educação afro – brasileira no Brasil: Parâmetros Curriculares Nacionais com o tema transversal: Pluralidade Cultural e Orientação Sexual. As Diretrizes e Bases da Educação que incluiu em 2003 a Lei 10.639/03 que obriga o Ensino da História e Cultura africana e afro-brasileira e a Lei 11.645/08 que trata do Ensino da História e cultura indígena, africana e afrobrasileira, e também o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (2004). As Diretrizes Curriculares para a inclusão da História e Cultura Afro-brasileira e africana no sistema municipal de ensino em de Salvador (2005). Também a Após 14 anos de fundação do Bloco Afro Ilê Aiyê, Mãe Hilda Jitolu realiza o sonho de efetivar uma escola, que primeiro acontece em seu terreiro de candomblé com a necessidade de atender as suas filhas de santo e a comunidade que precisava de uma escola, em que as crianças fossem consideradas quanto aos seus modos de vida, identidades e dificuldades. 3. Os Cadernos de Educação do Ilê Aiyê O primeiro Caderno de Educação do Ilê Aiyê: Organizações de Resistência Negra – 1995 é dividido em principais temas: 1--- Organizações Religiosas. 2- - Organizações Quilombolas; Resistência Quilombola; Origem do Quilombo na África; O Quilombo dos Palmares; Angola Janga; Zumbi dos Palmares (Esboço de uma biografia). 3 -Organizações Político –associativa e recreativa; Frente Negra Brasileira (1931); Pasta de Textos lançada em Salvador, para a formação de professores e professoras. Frente Negra da Bahia; Filhos de Gandhi (1949); Apaches do Tororó (1968). 4 -Ilê Aiyê nos seus 21 anos; Um pouco da história; O Espaço do Ilê Aiyê; Fundadores do Ilê Aiyê Caderno de Educação - Guiné Equatorial: da herança pré- colonial à geração atual. (2013) O segundo Caderno que foi analisado, que é a 21º editado do Bloco Afro Ilê Aiyê, teve como principais temas: II Grupos etnoculturais de Guiné Equatorial ;O grupo Fang ; Os grupos Ndowe, Bissio e Molengue ; Os grupos Bubi e Annobonês ; III As Invasões Européias; O Tratado de San Ildefonso; A ocupação espanhola; IV 288 289 ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, ANAIS do V CBPN - Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, IV Encontro Estadual de Educação das Relações Étnicas, XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. XI Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira e II Seminário do Mestrado em Relações Étnicas e Contemporaneidade. A descolonização da Guiné Equatorial e sua transformação em província da Espanha. modificada pela Lei n10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 4- Memórias, linguagens e símbolos dos Cadernos de Educação do Ilê Aiyê para incluir no currículo oficial da rede de en
Download
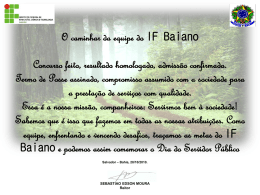

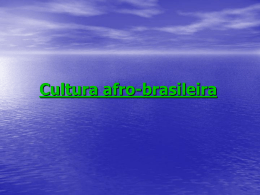
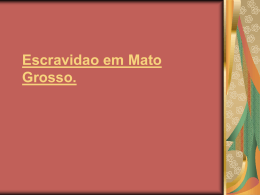
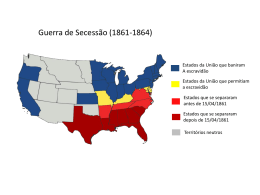
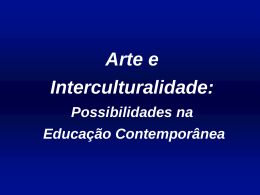

![[Aulas 49 a 51] – (Trabalho 1)](http://s1.livrozilla.com/store/data/000245190_1-c623a975f9801e23ae60c7c3493465e9-260x520.png)