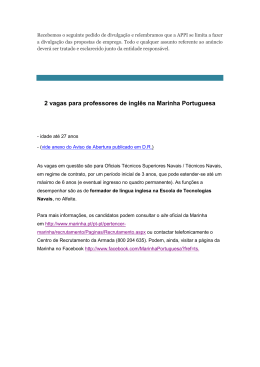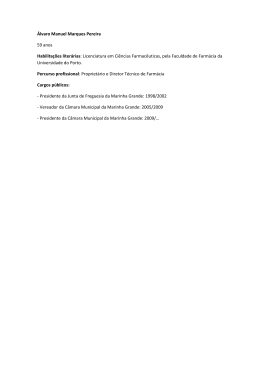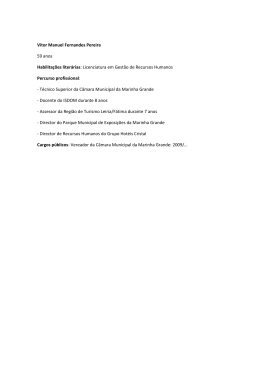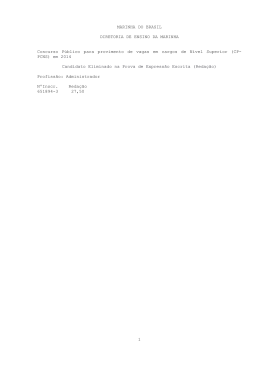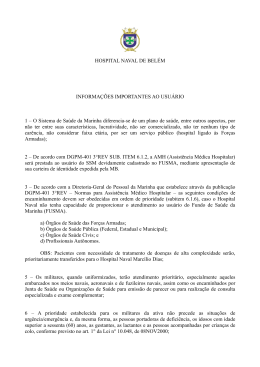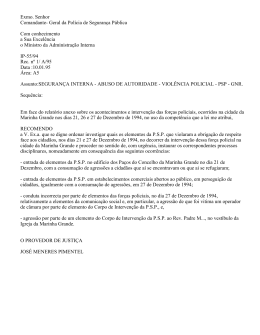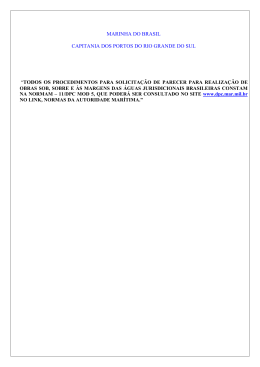Heróis do mar Rafael Pinto Borges * Em 1415, nasceu, através do mar, em Ceuta, o Império Português. Oitenta e três anos depois, em 1498, após uma viagem longa e não isenta de perigos e constantes provações, Vasco da Gama realizou, finalmente, o sonho do Príncipe Perfeito e o destino de nação, chegando às Índias e fazendo de Portugal um Império Marítimo Global, algo que seria até 1975. Novamente, pelo mar. Cinco séculos volvidos, num paradigma do esquecimento (e falta de orgulho) histórico, celebrou-se o Dia Mundial do Mar. Paradoxalmente para um país de história essencialmente marítima, poucos souberam, poucos celebraram e ainda menos tiveram a cada vez mais louvável coragem de pensar e, libertando-se nas mentiras e dos complexos esquerdistas, estabelecer uma relação entre o passado e futuro da Pátria Portuguesa. O destino de Portugal está assim, como esteve no passado e, notavelmente, nos momentos de maior grandeza nacional, indubitável e inexoravelmente ligado ao mar oceano, sendo que é precisamente esse o factor capaz de salvaguardar a independência portuguesa e de motivar um afastamento da tendência essencialmente centralizadora e federalizante de Bruxelas. O mar pode assim ser, como, aliás, sempre foi, o principal pilar emancipador da nação, a nossa fonte de auto-determinação. Portugal tem, como sempre teve, em parte devido à sua inclinação natural pela expansão através dos mares, aquela que é, actualmente, a terceira maior Zona Económica Exclusiva da União Europeia, ou seja, uma área submarina total de cerca de 1,727,408 km². No entanto, apesar da enorme extensão do mar português, a Marinha de Guerra nacional depara-se não apenas com uma total e absoluta obsolescência de meios mas também com uma tremenda (e assustadora) exiguidade de efectivos, dois problemas que, juntos, são factores essenciais para a situação crítica da Armada. Essa situação desesperada, que é verificável através de casos como o das Corvetas da Classe João Belo, todas elas encomendadas ainda pelo Estado Novo nos anos 60 e recebidas nos anos 70, e ainda em utilização, põe em sério risco, a curto prazo, a tentativa de expansão da ZEE Portuguesa, que poderá conter riquezas espantosas, e a médio/longo prazo, a nossa permanência na actual ZEE nacional cujas consequências não serão nefastas não apenas para a economia portuguesa, que com os incontáveis recursos provenientes da ZEE muito poderia lucrar, mas também para a própria independência nacional. Não existem, actualmente, para as antigas potências imperiais europeias, nas quais se inclui Portugal, mais que duas opções: a escolha pela Europa e pela subsequente integração política/federalização do continente, ou, por outro lado, a escolha pelo mar, o corte com o velho continente e a aposta no oceano e ao que ele leva, o ultramar. O europeísmo opõe-se assim, indubitavelmente e por coerência terminológica, ao atlantismo, sendo que qualquer tentativa de amenização do antagonismo intrínseco a ambas não passa de um eufemismo político de líderes sem vontade com medo de ferir susceptibilidades dos dois lados. Assim, a escolha pelo meio-termo, pelo paradoxo geopolítico, dificilmente poderia ser mais acertada que a opção pela UE e pela dependência total de Bruxelas. Escolher o mar é escolher liberdade e total auto-determinação para o povo português, e é, acima de tudo, aceitar o legado de 900 anos de grandeza histórica, proximidade e amizade em relação ao mar. Portugal é, pois, a talvez mais tradicional potência marítima europeia. No entanto, anos de desleixo e falta de interesse governamental em relação a essa dimensão fundamental, para não dizer central, do conceito de Portugalidade, reduziram-na à sombra triste mas altiva e orgulhosa que é hoje a Armada Portuguesa. Essa má e inequivocamente negativa política naval foi, sem dúvida, causadora de uma importante perda da capacidade marinha e submarina, mas tampouco foi peremptória ao ponto de fazer da recuperação naval algo impossível. A chegada a Portugal do primeiro navio da classe Tridente é assim um motivo de extraordinária relevância por significar a renovação da já obsoletíssima arma submarina portuguesa. Peca, porém, pela exígua quantidade de submarinos, com que dotará a Marinha do país cuja ZEE é a terceira maior da União: apenas dois. Por outro lado, outras potências marítimas europeias, com águas por ventura significativamente menores, como a Espanha, os Países Baixos, o Reino Unido e a França, podem orgulhar-se de possuir frotas muito mais impressionantes, tendo esses países 12, 4, 17 e 17 submarinos ao serviço nas suas forças navais, respectivamente. Portugal, apesar de os seus mares serem mais extensos e estrategicamente mais necessitados de protecção submarina pôde contentar-se com apenas 2, menos que o mínimo de três prometidos à Marinha no final dos anos 90 e inicialmente encomendados pelo então governo socialista de António Guterres. É urgente Portugal aceitar como sua uma das características que mais intrínsecas lhe são: a sua dimensão oceânica. Não é certamente um acaso histórico nem tampouco um capricho dos reis e senhores feudais da época aquilo que Portugal, e o seu povo, conseguiram através do mar. No entanto, mais que um vestígio de um passado indiscutivelmente glorioso, a escolha pelo mar, pela vocação marítima nacional e pelas relações de amizade e cordialidade com os estados do ex-ultramar, o atlantismo, afirma-se cada vez mais enquanto solução para a questão fundamental que é a da manutenção da real independência de Portugal enquanto estado livre e soberano, assim como para a viabilidade económica do estado português através das imensas riquezas disponíveis no fundo do Atlântico que nos foi reservado e que nos arriscamos a perder, a médio/longo prazo devido à falta de investimento nas forças navais. Mas não só. Há uma riqueza ainda maior no mar português que, mais que os recursos económicos, é essencial que Portugal redescubra e reencontre: os inequívocos laços de amizade e consanguinidade cultural que nos ligam aos povos do Brasil, da Guiné, de Cabo Verde, de São Tomé e Príncipe e, através dele, de Moçambique, da ex-Índia Portuguesa, de Macau e de Timor. Sobre isso, não há dúvida possível quanto à imensa proximidade que existe entre os estados lusófonos. Somos, no verdadeiro sentido da palavra, povos irmãos por fazermos parte da mesma família linguística. É, aliás, a língua e a nossa identidade cultural única e bem definida que distingue os portugueses continentais dos etnicamente semelhantes espanhóis, os brasileiros que, apesar de não constituírem uma realidade étnica, sabem perfeitamente onde acaba o Brasil e começa a América Espanhola e os angolanos, os timorenses, os moçambicanos e os guineenses. O mesmo sucede com todos os povos do universo linguístico português: é a nossa língua que, simultaneamente, nos define as fronteiras e nos aproxima enquanto comunidade multirracial e pluricontinental de 240 milhões de habitantes. Assim sendo, Portugal deve ter a coragem de, como fez há seis séculos, embarcar na aventura da descoberta do seu mar, como ocorre actualmente, embora de modo diferente, e rebasear a sua independência naquilo que, historicamente, sempre a garantiu: não a UE, Bruxelas ou o neo-federalismo europeu do fascista britânico Oswald Mosley, mas, por outro lado, o oceano, que, ao contrário da Europa que constantemente o humilhou, sempre o fez grande. *Filiado na Juventude Popular do Cadaval, bem como integrante da Juventude Monárquica da Estremadura, Caldas da Rainha, Portugal
Baixar