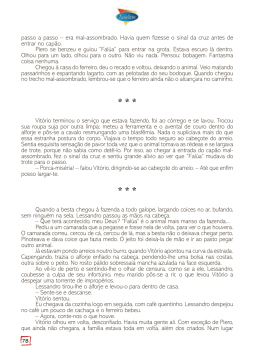A MALDIÇÃO DO VENTRE Publicado por Ágata Ramos Simões at Smashwords Copyright 2013 Ágata Ramos Simões Site: http://www.smashwords.com/profile/view/agata This ebook is licensed for your personal enjoyment only. This ebook may not be re-sold or given away to other people. If you would like to share this book with another person, please purchase an additional copy for each recipient. If you’re reading this book and did not purchase it, or it was not purchased for your use only, then please return to the site and purchase your own copy. Thank you for respecting the hard work of this author. INDEX CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 5 1. A velha senhora Maria de Fátima não revelava aos vizinhos a verdadeira idade. Para quem, como a maioria dos seres, vive no mundo da coerência e lógica, seria difícil - senão impossível - fazer compreender que ela já devia andar pelos cento e trinta anos, mais coisa menos coisa. A velha D. Fatinha tinha um metro e sessenta de formas arredondadas e convexas. Toda ela era bojuda e abaulada. O sinónimo da redondez em pessoa. A curva esférica consumada em carne. Por hábito vestia saia e casaco de tons neutros e material pesado e de qualidade, construído para durar. Tudo o que ela possuía era para durar. Porque, meus caros, uma senhora de cento e trinta anos - embora parecendo não ir além dos setenta -, com uma reforma pequena (ao redor de duzentos euros mensais), não se podia dar ao luxo de gastar o que não tinha e de comprar coisas que não lhe durassem nem duas lavagens. Os seus pertences eram objecto da máxima ponderação, antes de serem adquiridos. Ora a velha senhora Fatinha não albergava em si unicamente esse segredo e não queremos esconder nada aos senhores leitores. Na verdade, ela era um túmulo de segredos, tão profundamente escavado que quem quer que o descobrisse não sairia de lá vivo. A Dona Fatinha por hábito, e inclinação de carácter, tratava toda a gente com grande atenção e uma espécie de carinho e afecto distanciado. Dava afecto, sim, mas a ninguém permitia intimidades. Era necessário. Afinal de contas, ela era uma canibal moderna. Não quero assustar ninguém. Por favor, não desejo transmitir a noção de que, algures, quiçá perto de vós, no vosso Bairro, na vossa cidade, na vossa rua, possa habitar esta querida senhora com costumes alimentares tão pouco ortodoxos. Pode ser que esteja mesmo, mesmo à vossa beirinha - como pode ser que não. Pode dar-se até o feliz caso, imagine-se, da Dona Fatinha estar prestes a consumir o mais cruel e feroz dos vossos inimigos. A Dona Fatinha, desde que se conhece por gente, que ingere carne humana de maneira a poder sobreviver. Com qualquer outro alimento ela perece. E já experimentou todo o género de carne - incluindo a dos primatas, desde gorilas a macacos. Ela já comeu de tudo. Porém, o facto é que, após uma semana de estrita dieta alimentar (que não inclui nem molécula de carne humana), a Dona Fatinha é invariavelmente acometida por um torpor, por uma moléstia, uma doença de diagnóstico imperscrutável. Ela fenece, a sua carne dissipa-se rapidamente e em menos de duas semanas fica reduzida a carne e osso, semelhando um esqueleto humano. Tentou de tudo. Dietas rigorosas sem carne; dietas rigorosas só de carne ou só de peixe; dietas de frutos secos e de ervas; dietas de sumos naturais. Experimentou mesmo viver sem ingerir alimento. Por incrível que pareça, essa foi a única que resultou. Consegue, de facto, passar sem comer longos períodos de tempo, chegando a meses, e isto sem perder a redondez característica. No entanto, algo estranho ocorria - perdia capacidades mentais. Esquecia-se do nome, esquecia-se das coisas, esquecia-se de tudo e quando estava prestes a esquecer-se de quem era, o monstro que a habitava acordava, obrigando-a a consumir carne humana. A Dona Fatinha nunca soube exactamente que tipo de monstro era. Havia tantos nomes, tantas designações. Estudou mitos e o folclore das nações sem nunca encontrar alguém semelhante. Há muito que se resignara a viver em suave contentamento, fazendo malha e crochet, vendo televisão sem som e ouvindo a rádio. Não fazia planos para o futuro. Não imaginava quantos mais anos viveria. Não queria saber. Era um ser sem curiosidade porque aprendera, ao longo das décadas, que a humanidade não podia surpreendê-la. A Dona Fatinha passava os dias quase sempre em casa e só saía de manhã para ir ao pão (que dava ao canídeo) e para ir às compras na mercearia (deitando no lixo a pouca fruta e alimentos comprados). De duas em duas semanas talvez fosse ao café fingir que bebia a sua bica ou, antes, um carioca de limão. Só aguentava aquilo duas vezes por mês, sem ficar indisposta. A dona Fatinha tinha vários esquemas para encontrar alimento. Um dos favoritos era oferecer-se como voluntária em organizações não-governamentais, particularmente as dedicadas ao auxílio de doentes que, por algum motivo, ficaram limitados ao perímetro de sua casa. O seu poderoso sistema de imunidade destruía qualquer doença que a pessoa pudesse ter, logo, a senhora D. Fatinha nunca ficava enferma por mais achacado que o desgraçado pudesse estar. Ela chegou, na juventude (e por juventude referimo-nos à recuada época em que tinha não mais que quinze anos), a dizimar (era mais voraz então) toda uma aldeia acometida pelo vírus Ébola. Em vez de se adoentar, a menina Maria de Fátima fortaleceu corpo e mente. Como se a doença da humanidade a fortalecesse, a enrijasse. Por isso preferia os enfermiços, os moribundos, os agonizantes. Era a morte - ou melhor, estar à beira dela - que a revigorava. Ora porque nunca foi a senhora descoberta? Uma velhota que cuida dos enfermos e acaba por matá-los já que os come? Seguramente, tamanha enormidade teria já sido posta a descoberto nos meios de comunicação. Nas Rádios, nos jornais, nas televisões. Nas internets, com as suas redes sociais. Na verdade, o que a velha dona Maria de Fátima ingeria, não se sabe bem através de que processo, era parte dos órgãos internos humanos. Gostava particularmente do fígado e dos rins. Muitas vezes deixava intacto o coração, a não ser que pertencesse a seres bastante jovens (crianças até aos três anos que ainda não haviam tido oportunidade de serem decepcionadas pela vida). O coração, se ingerido, dava-lhe pesadelos noite fora. Ela não gostava de pesadelos. Almejava uma certa quietude na existência. Queria viver bem até morrer. Até largar aquela estranha carcaça de monstro - um monstro simpático, que sorri uma carne gorda e bem cheirosa, sorri sem mostrar os caninos e os dentes brancos perfeitos. Como comia apenas alguns órgãos interiores e deixava a pele e o exterior da pessoa intactos - nunca foi apanhada. Não havia motivo para autópsias - a pessoa estava muito doente. Tão doente que era milagre ter sobrevivido tanto. A Dona Fatinha era simplesmente vista como uma das almas gentis que havia proporcionado paz e carinho aos últimos momentos de vida ao pobre doente. A Dona Fatinha era tão-só uma suave e gentil alma das quais se diz serem anjos terrenos. E, se pensarmos nisso, não o era de facto? Afinal ela literalmente Comia a doença. Como retirava os órgãos...? Em ocasiões o processo era misterioso. A velha Maria de Fátima cerrava por instantes os olhos, fazia uma pequena prece, e sentia, instantaneamente, o baço ou os intestinos da presa a acomodarem-se no interior do seu próprio corpo. Noutras ocasiões ela, com dedos de seda, trilhava um percurso no torso do doente (quase sempre a dormitar ou já em coma) e o baço ou os rins ou o fígado desprendiam-se do sítio íntimo e escondido da carne, e viajavam até à boca (como se regurgitados), saltando para a boca escancarada da senhora Maria de Fátima (tão boa pessoa, tão boa alma!) que os reconduzia agora ao âmago, ao fundo da sua matéria, da sua corporalidade esfomeada. Não eram, os órgãos, de imediato digeridos. Não. Acontecia bastante instalarem-se, como hóspedes bem recebidos, e desejados!, nas intimidades do novo corpo - havendo até uma serena e beatífica paz entre estes novos frequentadores e os antigos. Quando havia necessidade de regeneração um novo fígado podia, por exemplo, tomar o lugar do antigo se ele não tivesse mais “quilometragem” para dar (para colocar as coisas de forma mecânica). No Bairro onde vivia todos gostavam da velha senhora Fatinha. - Não se mete na vida de ninguém - diziam. - Não é cá uma coscuvilheira como muitas, muitas que por aí andam. - Ai não, não é, não senhora. - Tem sempre uma palavra amiga - ajuntavam. - Não diz mal de ninguém! Não diz uma pontinha de mal de ninguém. - Ai isso é verdade, é verdade, vizinha. Eu cá nunca vi ninguém tão bom. Após um silêncio alguém podia acrescentar: - É um bocado esquisito, não é? Quer dizer. Parece boa demais para ser verdade... - Ó mulher, cale-se lá, cale-se lá! Assim é que deviam ser todas! Não era cá esta vergonha. Assim é que devia ser sempre... E a mulher calava-se, mas ficava com aquela ponta de desconfiança que gritava do fundo do ser. Alguns, filhos do instinto e menos dados à razão, ainda escutavam o que a voz oculta rugia e sentiam arrepios cada vez que passavam pela bojuda senhora Maria de Fátima ou cada vez que roçavam, sem querer, no tecido do seu casaco - ou quando eram os recipientes do sorriso bondoso do rosto quase sem rugas, esticadinho pela gordura, da querida, querida senhora D. Fatinha. Porém chegou o dia em que as coisas mudaram. A mulher recém-divorciada, de trinta e cinco anos, chegou ao Bairro e reparou logo na estranheza da D. Fatinha. Será que ninguém senão ela reparava no esquisito daquilo tudo? Não percebiam a esquiva que era a idosa mulher? Não compreendiam que mais parecia um ser perdido no tempo, a vestir-se de forma incompreensível, com chapéus inexplicáveis e fatos saiacasaco que não formavam parte daquele contexto social? Seria ela, Joana Bonfim, a única a vêlo? Não era possível que se tivesse deslocado para um Bairro cheio de idiotas cegos. Ao contar, tintim por tintim, toda a série de incidentes passados com a D. Fatinha (Joana notava tudo) e relatando detalhes que aos vizinhos escapara, a sua melhor amiga avisou-a: -Tu não estás bem sem sarna para te coçares. Era uma piada entre ambas e riram-se ligeiramente. À despedida a amiga instou-a a que largasse isso, porque certamente iria encontrar algo que desejaria não ter encontrado, e que se inscrevesse nas danças de salão. - Ias gostar. Penso que acabarias por encontrar outra pessoa - finalizou antes de se separarem. Em casa Joana pegou nos binóculos e escondida por detrás das cortinas da cozinha, pôsse a observar a horta da senhora dona Maria de Fátima. Raramente a via por lá. Um pouco desgastada decidiu que assim não encontrava provas e que era melhor confrontar a velhota, por mais que a arrepiasse. Assim, uma manhã enevoada, Joana, nas suas botas de cano alto, usando as skinny jeans e de cabelo apanhado (com mais maquilhagem do que seria desejável), saiu de casa transportando uma cesta com bolos acabados de fazer. Quando a D. Fatinha abriu a porta viu à frente uma mulher pesada, alta e de ar arrogante. Espantou-se, mas percebeu que esta intuía o monstro que a vizinha era e decidira fazer algo. Deixou-a entrar. Joana Bonfim cavalgou para o interior da casa, com poucas e descuidadas maneiras. D. Fatinha decidiu levar o caso na desportiva. Já conhecera tantas almas iguais àquela. Na maioria dos casos o assunto só se resolveu ao alimentar-se. Olhou os bolos. Tinham, de facto, um ar delicioso - para quem gostasse de bolos. A seguir passou em revista, de modo subtil, o exemplar à sua frente. Não lhe pareceu que a mulher tivesse um sabor aprazível. Ela ressumava acidez e ressentimento pelos poros. Decerto não seria um sabor agradável. Fizeram conversa de circunstância. O tempo? Ah, sim, o tempo. A sua saúde? Vai indo, vai indo... Porém a velha dona Fatinha bem via que a visita não era boa-rês. Ainda não decidira (e era de decisões instantâneas) se havia de resolver de imediato o pequeno problema que a gorducha parecia representar ou se o deixaria arrastar-se (a longo-prazo constituía sempre má decisão). Com um suspiro de enfado, desafundou-se da poltrona confortável e desapareceu na cozinha onde iria preparar um chazinho quente para ambas. Joana Bonfim agradeceu, com a imensa hipocrisia de que era capaz, dissimulando cada vez pior a desconfiança, nascida de um azedume cuja origem era incógnita. Enquanto ouvia o tilintar de talheres, o acender do fogão, a água a ser vertida e toda uma variada mescla de sons de gavetas a serem abertas e fechadas, aproveitou para dar uma revista rapidíssima à sala. Viu o velho cão a um canto a dormitar. Muito gordo. Mal se mexia. O que é que aquilo come? Pão-de-ló o dia inteiro? Afastou-se, dando com o nariz um trejeito de nojo. Não apreciava animais, nem cães, nem gatos, nem pássaros. Nem uma minúscula tartaruga que poucos cuidados - incluindo os do afecto requeresse. Tinha um asco ancestral pela bicharada. O tio era igual e toda a família da mãe, nascida e criada em Lisboa, também pouco amor dedicou aos animais. A sala tinha um ar... ocupado. Vivido. Mas vivido apenas por uma pessoa. Não viu fotografias de filhos ou netos. Recordou que na vizinhança ouvira que a D. Fatinha não tivera descendência. Ou apenas um filho, há muito perdido numa antiga guerra colonial, que há décadas não dava notícia. Estava só e era só, mas sem incómodo. Joana Bonfim sobressaltou-se quando a idosa senhora, de permanente sorriso nos lábios, entrou com o tabuleiro de chá. Depositou-o na mesinha próxima da poltrona e sentaram-se ambas. A velha senhora notou um crescente desconforto na vizinha. Ah-ah, pensou ela, divertida, já começas a ter medo. O medo, descobriu, era bom conselheiro (embora na juventude a tivesse impedido de agarrar algumas boas e gordas presas, mas o que lá vai, lá vai. Aprendera desde aí a focar-se nas vítimas incapazes de se movimentarem). O medo, para os humanos, permitia que fugissem. Não suportavam estar muito tempo perto da senhora dona Maria de Fátima. Isso era bom porque impedia a catadupa de perguntas maçantes que, a serem respondidas mal, a poriam em perigo. Joana Bonfim está correcta: ela era mulher solitária, sim, mas a solidão era a sua armadura, refúgio, castelo e, mais do que tudo, paraíso. Um paraíso secreto, cuja exacta localização nunca fora conhecida nem por anjos nem por demónios. Joana bebeu um pouco de chá, tentando camuflar o temor de que tivesse sido envenenado e que a bruxa à sua frente (a designação de bruxa era a que fazia maior sentido e explicava os arrepios que a cortavam de cima a baixo, aqueles estremecimentos na espinha que mais semelhavam facas em brasa a escarafunchar a ossatura), e que a aberração diante de si não a fosse matar ou pior. Mas o que podia ser pior? Se ela imaginasse há muito teria voado dali. Do Bairro. Do próprio país. Mas não. Sofria da teimosia dos casmurros e necessitava de um drama na vida. Observou a janela e notou nuvens a acumularem-se no céu antes limpo. Um espigão de horror súbito na pele fê-la agarrar com força a pega da chávena de chá. Recuperou a calma e, devagar, pousou-a no tabuleiro. - A minha cabeça - disse, ciente de que a voz tremia sem motivo. - Tenho, tenho... Um compromisso. Algo importante. É urgente que regresse a casa. Muito obrigada pelo chá delicioso, finalizou Joana, erguendo-se e dirigindo-se a toda a brida para a porta. - De nada - respondeu Maria de Fátima. - Mas espere - pediu, já Joana tinha a garra na maçaneta. - Espere! - tornou a pedir. Ela voltou-se com lentidão e emitiu um “sim?” numa voz baixa e vacilante. - Uma opinião sua, é só o que peço. Joana Bonfim não compreendia. A vizinha pediu um instante e desapareceu noutra divisão que ela supôs ser ou uma saleta privada ou o quarto de dormir. A bruxa voltou com prontidão e carregava um bojudo caderno, colossal, antigo - que depositou com um baque na mesinha de café, mesmo ao lado do tabuleiro. Este levou-o para a cozinha. Ao voltar sentou-se na sua fiel poltrona e pediu que a vizinha ocupasse o assento diante de si. Joana aproximou-se devagar, ainda desconfiada, mas menos temerosa e, sobretudo, ávida para descobrir o que raio seria aquilo. D. Fatinha passava página após página. O livro estava cheio de velhas fotografias de pessoas que Joana deduziu serem antepassados seus. - Não sei o que hei-de fazer com isto. A quem dá-lo. Ou doá-lo. Não tenho filhos. Nem sobrinhos. A parca família que me sobrou há muito morreu. O que faço com estas fotografias? Joana Bonfim ficou fascinada. Eram retratos dos primórdios da arte fotográfica. Centenas e centenas de imagens de antigos cavalheiros de cartola, chapéus de todos os géneros, e de bengala; senhoras com grandes vestidos aos folhos, pesados, de chapéus com penas; meninas com vestidos que ela só vira em livros de história. As poses eram estudadas, nada semelhantes às da época moderna. Alguns elementos do povo, vestidos de maneira diferente, com indumentária que se identificava logo como roupa de trabalho, também pousavam (mas raramente), na rua, para o fotógrafo. Tinham a pele tisnada do trabalho e um ar entre o zangado, o triste e o resignado à vida que Deus lhes dera. Outras mostravam serviçais, mas de pele negra. Estava-se em África. Algumas imagens tinham leões e elefantes, mortos por caçadores europeus. Teve outro estremecimento e encarou, tentando maximizar a coragem e minimizar o medo, a idosa. - África? - Sim. Tínhamos firmes raízes em África. - Que país? - Todos. Angola, Moçambique, Guiné. A minha família trabalhou para a Administração Colonial em todas as Colónias do antigo Império Português. Joana Bonfim reflectiu por um longo momento. -Tem família lá, ainda? D. Fatinha fixou-a e retorquiu: - Talvez tenha. Um ou outro irmão perdido. Antigamente era assim, mas com sinceridade lhe respondo que desconheço. O meu pai amou muito a mãe, mas os homens são homens em qualquer era. Se concebeu com outras, infelizmente nunca mo confessou. Joana observou-a por breves instantes, alheada, a relembrar o seu próprio doloroso e quase esquecido passado. - Lembra-se do cheiro? - Joana mirava-a sem medo. - O cheiro? O odor da terra, do ar... ah sim, sim - abanava ligeiramente a cabeça, parecendo recordar. - Aquela terra tinha um odor diferente. A minha mãe nasceu lá. O pai dizia que, para onde quer que a levasse, o cheiro vinha agarrado à pele dela, não a queria largar. A mãe era sublime. Nunca vi mulher mais bela na minha vida. E eu nunca a conheci. Joana estreitou as sobrancelhas. D. Fatinha passou algumas páginas e deteve-se numa. Na imagem via-se uma jovem alta, recém-saída da adolescência, de longo cabelo solto e ondulado a chegar à cintura. Era morena. Joana Bonfim adivinhou raízes nativas. Como se respondendo à muda questão da outra, a velha senhora revelou: - A minha avó era uma bela mulata. O meu avô abandonou a esposa e casou-se com ela. Só tiveram esta filha. Enquanto admirava a jovem, em tudo distinta da filha diante de si, uma jovem de ar inocente, ingénuo e sobretudo com uma aura de bondade que não reconhecia na filha, enquanto contemplava a assombrosa e bela imagem, D. Fatinha fechou o livro de supetão. Joana saltou. E o medo voltou em força. - Então, diga-me o que pensa - ordenou numa voz nada gentil. - É, é... linda! - assumiu. - Mas... - e algo parecia funcionar na sua mente. O mecanismo, atordoado pela beleza, recuperava e movia-se em direcção a uma conclusão inevitável. - Era sim. Não herdei a sua beleza. Herdei outras coisas, mas não a formosura. - Mas essa imagem é antiga... foi feita... - lentamente o pensamento se dirigia ao forçoso desfecho. - O que eu quero saber é se devo doar o meu livro de família a um museu. O que acha? Qual é a sua opinião? - e aproximava-se, lenta, lenta como a aranha venenosa. Joana mirava-a, confusa. - A um... museu? Sim, com certeza, se não há outra solução... mas... - Óptimo! - exclamou, fazendo estremecer Joana Bonfim. - Tenho uma selecção de vários portugueses e até museus coloniais. Quer ajudar-me a reduzir o leque? Não faço de todo ideia a quem beneficiaria mais doar este para mim precioso documento familiar, sobretudo... - Que idade tem? Joana acordava do torpor. - A mulher na foto. A sua... mãe? Quando foi tirado o retrato? Há quantos anos? Joana recuava com cuidado, em direcção à porta. Maldizia os saltos altos. Tropeçou e magoou o tornozelo. Fez uma expressão de dor no rosto, que tentou esconder, mas era impossível. - A querida magoou-se! - exclamou a bruxa, a bruxa odienta. - Ó, querida, deixe, deixe ver! - Não, afaste-se de mim! - gritou, dobrada com dor e o braço esticado. - Bruxa. Bruxa, afasta-te! - berrava, cada vez mais alto e desenfreadamente. - Que palavras tão feias. E eu que a julguei mais bem-educada - retorquiu, sorrindo, a velha D. Fatinha, e a seguir afastou-se, entrando na cozinha. Reapareceu com um cacete enorme. Antes de ter chance de gritar e avisar a vizinhança, já D. Fatinha se aproximava e lhe desferia um único e seco golpe no crânio - deixando-a inconsciente. * Joana Bonfim acordou amarrada a uma cama desconhecida num quarto que assumiu ser o da bruxa asquerosa, mergulhada em quase total escuridão. Estava mole. Tentou mover-se. Era impossível, como se a esmagasse uma tonelada de areia movediça. Sentiu um vulto e um peso na cama. Era a estriga. Ouviu contar, com normalidade, o que lhe fizera: - Comi-lhe um dos rins. A senhora tem um sabor detestável. Sabe a azedume, inveja e ignorância. Antes de a matar quero que oiça uma bela história de amor: a que houve entre o meu pai e a minha mãe. Antes do seu óbito quero que saiba que morre porque um dia duas pessoas se amaram mais do que à morte. 2. A HISTÓRIA DE VITÓRIO E MAFAH Vitório Cabral e Pinho era um homem lindíssimo. Europeu genuíno, filho de europeus genuínos, descendentes das melhores e mais ilustres casas europeias, como incontáveis vezes o pai (patriarca da família) teimava em recordar. - Lembre-se que descende de reis! De imperadores e soberanos eminentes! Lembre-se disso e honre, honre o seu nome! Vitório, honre o seu nome! O pai berrava o mesmo inalterável discurso a todas as horas e em qualquer ocasião. Dizia-o como parte de elogio ou como parte de censura. - Honre o seu nome, honre o nome glorioso dos seus antepassados! O pai era homem de fulgor, como se o incontrolável fogo tivesse um dia decidido tornarse carne. O filho, em novo, ainda respondia, brincando, que os bastardos de quem na verdade descendiam os Cabral e Pinho seriam sempre honrados por ele. O patriarca, furibundo, agarrava na bengala e corria atrás do filho e pouquíssimas vezes lhe batia quando o apanhava. - Malandrim. A sorte é seres bonito como a mamã - e pregava-lhe um beijo molhado na face depois de lhe ter sovado as nádegas. Geralmente o incidente acabava em risota. Vitório cresceu e aprendeu a morder a língua, se bem que, cada vez que escutava o pai no mesmo discurso, sorria com ligeireza. O pai fixava-o com irritação, desejando que ele tornasse a brincar como outrora, mas era adulto e aos adultos está reservada a seriedade. Por isso afastava as memórias e instava o filho a que se cassasse, a que, pelo amor de Jesus Cristo, morto pelos nossos pecados, se cassasse! E lhe desse netos. Mantinha para si o resto do que se dizia: netos com quem pudesse brincar como antes brincara com Vitório, o filho favorito. Com a passagem do tempo - Vitório já ia nos vinte e cinco anos e permanecia solteiro! - e vendo a saúde deteriorar-se, mais o pai aborrecia o filho para que escolhesse uma das dezenas (dezenas!) de pretendentes - ricas e bonitas e sobretudo de bom nome, de famílias antigas - que praticamente se jogavam aos seus pés. Mas Vitório queria tudo menos casar. A vida era suave e bela, quieta e terna e ele sabia pelo exemplo de amigos, irmãos e primos - que um casamento e filhos acabariam de imediato com essa bela, gentil e adorada serenidade de vida. Teria preferido mil vezes viver num convento, ou ser monge, longe do mundo, longe dos deveres impostos, talvez mais perto de Deus, passando os dias naquele amena contemplação (a que os religiosos chamam rezar) - do que casar-se e perder tudo isso. Não há serenidade possível dentro do casamento, dizia-se. E era verdade. Os matrimónios, mais ou menos felizes, gritando ou calando a infelicidade, eram tudo menos templos onde fosse construída e sentida a tranquilidade e a paz. Não. Fica solteiro. O pai certo dia caiu e desmaiou. Levaram-no para a cama e chamou-se médicos e curandeiros. Em Angola acreditava-se no pragmatismo de cobrir todas as hipóteses. Só por precaução se mandou igualmente chamar o sacerdote. Quando Vitório chegou enfim à sua beira o pai, furioso, esbofeteou-o e mandou sair os presentes. - Diga-me de uma vez: tenho de me preocupar com aquilo que é?! Vitório não percebeu e, esfregando a face (sem ter ressentimento pelo pai), mirava-o com ar de confusão. Com aquilo que era...? Estaria a falar do sangue ilustre e nobre e glorioso dos reis seus antepassados? Ia para tentar responder algo nesta linha quando o pai o surpreendeu e lançou, enraivecido: - Um invertido! Alimentei no meu seio um Invertido, porventura?! Hã, hã?! Vitório desatou numa gargalhada que espantou quem se congregara do outro lado da porta fechada, para escutar o que era dito. - Eu, pai? Eu? Não - disse, ainda a rir. - Não. O homem, que via frágil, envergonhou-se, pediu desculpa quase inaudível e depois de um longo momento de silêncio embaraçado, exclamou, arreliado: - Então case-se! Case-se, porra! Os dias seguintes foram repetições quase idênticas à daquele dia. Mesmo quando o pai recuperou totalmente não havia um único dia de paz, um momento em que não abordasse Vitório com a mesma lengalenga: - Case-se! Case-se! Vitório, para evitar cenas, passava a maior parte do tempo na rua ou na casa dos amigos solteiros. Tinha preferência por aqueles sem irmãs em idade de casar. - Eu tenho lábia - proferia Eduardo, um dos mais antigos companheiros, - mas tu és formoso. É para ti que as mulheres olham. Ele não respondeu. Eduardo dizia-o só para o aborrecer. Nunca tivera inveja da beleza de Vitório. Seria apenas outra ferramenta que usar, mas jamais essencial. A lábia, a conversa, a facilidade em fazer ver aos outros o seu ponto de vista e a reconduzi-los a bom porto (isto é: ao seu) era, para Eduardo, mais fundamental que possuir beleza. As mulheres são belas e isso de pouco lhes serve. - O senhor teu pai? - perguntou desde o sofá donde se afundara com uma cigarrilha entre os dedos. - O mesmo discurso de sempre. - Casa-te. Faz-lhe a vontade. Continuas a viver a mesma vida. - Afirma-lo de cátedra? - Que graça! Não, não afirmo. Mas, fica atento: há realmente alguma mudança de vida? Para os homens, claro. Refiro-me aos homens. Nós continuamos a fazer o que queremos. Não há alteração nenhuma. Não sei do que tens medo. Faz a vontade ao senhor teu pai. Tens afecto por ele, que eu vejo. É muito raro. Vitório não respondeu. Estava desatento, de pé, olhando o mar através da janela. - Ou não te cases. Faz como entenderes - finalizou. - Tenho medo - confessou Vitório. - Do quê? - De perder a paz. Eduardo gargalhou alto, mas depois calou-se por ver que feria o amigo. - Pela primeira vez tenho inveja de ti - disse, levantando-se e dando-lhe um abraço. Porque tu tens uma coisa que eu nunca terei. Despediram-se. Eduardo queria passear, ir ao clube e mais tarde a locais de má fama. Vitório muito raramente o acompanhava. Não era amigo de borga e desvario, era amizade dialogante. Era o amigo com que discutia livros, novas da Europa, e as grandes ideias filosóficas. Para ir às putas ia com outras amizades. Já fora, no passado, com Vitório, mas este não gostava tanto dos devaneios da carne. Preferia os da mente e espírito. Os da carne cansavam-lhe a alma, dizia. Porque ele expunha sempre - ou quase sempre, pelo menos aos amigos - o que pensava. Se se desse o caso de preferir partilhar o leito dos homens em vez do das senhoras - revelá-lo-ia aos amigos. Talvez não à família, mas aos amigos sim. Mas não se tratava disso. Outros anseios o puxavam. Não sabia como nomeá-los, porém estava seguro que, mal se cassasse, todas as portas da alma se cerrariam para ele e Vitório seria forçado a esperar pela morte para estar, de novo, perto daquela serenidade que amava. Na verdade uma das coisas que mais temia admitir para si próprio era que nunca estivera apaixonado. Se tivesse uma irmã, ao menos uma irmã, com quem discutir estes assuntos. Porém o medo tolhia-o. Tantas perguntas que o consomem. O que era o amor? O que se sentia? O que era suposto sentir-se? Como sabíamos que era amor aquela emoção (emoção?) que nos preenchia o corpo? E o que era? Uma perturbação, um alvoroço, uma desordem? Um tio, já velho, clamava por entre gargalhadas e mofa: - Às desordens do coração prefiro mil vezes as intestinais! E cascalhava, aparentando demência. Alguém sem juízo. Vitório, catraio, perguntava-se se perdera o tino porque o coração se desnorteara ou se, antes, porque nunca se havia desnorteado. O que era pior, perder o coração ou nunca havê-lo perdido? Eram questões demasiado graves para partilhá-las com quem quer que fosse. Com família não havia casos de “amor”. Havia dever e matrimónio; prazer e amantes. E os amigos tratavam estes assuntos de modo filosófico-satírico. Não obstante, o seu peito só cobiçava verdades - não gracejos ou troça. Nunca se apaixonara. Talvez Deus, ao fazê-lo, se tivesse esquecido de fabricar o coração. Ou talvez de algum elemento químico essencial que iniciaria o processo da paixão. Porque nem paixões Vitório sentira! Casar-se. Como? Se nem esperança tinha de que, com o tempo, conseguisse amar a esposa? Não era apenas a serenidade que temia perder. Na esplanada Vitório observa o oceano com deleite. Aqui está de novo, a tranquila serenidade que aquieta a alma. Tendo isto para o resto da vida - terá uma existência feliz. As senhoras, novas e velhas, vão passando por ele, algumas cumprimentando-o com garridice, outras não se atrevendo aproximar-se de homem tão belo e plácido. As negras e mulatas tentam prender-lhe a atenção com risos demasiado fortes ou passando muito perto da sua mesa, mas era como se Vitório, de tão bonito, fosse imune à beleza feminina. - Ai o que eu faria com aquele homem... - comentou com olhos de gula uma mulata para a companheira. Observavam-no do outro lado da praça. - Como se tu tivesses as capacidades...! - replicou a outra. - Como que não tenho? Tenho sim! Ai se ele deixasse...! - Comigo é que se ia dar bem. Eu sei servir o homem. - Hum, hum. Não foi o que Baru disse. - Pau pequeno não merece meu trabalho - e desatam a rir-se. Senhoras da alta sociedade miram com raiva quieta as duas serigaitas e assinalam, cheias de cuidado, o perigo que era um homem daqueles “andar à solta”. - Ainda arranjam maneira de o perderem, desgraçado, se não põem mão nele. Vinte e cinco anos e solteiro! Aos trinta não há mulher, por mais dedicada, que consiga mudar-lhe maus hábitos. - Pelo que oiço é virtuoso. - Pouco o vejo na missa. - Ah, mas vai. Todos os Domingos. Calam-se. Examinam o belo homem e recordam a juventude. Subtilmente um suspiro é exalado, transportando nele decepções e tristezas de espírito. Que homem tão bonito! Ah, tão bonito... Vitório é alto, tem mais de metro e oitenta. Pálido como as donzelas. A pele não tem mácula. É lisa e firme, como a dos jovens. Os lábios são especialmente bonitos, nem grossos nem demasiado finos. Os seus dentes brancos contrastam com uns olhos escuros inocentes. Tem uma certa delicadeza feminina nos traços, mas é homem. Disso não há dúvida. O cabelo é castanho-escuro, liso, e usa-o um pouco comprido. Aquele dia de Verão era o dia que ia transformar o resto da sua - até então pacífica existência. Estava calor e abafado, porém, uma estranha brisa introduziu-se no campo olfactivo de Vitório. A aragem brincou na sua pele, conduzindo os olhos para a imagem de uma linda mulher morena que passava ao longe. Foi paixão instantânea. Levantou-se. Tropeçou. Caiu de chofre no solo e quando se erguia, atrapalhado, já a perdera de vista. Aos trambolhões tenta segui-la. Perde-se em ruas que já conhecia; embrenha-se em avenidas onde antes não ignorava o mínimo meandro, mas que agora lhe pareciam ruas encantadas e jamais vistas. Era como se tivesse tombado no interior de um imaginário fantástico e ele procurasse a fada mais bela do reino. Pensa que a distingue ao longe. Corre como um demente para ela, corre como se fosse o mais destemido cavaleiro desse ignoto reino e. Só vê uma velha negra desdentada, a rir-lhe com ternura ao seu ar de confusão. Um sentimento penetrante de dor e desespero envolveu a alma de Vitório quando ele deu por si a pensar: “E se nunca mais voltar a vê-la?” Tentou afastar a ideia, mas era tão negra e má que o acompanhou dias a fio até que, enfim, a viu de novo. Ela comprava um botão de rosa singular, branco, com que adornou a farta e ondulada cabeleira negra. Os olhos, no instante em que Vitório os viu, eram a pureza e a inocência personificadas. Tinham um brilho puro. Como o brilho do mármore trabalhado, como o brilho do orvalho matinal. Eram cinzentos. O corpo de Maria Mafalda era curvilíneo e voluptuoso, não obstante os dezanove anos. A pele era morena e traía raízes africanas. A mãe era mulata e o pai branco, um industrial rico vindo do Porto décadas atrás, descobriu Vitório pouco depois. Infelizmente a sua família, por casmurrices do pai, não tinha laços de familiaridade com a família de Maria Mafalda. Mas isso iria mudar, ah sim. Se tinha de casar-se, Vitório decidira que só podia ser com aquela mulher. Ele parara-a no meio da rua e ela fitava-o, perplexa e sem malícia. Ele perdera a capacidade da fala. - Eu, eu... quero convidá-la, convidá-la para... - disse, de modo hesitante e atabalhoado. O pálido da face enrubescera. Era uma cereja palpitante e o peito, subindo e descendo, em pânico, traía o ar insuficiente que chegava aos pulmões. Maria Mafalda sorriu, baixou os olhos e continuou o seu caminho. - Espere...! - implorou. - Ao menos diga-me o seu nome. - Mafah - respondeu e desprendeu-se devagarinho da mão que lhe tolhia o passo. Ele sente-se paralisado com a força daquele nome trazido a si numa voz angélica, suave e divina. Por momentos deixa de ver o mundo ao redor e perde-a de vista. Por mais que a procure não descobre o trilho que levou. Senta-se num banco público sentindo ser, em simultâneo, o mais ditoso e desgraçado dos homens. 3. O amigo Eduardo avisou. - Angola é uma vila. Calculam-nos a vida, a razão e as afeições antes de as possuirmos. Antes mesmo de estarem em nós para que as conheçamos. Já se sabe por toda a cidade que te perdeste de amores por quem não devias. Vitório franziu a testa e encarou o amigo, com ar zangado. - Já o mundo determinou quem posso ou não amar? - Ah, amar. Usas a palavra amar! Eduardo abanou a cabeça com pena do amigo. Era um ingénuo. A primeira vez é sempre a pior, bate com a força de mil universos que nascem. De mil universos que acabam. - Foi o que eu senti. É o que eu... - e desde a janela onde se perfila, de cabeça baixa e cenho cerrado, leva o punho ao peito, reiterando - é o que eu sinto. Não pode haver outra palavra para isto. Vitório volta a face desesperada para Eduardo. - Não pode haver. O amigo suspira e revela a história que, era aparente, ele desconhecia. - Maria Mafalda. - Mafah. - Ou Mafah. Mafah é filha única do Braga. Quando deixou a esposa legítima um a um, todos os seus outros filhos (e eram sete) foram morrendo em circunstâncias, como direi, bizarras. - Assassinados? - Não. Mais... amaldiçoados. - A que te referes? E que diabo tem a ver com a Mafah? Parecia zangar-se. Eduardo continuou, tentando ser cuidadoso nas palavras escolhidas. -Talvez tudo, talvez nada. Há rumores feios, histórias aterradoras. Vitório fez um gesto de descaso com a longa mão branca. - Histórias de velhas sem nada que fazer. De mulheres desprezadas ou que temem a rejeição. Espanta-me que dês ouvidos a fábulas. - Vitório, isto não é uma brincadeira. É algo sério. Escuta-me e depois ajuíza por ti. Eu sou teu amigo, é meu dever avisar-te. E acredita que ninguém mais quer ter esta palestra contigo. Estava sério, usando um tom que Vitório lhe desconhecia. Tentou aligeirar o ar e com um breve sorriso aventou: - Perdeste a aposta? O outro suspirou e admitiu que sim. - Escolheram gamão. Perdi. - Grandes amizades as que me servem! - e riu-se. - Mais do que pensas - retorquiu Eduardo, grave. Vitório assustava-se com o peso da conversa. Após um instante brevíssimo de pausa, Eduardo reuniu forças para contar o que sabia. - A esposa legítima, esposa de trinta anos, não era mulher de silente resignação. Era uma mulherzinha pequenina de zangas épicas. A fúria tornava-a mais feia do que era. Jurou vingança e bem a teve, mas contra ela e a própria semente. Vitório decidiu dar-lhe atenção, apesar de adivinhar o rumo da história. »«Vejo o teu discreto sorriso, Vitório, e olha que também eu pensava assim. Mas depois... depois vi com estes que a terra há-de comer coisas que preferia nunca ter visto. Sou adepto do cepticismo total. Nem que Cristo comesse à minha frente a refeição destinada a dez mil soldados eu acreditaria no seu ressuscitar. Espanta-me que não saibas a história que é de todos conhecida. E falada. A mulher do Braga não era mulher de desaforos. E nem para suportar vergonhas tais como a de ser trocada por uma mulata. De início amordaçou a raiva e esperou, silente, que o marido voltasse a casa, já seco e apagado o fogo que o levara. Mas isso não aconteceu e quando, cinco meses depois, soube que a meretriz estava grávida deu enfim largas ao fel e ácido que lhe quebrantava a alma. Por ter estado tanto tempo amargurada e a açaimar a bílis, quando aquele amargor de espírito veio ao de cima - jorrou como a lava de um vulcão enfurecido. Oh, Vitório, não me olhes assim! Estou a ser melodramático? Acredita que não. Aviso-te por seres meu amigo e por recear pela tua segurança. Vitório: eu temo pela tua vida. Acredita que o Braga perdeu muito ao preferir a “meretriz” como a esposa chamava à nova mulher. Perdeu os sete filhos. Não foram tristes e mal-afortunados acidentes como por aí se clama. Toda a vizinhança, toda a África!, sabe bem o que se passou. Mas têm medo de o dizer em voz alta. Temem atrair para si a má-sorte. E a maldição. Qual maldição? É melhor sentares-te. Acomoda-te, que eu vou levar o meu tempo. Há alguns anos eu cortejava certa dama casada porque lhe cobiçava a filha de dezassete anos. Não me julgues. Tardei com a mãe, mas a filha foi muito mais, como direi?, sensível aos meus rogos apaixonados. Entretanto eu frequentava-lhes o lar e soube da verdadeira história - a completa porque a família era íntima dos Braga. Todos os Sábados, recordam, viam a esposa do Braga e quatro ou cinco filhos, na Igreja, vestidos de negro, como abutres, já usando luto por um pai e esposo ainda vivo. Contaram-me, na intimidade da residência das beldades que eu cortejava, que a esposa, a Dona Belmira, tentara causídicos e padres - sem sucesso. Eu escutava a história, passada ia para quinze anos, fascinado. O esposo da Dona Belmira não retornava ao lar. Até que, perdidas as esperanças nas vias “normais”, ela se decidiu pelo auxílio de um feiticeiro. Pagou bem caro por isso. E não me refiro a prata. O preço foram os sete filhos. O feiticeiro instruiu-a, mas, e a partir daqui a história torna-se confusa, mas em casa, que era onde devia terminar o ritual, a esposa legítima do Braga não proferiu as palavras sagradas da maneira como o feiticeiro a ensinou. Ao invés, recordando a raiva, deixando que o fel da amargura, mágoa e decepção assomassem à pele, a sua língua proferiu, enquanto o seu sangue se misturava no sangue da cobra venenosa: “- Que a semente do Braga seja amaldiçoada agora e para todo o sempre!” E só quando o primeiro filho expirou, esmagado por um cavalo, é que percebeu exactamente o que tinha dito. A maldição não era apenas do Braga - agora era também a sua. Na altura já eram avós de cinco netos. Morreram todos, afogados, no barco que os transportava de volta à metrópole. Um a um, os filhos do Braga morreram. O Luís atacado por abelhas; o Joaquim engasgado num naco de carne; o António esfaqueado por um negro enciumado; o Francisco suicidou-se, jogando-se para a linha do comboio. Outros desapareceram e nunca mais foram vistos. Quando se tentou salvar os netos - a tempestade afundou o navio. Espanta-me que nunca tenhas ouvido contar a história. Até hoje a única filha do Braga, a Mafah, não sofreu com a maldição. Não se sabe porquê. Há conjecturas... talvez ele tenha pago a preço de ouro o retirar da praga. Ninguém sabe, na realidade. Mas Mafah, apesar de bela, não tem pretendentes. Têm medo. Os europeus não querem casar com alguém que tem sangue negro e os negros ou mulatos ricos tremem só de pensar na praga que Dona Belmira rogou. E o Braga, bom, cá para nós - é homem cheio de dívidas. Com os anos foi perdendo a riqueza. Vive de aparências. Tinha esperança, por muito tempo, que a beleza da filha lhe recheasse os bolsos do ouro perdido. Mas ninguém se aproxima dela. Ninguém. E o mesmo te aconselho a ti, Vitório. Acabarás por morrer. O teu coração escolheu a única mulher em toda a África que não devia ter escolhido.» 4. Vitório encarou o amigo quando este acabou de contar a história. Tinha um ar amargurado. E triste. Antes de sair estendeu a mão e despediu-se sem uma palavra. Eduardo viu-o caminhar com pressa dirigindo-se a casa. Teve pena dele. Sacudiu levemente o crânio e olhou o infinito, percebendo pela primeira vez que perdera Vitório. Que o perdera para sempre. Em casa o pai recebeu-o com bengaladas. Bateu-lhe nas pernas, nas costas e no rosto, causando-lhe um golpe profundo na face. Irado, gritou: - Com putas não se casa, montamo-las! O filho mirava-o, perplexo. - Montamo-las! - repetiu e a seguir caiu no sofá onde desatou a chorar. Vitório não se atreveu a aproximar-se. Lentamente saiu da sala e pediu a uma das serviçais que lhe cuidasse do rosto. - Menino, isto não vai sair - dizia, lacrimejando também. - Não vai sair... não vai... Ela abraçou-o fortemente antes de Vitório voltar a sair de casa, decidido quanto ao rumo da acção a tomar. * Sabe onde Mafah mora e dirige-se lá, a passo estugado. O coração bate ao pensar que a pode ver, à janela, no jardim ou até a passear cá fora, na rua. Quem sabe mesmo sozinha. O peito rebenta de emoção e medo. É dia ainda quando chega. O que fazer? Resolve que irá esperar pela escuridão. Algo lhe diz que nem mesmo o pai de Mafah aprovaria. Esconde-se o melhor possível e, quando é alta a noite, vê uma criada a quem suborna para poder ver a amada. A criada condu-lo sub-repticiamente até a velhos aposentos, há muito desocupados, caindo de podre. Vitório, com o pensamento no amor, mal tem tempo de reparar que a casa inteira só se sustém pela boa graça do divino. Os poucos criados que ainda têm ficam por dever e amor ou a Mafah ou à sua mãe. Não há grande amor pelo Braga. Apenas um dos criados ficara por lealdade a ele. Quando os olhos dos jovens se encontram é como se há muito se conhecessem. - Mafah...! - diz Vitório de voz estrangulada e olhos brilhantes. Pega na sua mão. Ela, timidamente, deixa-se envolver num calor transcendente que o corpo do jovem rapaz parece largar, algo transbordante, como uma calidez suave e terna de estima. - Amo-a! - confessa ele. - Amo-a desde que a vi! E ajoelha-se, rodeando as coxas com os seus braços a tremer. Tem coragem de olhar para cima e descobre uma face angélica. Ela passa-lhe a mão com suavidade no cabelo liso e comprido. Nada diz e a Vitório a esperança de também ela sentir o mesmo é suficiente. Toda a sua carne estremece enquanto a abraça. A babá subornada está de atalaia e, de súbito, pega no braço do rapaz, arrasta-o para o canto e murmura, cheia de medo: - Tem de a levar, menino, tem de a levar daqui! - a espaços encara, plena de pânico, a porta (já meio apodrecida) do quarto e torna a fitá-lo, rogando o mesmo: - Tem de a levar daqui! Não tem muito tempo, não, não tem! A babá vira-se para Mafah e informa-a, numa voz de comando, que terá de partir com o desconhecido. - Deixar os meus pais, babá...! Nunca. - A menina vai fazer o que eu digo! A morte vem, eu farejo-a. O tempo acabou. Insistia, a velha criada, em que o tempo escasseava. Combinou que na noite seguinte Vitório viria, preparado, e que levaria Mafah embora daquela casa, embora para sempre. Mafah, apesar dos choros, era, percebia-se, uma simples e gentil alma, que sempre fizera o que os mais velhos lhe ordenaram. Só muito mais tarde soube que a babá era uma tia sua. - Não chora, menina. Faz o que eu digo. Faz o que eu mando! Eu distraio a morte, como antes. A morte irá por outro lado, atrás de outro alguém. A morte não te vai pegar, não vai pegar a minha menina, a minha menina...! Então, virando-se para Vitório, deu-lhe instruções precisas sobre o que devia fazer e o que devia trazer na noite seguinte. Exigiu também que os dois se casassem na primeira oportunidade. Na primeira igreja! Primeiro sair do país e depois, na primeira igreja, ouviu, ouviu? Vitório assentiu a tudo e antes de partir a babá depositou a mão da sobrinha na sua palma branca, de dedos longos, pálidos e a tremer. - São um do outro - disse, a sorrir e a chorar. Vitório partiu a coberto da noite. Na madrugada do dia seguinte já tinha com ele o dinheiro e os documentos necessários. Ele não era pobre, herdara o património da avó materna e nesse aspecto jamais teria falta. O seu coração batia, desenfreado, no peito. Esperou e esperou. Afastada estava a caleche que alugara, embora não fizesse tenções de a devolver. Na manhã seguinte chegaria uma carta a Eduardo com instruções para que reparasse financeiramente o homem. Mas por agora tinha apenas que esperar. Mas nada. Ninguém vinha, como fora combinado. Resolveu aventurar-se a cavalo até junto da casa onde, após poucos minutos, viu que o Braga carregava a filha adormecida para dentro de uma carruagem. À porta descobriu, na penumbra, a mãe, de rojos no chão, a chorar, e aos gritos viu a babá, que seguia a carruagem a pé, implorando que não a levasse, que não a levasse. - Menino Vitório, menino Vitório! - gritou a babá, esticando o braço na direcção que levara a tipóia. Ele pegou no cavalo que retirara da caleche (mas que lhe pertencia) e seguiu o Braga. Persegue-os, desenfreado, durante mais de uma hora até que páram perto do rio onde vê uma enorme fogueira e várias pessoas. Vitório abandona o cavalo perto de uma árvore e segue-os, dissimulando-se o melhor que consegue por entre a vegetação. O seu coração aperta-se ao ver Mafah desmaiada, sendo transportada pelo pai e entregue a um homem alto, negro e idoso. Reconhece os talismãs e os amuletos. Trata-se de um feiticeiro. Velho o suficiente para ter sido aquele que ajudara Belmira a matar os próprios filhos. Seja como for, Vitório nunca vai saber se é ou não o mesmo. Nem isso é importante. O que importa é tirar Mafah dali, retirá-la de imediato, e fugir com ela! Fugir e nunca mais voltar! A cada passo lento e silencioso, aproxima-se mais e mais. O suficiente para ver o branco dos olhos do Braga e do bruxo. Como que auxiliado pela noite, ele corre silencioso para o meio do ritual e salta para dentro da fogueira. Sem se queimar ou chamuscar, arrebata Mafah do solo e acelera em direcção às árvores protectoras. Aí assobia e o cavalo vem a galope ter com o dono. Era o seu cavalo favorito e sempre lhe obedecera. Cavalgou, com o corpo inerte da amada dobrado à sua frente, noite adentro, e nem pensou regressar à caleche. Decidiu ir de imediato para a velha cabana abandonada, onde em ocasiões Eduardo tinha encontros com mulheres casadas. Avança escuridão adentro e duas horas depois finalmente avista o casebre. Está isolado. É bom. Tem a certeza que estão seguros ali, mas não podem demorar-se muito. Não. No máximo um dia e depois atravessar a fronteira e perderem-se nas vastidões da África negra. E nunca mais regressar. Vitório prende o cavalo, enlaça suavemente a cintura fina de Mafah ainda inanimada, transportando-a para o interior da choupana que mal se sustém de pé. Lá dentro só há a minúscula cama de palha. Deposita nela a jovem como se fosse uma singular e frágil rosa, acabada de colher. E depois queda-se, em silêncio, a contemplá-la, a admirar aquele puro, belo e voluptuoso corpo. * Mafah acordou de madrugada. As palavras escassas por entre os reprimidos soluços e as lágrimas que fluíam livremente deram a Vitório a verdadeira imagem do que se passara. O Braga estava falido e cheio de dívidas. A filha queria ajudá-lo. Seria apenas um sacrifício simbólico. - Não - disse Vitório de olhos marejados. - Não seria simbólico. Mafah, no fundo de si, sabia que era verdade. Mas a lealdade e o amor aos pais eram avassaladores. Era imperativo dar algo de si para os salvar. Vitório ajoelhara-se e abraçava-a com pena. Deu-lhe um tímido beijo na face. E depois outro. E outro ainda. Cada toque nos lábios, cada pressão na face, cada suspiro, cada suave embate - eram como encantamentos. A magia do amor e da paixão envolvia-os, deixando-os cegos para tudo o resto: para o sol nascente, para as aves, para a fome e a sede. Deitaram-se na encardida cama de palha e amaram-se. Uma e outra vez. Até que adormeceram nos braços um do outro, exaustos. Quando Vitório despertou enfim estava esfomeado. Saiu da cabana silenciosamente para não acordar Mafah. Ia em busca de comida. E o cavalo também dava ares de faminto, calcava e enterrava as patas na terra, mirando o dono. Esteve fora algumas horas e quando voltou encontrou-a desvairada, meio louca, coberta de sangue - e a sua babá meio morta e estendida no chão. - Santo Deus! - Não casa-casaram... - murmurou de olhos esbugalhados. - Deviam de ter-ter cas-casado primeiro...! Antes... Mas mais não disse porque o seu pescoço aberto descaiu e ela nunca mais acordou. - Mafah, Mafah! Que aconteceu! Mafah, quem veio até aqui! Diz-me quem foi! Mas ela estava desnorteada e, sem forças, desmaiou, tombando na cama coberta de sangue. - Mafah! Mafah! Acorda, acorda! * Ao fim de horas à procura, deu-se por vencido. Não encontrou nem homem nem mulher nem animal - que explicasse o cruel ataque. De regressou à cabana era indiscutível que a babá estava morta. Não teve opção senão enterrá-la. Mafah continuava inerte - mas viva, graças a Deus -, adormecida no leito. Vitório prepara a pouca comida que conseguiu recolher. Não era muito e tinham água e algum vinho, provavelmente trazido por Eduardo. Ele espera, ansioso, que a sua bela Maria Mafalda desperte. Mas as horas passam e ela permanece desacordada. Tem o vestido branco que tornara a vestir sujo de terra e os longos cabelos negros encaracolados estão imundos. Mesmo assim ele só vê a sua beleza. Quer tê-la novamente e não consegue esperar mais. Dirige-se ao leito, toca no seu ombro e afasta o cabelo do rosto moreno. O que vê fá-lo saltar, de medo, para trás. Mafah já não exibe o rosto da angelical pureza, da imaculada inocência. A sua virtude natural já não transpira na pele. Seja o que for, aquilo não pode ser Mafah! Mas Vitório sente o aguilhão da culpa. Está a comportar-se indecentemente. Como o Eduardo se comporta, depois de obter a doçura e o prazer das mulheres que corteja. É a fome e a fraqueza que o confundem. A noite cai e ele mal vê, não há luz, nem há candeeiro ou vela que possa usar. Além disso, bebeu demasiado vinho. Não está a ver com correcção. Também Maria Mafalda deve estar exausta. Sem comer, cansada, desprovida dos confortos de jovem mulher que sempre conheceu. Claro, tudo isso seria visível no seu belo rosto. Na sua face de anjo. Na sua figura divina. Ele torna a aproximar-se, a cuidado, e devagar. Afasta de novo os cabelos do semblante da jovem. E vê o que vira momentos antes. O rosto de Mafah transfigurara-se. Não parecia o de uma jovem e saudável mulher. Tinha os lábios alargados e deformados; vários tons de cinzento cobriam a pele da face; as maçãs do rosto estavam por demais salientes e o nariz alargara de tal maneira que parecia ter o triplo do tamanho. Notou as asas do mesmo a mexerem-se. Depois reparou que os lábios de Mafah se abriam, pondo a descoberto uma dentadura assustadora. Os caninos eram enormes e longos e os restantes dentes gigantescos. Vitório, por instinto, saltou para trás e tropeçou no pequeno banquinho que só notara naquele instante. Mafah abrira os olhos e observava-o como a hiena observa a próxima refeição. De supetão atira-se a ele, com as mãos de unhas afiadas directas ao tenro pescoço. Caem os dois por terra. Vitório está em maus lençóis: tem grande dificuldade em manter afastados os dentes daquela horrível criatura da sua gorda jugular. Num último esforço, desprendeu uma das mãos da face de Mafah, estendeu-a para o lado, agarrou no pequeno banco e desferiu com ele um golpe que a fez estremecer e desorientar por breves instantes. O suficiente para se erguer, enfiar os trémulos dedos no colete e retirar a arma que não chegara a usar com Braga. Arma que Eduardo lhe fizera chegar em segredo, através de um criado. Abençoado amigo! E se ele suspeitasse de como estaria a utilizá-la agora! Ao primeiro disparo ela caiu. Não acreditava que acabara de matar a mulher amada! A única mulher que tinha amado na vida. Vitório desfaz-se em lágrimas. De súbito ouve um gemido abafado. - Mafah? Mafah! Mafah...! Não estava morta e a face regressara ao normal. Ele estreitou-a contra o peito. - Vitório... - murmurou. Transportou-a para a cama de palha e trouxe-lhe água. Ela bebeu um pouco. Procurou a ferida, todavia foi incapaz de a encontrar. - Estás bem, estás bem? - Fraca... dói... - Toma, toma - disse, tentando dar-lhe uma raiz que cozinhara. Ela cuspiu o alimento. Não, espera. Toma. Tenho... - e deu-lhe um pedaço minúsculo de cauda de lagarto. Ela comeu um pouco e pareceu ganhar energia. Num ápice, sem ele se dar conta, ela trincou-lhe o indicador, arrancando-o pela base e mastigando-o inteiro. Como uma hiena esfomeada. O olhar luzia estranhamente. * Quando tornou a desmaiar ele prendeu-lhe o corpo, manietando-lhe os movimentos com cordas. Estava determinado a salvá-la. - Mafah! Por favor, calma, acal-acalma-te! Pára, não te mexas! Mafah! Parecia uma batalha perdida. A cada dia a sua violência piorava. E não necessitava nem de comida nem de água. “O que fazer! O que fazer!”, perguntava-se, desorientado e perdido. Salvá-la. Apenas salvá-la. Conseguiu submetê-la durante semanas até que um dia notou algo. A barriga a crescer. Mafah estava grávida! 5. - E foi assim que eu, Maria de Fátima, nasci. Não a vou incomodar, querida vizinha, com todos os detalhes do meu nascimento e dos soberbos esforços do meu pai para me manter a mim e à minha mãe vivas. Comigo teve êxito; com a mãe não. Ela faleceu pouco após o meu nascimento. E logo a seguir partimos para o Congo. A velha senhora Maria de Fátima omitiu a parte em que ela, feto ainda, devorou a mãe por dentro, abocanhando e consumindo as entranhas até emergir do umbigo com cinco meses de gestação. O pai observou horrorizado, mas, ao ouvir o primeiro choro desesperado da filha não teve coração para a matar. - Se não fosse o grande amor dos meus pais - disse, de olhinhos maus a luzirem enquanto se aproximava da face da vizinha, - eu nunca teria existido. Só tenho gratidão, e afecto, por ambos. Quem me dera que ainda fossem vivos. Mesmo a mãe, tão bela, a quem nunca conheci. Silenciou-se. E mirou a presa. - Não te vais safar com isto, velha bruxa - sussurrou Joana a custo. - Não? Querida, tenho mais experiência que a menina. Acredite que tenho os meus truques. - Viram-me entrar. Não, não... me viram sair. - Vão acreditar no que eu lhes disser... - afirmou, malévola, aproximando-se do seu rosto. E, delicadamente, como se petiscasse, arrancou parte da sua bochecha. Quase de imediato a cuspiu. - Que azeda, Jesus...! - disse em tom ríspido. - Basta disto. Vamos à refeição principal. Ante o olhar apavorado de Joana Bonfim, a velha bruxa encostou bem aberta a boca aos lábios dela e tentou forçar a língua por entre eles. Ao fim de dois embates, Joana sentiu uma viscosa e longa língua, demasiado longa para ser humana, a penetrar-lhe na boca e a descer a garganta. Com terror petrificado sentiu que a língua literalmente desprendia, colhendo como fruta madura, os seus órgãos internos e regressava ao topo, levando consigo algo. Algo enrolado na ponta. Observou aterrorizada ser uma massa viscosa e vermelha - massa que a velha prontamente engoliu. E a seguir, outros dois aglomerados, órgãos que não reconheceu, saíram da sua boca escancarada e saltaram para a boca aberta da Dona Maria de Fátima. O terror era demasiado, ofuscava-lhe a alma, escurecia-lhe o espírito. E anestesiava qualquer dor que pudesse sentir. Joana Bonfim estava demasiado apavorada para sentir fosse o que fosse. Pediu, silente, a Deus, para a levar de imediato - mas permanecia viva. A Dona Fatinha mirou-a e franziu a testa. Que estranho. Por norma as suas vítimas têm o saudável hábito de perder os sentidos por volta desta altura. Mas esta, esta formidável besta, esta metediça continuava acordada, a fitá-la de olhos esbugalhados, como um animal idiota. Esperou breves instantes - e nada. A mulher insistia em manter-se desperta. Ao menos calara-se! - Oh, minha querida, não chore, não vale a pena...! Prometo que em pouco tempo a morte virá. Mas não a combata, não se esforce para a afastar. É muito pior - disse, num tom com uma ligeira inflexão de sarcasmo e cinismo, ante a visão das lágrimas de absoluto horror e desesperança que fluíam na face da vizinha. No entanto algo não parece estar bem. Algo insuspeitado. Algo que nunca acontecera antes. A Dona Maria de Fátima arrota. Alça o sobrolho ao acontecimento. Decide erguer-se da cama e caminhar um pouco. É da idade, já sucedera antes. Quem sabe esteja já na sua verdadeira velhice. Caminha dois a três passos e sente-se melhor. Regressa ao leito onde a sua presa persiste em manter-se acordada. Joana Bonfim observa, de olhos esbugalhados, mas sem lágrimas, a mulher que lhe acabara de comer grande parte dos órgãos internos. - Ainda vive, minha amiga?! Nunca se me deparou caso tão difícil como o seu! Que farei consigo, diga-me? Esquartejo-a e faço guisado para o meu velho cão? Ele coitado já não tem dentes, teria dificuldade em mastigar a sua carne. Joana Bonfim cuspiu-lhe. A saliva tinha um sabor bizarro, como se ácido em formação ainda que desprovida de propriedades corrosivas. - Falta de chá na infância. A educação actual, meu bom Jesus!, deixa muito a desejar disse, amordaçando a ira e limpando a nojenta líquida pasta do rosto sem rugas. Mas torna a arrotar. Uma e outra vez. Não consegue deter-se. E em simultâneo é acometida por dores violentas. Leva a mão ao estômago, gritando e berrando como um animal ferido, como o leão a ser chacinado por uma matilha de hienas, a ser escouceado até à morte pela manada de búfalos. E a seguir o seu corpo cai, tombando no torso de Joana Bonfim. O azedume da vítima fora demasiado. O consumo dos seus órgãos internos matara-a. Pela primeira vez o poderoso sistema de imunidade da senhora Maria de Fátima fora incapaz de lidar com a ameaça. Joana Bonfim não percebe como continua viva e tenta, em desespero, soltar-se das amarras - no entanto é incapaz. Como é que continua viva, como?! Não compreende. Volta às tentativas para libertar-se. Se ao menos conseguisse desprender uma das mãos... De repente sente movimento. O corpo da bruxa move-se. Bem lhe parecia que era bom demais para ser verdade. A harpia malévola vivia! Mas não - tratava-se de outra coisa. Observou num horror emudecido a boca da velha vizinha - agora morta, efectivamente defunta - abrir-se como se fora a de uma piton, deixando sair do interior um aglomerado de massa. Esta substância aglutinada reunia uma série de órgãos internos. Caminhavam como se tivessem pernas, arrastavam-se como se fossem peixes fora de água, numa migração forçada de um lago para outro. Pareciam seres inteligentes! E, o pior de tudo, é que marchavam directos a si. Joana Bonfim movimentou-se, tentando desestabilizar aquelas coisas, mas era impossível. O primeiro órgão a chegar-lhe à boca era um fígado enorme, cheirando horrivelmente, e ele descerrou os lábios dela enquanto outros entravam para o interior da boca, após passarem a muralha dos dentes. - Arghhh! Arghh! AAAARRRRRGHHHHH! Gritava, mas ninguém a ouvia. Uma procissão de órgãos, novos e velhos, saiu do corpo da sua velha hospitaleira e entrou no da nova: Joana Bonfim. O cortejo parou e o corpo de Maria de Fátima descaiu para o chão, como se fora um velho títere desprovido de cordas. Sem se aperceber ela rebentou as amarras e voou dali para fora. Era noite e, por ser dia de futebol, ninguém a viu. Fechou-se em casa, a estremecer. Até que não aguentou mais e tomou um longo e quente banho. Amanhã descobririam o corpo da bruxa e iriam culpá-la! Iriam pensar que ela, ela!, a matara! E era mentira. Mentira! MENTIRA! Mas quem é que ia acreditar na sua história. Quem?! Ninguém iria acreditar em si. Ela própria sentia dificuldades em crer. No banho a água escaldava e Joana oscilava o corpo gordo, com os braços à volta dos joelhos. Ninguém ia acreditar nela, ninguém ia acreditar nela. Ninguém, ninguém. * - Tenho uma coisa para te contar - disse Joana à amiga. Decidira, num impulso, após dias à espera, debalde, que a polícia batesse à sua porta, decidira ir ter com a única amizade que lhe restava. A outra viu-a à porta e afastou-se para a deixar entrar. Não gostava nada que aparecessem sem aviso prévio. - Ainda não fiz as limpezas - explicou enquanto ia arrumando as várias revistas de noivas no sítio apropriado. Havia-as espalhadas por toda a sala. Joana Bonfim não comentou, mas silenciosamente observou para si que a amiga continuava obcecada com o casar-se, arranjar um homem e casar-se. Não teria aprendido o pouco que isso valia pela sua própria experiência? Quantas vezes lhe confidenciara os seus problemas maritais? Não valia a pena. Cada um possuía as suas únicas e singulares obsessões. Por acaso calhou passar a vista pelo quarto da amiga. A porta estava aberta, tal como a do guarda-fato. Comprou outro vestido de noiva. Com aquele já eram sete. Suspirou e calou-se. Sentou-se e esperou que ela voltasse, depois de ter ido preparar um café rápido. Da cozinha ouvia, cristalinos, tal como nunca antes os havia escutado, os habituais sons de embates, de talheres a tocarem-se, de gavetas a abrirem-se e a fechar, de recipientes a serem tapados e destapados. - Tenho uma história inacreditável para te contar! - exclamou Joana desde a sala, incapaz de calar-se por mais tempo. - O quê? Não ouvi. Já está quase pronto. Joana estreitou a testa. Ia esperar que a amiga estivesse ali, mas houve algo que a chamou, na sua voz invisível. A voz, o tom oculto do odor. Anda a ouvi-lo muito nos últimos dias. Os aromas tornaram-se, inexplicavelmente, muito faladores. E presentes. Vinham ter com ela, rodeavam-na e o seu nariz seguia-os, em ocasiões, até à fonte. Há dois dias, quando enfim decidira deixar a reclusão do apartamento, fora a Lisboa. A um museu. Vira nas notícias haver uma exposição temporária intitulada “Os Segredos do Egipto”. Fora até lá e vira as duas múmias expostas. Por detrás da vitrina um perfume, morto há milénios, desprendeu-se da velha múmia e viajou até às narinas de Joana Bonfim. Num instante, um segundo que pareceu infinito e ao mesmo tempo parco e escasso, viu a figura de uma antiga rainha do Egipto, rodeada de servos e escravos, de comida e odores antigos. A rainha estava sentada e a ser servida e fitou, directa, os olhos de Joana Bonfim. Eram de um verde exuberante. E aquele perfume era mais intenso que os trajes e as jóias que a ornamentavam. Regressou com um baque ao século vinte e um, e saiu, abalada, do museu. Desde uma distância de quatro mil e quinhentos anos, aquela mulher, aquela mulher fixara-a! Ela vira-a! Tinha sido a experiência mais forte tida até então. Até que um novo perfume, um velho amigo, veio ter consigo - vindo das lonjuras e profundidades do quarto da amiga, mais especificamente: do seu guarda-fato. O odor é penetrante e reconheceu-o de imediato: o perfume que o ex-marido, Luís Barros Bonfim, usava. Mas apenas isso não era suficiente. Era um perfume muito procurado, de muito êxito e a ela sempre lhe agradara. Havia mais. Esse odor trouxera com ele um núcleo, o âmago que pertencia unicamente a Luís. E a nenhuma outra pessoa. Joana fechou os olhos, ergueu com lentidão o pescoço e permitiu que o aroma viajasse por dentre de si, por todos os poros e recantos da sua pele. Ela viu a amiga e o Luís, muito antes dos dois sequer terem problemas no casamento, viuos ambos a dançarem - a dançarem na sala, contentes, alegres. E a amiga usava o terceiro vestido de noiva comprado. Depois observou que se beijavam, bebendo vinho a espaços. O aroma transportou-a até à cama do quarto onde os dois se tocaram como há muito Luís não tocava na Joana. - Toma. O teu é descafeinado, não é? Joana encarou a outra, à sua frente, de pé, a segurar duas chávenas. Com um gesto controlado de mão deitou-as por terra. - Joana! Que se passa contigo! Joana erguera-se e caminhava, lenta, na sua direcção. Na sua voz contida, mas profundamente irada, com os olhos a escaldar de fel, dizia: - Cabra. Andaram os dois a meter-me os cornos anos a fio. Cabra...! - Joana, calma. Calma! Não sei o que te contaram, mas é tudo, é tudo mentira! Joana...! - Ele deitava-se contigo. Dormia contigo. E a mim nem me tocava! A culpa por me ter deixado é tua. Tua! - Joana, não. Não! NÃÃÃÃÃOOOO! * A vingança tem um sabor adorável e muito fresco, pensou ela, bastante satisfeita consigo. Na casa-de-banho limpava-se do sangue. Descobrira, no primeiro repasto, que era mais voraz que a velha bruxa: consumira o corpo inteiro da traidora. E não tivera de limpar assim muito sangue. De súbito recordou algo. Remexeu a mala da agora defunta amiga até o encontrar. Ah: o telemóvel. Tinha o novo número do Luís, mas parece que não havia contacto entre ambos há muito. “Também te deu com os pés, não foi?”. Na agenda do telefone descobriu a nova morada do ex-marido. E, no arquivo das fotos, viu algumas imagens dele que a antiga amante tirara, com toda a certeza, de modo oculto. - Se calhar vou sair para um aperitivo... Afinal parece que ainda sentia uma pontinha de fome. FIM 1 de Maio de 2013
Baixar