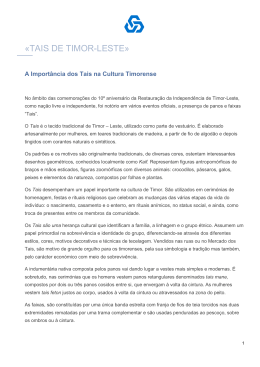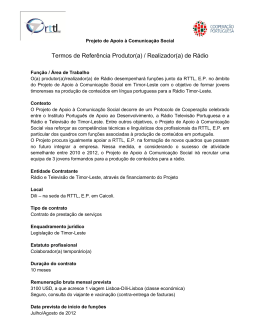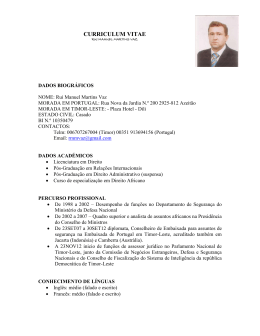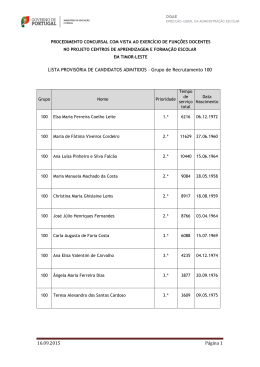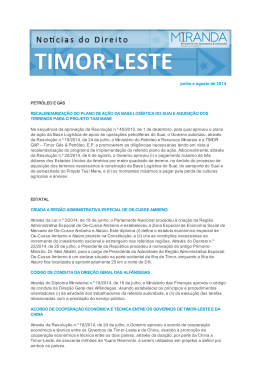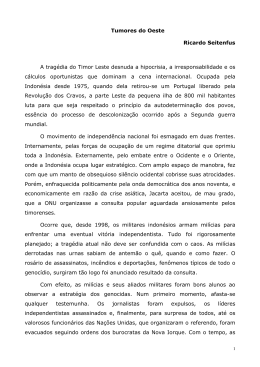Número: 38 Título: CALÊIC - entre o inferno e uma solução internacionalmente aceitável Autor@: Teresa Cunha Data: Out 2002 Palavras-Chave: Timor-Leste, relações internacionais, ciência crítica Referência(s): www.ajpaz.org.pt/agitancos.htm Acção para a Justiça e Paz (AJPaz) Rua São João - 3130-080 Granja do Ulmeiro – Portugal [email protected] - www.ajpaz.org.pt (T) 239642815 - (F) 239642816 - (TMV) 96 2477031 Outubro de 2002 Teresa Cunha 2 CALÊIC entre o inferno e uma solução internacionalmente aceitável Ciência Cultura e Globalização Houve uma altura em que ir da Terra ao Céu e voltar à terra era a coisa mais fácil de fazer. Para o fazer, só era preciso subir a uma planta – calêic – que ligava o céu à terra. Havia uma mulher que tinha por hábito subir pela trepadeira para ir buscar lenha. Um dia subiu como habitualmente fazia mas demorou tanto tempo que o marido, zangado cortou a planta trepadeira antes de ela descer. Desde aí o céu e a terra ficaram separados para sempre. A população de Ramelau acredita que esta planta trepadeira estava no topo da montanha chamada Darolau e que a raiz ainda lá está. Para a população da costa sul, esta planta trepadeira é originária de um lugar chamado Ria-tu, onde está uma pedra a marcar o local. As pessoas de Matebian, no entanto têm a certeza absoluta que a planta trepadeira era de Quelicai, onde dizem que também ainda é possível ver a raiz da mesma. De acordo com as pessoas que vivem na costa este da ilha, era em Muapitini, distrito de Lautém que se podia subir ao céu. Lenda de Timor Loro Sa’e Outubro de 2002 Teresa Cunha 4 Índice Introdução ____________________________________________________ 5 Capítulo I______________________________________________________ 6 1- O paradigma moderno de produção do conhecimento ____________ 6 2- O cânone moderno e a desqualificação de certos conhecimentos __ 7 3- Os regimes de verdade ______________________________________ 9 4- A crítica à teoria da necessidade de uma teoria geral e os conhecimentos situados: todo o conhecimento é um conhecimento social ______________________________________________________ 10 5- Das constelações de práticas às ecologias de práticas __________ 12 6- Não desperdiçar nenhuma experiência e a sociologia das emergências ________________________________________________ 13 7- O valor político e científico das experiências não modernas ______ 15 Capítulo II ____________________________________________________ 16 1- Reler a guerra em Timor-Leste entre 1975 e 1982 _______________ 16 2- A paisagem e os tempos ____________________________________ 17 3- O começo do inferno, ou das hostilidades? ____________________ 18 4- Faz alguma diferença ouvir uns e outros, umas e outras? Quem fala e quem pode falar? Quem ouve e quem é ouvido? __________________ 19 5- Entre o paraíso e uma solução internacionalmente aceitável______ 26 Conclusão____________________________________________________ 29 Referências Bibliográficas ______________________________________ 31 Pássaro sem espaço Rio sem leito Árvore sem floresta Mas dou sinais de mim Fernando Sylvan Introdução Durante as discussões do seminário, foi-me fascinando a possibilidade de reencontrar um novo sentido, uma nova utilidade, uma nova fundação para uma quantidade de coisas aprendidas, por aqui e por ali. Julguei todas aquelas coisas, como boa filha da modernidade que sou, versos de um poema, ou frases de um manifesto. Com elas não pensei poder construir um conhecimento, uma ideia suficientemente robusta de modo a poder viajar de um lugar para outro, mantendo não só a possibilidade de continuar a fazer sentido, como a capacidade de se fortalecer com outros e novos sentidos. E como viajar é quase sempre uma descentração de si, sobretudo se a viagem nos conduzir até paisagens inesperadas onde, como Paula Meneses nos dizia, as árvores já não apenas as árvores de um ecosistema/floresta local, mas são os túmulos, a morada dos antepassados, então elas, as viagens obrigam-nos a redescobrir não só novas e velhas maneiras de olhar e sentir as árvores mas também de as conhecer e de falar sobre elas. Foi assim, entre descobertas e viagens que fui compreendendo melhor o que eu pensava e o que já sabia sobre Timor-Leste, e com isso, podia enfim, ensaiar um pensamento crítico, e quem sabe até, um conhecimento útil. Deste modo, o propósito deste ensaio é, tentar à luz de algumas das categorias de análise propostas pelo seminário, tentar construir uma reflexão compreensiva dos conteúdos atribuídos à palavra «guerra» sendo a paisagem, Timor-Leste no final dos anos setenta, em que um terço da população timorense morreu. Reconstruir ainda que brevemente incipientemente essa floresta, esse tempo-espaço, através distintos saberes que existem sobre ela, os dos sobreviventes, os das poucas testemunhas1, e o da comunidade internacional, corporizada na ONU, ou mais precisamente, nas resoluções que o seu Conselho de Segurança e a Assembleia Geral adoptaram a propósito do problema, é o objecto e objectivo deste trabalho. Para o que se sabe sobre a guerra, naquele Timor-Leste da década de setenta, visto pelo olho teórico dos meus conhecimentos e ao mesmo tempo pelos meus afectos, talvez eu realize aqui de alguma maneira, as tarefas e a função de «testemunha articulada» de que se fala no texto «Teoria crítica, cultura e ciência: O(s) espaço(s) e o(s) conhecimento(s) da globalização» (Nunes, 2001: 325) e isso é já uma escolha epistemológica. Não é a curiosidade que me impele para este assunto: é a possibilidade de pensar e conhecer, de outra forma, a guerra e a paz. Mas escolher Timor-Leste não é inocente nem um acaso metodológico. A escolha encerra um aspecto instrumental que não quero iludir porque talvez nesta escolha esteja a primeira armadilha da qual não possa ou saiba libertar-me: a presunção que trabalhar neste momento sobre Timor-Leste me concentra 1 Durante vinte anos ouvi algumas dezenas de testemunhos directos sobre a Guerra em Timor-Leste. Alguns destes testemunhos estão transcritos e publicados. No entanto, a maioria do material aqui apresentado, foi recolhido por mim (como um mini trabalho de campo), especialmente para este trabalho Outubro de 2002 Teresa Cunha 6 no assunto que quero desenvolver para a minha dissertação, pareceu-me, apesar das dúvidas, suficientemente legítima. Poderei então levar a cabo a tarefa que me propus que é não só usar a denúncia mas a capacidade de pensar as coisas de outra maneira? Para tal, tentarei numa primeira fase, entretecer um quadro analítico mínimo, de crítica ao modo de produção do conhecimento iniciado pela modernidade ocidental para depois identificar outros modos alternativos de produção de novos conhecimentos. Em seguida procurarei reler, articular, ver e sentir, diferentes tipos de discursos e documentos como outro modo de conhecer: o das pessoas que foram vítimas directas da guerra (75-82) em Timor-Leste, o das testemunhas estrangeiras e o das Nações Unidas. Reler, articular, ver e sentir não com o objectivo de tornar cada um dos discursos residual relativamente a outro, mas pelo contrário, tentar desvelar ainda que muito breve e necessariamente de forma incompleta, a complexidade daquele momento da história timorense ao nível biográfico e colectivo. Este ensaio inclui uma pequena compilação de dados sobre TimorLeste e o contexto político e geo-estratégico da invasão e guerra. Presidiu sempre à construção deste pequeno ensaio uma perplexidade primeira que enuncio de seguinte forma: - O que diferencia as diferentes maneiras de falar e documentar guerra em Timor-Leste, ou seja, o que é realmente diferente entre o modo de perceber e interpretar a guerra entre as pessoas que a contam na primeira pessoa e as outras que a testemunham ou têm que negociar os termos de uma solução internacionalmente aceitável? Depois de mediadas por letras, registos sonoros, as palavras separadas e analisadas o que é realmente dito e qual o valor e o espaço do não dito? Que valor, que sabores e que beleza têm estas narrativas diferentes? Qual é a verdade sobre a guerra que, em Timor-Leste se estima matou mais de 200 mil pessoas entre 1975 e 1982? Capítulo I 1- O paradigma moderno de produção do conhecimento A ordem produzida pela modernidade nos últimos duzentos anos funda-se no princípio de oposição entre a teoria a prática; entre as ideias gerais e a investigação empírica, entre a experiência e a política. A teoria saída das Luzes é aquela que separa, de forma clara e distinta, objecto e sujeito, que implica e aplica critérios de fiabilidade e de validade, estritos e rigorosos. A teoria, é aquele acto que prossegue com êxito, mediante a aplicação rigorosa de métodos e critérios universais, a validação do que é conhecimento científico e opinião, prova e valor, epistemologia e estética, ciência e política. O discurso teórico, isto é, as suas narrativas tomam assim, determinadas formas e apresentam-se segundo determinadas representações que estão sujeitas a determinados constrangimentos e convenções que lhe conferem uma estrutura que reivindica a sua natural neutralidade face aos contextos e às variâncias próprias de uma existência situada. A modernidade criou formas de dizer e formas de poder dizer; limitou os objectos do conhecimento ao que podia ser dito através do olho normalizador da teoria e da experiência sancionada pelos métodos que lhe convém. Produziu um discurso totalizante, que procura descrever e explicar de forma completa e definitiva a realidade (Nunes, 2001: 298-299). Por isso a modernidade diz que o conhecimento válido, é aquele que é capaz de descrever e explicar, com base em determinados procedimentos considerados apropriados a realidade, de modo a que estas descrições e explicações sejam capazes de reduzir o complexo ao simples, (ibid: 301), naturalizando os resultados, fixando-os no espaço e tempo que ela usa: o espaço e o tempo do laboratório, onde se organiza, separa, classifica e se cataloga ao longo de uma linha interminável de tempo, orientado para o progresso e para um futuro previsível e dócil, perante a capacidade de o determinar, desde a escolha dos objectos à aplicação dos procedimentos . Desta forma, a modernidade é sempre uma forma de oposição ao «outro», àquele que não é pensado através do rigor metodológico da teoria e não se sujeita ao olhar regulador e explicador. Os territórios do conhecimento são delimitados mas os limites deste conhecimento raramente pensados enquanto tal mas sim, como novos objectos do conhecimento positivo. Por isso a ciência, o conhecimento moderno, tende a não considerar como possível, que os problemas da nossa contemporaneidade – e que em grande medida, são as consequências das ‘descobertas’ científicas modernas e das tecnologias que estão lhes associadas - não possam ser resolvidos com mais conhecimentos, tecnologia e ciência modernos. Contudo, a complexidade real do mundo em que hoje vivemos, parece não ser passível de ser tratada no espaço-laboratório nem ao ritmo do tempo linear do progresso positivo modernos. A ciência moderna como recurso da globalização hegemónica assenta num universalismo, e na necessidade de factos empiricamente comprováveis, verificáveis e muitas vezes quantificáveis. O papel desta vocação essencialista, é uma maneira de construir uma oposição às diferenças, ao diverso, ao heterogéneo, que são qualidades subversivas ao projecto de ver o mundo de uma só forma, explicado por um só conjunto de teorias universais e de um modo só de produção de conhecimento, único e capaz de tudo explicar, ou seja, a monocultura do paradigma moderno de ciência, como nos lembra Isabelle Stengers, (I, 1996: 7). Esta obsessão pela universalidade é uma das faces do princípio antropotópico da ciência moderna: tudo no mundo se deve ao observador e o universo existe e tem como finalidade as explicações de si, feitas por aqueles que o descrevem. Tudo o que estiver fora desta centralidade, do humano no seio da ciência, não pode ser pensado e fora deste pensamento, nada existe. Os idealistas procuraram sempre sustentar que a existência substantiva de uma coisa deriva da ideia dela. Tudo o que é remoto deste centro, tudo o que é instável, não verificável que não conduza ao geral, que se queria ver como parte, incompletude, não cabe no conhecimento moderno. A ciência rompe com o mito, porque este diz coisas não provadas com matérias de facto; rompe com os sofistas porque se defende da imaginação e do seu poder de forjar e imaginar explicações. O conhecimento moderno não pode conviver, por estas razões, com as maleabilidades e as ambiguidades da linguagem (ibid:11) que tão bem representam os sofistas, hábeis na arte da argumentação e da retórica sem que esta esteja vinculada à «verdade», àquela «verdade» enquanto arquétipo ideal e total, referencial alfa e ómega da realidade. Mas o rompimento não se dá uma vez só: esta ruptura, com o «outro» tem que acontecer sistematicamente, para se chegar ao conhecimento válido, progressivamente purificado e portanto, científico. 2- O cânone moderno e a desqualificação de certos conhecimentos O conceito de cientista axiologicamente neutro quer dizer que, para alguém produzir ciência tem que produzir conhecimentos sem vínculo ao bom e ao belo, libertando-se e libertando-os, da «contingência» e da precariedade próprios a outro tipo saberes. A superioridade da ciência moderna consiste na sua capacidade em produzir «matéria de facto», generalizando e aplicando em seguida, os resultados obtidos através de métodos análogos e avaliados por critérios comuns. Esta unicidade, esta obsessão por um corpo fechado, não contaminado, rigorosamente vigiado, é própria do conceito de ciência, digamos, pura e dura, que a modernidade do iluminismo nos legou. Esta ciência encontrou por isso modos de produzir hierarquias, de estabelecer funções de poder no seu seio. As dicotomias, como Bruno Latour nos lembra, são sistemas de Outubro de 2002 Teresa Cunha 8 separação e que por oposição fundam desigualdades. Desigualdades profundas porque nelas, a diferença entre os termos é já revelação da sua inferioridade ontológica e epistemológica. Estas hierarquias são traduzíveis nas dicotomias que a narrativa científica constantemente produz e que de alguma maneira se apresentam como reveladoras de uma hierarquia mais fundamental: a da verdade versus belo/bom. Estas oposições são as que se expressam, por exemplo, por homem e mulher, civilizada/o e primitiva/o, cultura e natureza, ciência e senso comum, ocidente e oriente, afirmando a qualidade do primeiro termo e a inexorável natureza inferior do segundo. É neste sentido que este processo ou outro de desqualificação, localiza, exotizando os objectos, produtos ou conhecimentos: são algo que está sempre para baixo da qualidade essencial que é determinada pela dicotomia. Esta pretensão de localizar, vulnerabiliza, torna frágil, invisibiliza; esta hierarquia investe os objectos, as experiências, as práticas, as visões, os entendimentos, as compreensões, de uma capacidade intrínseca de não conseguirem aceder sequer à possibilidade de um dia deixar a franja, a periferia. São sempre subsidiários como nos faz ver Boaventura de Sousa Santos (2001: 14) Para implementar a sua vocação de universalidade e portanto de plenamente confiável, a ciência moderna teve que produzir o seu cânone, ou seja, as regras intrínsecas de inclusão e exclusão que perpassam os discursos académicos dominantes, as relações de poder entre disciplinas e as formas de conhecimento considerado científico (ou não). É neste debate extenso e intenso que se inscreve a problemática de se considerarem as ciências sociais pré-paradigmáticas uma vez que não usam, com a mesma determinação e eficácia os métodos aplicáveis às ciências naturais. Esta fragilidade original que lhe advém, de ter em primeiro lugar, como objecto de estudo e conhecimento, não uma natureza requerida inerte, muda, inconsciente, na qual se pode intervir e sobre a qual se pode determinar o seu futuro2, mas sim uma realidade por si mesma móvel, inconstante, co-autora de processos e resultados, as ciências sociais não escapam à armadilha moderna do debate sobre as duas culturas: a ciência e a não ciência, ou seja, a ‘outra’ cultura. Mas, se a versão mais ortodoxa do paradigma moderno, ainda tão presente nos modos e nas práticas sociais de produzir conhecimento e reconhecimento científico, na verdade, o questionamento a este monolitismo científico, tem uma vasta e completa literatura, fruto de visões críticas, nomeadamente as que são elaboradas pelos estudos femininos, pacifistas e post-coloniais. Estes estudos põem em causa a neutralidade do cientista e de qualquer segmento ou produto do acto científico moderno. Estes estudos ajudam à compreensão da desunidade e da incompletude da própria ciência questionando não apenas os seus procedimentos e objectos mas sublinhando o seu eminente carácter situado, social e político. Desde a decisão de estudar este ou aquele objecto, aos termos da pergunta que o cientista coloca, à quantidade de recursos que dispõe ou não para prosseguir, todos os passos são claramente contextuais. Para além disso, a existência de múltiplas disciplinas, a proliferação, apesar do apelo à unicidade, de diferentes métodos, a incapacidade de controlo absoluto sobre os resultados e a possibilidade de replicação da experiência até ao infinito universal, são outros tantos elementos que nos ajudam a questionar pela real univocalidade da ciência. Por outro lado, o conhecimento desdobra-se em inúmeras consequências não previstas, cujos impactos sociais e epistemológicos não se compadecem com as explicações positivas, regulatórias e normativas, uma vez que se auto-determinam de maneira extraordinária relativamente aos postulados científicos que os geraram. A aplicação dos conhecimentos através da tecnologia que de si deriva, parece ser também problemática, não obedecendo ao realismo determinista da visão positiva do conhecimento, na medida do que seria desejável. Enfim, parece relevar do âmago da própria ciência moderna, o perigo da sua instabilidade, da sua 2 O que há muito tempo já deixou de ser um postulado científico inabalável imprevisibilidade, abalando os alicerces que construiu, para justificar a sua qualidade de conhecimento verificável, controlável, universal e portanto, científico e «verdadeiro». Mas se o cânone significa construir os critérios de inclusão ou de exclusão, descanonizar significa reconhecer os limites da ciência, dos seus discursos, dos seus resultados; descanonizar é cruzar fronteiras e pôr em causa a pretensão de total centralidade do discurso científico moderno e, transgredir essa centralidade. Descanonizar deve assumir duas dimensões que se relacionam dialecticamente: interrogar, pôr em causa e desconstruir e a capacidade de construir, o que quer dizer ensaiar e realizar novas relações e novas articulações. As novas articulações implicam novas formas de reflexividade, de representação e multivocalidade assim como, um carácter dialógico constante. Isto pode proporcionar objectos híbridos quer discursivos quer representacionais assim como, conhecimentos mestiços. Manter a diferenciação, o heterogéneo e a interrogação como método e fim por debaixo de um discurso normativo e regulador de vocação universalista, é essencial a este movimento de descanonização que permite, em última instância, prosseguir numa estratégia de transformação as relações existentes e que são profundamente desiguais, em relações de maior igualdade entre as disciplinas, entre formas diferentes de conhecimentos, práticas de produção, modos de representação e transmissão.(Nunes, 2001: 323326) 3- Os regimes de verdade A discussão que tento apresentar nos pontos anteriores mostra, não só a grande desunidade das ciências, como também a cada vez maior incerteza produzida num e por um mundo em transição paradigmática, onde o caos, os riscos, são as expressões da ausência de garantias que um dia a ciência positiva teve a ilusão de poder oferecer.3 As evidências cada vez mais acutilantes da incapacidade da ciência em fornecer as garantias sem risco que promete, a verdade, objectivo sacrossanto da ciência moderna, tem vindo a ser questionada enquanto objecto e objectivo científico. A verdade deixa de ser entendida como a correspondência entre o real e o conhecimento que se produz sobre ele, num acto de irrepreensível auto e hetero reflexividade. A verdade é percebida, por exemplo pelos existencialistas, como alguma coisa extremamente situada, ou seja, um ‘texto’ aninhado num conjunto de ‘contextos’. Os sentidos daquilo a que se chamava ‘verdade’, divergem e o seu locus é questionado por um imenso conjunto de questões e contradições que emergem e se entre-cruzam, nas novas narrativas das angústias e das crises de confiança na ciência. O trânsito entre diferentes formas de conhecimento intensifica-se; as fronteiras entre ciência e não-ciência tornam-se porosas e a pergunta surge de novo e a cada passo, com mais acuidade: o que é ciência, ou não é ciência? Toda a disputa sobre a verdade assume uma importância inegável para toda a gente que vive neste mundo e experimenta a instabilidade concreta do dia a dia. Por isso surgem 3 Esta incerteza é como a instabilidade dos efeitos do pharmakon que tanto pode ser remédio como veneno. Sem definição, sem estabilidade, sem determinação. A intolerância da nossa tradição ao instável, ao incerto e a angústia que provocam, ficam expressos no repúdio do pharmakon, como artefacto científico. No entanto, o pharmakon parece resistir e insuspeitadamente, surge das fortalezas de certezas que construímos. É uma figura insistente, aparecendo quando o queremos definitivamente afastar. Mas esta definição não tem nada de neutral; foi aquela que construímos para o desqualificar, para o transformar numa invisibilidade e de tudo o que ele pode representar de ambiguidade, incerteza e instável (Stengers, 1996: 56) Nós praticamos um culto celebratório da desqualificação de todos os nossos pharmakon. Outubro de 2002 Teresa Cunha 10 novos modos de abordar a verdade: mais do que a uma verdade universal e explicadora do todo, conhecer os diferentes modos de produzir conhecimento, o seu registo, a sua representação, a sua memória, os seus processos, a passagem e a comunicação dos conhecimentos torna-se assim, não só muito mais pertinente e substantivo. Por isso quando Foulcault fala que mais do que falar da verdade, importa falar em regimes de verdade. Os regimes de verdade de que este filósofo nos fala, são os ‘contextos’ nos quais cada conhecimento se submete a testes de robustez, ou seja, os bons resultados de uma dada prática ou experiência, podem ser avaliados através de uma rede de resultados que validam um segmento, ainda que móvel, de resultados. A consistência do resultado localmente, dá-se se o resultado servir para os fins para que foi feita a operação. Os resultados ‘robustos’, ‘confiáveis’ são-no num espaço e movem-se entre limites que são leques de resultados. Então, se dentro de uma determinada comunidade, num determinado momento e espaço uma determinada afirmação/coisa é considerada por um grupo significativo de pessoas, através de um consenso forte, uma partilha, então pode-se dizer que podemos estar em presença de uma verdade (naquele regime de verdade e não necessariamente verdade, noutro lugar, tempo, espaço, registo. Mas a vigilância epistemológica tem de ser constante porque esta ideia de robustez podese tornar resistente às diferentes circunstâncias (Stengers I, 1996: 56). A necessidade de pluralizar os regimes de verdade, encontrar os seus espaços de validação e considerar o processo sempre inacabado, podem ser alguns dos meios para manter uma atitude de prudência construtiva relativamente ao que podemos usar como verdade, sem postular um relativismo niilista, nem deslizar para um novo tipo de essencialismo. 4- A crítica à teoria da necessidade de uma teoria geral e os conhecimentos situados: todo o conhecimento é um conhecimento social Assim, precisamos de postular que diferentes culturas (quaisquer que sejam) perguntam coisas diferentes sobre a natureza e a sociedade, criando hierarquias e marginalizando umas experiências relativamente às outras. Por exemplo: o que perguntam as pessoas que vivem uma guerra, sobre si, as suas relações sociais e com a natureza, é claramente muito diferente, do que perguntarão quando, as mesmas pessoas, deixarem de viver numa atmosfera bélica. O mesmo se passa quanto às respostas que formulam para as suas perguntas. Nesta medida, a experiência existencial, o contexto social fazem-nos considerar que quer as perguntas quer as respostas que se podem fazer, são sempre parciais e incompletas. Isso ver-se-á nos testemunhos das pessoas entrevistadas sobre a guerra em Timor-Leste. Pode-se contudo argumentar que as pessoas quando perguntam e respondem, situadas e presas aos seus contextos não estão a produzir conhecimento relevante do ponto de vista científico. Marcadas por abordagens desprovidas de afastamento emocional, não podem senão, enunciar uma opinião apenas significante para elas ou para um círculo restrito de outras pessoas. Mas o carácter situado do conhecimento pode ser alimentado por um conjunto de outro tipo de argumentos que aumentam os níveis de questionamento e por isso, aumentam também as possibilidades de fazer evoluir um pensamento crítico. Senão vejamos, se em ciência se trabalha com a necessidade da objectividade, isto é, produzir uma explicação que esteja o mais próximo possível do seu objecto, então a presença de estrangeiros isto é, de pessoas ou objectos estranhos à forma cientificamente convencional de produzir o conhecimento, pode ou não maximizar a objectividade das respostas a encontrar para estas diferentes perguntas? Segundo Sandra Harding, a combinação da proximidade e do afastamento traz uma possibilidade de maximização da objectividade. Por exemplo, as vítimas duma guerra são, relativamente a muitos aspectos, funcional- mente estrangeiras/os à cultura e práticas dominantes que estruturam, durante o tempo da guerra, as suas vidas: os modos de matar, a capacidade de sobrevivência militar ou mesmo as estratégias de combate. Estes grupos, as vítimas, não estando completamente fora porque sofrem, no mínimo, os efeitos directos da guerra, interpretam as causas e assim, tornam-se sujeitos e objectos destas práticas. Por outro lado, no entanto, também não estão totalmente dentro porque estas experiências (as dos que fazem e comandam a guerra, por exemplo) não correspondem às suas práticas, às suas tecnologias, às suas culturas. As vítimas de uma guerra, podemos dizer que participam nela sem serem suas fazedoras/es. Estão nas margens, nas periferias. E como a objectividade não é neutralidade, ouvir estas pessoas torna possível uma maior objectividade (Harding: 157) porque aumenta o leque de perspectivas assim como, a participação na construção do conhecimento e nas decisões políticas que podem ter a ver com as suas consequências e impactos. Estas franjas, estas periferias emergem e expandem-se; povoam, enormemente, a vida social contemporânea. A epistemologia que Sandra Harding nos propõe, para poder ter em conta estas novas configurações socais e correlativamente, os seus contributos para o conhecimento, é profundamente radicada numa postura política e social; ela designa-a de teoria do «standpoint» em que se articulam diferentes e (todas) importantes formas de conhecimento, que podem ser produzidos por essas franjas. É um tipo de racionalidade que inclui novas dimensões, que se questiona a partir de novas realidades, que constrói espaços dialógicos com aquilo e aquelas/es com as/os quais parecia não ser possível. É que segundo esta autora, as diferentes fontes culturais quase nunca tiveram o mesmo estatuto político entre si (Harding, 1998: 149), algumas sempre foram consideradas subalternas por aquelas que se impuseram como hegemonias. Apesar de muitas vezes se recuperarem vozes silenciadas, as formas de pensar e processar estas fontes de conhecimento não romperam, na maior parte dos casos e no fundamental, com os paradigmas dominantes que são perspectivas constitutivas do conhecimento dominante. Nesta medida, a teoria do «standpoint» não é apenas uma metodologia mas é o lugar político da ciência. O postulado da diferença, da heterogeneidade, da mestiçagem, da hibridização, da contingência, é profundamente político e tem que ser levado completamente a sério, sob pena de se estabelecerem apenas, outras trocas desiguais. A preocupação pelo carácter socialmente construído e portanto político, tem que ficar bem explícito no que diz respeito à consideração de que estas novas configurações de saberes contêm mapas de conhecimento que se confundem com mapas estéticos e trazem para o estatuto de conhecimento, coisas e realidades (saberes, sabedorias) onde ele parecia não estar (Nunes, 2001: 306). São trazidas à luz, novas formas de cultura e de conhecimento incorporado ou seja, torna-se inevitável admitir o caracter incorporado do conhecimento e portanto, a subjectividade situada. Um conhecimento situado é, pelos seus próprios prérequisitos metodológicos, potenciador de uma acção contra-hegemónica, na medida em que rompe com as relações tradicionais de poder e de dominação. Deve-se a esta ideia, a incorporação como objectos da investigação científica de temas como o sofrimento e o risco apesar de estes serem altamente susceptíveis de apropriação por parte de outros actores sociais, de comunidades e movimentos, produtores de outras lógicas, discursos e modos de representação do conhecimento, até hoje ausentes, em grande medida do espectro mais canónico de fazer ciência, representar e comunicar as suas verdades. Uma ciência social que se envolva no diálogo com outras formas de conhecimento é socialmente comprometida, está atenta às implicações éticas e políticas da sua prática e do carácter inter-subjectivo do conhecimento e da reversibilidade das posições de sujeito e de objecto. As construções mútuas do conhecimento diferente são (ibid: 310) o encontro de racionalidades diferentes, co-produção e incorporam vários tipos de transgressão: definição de objectos e sujeitos, metodologias, modos de representação e de comunicação. Outubro de 2002 Teresa Cunha 12 É a admissão de uma pluralidade de formas textuais e expressivas que se revela no novo interesse pelas dimensões estéticas, produzindo novas relações entre o conhecimento cognitivo e a estética, trazendo para a arena da produção do conhecimento também novas tensões. Quando se fala destes produtos, que podemos considerar complexos, híbridos ou mestiços, que tendem a incorporar novas ou diferentes dimensões e contributos, podemos imaginar vários desses artefactos. Um deles é o «testemonio» que é, no âmbito deste ensaio, um objecto útil para a compreensão do capítulo que se segue e onde não predomina uma abordagem análitica-teórica. O «testemonio» é um produto híbrido produzido por intelectuais e testemunhas, é um produto pós-moderno porque não é pensado, desenvolvido nem fabricado segundo os preceitos mais rigorosos da metodologia científica moderna. Nele, no «testemonio» estão inscritas, as experiências pessoais mais as condições políticas, as condições sociais e os modos de conhecimento delas, numa forma discursiva complexa. O «testemonio» é um diálogo a várias vozes, com base em experiências diferenciadas e que multiplica as possibilidades de produzir um conhecimento que não reivindica nenhum tipo de universalidade mas, pelo contrário, aprofunda a sua utilidade contra-hegemónica.(ibid: 328) por trazer à luz alternativas ao modo dominante de pensar e resolver um problema. O «testemonio» como mestiço que é, aposta contra aquela universalidade que se pretende capaz de produzir «verdades» que se desligam do contexto, espaço e tempo e se transformam em leis aplicáveis sempre e «universalmente». 5- Das constelações de práticas às ecologias de práticas A multiplicidade disciplinar, metodológica de objectos e produtos, aponta não para uma unicidade científica como pretendia a ciência moderna mas para constelações de práticas científicas que se cruzam e se usam em diferentes tipos de laboratórios. A crítica à pretensão da universalidade da ciência moderna, passa pelo processo de desnaturalizar a sua irredutibilidade a outras formas culturais, práticas sociais e modos de conhecimento que, ao revelar a sua heterogeneidade, lhes restituem espessura histórica. Das constelações de práticas existentes no seio das disciplinas da ciência moderna, podemos avançar mais um passo: pôr a ciência em cultura significando isso ecologizar os saberes; usar modos heterogéneos de construção de saberes, usar conceitos que possam viajar, como por exemplo as metáforas e ouvir os silêncios provocados pelo ruído das narrativas totalizantes. As constelações de práticas transformam-se, deste modo, em novas articulações, que emanam dos ingredientes que constituem as diferentes formas de produzir conhecimentos, mesmo dentro das ciências modernas. Elas produzem novas relações, aliás uma muiltiplicidade de relações e estas por sua vez, construem novos significados e valores. A referência ecológica, designa uma problemática processual que pode integrar opostos, contradições que não são separáveis de um regime temporal e dum espaço próprio. A referência à ecologia nas práticas e formas de produção de conhecimento, investe-as de plena intencionalidade não se podendo, deste modo, separar a ciência da sua representação estética e do seu valor ético. A memória passa a ser um ingrediente do presente porque mais importante do que a teoria geral e as ideias gerais, são os processos e as vozes diferentes que as constituem. E nesta memória já não se podem apagar as motivações políticas, coloniais e imperialistas que presidiram e que constituíram o nosso conhecimento. A ecologia agudiza essa dimensão de intencionalidade. O bem geral, o bem comum, tem que se submeter à consideração desta diversidade, reorganizando o pensamento, reconstruindo novas narrativas e produzindo novas possibilidades de acção. É nesse sentido que podemos falar num estreitamento entre o estudado e as lutas pelos valores, ou seja, a transformação de uma relação parasitária numa relação simbiótica.(Stengers I, 1996:59) O conceito de Isabelle Stengers de «entre-capture» é um processo duplo de construção e constituição de identidades epistemológicas. Os seres que se inventam mutuamente têm interesse em que nenhum tema, nenhum assunto ou problema desapareça da sua relação de mútua cognição e experiência. A noção de «entre-capture» pode estabilizar uma relação sem ter que a situar numa referência essencialista qualquer, de vocação universal. Os objectos de conhecimento criam-se mutuamente, através desta noção de «entrecapture» que integra uma dimensão de apropriação multivocal e ao mesmo tempo de mútua sedução. O objecto de conhecimento existe na relação com o sujeito do conhecimento e um a outro, se fazem (ibid: 68). Percorre este conceito de Stengers uma nova noção das práticas: ao contrário das ideias que não dependem de nada para existir e existem para eliminar as que lhes são rivais, elas intervêm no mundo como se ele fora dócil e mudo: estas novas práticas, atravessadas pela «entre-capture», não nos reenviam para uma instância mais geral da qual se constituem apenas como tradução local e contaminada pelo contacto com a contingência, com a matéria empírica ainda não purificada pela explicação geral. O conceito de «entrecapture» põe em história, correlacionável o que nós distinguimos como saber fazer ou competências por um lado, artefacto ou instrumento por outro e linguagem, o som que eu digo mas que eu não sou a única a emitir e a ouvir. A diferença entre esta noção de ecologia de práticas e as práticas modernas é que as primeiras não devem a sua existência ao facto de satisfazerem as provas de que não são simples sombras, isto é, ficção imperfeita as matérias de facto devidamente processadas e referidas às ideias gerais que as sustentam (ibid:72). A sua densidade epistemológica funda-se na complexidade dialéctica da existência. 6- Não desperdiçar nenhuma experiência e a sociologia das emergências O local, que ao longo de toda a modernidade, foi visto como remoto, irrelevante, desacreditado, frágil, foi por isso silenciado levando ao desperdício sistemático de experiências. O desperdício das experiências e dos conhecimentos que não tiveram lugar no centro da ciência, é um dos principiais alimentos do fatalismo porque ele pressupõe que a história chegou ao seu fim. O que importa é viver tudo no momento presente que é fugaz; porque a tragédia está aí à beira, é preciso exaurir o momento presente. Lutar contra o desperdício é lutar por alternativas e credibilizar as que já existem (Santos, 2001: 2). A variedade das experiências e da compreensão do mundo é muito maior do que alguma vez a modernidade nos permitiu imaginar, quanto mais pensar. Porque a crítica da ciência moderna, tem que incluir aquela dimensão de desconstrução de um modo de pensar para poder pensar-se de outra maneira, parecem-me muito úteis as ideias desenvolvidas por Boaventura de Sousa Santos sobre a sociologia das emergências4 e a prática da hermenêutica diatópica, como condição metodológica e de possibilidade de se construírem pensamentos emancipatórios e alternativos quer à modernidade, quer ao capitalismo que fundou e que parece ser capaz de reinventar novas relações de poder, exploração e domínio, na esfera do estado, da comunidade, da ciência e do mercado através da globalização neo-liberal. Afirmar explicitamente o que já o está aí, os não ditos, os não vistos ainda, é uma forma de dar crédito a experiências alternativas que usam outro conceito de espaço e tempo, ou seja, aquele que contrai o futuro e aumenta o presente. Aumentar o presente e contrair o futuro é a forma para lutar contra a indolência ou a preguiça da razão moderna (ibid: 2). 4 Porque no caso concreto do tema que pretendo trabalhar, me parece mais apropriado do que a sociologia das ausências. Outubro de 2002 Teresa Cunha 14 Uma razão que se pensa tão arrogantemente que pensa ter explicado tudo o que havia para explicar; tão «livre» que já nem precisa do mundo. Por isso, para esta razão indolente quase nada resta para ser pensado e muito menos para ser pensado de outra maneira. Porque o futuro não está determinado nem corre ao longo de uma linha linear de tempo, como o concebia a ideia moderna de tempo e futuro, a sociologia das emergências pode ser o meio de preencher esse vazio, deixado por esse futuro potencialmente infinito e assim sendo, cheio de tudo ou de coisa nenhuma. Esse tudo e nada pode ser preenchido, engrandecido, enriquecido, por um futuro plural, onde estão já possibilidades concretas, utópicas e realistas ao mesmo tempo. Estas possibilidades radicam e são construídas no presente, que olha cuidando, para esse futuro. O futuro tem que se tornar raro, precioso, escasso, como o é para os seres individuais, objecto de preocupação e de cuidado para que recupere o seu valor em termos de esperança e não continuar a ser o lugar da tragédia contra a qual já não vale a pena fazer nada. A sociologia das emergências é a sociologia do «ainda não» (ibid: 25). O «ainda não» é a forma como o futuro se inscreve no presente e a consciência antecipatória é a aquela que nos pode fazer reconhecer essa latência, para a transformar numa potência e numa potencialidade. Esta possibilidade pode ser incerta mas não é neutral portanto ela pode ser sorte, oportunidade, imaginação ou perigo mas decerto, exige sempre uma mudança. A possibilidade foi uma das categorias mais castigadas pela modernidade dominada pela obsessão da certeza e do estável. Na sociologia das emergências é exactamente a possibilidade, que se torna motor e não constrangimento porque multiplica as condições, cenários e de realidades alternativas que se podem produzir a partir dela. É a maximização das esperanças e das suas condições de realização, de concretização que necessitam cada vez mais, de uma acção coerente com o alargamento deste presente, inundado de hipóteses e realidades que já estão lá mas ainda estão invisíveis à nossa consciência moderna, preguiçosa e distraída. É o inconformismo que alimenta e move estas sociologias. Sociologias que se querem ocupar em entre-capturar cada vez maior número de experiências e expectativas sociais, aumentando a sua em qualidade geral e particular. Aproximando umas das outras, podemos estar no âmago de iniciar um processo novo de religamento5 a verdade e o bom, num círculo virtuoso6 , tão necessário para escapar a esta prisão da fugacidade que caracteriza a fragmentação do nosso presente, que de tão instantâneo quase não existe. A sociologia das emergências exige uma nova metodologia, uma nova visão sobre os meios e sobre os recursos Para se fazer esta sociologia temos que dar mais valor a coisas que a modernidade nunca aceitou nem como objecto, nem como método: as pistas, os indícios, os sinais e isto é uma redescoberta de novas metodologias para identificar «bocados» do que está lá mas não ainda totalmente. A atenção a essas pistas, a esses indícios torna a sociologia mais significante e significativa para e nos contextos que queremos compreender melhor porque assim não se desperdiça nenhuma parte ou partes das experiências: a sociologia do ouvir, do escutar, do pressentir, a sociologia da atenção da sensibilidade ao mais leve movimento, como forma de explicitar os não ditos e de transformação destes, em potencialidade de emancipação (ibid: 31). A sociologia das emergências precisa então, para ver e ouvir, o que ainda não foi visto nem ouvido, de uma forma de chegar até lá, ao terreno do ainda não, uma forma nova interpretação e comunicação; a proposta do autor chama-se a hermenêutica diatópica. A hermenêutica diatópica7, é um conceito central na abordagem de Santos (38) e invoca a incompletude constitutiva de todas as configurações culturais e os seus modos de conhecimento. A hermenêutica diatópica procura «preencher» as ausências e os silêncios atra5 Ou como se diz na lenda de Timor-Leste, calêic Nas palavras de Boaventura de Sousa Santos 7 Que me parece estar na linha de pensamento do conceito de «entre-capturre» 6 vés de uma relação dialógica. Em vez de querer contar aos outros a verdade sobre si próprios as/os hermeneutas diatópicas/os procuram a apropriação mútua de novos recursos, novos modos de conhecimento e de experiência, capazes de se fecundarem mutuamente. O seu objectivo não é o de proporcionarem a descrição verdadeira e definitiva do problema mas de pôr em relação perspectivas diferentes capazes de gerar uma espécie de completude, baseada em variadas complementaridades sem serem integradas, se tornarem cativas ou meras partes de uma visão totalizante e única. 7- O valor político e científico das experiências não modernas É necessário aprofundar a relação entre cientistas e cidadãos para uma prática contrahegemónica das ciências, ancorada no diálogo e na negociação e não na desqualificação imperialista ou na hierarquização de poderes e saberes. A justiça cognitiva é a condição de possibilidade de uma justiça social porque, só ampliando ao máximo o leque de explicações, visões e experiências, através da participação de toda a gente na construção de diferenciadas maneiras de ver o mundo, poderemos permitir o aparecimento de trocas mais iguais em termos de poder, mais horizontais e por isso mais justas. Temos de caminhar de um horizonte de ordem, norma, regulação, para um horizonte de cumplicidade, transgressão e de solidariedade. Só conhecendo os limites, perguntando, questionando, desinstalando-os, podemos então transgredi-los. Uma das realidades que poderá usufruir deste vínculo que precisa de se refazer em torno da ciência e da cultura, ou seja, a interacção entre os conhecimentos e as suas matrizes socio-políticas, é a violência e a guerra. Há uma desigualdade fundamental no modo como se ‘lê’ a violência e a guerra e portanto, de poder produzir conhecimento reconhecido como válido, legítimo, pertinente e relevante sobre elas. Parece estarmos permanentemente confrontados com dois tipos fundamentais de leitura da violência: dum lado a violência asséptica, descontaminada da agressão visual pelos artifícios proporcionados pela alta tecnologia; guerras que não deixam mortos à sua passagem, não deixam marcas de sangue, que não produzem cenas de desespero (visível) ou então de desespero controlado (civilizado) e que não são causa de destruição senão do ‘supérfluo’, do ‘mal’, do que está ‘errado’. Por outro lado, somos confrontadas/os sistematicamente como outra leitura que trivializa a total precaridade de multidões de seres humanos, minados pela doença, pela fome, pela devastação, pelo sofrimento causado por guerras selvagens, contaminadas pela barbárie e pelo obscurantismo, naturalizando esse tipo de existência e ligando-o inexoravelmente a certas populações, a certos lugares e espaços políticos e culturais. Como nos diz João Arriscado Nunes: Esta situação dá origem a «verdades» diferentes sobre a guerra e a violência que se enfrentam num plano que é, simultaneamente e indissociavelmente cognitivo e político. À «verdade» da guerra como guerra cirúrgica, inteligente, tecnologizada, sem vítimas civis pode contrapor-se a «verdade» da guerra no sul ou vista do sul, da indiferenciação das vítimas e da destruição, do sofrimento dos civis, do recrutamento das crianças e adolescentes, do envolvimento de grandes potências e de interesses poderosos. (Nunes, 2001: 322) Para quem pode saber, os «danos colaterais» são apenas a invisibilidade dos mortos dos «outros» que não têm os meios técnicos de defesa produzidos pela ciência, para evitar e para provocar no ‘outro’ esses mesmos danos. Persiste nesta forma de entender o valor político da ciência para fazer e ler a guerra, em que se digladiam, neste caso, a hipervisibilidade da precisão cirúrgica da técnica e a invisibilidade do sofrimento concreto, as biografias reais das/os actores e actrizes da guerra e de toda a violência que lhe está assoOutubro de 2002 Teresa Cunha 16 ciada (ibid: 323) uma certa uma forma de primitivismo e barbárie no sentido de ausência de sentido e de reflexividade sobre o humano e o valor da vida. Porém, novas formas de acção política podem emergir da mobilização de novas formas de conhecimentos, fecundados pelo compromisso da solidariedade, em torno precisamente de problemas ligados aos riscos gerados pela modernidade, nos quais a paz e a segurança, adquirem dia a dia, uma importância absolutamente fundamental. As novas sociologias (post-coloniais, feministas, pacifistas) trazem novas perguntas sobre as causas e as relações de certas causas com outros segmentos ou partes da realidade; por exemplo, os bombardeamentos de Com na ponta leste de Timor como se liga, como se relaciona com os equilíbrios geo-estratégicos da Guerra Fria no sudeste asiático?. Estas sociologias, podem tornar mais visíveis as contradições e fazer emergir mais possibilidades de novas compreensões e respostas (Harding: 154). Na situação de bifurcação em que nos encontramos neste mundo marcado pelo império da globalização neo-liberal e de que nos falam autores como Prigogine e Wallerstein, os modos de des-pensar e fazer pensar de outra maneira, talvez radicalmente de outra maneira, podem revelar-se de um valor incalculável para que se possa restabelecer a esperança. Perante a possibilidade do desastre, pode-se tentar passar da razão arrogante que se move entre o livre arbítrio a razão impotente cujas causas são o determinismo/realismo, para uma razão metonímica de consciência cosmopolita que torna presente o que está ausente e uma razão proléptica dotada de uma consciência antecipatória que torna possível o que é só latência. (Santos, 2001: 6) Capítulo II 1- Reler a guerra em Timor-Leste entre 1975 e 1982 Neste segundo capítulo tentarei, como já enunciei acima, construir uma narrativa mais complexa e multivocal sobre a guerra em Timor-Leste, num segmento que se situa entre 1975 e 1982. Este é um exercício que apela deliberadamente a ouvir o que ainda não foi ouvido, ou pouco ouvido nos discursos oficiais, articular os silêncios com algumas expressões do discurso dominante, é reler as palavras que funcionam como caixas de ressonância do que é a violência, a agressão e o extremo sofrimento provocados pela guerra. Esta narrativa complexa, polifónica tem que integrar, para além das palavras, dos conhecimentos e experiências, a crítica ao conceito de tempo linear que domina o paradigma moderno, isto é, re-articular o tempo biográfico das pessoas concretas e o seu dia a dia de fuga pelas montanhas do interior da ilha e o tempo dos corredores do palácio das Nações Unidas em Nova Iorque onde as negociações e as resoluções se sucedem à escala do transnacional. Depois de entrecida esta história, certamente a minha imaginação epistemológica saberá mais sobre as demais coisas que ficarão por dizer e detectará os detalhes, porventura mais importantes que ainda ficarão por considerar. É a tentativa de exercitar a minha consciência antecipatória, que me dará, a capacidade de não cair na armadilha de imaginar uma qualquer totalidade, uma impressão de finitude e de beatitude perante um fim. Não será somente a consciência de que o que poderei escrever é apenas uma parte (aliás, quase insignificante) porque isso seria pressupor que essa parte pertenceria a um todo. Ao contrário, é a agudeza da consciência de que, a cada gesto de desocultação se segue um outro, uma nova medida de desvelamento, de ecologização do que já se sabe no presente, cuidando do futuro, isto é, procurando um futuro de paz em Timor-Leste, mesmo depois da maior turbulência. Com esta releitura quero também integrar as emoções que emergem das leituras, da escuta, da linguagem dos corpos que falam ou se calam, das imagens de paraíso e de inferno que Timor-Leste é ao mesmo tempo. Por fim o exercício permanente da hermenêutica da suspeita ou seja, sujeitar que o que acabámos de ‘ver’ e de ‘dizer’ à crítica, ao questionamento, ao trabalho de completar, são os instrumentos epistemológicos e metodológicos a que recorro para a elaboração deste ensaio. 2- A paisagem e os tempos Para o objectivo deste trabalho, talvez não importe desenhar com muito detalhe o contorno político e histórico de Timor-Leste. Porém, penso que é interessante desfiar algumas informações sobre a ilha e sobre a sua história, de maneira muitíssimo breve e prévia para ajudar a situar a compreensão do objecto do meu ensaio. A localização de Timor no mapa, que se tornou bem conhecida dos caçadores de baleias americanos no século XIX, foi também evocada pelo autor de Moby-Dick, o qual observou que, estendendose para sudeste «numa linha contínua» a partir da península de Malaca, «As compridas ilhas de Sumatra, Java, Bali e Timor, juntamente com muitas outras, formam um vasto molhe, ou paredão, no sentido do comprimento, ligando a Ásia à Austrália e separando o vasto e contínuo Oceano Índico dos arquipélagos orientais, densamente pontilhados de ilhas». Os profundos estreitos que separam estas ilhas deram passagem à primeira circum-navegação do globo – e também às baleias migrantes de Melville – mas a importância estratégica destas passagens para os submarinos americanos em rota do norte do Pacífico para o Índico também não escapou aos planeadores do Pentágono nem dos seus homólogos australianos na altura em que os Timorenses clamaram pela independência, em 1975. Estendendo-se por 470 quilómetros ao longo de um eixo com a orientação Sudoeste – Nordeste, e com uma largura máxima de 110 quilómetros, a ilha de Timor ocupa uma área de 32.300 quilómetros quadrados. Situa-se a cerca de 430 quilómetros de distância do norte da Austrália, no Mar de Arafura ou de Timor, está a cerca de 8 a 10 graus a sul do Equador. Embora alguns observadores hajam feito comentários sobre o facto de Timor ter a forma aproximada de um crocodilo, a ilha tomou o seu nome do termo malaio que designa o Leste, devido à sua posição no extremo do arquipélago. In Gunn. G.C., Timor Loro Sae 500 anos 1515- Chegada dos portugueses ao Oecussi na ilha de Timor 1859- Assinatura do Tratado entre os Países Baixos e Portugal que estabelece a fronteira entre Timor português e Timor holandês 1945 a Junho de 1974- O Governo da Indonésia, em obediência ao Direito Internacional, afirma na ONU e fora dela que não tem quaisquer pretensões territoriais sobre Timor Oriental 1974- A Revolução dos Cravos em Portugal e o nascimento dos partidos políticos em Timor-Leste 1975- Depois de uma curta guerra civil a FRETILIN unilateralmente proclama a independência de Timor-Leste em 28 de Novembro 1975- Timor-Leste é invadido pelas forças armadas da Indonésia a 7 de Dezembro 1976- A Indonésia anexa Timor-Leste que passa a ser a sua 27ª província 1979- Nicolau Lobato o líder da resistência timorense é morto em combate; 1981- É criado o Conselho Nacional da Resistência Revolucionária. Xanana Gusmão é nomeado seu presidente e Comandante-em-Chefe das Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor- Outubro de 2002 Teresa Cunha 18 Leste (FALINTIL). É no período que decorre entre a invasão de 1975 e 1981 que cerca de 200 mil pessoas morrem, directa ou indirectamente por causa da guerra de ocupação (ATC, 2202:4-5). 3- O começo do inferno, ou das hostilidades? Desde Junho de 1974 logo depois da revolução em Portugal, foram-se formando os partidos timorenses8, ao mesmo tempo que a Indonésia fazia manobras na fronteira terrestre, provocando incidentes e dividindo as lideranças locais, numa estratégia que indiciava claramente a voracidade com que via a possibilidade de anexar, finalmente, aquela metade da ilha ao seu vastíssimo território. Estas movimentações consistiam principalmente, em ataques a aldeias situadas junto à fronteira, organizados e iniciados a partir de Timor ocidental para provocar medo e tumultos mas também, na difusão de informação através de rádios locais com rumores ou ameaças sobre os perigos que pairavam com a perspectiva de um governo comunista se instalar após a independência e outros argumentos que visavam sobretudo a desestabilização do território e a desconfiança entre as populações. Em Outubro é lançada a «Operasi Komodo» que incluía o recrutamento de timorenses para as operações militares e paramilitares na fronteira fomentando o pânico, dentro e fora de Timor-Leste, sobre a possibilidade de se aproximar uma profunda onda de violência provocada pelos comunistas da FRETILIN. Quem dirigia as operações eram os generais indonésios, Benny Murdani, Ali Murtopo e Yoga Sugama. A partir do início de 1975 a «Operasi Komodo» já treinava milicianos e quadros militares para invadir o território de Timor-Leste. (Magalhães, 1990: 24) Entretanto Portugal continuava a desenvolver uma política de descolonização, atrapalhado com as convulsões e problemas internos, tendo conversações com diversos partidos recém criados e que culmina com a promulgação da Lei 7/75 que previa a organização de eleições em Outubro para constituir uma Assembleia Popular com competências para definir o futuro estatuto político de Timor-Leste. Os desentendimentos políticos entre a UDT e a FRETILIN, levaram à ruptura de relações entre os dois partidos e à ausência da FRETILIN na cimeira de Macau9, resultando numa guerra civil e ajudaram à estratégia de desestabilização e à criação de um clima de medo e preocupação que tanto servia os interesses da «Operasi Komodo» da Indonésia. Durante aquele período as atenções do «mundo» estavam voltadas para aquela região do sudeste asiático: a guerra no Vietnam e os desaires dos EUA, a importância geoestraégica do estreito de Malaca com as suas águas profundas que permitiam a passagem e as manobras dos submarinos norte-americanos, mas não para Timor-Leste e o seu processo, já conturbado de descolonização. A amizade entre os EUA, a Austrália e a Indonésia em matéria militar e económica10 e o discurso dominante sobre a possibilidade de ter na região mais um país comunista maoista preocupava muito a hegemonia ocidental que perdia a olhos vistos a guerra no Vietnam e por isso a via o seu poder reduzido naquela região da Ásia e a própria ASEAN11 dominada pelo princípio da «não ingerência» e soberania dos estados membros e da qual a Indonésia além de ter sido um dos países fundadores mantinha uma poderosíssima influência. Nos finais de 1975, os níveis de violência no território eram já elevados, sem que estivesse ainda «declarada» e assumida a invasão. Quatro jornalistas australianos que seguiam de perto os combates que já se travavam na parte ocidental de Timor junto à fron8 A UDT formou-se no dia 11 de Maio de 74, a ASDT (mais tarde FRETILIN) no dia 24 de Maio e por impulso da Indonésia a APODETI, no dia 27 de Maio e que defendia a integração na república da Indonésia. 9 Onde se decidiu sobre como prosseguir com o processo de descolonização e que esteve na base da Lei 7/75 10 Havia acordos assinados entre a Austrália e a Indonésia sobre fronteiras marítimas por causa das grandes jazidas de petróleo e gaz. natural conhecidas de longa data 11 Associação dos Países do Sudeste Asiático teira, são assassinados em Ballibó e este episódio é relatado por Adelino Gomes, jornalista português, que se encontrava em Timor (Outubro de 1975) e que publica a sua reportagem na revista FUNU, em 1980 (Magalhães, 1983:13-14) (...) a Greg Shackleton e Malcom Rennie (jornalistas) a Jan Cunningham e Brian Peters (cameramen) e a Tony Stwerart (operador de som), meus camaradas de profissão, mortos de olhos abertos, câmara, microfone e caneta nas mãos, dedico estes apontamentos de reportagem. (...) Se a memória não me atraiçoa foi Greg Shackleton quem me respondeu: «Viemos cá para filmar 2 ou 3 minutos de combates. Como parece que é aqui que eles se vão dar, aqui ficaremos o tempo que for necessário». (...) Apontou para a parede amarela duma casa onde estava escrita a palavra «AUSTRÁLIA». Ao lado, um pouco acima, o desenho da bandeira australiana: «aquilo é para que os indonésios, se entrarem em Balibó, verem que há aqui estrangeiros e não nos matarem. É a nossa embaixada!». O clima de confronto, insegurança e combate é bem palpável e concreto. Adelino Gomes diz noutra passagem da sua reportagem: (...) Tínhamos acabado de passar a ribeira Nunura, os nervos tensos. Único local onde vimos a «escolta» empunhar as armas na nossa primeira viagem pelo interior do país, pela ribeira se tinham já detectado infiltrações de homens e material. (...) Para avançarem sobre Dili, os invasores tiveram que passar por cima dos cadáveres, das imagens e do som que testemunhavam os seus crimes. Sem os filmes e o som das palavras dos jornalistas, o governo australiano pôde fechar os olhos e as grandes potências os ouvidos aos apelos e queixas dos dirigentes da Fretilin. Este testemunho de Adelino Gomes e mais tarde a divulgação das imagens e som, gravados pela equipa australiana assassinada, através de um documentário a que foi dado o título de “A shadow over East Timor”12, fazem parte do património de informação que permite comprovar que o clima político e militar era já muito tenso no final de 1975, antes mesmo da invasão total de Timor-Leste se consumar, no dia 7 de Dezembro do mesmo ano. 4- Faz alguma diferença ouvir uns e outros, umas e outras? Quem fala e quem pode falar? Quem ouve e quem é ouvido? No interior da ilha, nas suas matas e montanhas, nas vilas a ocidente, mais vulneráveis às manobras indonésias, a vida vivia-se numa tensão permanente e a morte violenta começa a fazer parte do quotidiano de muita gente dessa região. Mas apesar de tudo o que se passava em alguns lugares, o conflito não era ainda generalizado. Nem todas as pessoas vivem esse período de igual forma, com a mesma convicção de que se preparava uma invasão para travar o perigo comunista. António viu e viveu a guerra sobretudo na ponta leste e centro e Mafa nas montanhas da parte ocidental. Em comum têm de terem mais ou menos a mesma idade, terem estado pelo menos uma dezena de anos na guerra nas montanhas e nas vilas, fazendo parte da resistência armada e da resistência clandestina. Conhecem os combates, a captura e a tortura. Mas os seus discursos não são iguais nem dizem exactamente as mesmas coisas. Mafa era uma jovem de 19 anos. Vivia em Dili, no bairro de Taibesse e relata assim aquele período: 12 Infelizmente não tive acesso ao documentário para o poder referir apropriadamente. No entanto vi-o por diversas vezes em meados dos anos oitenta. Outubro de 2002 Teresa Cunha 20 A notícia da invasão já sabia uma semana antes por causa das ameaças que a gente ouvia sempre através da rádio indonésia. Xico Lopes e Mariano Lopes avisavam-nos que eles (os indonésios) iam passar o Natal a Timor. Mas mesmo assim a gente não acreditava mas como começou a haver aqueles ataques nas fronteiras a gente já estava prevenido e na véspera do dia sete de Dezembro conseguimos ouvir os bombardeamentos de barco a aproximar de Liquiçá e depois já de madrugada, eram quatro ou cinco horas da manhã, os helicópteros começaram a sobrevoar a cidade de Dili e a metralhar e a partir dali é que já tínhamos a certeza que era a invasão indonésia. Mas como a gente como nunca tinha experiência da guerra, a gente mesmo assim pensava que era uma coisa passageira mas mesmo assim tínhamos coisas prevenidas na véspera, fugimos, fugimos todos lá para a montanha. Na cidade corriam rumores que alguma coisa estava para acontecer mas a concretude dos combates que havia meses se travavam no interior ainda era uma invisível. As ameaças que os dois líderes timorenses partidários da integração na Indonésia, Xico Lopes e Mariano Lopes, faziam chegar pela rádio, não chegaram para que as pessoas como a Mafa e a sua família, percebessem que estava em marcha um plano que envolvia não só líderes locais como também governos de vários países da região - Austrália e Indonésia e do hemisfério norte, nomeadamente, Portugal e os EUA. A partir da madrugada do dia 7 de Dezembro de 1975, a situação nas ruas de Dili mostra que a invasão não era apenas uma ameaça. Os testemunhos falam em autênticos massacres (Magalhães, 1983: 20-21). Num relatório elaborado pelo ex-consul da Austrália em Dili, James Dunn, apoiado nos relatos directos das pessoas que viveram esses dias na capital de Timor, escreve o seguinte: (...) Às nove da manhã do dia seguinte estas pessoas e outras receberam ordem dos soldados para irem ao estaleiro, onde estavam presas cerca de 27 mulheres, algumas timores e outras chinesas. Ele disse que um certo número de mulheres tinham crianças e que todas choravam. Os indonésios arrancavam as crianças às mães e davam-nas à multidão. A seguir as mulheres foram abatidas uma a uma. Os indonésios deram ordem aos presentes para fazerem a contagem. (...) Estes homens eram abatidos um por um. De novo os presentes tiveram de fazer a contagem. Foram cerca de 500, calculava ela. As vítimas deviam pôr-se na ponta do cais, de modo que os corpos caíssem na água ao serem abatidos. Os soldados indonésios abriam fogo sobre os corpos na água quando eles ainda davam sinal de vida. Este tipo de testemunhos sublinha o carácter de máxima violência física e psicológica da invasão indonésia. A invasão era o começo de uma guerra que se iniciava, para muita gente de forma inesperada e que provocou de imediato, um clima de terror entre a população da capital. Muitos fugiram como puderam e recuaram para as montanhas mas houve quem ficasse esperando, desconcertadamente que as coisas melhorassem. Mas parecia não haver salvação para ninguém; tudo e todos na cidade, são apanhados na lógica destrutiva da guerra. Mafa conta: E outros ficaram assim, à espera que acontecesse outra coisa melhor. Mas depois quando já estávamos no hospital e olhámos lá para baixo e vimos muitos barcos de guerra atracados no porto de Dili é que ficámos mesmo muito mal. (...) As FALINTIL já estavam preparadas mas nós não tínhamos experiência nenhuma de guerra (...) A gente não fazia a mínima ideia do que era uma guerra. (...) Quando estávamos a caminho os cães estavam a ladrar à procura dos donos, as casas estavam de portas abertas, era assim um abandono mesmo triste. Depois as pessoas assim assustadas com crianças ao colo alguns nem sequer tinham tempo de pegar nas roupas. Foram mesmo assim a correr, tudo para a montanha. Mafa conta quais as notícias que chegavam até aos grupos de pessoas em fuga no interior das montanhas: Desde Aileu é que nós começámos a ouvir... davam-nos notícias sobre os massacres, os saques, os roubos, violações. As notícias eram sempre isto, eram sempre iguais. Porém, a guerra não parece ser a mesma em Dili, durante a fuga pelas montanhas, ou nos lugares de abrigo. Apesar dos perigos, da escassez de alimentos e da ausência de conforto, uma aparente e estranha normalidade parece estar presente nos relatos. Mafa: (...) Depois de Aileu, fomos para Maubisse e de lá para Same. Depois de Same é que subimos para a Montanha mesmo no interior. Ouvíamos era as bombas que os aviões lançavam mas a gente no interior não ouvia mais o barco nem nada, era só os aviões. Mas a gente fazia uma vida normal porque a população que vivia mesmo lá faziam a vida normal apesar da guerra civil mas já estavam a organizar-se. Aquilo a gente via que a guerra não tinha chegado até lá. Então nós também acompanhávamos; íamos para o bazar fazíamos mesmo uma vida normal. A gente naquela altura ainda tinha um pouco (dinheiro) e comprava, íamos para o bazar comprar comida. Nas lojas já não havia porque as lojas estavam todas destruídas quando foi do golpe da UDT. (...) A gente só comprava no bazar e mais nada. (...) Passámos por vários sítios mas era tudo calmo. A população continuava a fazer aquela vida, faziam hortas e tudo mas a gente nem ajudava nem nada. A gente estava só de passagem. Entretanto em Lisboa a notícia da invasão fez mover a diplomacia uma vez que o território de Timor-Leste, desde 196013 era considerado um território não autónomo, sob administração portuguesa pela ONU. Perante o Direito Internacional, Portugal mantinha responsabilidades a que não se podia escusar. No dia 22 de dezembro de 1975 o Conselho de Segurança das Nações Unidas adopta a resolução 384. O texto da resolução 384 é composto por quatro partes fundamentalmente, a saber: Ouvidas as partes (representantes de Portugal, Indonésia e do povo de Timor-Leste) O Direito Internacional (O Tratado das Nações Unidas e a Declaração sobre a Concessão da Independência para os Países e Povos Colonizados) As preocupações (com a situação) Apelos e medidas a tomar (Estados, Governo da Indonésia e Secretário Geral da ONU). O texto desta resolução, bem assim como as subsequentes, usa uma linguagem normativa, que deriva quer do direito internacional por um lado, quer dos procedimentos institucionais da Organização, por outro. Na resolução destaco as seguintes frases porque nelas estão os principais conteúdos da argumentação da ONU perante o conflito: - Reconhecendo o direito inalienável à autodeterminação e independência do Povo de Timor-Leste, de acordo com os princípios da Carta das Nações Unidas e da Declaração contida na resolução 1514 da Assembleia geral das Nações Unidas; - Gravemente preocupado com a deterioração da situação - Gravemente preocupado também com a perda de vidas e consciente da necessidade de evitar uma matança/carnificina 13 Resolução 1514 da Assembleia Geral da ONU em 14 de Dezembro de 1960 Outubro de 2002 Teresa Cunha 22 - Deplorando a intervenção das forças armadas indonésias em Timor-Leste; - Apela ao respeito da integridade territorial de Timor-Leste e ao direito à autodeterminação do Povo de Timor-Leste - Apela à cooperação entre Portugal, potência administrante, e as Nações Unidas - Apela a todas as partes para encontrar uma solução pacífica que facilite a descolonização - Pede ao secretário geral que faça avaliar a situação e estabeleça contactos com todos os partidos em Timor-Leste Apesar da evidente preocupação pela situação humanitária, não há qualquer referência a uma guerra. Ao referir que a Indonésia deve respeitar a integridade territorial de TimorLeste, a ONU assume que há uma violação às normas internacionais, relacionando este facto, com os direitos à autodeterminação dos povos Colonizados consagrados no Tratado da ONU e na referida Declaração da Assembleia Geral. A linguagem é processualmente neutra; ela vincula a situação ao determinismo e lógica universal do direito. A preocupação com uma possível carnificna, pode-se ver como um constrangimento à ‘solução pacífica’ necessária para conseguir levar a cabo a descolonização. É este o conceito de paz e segurança da ONU14 e ele aplica-se directamente dos corredores de Nova Iorque a qualquer lugar do mundo, onde se possa alegar um rompimento nesta ordem, tratada e acordada entre os Estados. Ao mesmo tempo mas noutro tempo, no interior das montanhas de Timor-Leste a ONU existe, fala-se dela, da sua missão e do que ela podia fazer concretamente, ali. As expectativas eram as seguintes segundo Mafa: Quando estávamos em Same, não sei se era verdade, eu agora ainda não tenho a certeza, porque o Alarico começou a espalhar que o capacete azul que iam lá fazer intervenção. Então os homens assim mais fortes, os homens todos e os rapazes juntaram-se todos, de Same, e foram limpar o aeroporto para receber os capacetes azuis (...). Toda a gente estava contente. Mas a gente já tinha esperança porque que já ali vêm os capacetes azuis que iam lá fazer intervenção. A única esperança era a intervenção de outros países. Isso era uma coisa que não fazia morrer a esperança: a intervenção de outros países, sempre esta palavra. Mas depois quando os indonésios atacaram Betano, em Alas, é que viemos a descobrir que era tudo mentira. Esta expectativa defrauda-se mas ela revela que, de alguma maneira, o espaço ONU e o espaço montanhas de Timor, os tempos de um e de outro se cruzaram e houve numa espécie de contemporaneidade que se deu na subjectividade daquelas pessoas. Uma e outra linguagem se encontraram numa qualquer ‘zona de contacto’15 mas que não teve condições para construir alguma coisa mutuamente útil, num diálogo real sobre o que estava a acontecer no mundo e nas montanhas. Visto à distância, apenas faz relevar a discrepância originárias, entre um espaço-tempo e outro espaço-tempo. A guerra em Timor-Leste progride e atinge outros lugares. Podemos ouvir o que diz António, na altura com dezasseis anos de idade, vivendo em Lospalos, a vila mais a leste da ilha, a cerca de duzentos quilómetros de Dili. António conta como foi a invasão, como a viveu: Estava em Lospalos quando se deu a invasão indonésia. Eu soube da invasão quando foi da infiltração de tropas indonésias e os aviões a sobrevoarem e a bombardearem Timor. Foi um bombardeamento intenso. Eram morteiradas, canhoadas que vinham do mar que vinham do ar e muita 14 15 É muito interessante ver, a este propósito o preâmbulo e o artigo 1 da Carta das Nações Unidas Ver o conceito de ‘zona de contacto em SANTOS, 2001: gente sofreu por causa disso e muita gente morreu por causa disso. Em Lautém (as tropas indonésias) chegaram a 13 de Fevereiro. Ainda me lembro muito bem da data. Lançaram páraquedistas em 13 de Fevereiro de manhã muito cedinho. Quando acordámos já tinham lançado aqueles pára-quedistas. Porém, antes da descida destes pára-quedistas chegarem a Lospalos, já havia testemunhos de bombardeamentos ao largo de Com, o porto da ponta leste da ilha do lado norte. António continua assim: Chegaram. Eram, eu não vi com os meus próprios olhos, mas segundo contaram, eram três ou quatro barcos de guerra que bombardearam, bombardearam intensamente as matas. Do lado ocidental a guerra progride e Mafa continua a sua fuga pelas montanhas. Quando eles entraram em Soibada, nós descemos à planície, Nartabora e começámos a trabalhar com a população. Eu nunca fazia aqueles trabalhos da horta ou das várzeas mas aprendemos. Isto foi em 76. (...) havia muitos refugiados mas muitos morreram por falta de medicamentos, por causa do mosquito. Já não ficávamos no mesmo sítio, aquilo era só um dia, dois dias, no máximo três. Tínhamos que fugir. Toda a população (...) inconscientes de que aquilo facilitava o prosseguimento da tropa indonésia. Foi por causa disto também que a maior parte da população foi apanhada por causa dos rastos que nós deixávamos.(...) Houve muita fome; ao princípio ainda havia comida mas depois aquilo acabou-se tudo. (...) Como a minha disse que era pela nossa terra, eu criei coragem e entrei. Eu era secretária do comando das operações. (...) Sabíamos das violações das mulheres, as pessoas falavam muito, sabíamos dos saques e as pessoas que iam render-se também eram fuzilados. O governo indonésio prometeu quem fosse lá render-se e tomar o partido deles não ia ser morto mas mesmo assim foram mortos. Sabíamos que muitos timorenses para salvar a vida tinham que estar do lado dos indonésios, principalmente aqueles que tinham irmãos, primos, familiares que eram das FALINTIL. O comando das operações tinha que se deslocar sempre (...) o comando das operações teve que deslocar-se , nós saímos daquele sítio e regressamos a Barik, a pé pela montanha, pela planície, pela praia. Houve muitos assaltos durante o nosso percurso. (...) A gente arrancava erva e experimentava, se não era amargo a gente engolia se era amargo a gente cuspia. Naquelas hortas abandonadas se havia ainda algumas espigas de milho a gente comia assim mesmo, cru porque não tínhamos panelas nem nada e sofremos muitos assaltos e emboscadas dos indonésios e foi num dos assaltos que a minha mãe e a «brigada de choque feminino» se separou de nós. Eu tive que ficar com as FALINTIL, com o meu marido. Nós tencionámos ir encontrar os outros. O nosso objectivo naquele momento era procurar os outros e as FALINTIL. Nós voltámos ao nosso antigo esconderijo, lá em Barik mas como muitos guerrilheiros estavam doentes nós tivemos que acampar ali naquele sítio e no dia seguinte continuar a nossa caminhada. Naquela altura o meu marido estava muito doente, ficámos e acampámos havia lá muita fruta-pão e aproveitámos que um guerrilheiro tinha uma panela e cozinhámos aquilo e comemos. Depois, de manhã antes de arrancar os guerrilheiros ainda foram à nascente havia alguns que queriam água quente, ferveram água e não se lembraram que aquilo podia chamar a atenção. O inimigo não ia tomar aquele caminho para Alas mas por causa do fumo foram, passaram por lá e assaltaram. Apanharam, alguns guerrilheiros morreram. Fizeram dois cercos, eram sete horas da manhã e só à tarde é que nos assaltaram. O meu marido ainda fez cobertura e eu ajudei, fizemos cobertura. Os guerrilheiros conseguiram sair e nós também mas depois o inimigo conseguiu fechar novamente, os outros fugiram e nós ficámos sozinhos mas mesmo assim eu ainda amparei o meu marido e ele lutou, lutámos até ele apanhar um tiro na cabeça. Outubro de 2002 Teresa Cunha 24 Neste ponto Mafa fala, sem saber ainda, que naquele momento é-lhe imposta uma realidade nova e totalmente inesperada na sua vida: termina aquele período que ela designa de felicidade, de festas e risos, de uma vida boa e sossegada e começa o ‘inferno’ da captura, tortura e por fim o exílio. (...) Pronto ele caiu e arrastou-me também e eu pensei que era para rastejar por causa das balas. Aquilo era só cruzamentos de balas. Quando eu me deitei no chão e olhei ao meu lado vi o cérebro eu sabia que ele foi atingido mas mesmo assim eu chamei: «Artur, Artur!» Ele ainda me respondeu mas eu peguei já na arma... eu acho que ele foi mesmo atingido não sei o que vou fazer, então eu fiquei e peguei na arma mas não sabia se era para suicidar-me ou se...não sabia estava mesmo nada...às tantas eles atacaram e eu fingi que estava desmaiada mas segurei na arma. De repente levantei-me e quando ia disparar apanhei uma coronhada, caí, desmaiei e naquele momento fui logo presa. (...) Nós tínhamos um lençol eu peguei no lençol, cobri o meu marido e eu despedi-me e levaram-me já. A partir dali já fui presa. (...) No dia seguinte é que eu fui para a prisão de Alas. (...) Encontrei-me com a secretária da Mulher de Timor que era também membro do comité central da FRETILIN e não podia falar com ela antes do inquérito, então eu fui conduzida para a sala do inquérito e fui inquirida mas depois mandaram-me descansar. Fui lá e fui ter com a Maria José e partir daquele dia eu e ela tínhamos o mesmo horário de inquérito mas só a partir das sete e meia da noite. A nossa sala de inquérito era o quarto dos militares. Era em quartos diferentes. A gente sentava-se na cama e eles faziam o inquérito. As mesmas perguntas, só falavam de política, perguntavam como é que era a organização das FALINTIL, como era como a organização da mulher, como é que era a organização da juventude, qual o itinerário previsto para novos ataques, a nossa base de apoio, eles queriam saber todas essas coisas mas depois dessas perguntas mandavam-nos ir dormir: «Vá vão-se deitar». Passados cinco minutos era outro comandante que queria fazer-nos os inquéritos. Nós íamos para outra sala, outro quarto. Só falava de sexo. Eram dez ou quinze minutos e mandavam-nos deitar e depois era outro e depois outro. Aquilo já não era inquérito nem nada mas era para violar. A gente não sabia como é que era e estavam lá muitos timorenses que diziam «cuidado com o vosso corpo, cuidado se vocês querem defender a nossa pátria, se vocês querem morrer como as outras bibere16 então defendam o vosso corpo.» A gente não sabia qual o caminho que a gente ia escolher. Era oferecer o nosso corpo ou como é que é? Estas são as angústias das mulheres que sabem que estão completamente nas mãos dos seus carcereiros. São cercos que se fecham sobre elas, inexoravelmente. A possibilidade de combate é aparentemente irrisória. A desigualdade é profunda mas isso não significa rendição perante a totalidade da lógica do violador que é uma como se sabe, cada vez mais, utilizada como arma de guerra. Entretanto as Nações Unidas iam recebendo relatórios dos timorenses na diáspora, do governo português, das ONG que se formaram ou apoiavam a causa de Timor-Leste. O Alto Comissariado para os Direitos Humanos e o Comité de Descolonização recebiam delegações que trabalhavam com os representantes dos governos no sentido de os sensibilizarem para o que estava a acontecer em Timor-Leste. Neste período a actividade diplomática de Portugal era muito fraca mas os movimentos de solidariedade procuraram, juntamente com os líderes timorenses, nunca deixar de exigir o exercício do papel e responsabilidades formais que como potência administrante de Portugal tinha, à luz do Direito Internacional, na procura de um quadro institucional aceitável para prosseguir a luta (Pureza, 2001:26). Fora de Timor-Leste, na cultura sóbria e pouco ruidosa dos corredores da ONU e das suas Comissões especializadas em Nova Iorque ou em Genebra, estas informações, 16 Palavra que quer dizer mulher do povo chegavam e eram processadas ao ritmo da burocracia. Ali, naquele espaço-tempo a palavra emergência faz apela mais à paciência, à perseverança do que à urgência e à acção. O ritmo da guerra é diferente. As palavras sobre a guerra também. Na resolução 389 (1976) de 22 de Abril do Conselho de Segurança e nas resoluções 32/34 de 28 de Novembro de 77, 33/39 de 13 de Dezembro de 1978 e 34/40 de 21 de Novembro de 1979 da Assembleia Geral a comunidade internacional fala da guerra que ocorre em Timor-Leste através das seguintes palavras ou expressões: O direito à auto-determinação A integridade territorial Situação tensa Retirar forças Solução pacífica Facilitar a descolonização A partir de 1977 algumas coisas novas aparecem no discurso oficial da ONU: o reconhecimento da situação grave do ponto de vista humanitário que se vive no território, obriga a que os organismos internacionais peçam que se facilite a entrada da Cruz Vermelha a recusa da pretensão indonésia de haver anexado Timor-Leste através do voto favorável de um conjunto de timorenses nomeados para constituir uma «Assembleia Representativa Popular», considerando todo esse processo, uma fraude jurídica. Ao considerar ilegal esta pretensão, a ONU recusa alienar a lei e os processos considerados legítimos de autodeterminação à estratégia do fait accompli que a Indonésia usa. E pela primeira vez fala da legitimidade da luta. No entanto a linguagem da ONU é jurídica e procura sempre a legitimidade jurídica fazendo desaparecer nos seus textos outro tipo de alegações que pudessem conduzir a um desvio da norma através de um qualquer sinal de «partidarização» daquilo que designa abstractamente por ‘luta’, ‘conflito’ e ‘situação difícil’. A invariância, regularidade e neutralidade são valores caros à comunidade internacional universalizadora de padrões, normas e valores. Luta, na linguagem da ONU é conflito cognitivo, conflito de interesses, é um terreno de combate que não deixa vítimas, sangue nem destruição. Não há lágrimas, nem gritos apenas o máximo da civilização prefigurado ou configurado já em mais regulamentos, protocolos, convenções e tratados, todos para que se respeitem os ‘Direitos Humanos’. A evolução sangrenta e trágica dos factos leva a Assembleia Geral em 1979 a considerações humanitárias mais profundas; fala de sofrimento, de auxílio aos refugiados, de reunificação familiar. A situação no território, ou seja o não dito e maldito nome daquela situação: a guerra, parece ser um rompimento com a Lei Internacional e transfigura-se em caos humanitário. Para as histórias individuais e colectivas das/os timorenses refugiadas/os nas montanhas e que morrem dos bombardeamentos, da fome e das doenças, esta ruptura com a Lei Internacional ou este caos humanitário, pode ser um horizonte de auxílio ou de resistência, mas não alivia em nada o sofrimento que a guerra realmente causa em cada momento. Para António e Mafa a guerra contava-se de outra maneira. Sofrimento, auxílio, situação tensa têm significados que emergem de cada minuto que vivem na mata num confronto diário com a violência e a possibilidade da morte. Para eles luta quer dizer, sangue, destruição, fome, frio, pânico, fuga, separação. Enquanto a ONU fala da integridade territorial, Mafa e António falam da integridade física e psicológica. De um lado são objecto da lei, do outro as/os sujeitas/os da história. Objectos e sujeitos entre-cruzando-se sem saberem e construindo auto-reflexividades numa teia complexa sobre a guerra e a Lei Internacional. As passagens seguintes dos relatos orais de Mafa e António, chamam a atenção para a forma de contar e medir o tempo material e simbólico para chegar à liberdade: quando Outubro de 2002 Teresa Cunha 26 António anuncia a escatologia da guerrilha – não sabíamos em que ano, em que mês e em que dia mas sabíamos que chegaríamos à Libertação. Para Mafa dar o corpo pela Pátria amada é o tempo necessário para criar a possibilidade de denunciar a mentira, o simulacro, num futuro que não se sabe onde está ainda. É como que a restituição da dignidade à história, a redenção dos que falam sobre ela e decidem sobre o seu fim. António diz assim: A gente fugia sempre. A gente nunca ficava em lugares fixos a gente mudava de sítio para sítio. Mas a população toda a população estava consciente de que ia resistir e um dia haveria de ganhar a guerra, não se sabia exactamente em que ano em que mês e em que dia a gente ia ganhar a guerra. Para Mafa os problemas emergiam assim: Depois eu e a Maria José assim: se eles nos violarem como é que é, qual é a tua ideia? Se eles quiserem violar que violem mas um dia ainda hei-de contar essa história para todo o mundo. Depois eu disse: «Tu estás disposta a oferecer o teu corpo? Eu tenho tanta vergonha.» Ela disse-me: «Olha aqui a gente não pode ter vergonha se queremos que o mundo saiba a nossa história, paciência! Temos que oferecer o nosso corpo». Então eu disse: «Se tu vais oferecer o teu corpo eu também estou consciente, vamos.» Então nós as duas aceitámos. (...) O maior sofrimento era a violação. Depois nos inquéritos ameaçavam-nos de muitas coisas ora espetavam a pistola no nosso pescoço, ora diziam: «Sabem onde é que é a mulher morre com mais facilidade? É aqui nas vossa mamas» depois apontavam e depois o nosso corpo era como se fosse assim um objecto. A gente não sentia nada por eles não sentia nada pelo prazer... depois de ser violadas a gente ficava tão humilhada.(...) A gente não tinha assim lágrimas para chorar. A gente sentia aquela dor mesmo de humilhação. Nós éramos, o que é que nós éramos agora? O nosso corpo era uma brincadeira. Nós tínhamos que aceitar para salvar as outras pessoas 5- Entre o paraíso e uma solução internacionalmente aceitável O caos humanitário em Timor-Leste (palavra notoriamente deficitária de sentido para designar a guerra) perde apoio a nível internacional e é por isso muito difícil manter a questão na Agenda da Assembleia Geral das Nações Unidas e fazer adoptar resoluções que estivessem de acordo sequer, com o Direito Internacional e portanto com a fonte de legitimidade institucional internacional. A ortodoxia do realismo político revela-se cruamente: a lógica da Guerra Fria impunha-se e com ela o silêncio sobre aquela guerra invisível aos olhos do resto do mundo e das instituições de governação global. Aquela guerra era a de um povo faminto, pequeno, remoto, frágil, vulnerável. Um povo local para uma Comunidade Universal. Num mundo dividido em três grandes partes - capitalismo, comunismo e os não alinhados - Timor não existia, assim como outros povos. A ausência de qualquer densidade ontológica para um objecto que não encontra lugar no todo, leva naturalmente ao seu desaparecimento real e simbólico, ao olho teórico e normalizador. De 79 a 82 ainda são adoptadas resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas, com uma margem cada vez mais pequena de votos a favor. Os conteúdos não se afastam muito dos anteriores. O pressuposto fundamental de legitimidade jurídica mantém mas os termos são mais brandos e já nem se fala de conflito, carnificina, mas de hostilidades, de aliviar a fome e o sofrimento do povo. As resoluções 35/27 de 11 de Novembro de 1980, 36/50 de 24 de Novembro de 1981 e a 37/30 de 1982 continuam a falar de autodeterminação e descolonização porque este direito está compreendido no conjunto de tratados que fundam a própria ONU para em seguida falar da guerra de uma maneira cada vez mais dúbia: Encontrar uma solução aceitável O sofrimento do Povo de Timor-Leste Situação crítica devida à fome A necessidade de assistência pelas agências internacionais especializadas Aliviar o sofrimento Preocupação com a situação humanitária A preocupação em condições que permitam ao Povo o efectivo gozo dos seus direitos fundamentais Parece-me ter alguma pertinência questionar alguns dos conteúdos atribuídos, no espaço-tempo da governação praticada pela ONU, ao modo de narrar a guerra. Em primeiro lugar a respeito da necessidade de encontrar uma «solução aceitável». Aceitável para quem e em que termos é aceitável? A resolução não diz nada a não ser que ela tem que ser encontrada no quadro do direito internacional e das relações inter-estatais que nunca falam de guerra mas sim de paz e segurança entendendo-as como a ausência de confronto bélico convencional, de modelo vestefaliano17. Esta solução internacionalmente aceitável significa negociar, isso significa ‘ter’ tempo, competências, dinheiro, posição de poder. O ‘diálogo’ que se prescreve é, e será um combate de facto mas com outro ritmo que não é exactamente o mesmo do da ‘guerrilha’ nas matas do interior de TimorLeste, e com outras competências que não são as imaginadas para um ‘povo local e remoto’. Em segundo lugar a respeito da preocupação sobre as condições do efectivo gozo dos direitos fundamentais, quem define quais são os direitos fundamentais e mesmo aceitando estes como os que estão descritos pela Declaração Universal, como se podem escolher entre eles os mais fundamentais e os menos fundamentais? Como podemos iludir o facto que na aplicação da norma há um pressuposto de selectividade hierárquica de valores que se determinam por um jogo dos interesses nem sempre compatível com o espírito que lhe subjaze? Como travar o bom combate entre a verdade e o bem? «Quando o Direito Internacional confirma a vontade política dos estados dominantes, ele é invocado para conferir suporte a iniciativas políticas globais (...) Mas quando uma interpretação razoável do Direito Internacional colide com as políticas preferidas por esses Estados em matérias prioritárias, então o Direito tenderá a ser marginalizado pelos seus violadores (...)» (Falk, Richard, apud Pureza, 2001: 14) Quanto ao alívio do sofrimento e das agências especializadas em o praticar é interessante questionar em que termos é que se fala e se ‘trata’ do sofrimento em caso de carnificina e matança, ou seja, guerra e violência generalizada num determinado território: o sofrimento é disciplinar, é sectorial, cada pessoa ou cada família é um segmento que se trata com uma certa terapia, que se alivia com um certo tipo de analgésico18. Algumas organizações tratam da fome, outras as crianças e, ainda outras com as/os refugiadas/os. O sofrimento não é uma coisa total, incorporada, complexa, contraditória e inter-relacionável entre dimensões espirituais, materiais e psicológicas. O ‘alívio’ começa a ser administrado pelas crianças ou pelas/os refugiadas/os, trata-se primeiro da fome ou das deslocações forçadas? Quando há emergência é tudo prioritário e corremos o risco de tomar a parte pelo todo e desperdiçar também muitas experiências, nomeadamente, aquelas que não têm como práticas fundadoras dividir, classificar para depois intervir. Penso que pode ser legítimo perguntarmos se nesta maneira disciplinar, compartimentada, segmentada, que é invocada pela convocação das agências especializadas para o alívio do sofrimento, não é ela 17 18 A visão minimalista de segurança e de paz presente no tratado das nações de 1945 Programa Mundial Alimentar, O Fundo das Nações Unidas para as Crianças, O Alto Comissariado para os refugiados Outubro de 2002 Teresa Cunha 28 mesma, um das imagens reais da modernidade, soberana e inquestionável no que se refere a todo e a qualquer ‘outro’ conhecimento? Por outro lado temos outras palavras e outros modos de dizer o ‘alívio’, se é que há alívio do sofrimento. Mafa dá-nos algumas ideias através dos seus relatos. (...) E depois eu soube que o meu irmão morreu ali e eu fiquei tão triste que eu não tinha lágrimas para chorar. Eu pedi para ir lá visitar a campa mas eles não deixaram eu não sei se fiquei triste ou não eu sei que parecia que não tinha coração. Mas a guerra não acabara. Ao contrário do que mostra o tempo da diplomacia bilateral (Portugal/Indonésia) ou multilateral, no quadro da ONU, o avanço das tropas continua e Mafa e António continuam a ser silêncios para o tempo da política internacional mas que entendem e falam do seu conhecimento político sobre a importância que funda a desigualdade entre a sua pela pátria amada e a região do sudeste asiático (desigualdade não diferença) em que inserem. António diz: A partir de 77 toda a gente se marchava para Matebian Era muito difícil, era uma situação extremamente difícil porque é compreensível que é uma situação de guerra de guerrilha é difícil e uma zona, uma área de dimensão de 18 a 19 mil km quadrados, uma zona muito estreita inserida naquela área tão grande, o dito sudeste asiático. A vida nas montanhas é muito cara porque era assim: todos os dias as pessoas se preocupavam com a aproximação inimiga, com a infiltração inimiga, preocupavam do comer. Depois da ruptura das campanhas, da campanha de Matebian, aí a vida tornou-se mais difícil. Em 78 desceu toda para as vilas e depois a partir daí (...). Desceu por motivos de força maior porque o inimigo cada vez mais apertava o cerco, a população não aguentava mais e o inimigo era poderoso na altura, em questões numéricas. Faziam anéis e disparavam, matavam as pessoas. As FALINTIL iam detendo mas era muito... mas em questão de armamento... tinham mais armas e as armas eram muito mais sofisticadas do que as nossas e o povo teve que descer para as vilas com a ideia de continuar a luta nas vilas ou nos campos de concentração, foi assim que a população desceu, em 78. (...) A gente não podia estar livres por causa daquela presença toda do inimigo. A gente sentia-se feliz por lutar por uma pátria livre, por uma pátria livre, um povo livre. Isto era a nossa ideia, estávamos mesmo decididos e sobretudo determinados em prosseguir a nossa luta embora que fosse difícil. (...) Às vezes passávamos fome. A gente recorria aos recursos naturais que a nossa terra dispõe e a gente recorria às hortas da população. A gente dormia em qualquer lado, onde o inimigo nos largava, a gente dormia ali, naquele sítio. O mais difícil de suportar era a gente viver em muito más condições, era o mais difícil. Eu falo concretamente duma passagem que nós, a gente às vezes não comia, quando o inimigo nos apertava, quando o inimigo fazia as suas batidas em grande escala a gente sujeitava-se à fome. (...) Mas o pior de todos que eu assisti e participei e vi com os maus próprios olhos quando foi nas campanhas em 1981. Começou no dia 30 de Agosto até 7 de Setembro de 1981. E isto foi o pior dos episódios. Nessa altura travávamos o combate durante sete dias, sete dias em que morreram muitos meus camaradas, perdíamos 800 homens, homens válidos, combatentes e comandantes. Morreram e adjuntos e inclusive membros do comité central morreram naquele dia, 7 de Setembro. Perdíamos 800 homens com 400 armas. Isto foi um cerco de aniquilamento que o inimigo fez com a participação de toda a população, mobilizou toda a população de todo o território nacional. Obrigaram as pessoas para participar naquelas operações para procurar os guerrilheiros. Este foi o pior episódio. Mafa relata em contrapartida uma outra faceta da violência da guerra: No dia seguinte eles foram lá dar ordens para a gente preparar as nossas coisas dar as nossa coisas (...) íamos assim, tínhamos que estar preparadas. Nós sabíamos que íamos morrer porque muitas pessoas que tinham ido de helicóptero morreram todas. Então nós sabíamos e ficámos à espera e rezávamos o terço porque não havia ninguém ali para nos defender, então nós rezamos e ficámos à espera. Era de madrugada foi lá um comandante dizer que já não era preciso. ‘Mandaram de Dili avisar que vocês já não são precisas’. A gente disse: ‘O nosso dia não é hoje’. Passou-se uma semana e eles mandaram arrumara as nossas coisas. (...) Depois eu e a Maria José fomos levadas de helicóptero e a meio do caminho eles baixaram o voo do helicóptero e estava lá um acampamento dos indonésios lá no meio do mato. Eram assim três metros e na altura empurraram a Maria José lá para baixo. Eu não sei se era mais alto do que isto, era para aí cinco metros. Depois levantámos o voo. Durante o voo a Mizé disse-me: ‘Fatinha eles vão levar-nos para o cabaré lá em Baucau, com certeza.’ Eu disse: ‘Paciência, estamos nas mãos deles, o que vamos fazer?’ Depois ela recomendou-me: ‘Se a gente não for para lá, for para Dili, se chegares antes de mim, vais avisar a minha família que nós estivemos juntas mas se eu chegar antes vou avisar a tua família, se ainda estão vivos.’ depois levantaram o voo depois demos uma volta eles queriam mostrar que ela estava lá, eles queriam ter a certeza e voltámos ao mesmo sítio e baixaram o voo a três metros de altura e mandaram-me olhar lá para baixo e vi a Mizé completamente nua já sem vida e estava a ser violada pelos indonésios. A densidade institucional das palavras e dos procedimentos requeridos para a obtenção das resoluções é contrastante com a intensidade emocional, existencial e biográfica dos depoimentos das pessoas que estão a viver os acontecimentos. Numa e noutra estão conhecimentos , expressões deste e modos de o comunicar. E é nesse caminho misterioso, de um conhecimento entre-capturado por diferentes protagonistas e múltiplas vozes, que podemos construir contributos fortes e relevantes para a ampliação da objectividade epistemológica. Conclusão Não é meu propósito neste ensaio reduzir a estas vozes, a história da guerra em TimorLeste nestes seus anos iniciais. Pelo contrário, tenho plena consciência do imensidade que me separa da complexidade do problema. Mas releva das leituras, da audição das testemunhas e da tentativa que fiz de articulação de várias informações dispersas, com alguns conceitos e categorias de uma epistemologia crítica, uma imagem de um lugar e um tempo que é, ao mesmo tempo um paraíso19 e um inferno ajudando-me a compreender melhor algumas coisas sobre a forma como as pessoas participantes não fazedoras da guerra, processam e representam o conhecimento sobre ela. Apesar de circular na sociedade timorense, através da rádio, dos rumores, informação sobre as intenções da Indonésia de invadir e anexar o território, esta informação não foi captada pela população da mesma forma como foi, por exemplo, pelos líderes timores e jornalistas portugueses e australianos. Há um diferencial de interpretação dos sinais que radica com certeza, na quantidade e na qualidade dessa informação, mas também na impossibilidade desta, ser fonte e causa de compreensão total do mundo. Isto quer dizer que as manobras políticas das cúpulas dos partidos timorenses, as negociações entre estes e Portugal, as declarações da Indonésia e os actos de infiltração praticados pelas forças armadas indonésias são percebidas muito difusamente pelas pessoas em geral. As pessoas tendem a desprezar as notícias que atentam contra a normalidade do seu dia a 19 Lugar de felicidade pessoal e colectiva, de paisagens maravilhosas povoadas de verdes e sons de pássaros e mar, que eu própria tão bem conheço Outubro de 2002 Teresa Cunha 30 dia, depois da turbulência provocada por um mês de guerra civil (que parece não ter sido entendida enquanto guerra mas golpe) e a preocuparem-se em dar continuidade ao que pensam ser uma existência feliz. A informação não é conhecimento. Esta afirmação ajuda a criticar a ideia de que ‘uma sociedade de informação é uma sociedade de conhecimento’. Uma segunda coisa que relevo desta reflexão é o diferencial de espaço e tempo que as diversas narrativas usam. Como já disse atrás, a densidade do tempo existencial biográfico das testemunhas contrasta claramente com o tempo institucional da ONU. O espaço de umas é a fuga para as montanhas, os abrigos, a mobilidade constante entre espaços de densa mata, concreta e material; para a ONU é o espaço da negociação interestatal, das reuniões e decisões do Conselho de Segurança. É o tempo da burocracia, do conhecimento tornado procedimento das equipas de peritos de Direito Internacional. Estes tempos e estes espaços convertem-se em mútuas ininteligibilidades ao longo de uma contemporaneidade que são os sete anos que uso para este ensaio. A urgência de uns para salvar-se e salvar a identidade de um colectivo identitário concreto, é a necessidade para outros de não romper com as cristalizações que uma identidade abstracta foi purificando normativamente. A sobrevivência física, identitária e individual para uns é a reinterpretação concreta e feita em contexto social e político real, dos direitos universais e indivisíveis, para a ONU é o tempo da re-interpretação dos ideais liberais numa cautelosa e dúbia relação entre o universal e o particular. A minha reflexão prende-se também com a multiplicidade de esperanças/expectativas, e nisto entendo a íntima relação entre o presente e o futuro, e como elas falam das/os diferentes protagonistas e da própria complexidade da guerra, que se revelam através dos diferentes tipos de textos utilizados para este ensaio. As pessoas de Timor-Leste, as participantes não fazedoras, primeiro esperam que a guerra não lhes altere por muito tempo a sua vida quotidiana e quando já não podem esperar isso da guerra feita pelos indonésios, esperam que seja a comunidade internacional a interromper aquele o ciclo disfuncional e infernal do seu dia a dia, começado com a invasão. Os jornalistas esperam poder ser considerados estrangeiros, testemunhas directas mas neutrais, aceitáveis num quadro de violência bélica, para objectivar em relatos e imagens aquilo que não pode ser transportado e viajado através de outros artefactos de conhecimento. Estas expectativas mostram-se estar longe de serem realizáveis e levam-nos ao seu próprio desaparecimento. Na esperança de impedir a invasão a independência é proclamada pela FRETILIN, mas esta expectativa defrauda-se e a seguinte é a que apesar da estratégia do facto consumado se possa, noutra instância, noutro espaço, noutro tempo, fazer respeitar o direito inalienável à autodeterminação dos Povos Coloniais. Por último o sofrimento como ausência de lágrimas como uma impossibilidade de ter coração e portanto de sentir. É a aceitação dum presente inevitável mas que redime projectando-se num futuro ainda obscuro mas de contornos denunciadores de uma libertação pessoal e colectiva. O sofrimento são planos e desígnios individuais e sociais de resistência e de estratégia de salvação. O sofrimento é, existe, incorpora-se porque é necessário à integridade de cada Timor, Pessoa e Terra. Mas o sofrimento para outras/os, só tem sentido porque é uma esfera de acção e de conjugação de vários esforços sectoriais que se unem num fim previamente determinado e controlado: alívio dos ‘incómodos’ biológicos, é controlo de fluxos e uma questão de integridade e segurança territorial. Depois de ouvir uns e outros, umas e outras, a minha imaginação cognitiva fortalece a intuição inicial: nesta narrativa há diferentes linguagens que escorrem ao longo do tempo de uma guerra. Raramente se tocam, se cruzam, se questionam directamente. Se se tocam e se encontram, fazem-no através de ‘zonas de contacto’ frágeis e que ainda não estabeleceram os modos de dialogar suficientemente avançados para tornar o desigual em diferença potenciadora. Apesar disso, um e outro discurso trazem dimensões e escalas diversas mas que ajudam a compreender melhor a história e o problema. As palavras não são as mesmas e os conteúdos também não mas no conjunto concorrem para explicar melhor essa teia de factos, paisagens, terrores e decisões que se tomam durante uma guerra. Separando, comparando e re-organizando os dois discursos principais que usei, fico com algumas palavras-chave: conflito, violência, luta, matança, sofrimento. Isto são também os nomes da guerra. Pouco sei mas ainda menos saberia sem ouvir as múltiplas testemunhas, nas diversas escalas porque o exercício de descanonização do conhecimento não é tornar simples o complexo, é tomar a sério a complexidade do que nos dizem ser simples. (...) A guerra para quem sempre viveu bem muitos anos de festa e de alegria a guerra é assim é uma coisa que parece um inferno. Eu não sei, o inferno que a gente aprendeu no catecismo, na doutrina. A guerra é um inferno! Referências Bibliográficas ATC, (2002), “TIMOR-LESTE, uma realidade uma utopia”, Coimbra: ATC. CAMPOS, J.M. [Coord.], (1999), Organizações Internacionais: Teorial geral, estudo monográfico das principais organizações internacionais de que Portugal é membro. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. ESCARAMEIA, P., (1994), Colectânea de Leis de Direito Internacional. Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas de Lisboa. GUSMÃO, X. (1994), Timor-Leste: Um Povo, Uma Pátria. Lisboa: Colibri. HARDING, S. (1998), Is Science multicultural? Post Colonialisms, feminisms and epistemologies. Bloomington Indiana: Indiana University Press. MAGALHÃES, A. B. (1983), Timor-Leste: Mensagem aos vivos. Porto: Limiar. MAGALHÃES, A.B., (1990), Timor-Leste: Terra de Esperança - II Jornadas de Timor da Universidade do Porto. Porto: Universidade do Porto. PUREZA, José Manuel (2001), “Quem salvou Timor-Leste”. Oficina do CES. Disponível no Centro de Estudos Sociais, Coimbra, Portugal. SANTOS, Boaventura de Sousa (2001) “A critique of lazy reason: against the waste of experience”. Oficina do CES. disponível no Centro de Estudos Sociais, Coimbra, Portugal. SANTOS, Boaventura de Sousa [org], (2001), Globalização, fatalidade ou utopia?. Porto: Afrontamento. SETENGERS, I. (1996), Cosmopolitiques I: la guerre des sciences. Paris: La Découverte/Les Empêcheurs de penser en rond. SETENGERS, I. (1996), Cosmopolitiques VII: Pour en finir avexc la tolérance. Paris: La Découverte/Les Empêcheurs de penser en rond. DOCUMENTOS DAS NAÇÕES UNIDAS Assembleia Geral das Nações Unidas, “Declaração sobre Concessão de Independência aos Países e aos Povos Colonizados”, resolução 1514 (XV) de 14 de Dezembro de 1960 General Assembly of the United Nations, Resolution 32/34. Question of East Timor, of 28 of November, 1977 General Assembly of the United Nations, Resolution 33/39. Question of East Timor, of 13 of December, 1978 General Assembly of the United Nations, Resolution 34/40. Question of East Timor, of 21 of November, 1979 General Assembly of the United Nations, Resolution 35/27. Question of East Timor, of 11 of November, 1980 Outubro de 2002 Teresa Cunha 32 General Assembly of the United Nations, Resolution A/RES/36/50. Question of East Timor, of 24 of November, 1981 General Assembly of the United Nations, Resolution A/RES/37/30. Question of East Timor, of 23 of November, 1982 Security Council of the United Nations, Resolution 384 (1975), of 22 of December, 1975 Security Council of the United Nations, Resolution 389 (1976) of 22 of April, 1976
Download