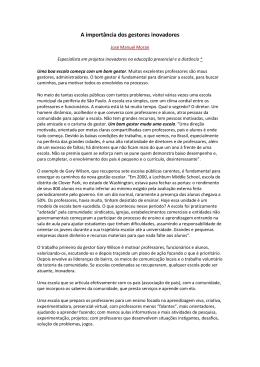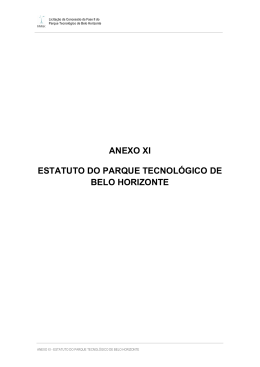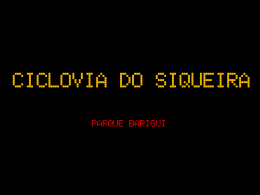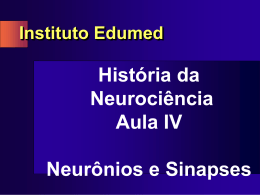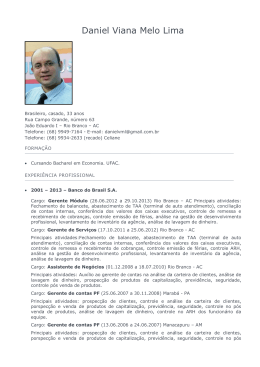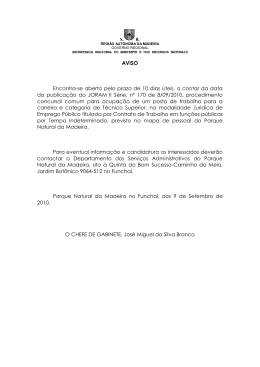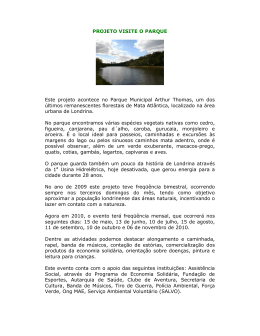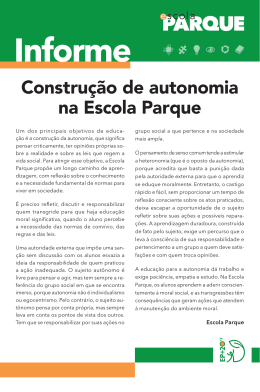67 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO Catarina Dias de Freitas ([email protected])¹ 1 - Estudos de Impacto e Licenciamento Ambiental em uma Perspectiva Multidisciplinar - IEC - PUC Betim. Resumo A criação das unidades de conservação (UC) foi uma solução para a preservação e a conservação ambiental de certas áreas de importância biológica e de recursos naturais em resposta à redução destes biomas. A educação ambiental se insere nas UC com objetivos de: mobilização social, de interpretação ambiental, mas deveria também trabalhar o censo crítico da população ao invés de apenas passar informações, o ideal seria criar pensadores para que eles mesmos criassem alternativas para solução de problemas e tornassem mais participativos nos processos de tomada de decisão pelos poderes públicos. Objetivo deste trabalho é realizar uma revisão que reúne as principais idéias sobre UC e educação ambiental. Para tanto, utilizou-se da pesquisa bibliográfica. No decorrer do trabalho, foi possível verificar que existem vários problemas com as Unidades de Conservação como: a falta de recursos financeiros, capacitação de funcionários, falta de fiscalização contra invasões, conflito com populares, áreas muito pequenas. E que alguns desses problemas poderiam ser resolvidos se fosse mudado a forma de pensar, principalmente aquela relacionada ao movimento preservacionista. A criação de diagnósticos participativos para as populações que habitam as UC’s e seu entorno contribuíram para criação de manejo adequado e conselhos construtivos, que vem sendo um grande avanço. Palavras chave: Unidades de Conservação, Educação ambiental, Preservação Ambiental, SNUC. INTRODUÇÃO Tendo em vista os impactos provocados pelo manejo não adequado e considerando a questão da educação ambiental como fundamental para a preservação do ambiente e uma relação mais harmoniosa do homem nas Unidades de Conservação propõe-se, através deste estudo, realizar uma revisão bibliográfica da atual situação das Unidades de Conservação, e análise crítica da educação ambiental aplicada nestas regiões, levantando em consideração os critérios técnicos e legais. Sinapse Ambiental edição especial – Abril de 2008. 68 Para tanto, utilizou-se da pesquisa bibliográfica, por meio de consultas a obras de autores diversos. Este trabalho, conquanto simples, não esgota o tema, mas serve como reflexão para a importância da educação ambiental e os resultados positivos que vem obtendo. CONCEITO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), instituído pela Lei Federal 9.985/00, em seu artigo 2º que Unidade de Conservação é entendida por um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Porém Milaré (2004) chama a atenção para o fato de que existem biomas que recebem tutela especial e nem por isso são Unidades de Conservação. De acordo com Loureiro, Azaziel e França (2007) é possível agrupar sinteticamente os objetivos do SNUC em quatro grupos diferentes, mas complementares: 1. proteção/manutenção/preservação da biodiversidade, da sócio diversidade e de serviços ambientais (bens utilizados) imprescindíveis (como a água); 2. incentivo e promoção da pesquisa científica; 3. promoção da educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico; 4. Promoção do desenvolvimento sustentável (para as comunidades do entorno das UC’s). Sinapse Ambiental edição especial – Abril de 2008. 69 As UC’s integrantes do SNUC apresentam-se como sendo Unidades de Proteção Integral que tem o objetivo de preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos na Lei Federal 9.985/00. Como o exemplo de pesquisa científica e atividades de caráter educacional. E Unidades de Uso Sustentável que permite a moradia de pessoas, pois compatibiliza a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. Em relação à Política pública e UC no Brasil é de encargo dos órgãos governamentais como Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e no caso de categorias como de Parque Estadual, Natural ou Floresta Estadual ou Municipal é de responsabilidade dos órgãos do governo Estaduais como o Instituto Estadual de Florestas (IEF) em Minas Gerais. Seriam ações voltadas para a garantia dos direitos sociais, definindo uma obrigação pública que visa dar conta de determinada necessidade, em vários aspectos. Entretanto existem alguns problemas de conservação destas áreas relacionadas à ineficiência do poder público. Brito (2000) assinala alguns destes problemas como: Recursos financeiros para manter as UC, um número de funcionários que atenda as necessidades da área, além de capacitação para tal, fiscalização contra invasões e caça entre outros problemas de infraestrutura. A identificação dos proprietários e desapropriação das terras quando de interesse da administração pública, Conflitos com Populares, Criação de UC sem uma representatividade eficiente junto com a falta de uma base técnica na escolha dos locais a se preservar, Implantação de unidades de conservação em categorias inadequadas, As áreas das unidades são insuficientes (muito pequenas, ilhas) que acabam não atendendo a preservação da biodiversidade. Uma forma de abrandar estes problemas causados pela sobrecarga do poder público seria o compartilhamento das obrigações com a sociedade civil (exemplos: Sinapse Ambiental edição especial – Abril de 2008. 70 ONG’s, CNBB, Centros de Pesquisa e Micro Empresas), como e confirmado pelo Guareschi et. al. (2004, pág.180) no qual a política pública também pode ser expressa pela transformação daquilo que é do âmbito privado em ações coletivas no espaço público. Brito (2000) salienta nesta mesma linha de raciocínio nos quais as políticas públicas em relação às áreas protegidas precisam integrar-se às demais políticas tradicionalmente setoriais como desenvolvimento científico e tecnológico (biotecnologia), turismo e lazer, educação, desenvolvimento local e regional, além de outras, e não ficar simplesmente atreladas a determinado ministério ou secretaria de governo. O IBAMA (2002) aponta a educação ambiental como interessante alternativa de sensibilizar as pessoas para participar na elaboração e execução de políticas públicas, a educação ambiental neste caso traria um senso crítico sobre o que se está se passando e instigá-las-ia a proporem as ações cabíveis ao campo de ação delas, já que é de interesse de todos a preservação da natureza para as futuras e presentes gerações. Abaixo se encontra o texto de uma declaração importante do IBAMA sobre a questão exposta. “Quando pensamos em educação no processo de gestão ambiental estamos desejando o controle social na elaboração e execução de políticas públicas, por meio da participação permanente dos cidadãos, principalmente, de forma coletiva, na gestão do uso dos recursos ambientais e nas decisões que afetam à qualidade do meio ambiente”. (IBAMA, 2002). Este trecho implica que a educação ambiental tornaria a população mais participativa nos processos de tomada de decisão, seriam reais participantes na organização das UC’s e por que não no seu cotidiano. É muito interessante traçar um diagnostico das comunidades tanto no interior quanto no entorno, pois segundo Arruda (1999) essa presença tem gerado conflitos com Sinapse Ambiental edição especial – Abril de 2008. 71 a administração das unidades pela pretensa ou real dilapidação dos recursos naturais. Assim um método como o Diagnostico Rural Participativo seria uma forma de saber como as pessoas se relacionam com a floresta e tentar traçar uma forma de tornar a presença de tais pessoas mais sustentável, respeitando o seu conhecimento empírico. Verdejo (2006) esclarece que o Diagnóstico Rural Participativo (DRP) permite que as comunidades façam o seu próprio diagnóstico e a partir daí comecem a autogerenciar o seu planejamento e desenvolvimento. Assim haveria uma troca de experiências. Técnicas como essa e que utilizam da participação e mobilização social, seria uma forma mais ética, pois estariam levando em conta a opinião da comunidade, e ela mesma poderia opinar para possíveis soluções. BUZOL (2002) aborda a questão da terceirização nas UC’s. Como governo normalmente não possui verba para gerir parques, então acabam terceirizando o serviço, e inicialmente a idéia de criação de parque e UC’s seria para que todos a usufruíssem em passeios, para reduzir a necessidade de estar em contato com a natureza e servir como preservação dos recursos e forma educativa, conscientizando impactos causados pelo homem. Mas a terceirização torna o preço de entrada muito caro, possibilitando apenas classes mais altas. Como o interesse destas empresas terceirizadas é o fator lucro, eles tornam o passei mais voltado para o conforto, lojas, tornando a visita equivalente a uma pessoa que passeia por vitrines no shopping. Não sensibilizando estas pessoas para um olhar ecológico. Alguns exemplos de UC’s Terceirizados são o Parque Nacional (Parna) de Brasília (o primeiro a ser terceirizado), o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro em Santa Catarina, e em Minas Gerais até meados de 2007 o Parque Estadual do Rio Doce possuía serviços terceirizados. Sinapse Ambiental edição especial – Abril de 2008. 72 Quanto a ética, que será mais bem abordada mais adiante no texto, fica por enquanto somente a questão: é ético a retirada das populações tradicionais das UC’s ? Ou melhor, é ético ensinar educação ambiental para eles? Inclusive indígenas? RELAÇÃO HOMEM E NATUREZA E A PROTEÇÃO DOS RECURSOS EM UC’s. A primeira idéia de criar as UC’s veio no final do século passado com a criação do parque nacional, o Yellowstone, que foi resultado do movimento preservacionistas1 deste modo o surgimento deste parque aparece como uma forma de se colocar ordem no caos provocado pela espécie humana. Além de resgatar o contato do homem a natureza, que havia se perdido. Segundo a autora Simon (2004) conflitos na conservação da natureza: o caso do Parque Estadual da Serra da Tiririca. “No cenário conservacionista/preservacionista mundial instaura-se uma “nova lógica” nas relações sociedade e natureza: a lógica da conservação baseada no caráter público do meio ambiente e em regras de uso e apropriação para o “uso indireto” dos recursos naturais. A partir do modelo americano a idéia de Parque passou a significar tanto proteção como acesso público.” (SIMON, 2004) Este parágrafo acima, demonstra a transição do movimento preservacionista para o conservacionista. Sendo que os preservacionistas eram aqueles que acreditavam que para a proteção da natureza, era necessário o afastamento do homem, que qualquer intervenção humana na nela era negativa, prejudicando seriamente “comunidades tradicionais” (extrativistas, pescadores, indígenas etc.). Este modelo de pensamento foi 1 O movimento preservacionista, segundo FABRÉ et. al. 2006, foi inspirado em uma perspectiva biocêntrica, marginalizava a ação humana nos biomas, por ser entendida como destruidora dos ecossistemas naturais. Sinapse Ambiental edição especial – Abril de 2008. 73 fortemente combatido pelos conservacionistas que compartilhavam da visão de uso sustentável e proteção, na qual admitia a participação do homem. Em relação às populações não-tradicionais segundo Rinaldo Arruda (1999) esclarece que são pessoas com títulos de propriedade devidamente registrados em cartórios, o maior problema seria realmente o custo de desapropriação, inflacionados por manobras jurídicas e contábeis. Lembrando que estas pessoas deveriam ser removidas, pois existem categorias de UC que não permite a moradia de pessoas, que seria no caso as Unidades de Proteção Integrada, como estas áreas protegidas aglutinaram com a moradia destas pessoas, eles deveriam ser retirados, desrespeitando o direito a moradia assegurada na constituição e ferindo moralmente estas pessoas por possuírem um vinculo com a terra e uma história de vida. Ainda segundo autor o problema persiste em relação às comunidades tradicionais isto é, daquelas que apresentam um modelo de ocupação do espaço e uso dos recursos naturais voltado principalmente para a subsistência, baseado em uso intensivo de mão de obra familiar, tecnologias de baixo impacto derivado de conhecimentos patrimoniais e, normalmente, de base sustentável. Estas populações (caiçaras, ribeirinhos, seringueiros, quilombolas.) em geral ocupam a região há muito tempo e não tem registro legal de propriedade privada individual da terra, definindo apenas o local de moradia como parcela individual, sendo o restante do território encarado como área de utilização comunitária, com seu uso regulamentado pelo costume e por normas compartilhadas internamente. Existindo assim a dificuldade de remoção destas comunidades, e também uma permanência. A Lei assegura o direito de estas comunidades permanecerem nas áreas Sinapse Ambiental edição especial – Abril de 2008. 74 mesmo que não estejam devidamente registrados, mas como o Estado possui o interesse daquelas terras para a criação de UC, é necessária realmente a desapropriação. O autor aponta ainda para um terceiro problemas a superposição de unidades de conservação com áreas indígenas, neste caso, a questão se diferencie um pouco da relação com as populações tradicionais não-indígenas, já que há legislação que define especificamente os direitos indígenas. Além dos direitos constitucionais dos índios. “É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo “ad referendum” do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após a deliberação do Congresso Nacional, garantindo, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco. § 6º do artigo 231.” O parágrafo acima, referente à constituição assegura do direito à permanência dos índios nas terras além da existência estatuto do índio no qual há reforço na garantia dos direitos deles, que são definidos enquanto direitos originários, isto é, anterior à criação do próprio Estado. Isto decorre do reconhecimento do fato histórico de que os índios foram os primeiros ocupantes do Brasil. Refletindo sobre esta questão do índio, se eles habitavam as matas antes mesmo da colonização do Brasil, partimos do pressuposto de que a natureza já havia sendo impactados por eles, e consideram que eles ainda estão presentes em várias terras, poderíamos imaginar que eles já deveria ter sido extintas muitas espécies. Porém não é o que acontece na realidade, sim o índio impactaria as terras, mas de uma maneira, na qual a natureza é capaz de se restabelecer. A natureza nunca foi intocada, o homem sempre foi parte dela. Como é visto por Diegues (2001 p. 157) ele relata que existe uma mistificação da natureza como um espaço intocado e intocável (o chamado mito moderno) no qual surgiu a idéia da criação de áreas naturais protegidas que deveriam permanecer intactas, de acordo com a idéia, de origem cristã, de paraíso perdido em que Sinapse Ambiental edição especial – Abril de 2008. 75 a natureza virgem se expressasse em toda sua beleza, transformado em objeto de reverência pelo homem urbano. Segundo este autor o problema ambiental, tem umas razões mais profundas, oriundas do nosso subconsciente, que são os mitos que acabam sendo repassados a nós inconscientemente através de símbolos criados no passado e a história. “O paraíso terrestre no qual acreditava ainda Cristóvão Colombo (ele não acreditava tê-lo descoberto) tinha se tornado, no século XIX, uma ilha oceânica, mas sua função na economia da psique humana continuava a mesma: ali, na ilha, no paraíso, a existência se passava fora e do tempo e da História; o Homem era feliz, livre, não condicionado.” (ELIADE, 1991:8 In DIEGUES 2001). Estes mitos tomaram forças à medida que as civilizações urbanas e industriais foram se desenvolvendo, pois as pessoas perderam o contato com a natureza. Um índio, por exemplo, enxerga a natureza como sua casa, de onde tira seu sustento e seu lazer. Quando não havia cidades, não havia problemas como a poluição dos rios. Já uma pessoa urbanizada enxerga a natureza como algo distante do homem, distante de suas crenças, distante de suas decisões. Os seus valores são diferentes de um nativo, enquanto um nativo sempre esteve à natureza ligado de forma sustentável, retirando somente o necessário para sua subsistência, a pessoa urbana é consumista, retirando mais da natureza do que ela consegue se regenerar, os bens de massa, os desperdícios na agricultura, gerando grandes problemas ambientais. Então Buzol (2002) nos deixa um questionamento interessante que é “porque ainda seguimos o pensamento de que para se preservar um local é preciso arrancar as pessoas de lá?” E nos deixa uma possível resposta que seria “talvez pelo fato de as decisões sempre serem tomadas por indivíduos que se instalaram no ambiente urbano, atrás de suas mesas de escritório, acreditando que o homem desenvolvido deve pertencer a este ambiente”. Sinapse Ambiental edição especial – Abril de 2008. 76 A permanência das comunidades tradicionais e indígenas é importante para a natureza, pois estas comunidades muitas vezes podem servir de ajuda na fiscalização. Como é o exemplo do caçador, que muitas vezes pertence à comunidade de entorno do parque e utiliza a caça como forma de subsistência, que após uma re-educação e a oportunidade criada de trabalhar na própria UC como vigia ou monitor, seria uma forma de tirá-lo do meio ilegal e sua experiência como caçador auxiliaria no patrulhamento das áreas. Diegues (2001), afirma que a ausência de populações humanas resulta em impacto ambiental, que poderia afetar o ecossistema destas áreas, pois, muitas vezes são elas as responsáveis por ações de manejo que as preservem. “Hoje existe várias pesquisas e estudos em várias regiões do Brasil que demonstram a inviabilidade de se construírem Unidades de Proteção sem se levar em conta a existência das populações de moradores. Entre esses estudos estão as várias pesquisas promovidas desde 1987, pelo NUPAUB – Núcleo de Pesquisa sobre Populações Humanas e Áreas Úmidas Brasileiras, da Universidade de São Paulo.” (DIEGUES 2001, p. 134). Arruda acrescenta que além do fato que a falta das comunidades tradicionais afetaram a conservação destes parques existe o problema que implica que as pessoas removidas devem encontrar novos locais para residirem, então a sua instalação em outras regiões ocasionaria uma maior supressão de cobertura vegetal, além de outros problemas. “[...]na medida que a população expulsa passa a ocupar e derrubar novas áreas para moradia. Os que não conseguem ou não querem mudar para novas áreas são obrigados a super explorar as áreas ainda acessíveis (florestas vizinhas às unidades de conservação). Muitas vezes, passam a encarar os recursos naturais da área como perdidos para sua comunidade. Em função disso, pouco fazem em prol do manejo da unidade de conservação, desenvolvendo muitas vezes práticas clandestinas Sinapse Ambiental edição especial – Abril de 2008. 77 de super exploração no interior da própria área. [...]” (ARRUDA, 1999 p 84). A permanência das comunidades tradicionais resolveria os problemas tidos com indenizações quando é feita a remoção destas comunidades, e este dinheiro público poderia ser voltado para outros fins mais produtivos. Como nosso objetivo é a conservação dos recursos naturais fica cada vez mais atraente a idéia de educação ambiental como forma de assegurar que as existências dessas comunidades tradicionais sejam sustentáveis. Atualmente para a criação de uma Unidade de conservação é necessário realizar um diagnostico da área na qual se pretende transformar, e é levado consideração, não apenas o fator de relevância ambiental, mas também o social, então muitas vezes o desejo das comunidades tradicionais são respeitadas. Lembrando que o índio possui seus direitos assegurados na constituição brasileira. A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. Visto que a existência do homem nas Unidades de Conservação e nas Zonas de Amortecimento, principalmente o caso de comunidades tradicionais, que muitas vezes coincidem seu território as UC’s, seria essencial para manutenção daquela área a fiscalização contra caça, pesca e extração ilegal, e seria de interesse das próprias comunidades que ali habitam esta fiscalização, como o governo não possui tanta verba para investir neste problema, uma possível solução seria o envolvimento destas comunidades com a proteção das áreas em que vivem, assim, elas mesmas estariam servindo de ferramentas de fiscalização para o governo. Para que o convívio destas pessoas com o ambiente seja harmonioso e que contribuam na conservação, é necessária à educação ambiental, pois de acordo com Sinapse Ambiental edição especial – Abril de 2008. 78 Antunes, Coelho e Jochem (2006) ao realizá-la estaríamos promovendo a interação harmônica entre o ser humano visando estabelecer laços de respeito e cooperação. Brugger (2004), fala sobre como deve ser feita a educação ambiental, a autora cria uma crítica aos atuais métodos de ensino, no qual a pessoa estaria sendo levada a executar determinadas funções como um treinamento ou adestramento. Ainda segundo a autora é importante estimular a criatividade e o pensamento das pessoas ao invés de ensinar determinadas funções, porque assim ela estaria criando pensadores, ao invés de alienados, e partiriam deles a solução para os problemas ambientais. Para que tal situação ocorra, a educação ambiental deve levar informação de conteúdo interdisciplinar ligados ao cotidiano, numa linguagem adequada, absorvendo assim a relação entre o homem e a natureza e não se prendam as visões dominantes de tecnologia. “Não adianta, portanto, reivindicar esforços (como sociedade) e/ ou ensinar futuros biólogos (como professores) a planejar (tecnicamente) da melhor forma possível parques, reservas e novas áreas de preservação, sem considerar essa miríade de fatores que moldam de forma cada vez mais irreversível o rumo e os caminhos de nossa sociedade”. (BRUGGER, 2004, pág. 94). Quando a autora refere-se a essa miríada de fatores estão fazendo uma menção ao fato de não podermos estudar os problemas de nossa época como fatores isolados, porque são fatores sistêmicos, ou seja, estão ligados e são interdependentes. Com base neste trecho da autora, podemos afirma que ainda não existe uma metodologia eficiente a se aplicar numa UC, e que devemos tomar muito cuidado com a linguagem, pois elas podem estar ocultando uma forma de pensar, que muitas vezes favorece apenas um lado social. Devemos ter consciência que UC é um termo muito amplo no qual estaremos lidando com vários grupos de pessoas com diferentes formas de pensar. Precisamos Sinapse Ambiental edição especial – Abril de 2008. 79 então de articular formas – métodos para conversar/articular com diferentes sujeitos. Por exemplo, as áreas destinadas aos visitantes necessitam de uma abordagem educacional diferente daquela proposta pela comunidade de entorno. Cada UC é um estudo de caso, provavelmente a educação ambiental nestes lugares terão resultados muito distintos. A conscientização ambiental deverá se dar de forma gradativa, enfocando cada círculo que envolve cada cidadão, fazendo com que ele reflita sobre si, desenvolva o seu senso crítico, sobre o que está certo e errado, e procure ver de que forma ele poderá contribuir com a melhoria ou com a eliminação de situações danosas ao homem ou a natureza (DOHME V. & DOHME, 2002). Um visitante precisa ser motivado e integrado ao seu ambiente, e o morador já é parte do ambiente, mas ambos não têm a consciência do impacto que causam através de seus atos. Então o trecho acima esclarece o papel da educação ambiental a eles, seria uma forma de bombardeá-los com informações, torná-los questionadores de suas posturas diante da natureza. Para tanto os funcionários do parque precisam estar preparados e treinados para transmitir aos visitantes, o caráter educacional e também agirem de maneira pro - ativa em casos de riscos. O DIPUC – Diagnóstico participativo de Unidades de Conservação trabalharia exatamente com o público interno. Como o levantamento de dados é com os próprios moradores do local, serve como valiosa fonte de plano de manejo, grupo de apoio, conselho consultivo e para a constituição de Conselhos Gestores, como é exemplificado no caso do Parque Estadual dos Três Picos de responsabilidade do IEF, que divulgou em seu site as oficinas participativas, destinadas para a criação do plano de manejo e conselho gestor. A QUESTÃO DA ÉTICA NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL Sinapse Ambiental edição especial – Abril de 2008. 80 A educação ambiental como dita no texto anterior procura questionar as posturas das pessoas diante da questão ambiental, das relações humanas, de novos comportamentos e valores. Então a educação ambiental seria importante para a transformação das sociedades, uma vez que esta mudança de valores traria uma nova ética, voltada para a relação homem e natureza, ao invés do consumismo. Segundo Rocha (2006) a educação ambiental pressupõe que a educação tradicional está sendo incapaz de responder a todos os desejos e necessidades dos mais diferentes integrantes da sociedade especialmente porque estimula a competitividade irracional. Brugger também concorda com esta linha de raciocínio, porém ela acredita que devemos difundir a educação ambiental dentro de todas as matérias ao invés de criarmos uma única disciplina, que deva ter um enfoque liberal e humanista-filosófico. No qual o mal é o fruto da ignorância, logo conhecer o ambiente é uma solução para defendê-lo. Além da importância do tipo de universo de locução presente no âmbito da educação para o meio ambiente. A ética então na questão dessa abordagem do universo de locação, pois as palavras são prisioneiras do pensamento, logo quando se faz uma seleção de textos para informar a população, poderíamos estar invalidando outras formas do saber, de acordo com a seleção do conteúdo. O texto abaixo dá um exemplo: “As normas e valores que são implícita porém efetivamente transmitidos pelas escolas e que habitualmente não são mencionados na apresentação feitas pelos professores dos fins ou objetivos” (JACKSON apud APPLE, 1982, p.127 In BRUGGER) Através deste pequeno texto, percebemos que muitos valores são passados de forma despercebida na medida em que estes conhecimentos são incorporados no cotidiano escolar. Pois as palavras são prisioneiras do pensamento, então se deve Sinapse Ambiental edição especial – Abril de 2008. 81 escolhê-las bem e quando citá-las deve falar de origem da construção daquele pensamento. As populações indígenas e também os quilombolas habitam as UC’s pois muitas vezes pode haver uma sobreposição destas áreas, assim com as populações tradicionais eles utilizam a terra como forma de tirar seu sustento, com práticas pouco degradadoras em relações as práticas de produção em massa das empresas. Como foi visto anterior mente seria interessante ensinar as comunidades educação ambiental, para que a população que habita estes espaços auxiliar na conservação destes mesmos, mas quando se diz respeito aos índios esta prática se torna antiética e inconstitucional. A constituição brasileira no artigo 231 garante ao índio o direito a suas cresças, costumes e tradições. Então pensamos em entrar numa comunidade indígena para ensinar a importância de preservar o ambiente, das práticas sustentáveis, nos estaríamos fazendo algo semelhante aos colonizadores fizeram com eles quando passaram por cima de sua cultura e cresças na tentativa de catequizá-los. Seria ético nos respeitarmos o conhecimento deles para com as práticas de uso fruto da terra. Mas então como manejálos sem ferir a constituição e a ética? Rocha (2006) questiona o modelo de educação em dois aspectos: “O primeiro seria no sentido de propiciar o desenvolvimento do senso crítico, compreendendo como forma de pensamento que auxilia e permite a distinção entre diferentes discursos e a forma sob as quais se apresentam; e segundo, no que diz respeito à formação humana, encarnada como possibilidade de viabilizar procedimentos capazes de permitir o reconhecimento de situações de conflito e de orientar a tomada de decisões voltada à participação crítica na sociedade.” (ROCHA, 2006). Ou seja, o atual modelo de educação ambiental não corresponde a criação de senso crítico e muito menos instiga as pessoas a participar de decisões, portanto deve se mudar a forma de educação, atentando para estes dois quistos, fazendo desta forma Sinapse Ambiental edição especial – Abril de 2008. 82 estará realizando um trabalho ético, pois as propostas de mudança de habito partiria das pessoas e não seriam ditadas pelos educadores, assim a educação ambiental não agrediria a cultura. Outro problema que esbarra na ética é a realização de trabalho de criação de UC sem uma representatividade eficiente junto com a falta de uma base técnica na escolha dos locais a se preservar, Implantação de unidades de conservação em categorias inadequadas, as áreas das unidades são insuficientes (muito pequenas, ilhas) que acabam não atendendo a preservação da biodiversidade. A falta da ética está na ausência de capacidade destes funcionários em elaborar projetos ambientais, assim mesmo os fazem, sem ter profundeza tecnológica ou filosófica. Outra questão ética é da nossa có-responsabilidade em articular ações/estratégias para criação/manutenção/participação em UC’s, como comentado abaixo. O fato de não terem esta visão humana e filosófica pode ser definida nas palavras de JOSÉ LUTZENBERGER que diz: “[...] Por isso, mesmo confrontados com uma problemática ambiental que grita por uma solução, continuam brigando com os que clamam por ajuda e deixam o campo aberto àqueles (ecooportunistas) que querem vender soluções tecnocráticas, sofisticadas e caras, soluções que, em geral, são socialmente indesejáveis, propiciam o capital (o poder, não a pessoa) e que são ecologicamente insatisfatórias.” (LUTZENBERGER, 1995). Talvez a falta de ética destes profissionais não se classifica somente ao âmbito público mas sim a toda a sociedade. Uma conseqüência disto é a falta de cidadania, e favorecimento das classes que estão no poder. Rocha (2006) descreve que o sistema paga melhor quem ajuda a sua perpetuação. O que é lógico, pois o sistema não favoreceria quem está interessado em desprestigiá-lo. CONCLUSÃO Sinapse Ambiental edição especial – Abril de 2008. 83 As Unidades de Conservação de proteção Integral, aquelas que não permite o convívio do homem, são sistemas fechado, isolado da realidade do Brasil. A história explica que resposta para tal fato é a existência de mitos criados pelo homem civilizado, da natureza como algo intocado, de origem cristã de paraíso perdido, assim ele instituiu uma forma de não permitir a moradia de pessoas em tais áreas, gerando problemas sociais e étnicos relativo à expulsão destas comunidades que habitam a região. A constituição assegura a moradia a todos, mas em vista de uma coletividade e interesse da administração pública, o indivíduo por força da atuação do coletivo do judiciário deverá abrir mão, de sua permanência naquela área. Criando sérios prejuízos com indenizações ao estado, referentes à retirada destas pessoas. Além de que elas possuíam um papel ecológico nestas regiões e ao serem retiradas, criando-se um conflito sócio ambiental. Por outro lado, existem espécies em delicado risco de extinção como as espécies endêmicas, que normalmente são muito especialista e qualquer alteração no ambiente poderiam não resistir. O ideal então é verificar através de estudos se o objetivo de preservar a riqueza e diversidade biológica está sendo alcançado, pois existem muitos relatos, como no Parque Nacional da Cerra do Cipó na qual há suspeitas de que as comunidades de entorno, costumam provocar incêndios, além de outros tipos ação geradora de impactos. Através do parágrafo anterior podemos ressaltar a importância da educação ambiental, que reduziria os conflitos sociais, feita com metodologias participativas, na qual respeitaria o conhecimento empírico das comunidades tradicionais, resultando assim em planos de manejo, eficientes, condizentes com a realidade e capazes de se adequar as necessidades da comunidade, tornando assim o estudo mais ético e favorecendo a preservação dos recursos naturais. Sinapse Ambiental edição especial – Abril de 2008. 84 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ANTUNES, K., G.; COELHO, R.; JOCHEM, T.; A Importância da Educação Ambiental em Unidades de Conservação: Experiência do Centro de Referência em Educação Ambiental de Marapendi, disponível no endereço eletrônico < http://www.ivtrj.net/sapis/2006/pdf/KarenAntunes.pdf> acessado dia 08 de out de 2007. ARRUDA, R.; populações tradicionais e a proteção dos recursos naturais em unidades de conservação. Sociedade - Ano II – Nº 5 - 2o Semestre de 1999 p 79-252. BRASIL. Lei federal Nº 9.985/00 de 18 de julho de 2000, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e da outras providências. . Disponível no endereço eletrônico em <http://www.florestavivaamazonas.org.br/download/lei_federal_n_9985_180700.pdf> acessado dia 07 de out. de 2007 BRITO, M. C. W. Unidades de Conservação: intenções e resultados. São Paulo: Annablume: FAPESP. 2000. BRUGUER, P. Educação Ambiental ou Adestramento Ambiental? 3.ed. Editora Argos, 2004. BUZOL, A., C.; A relação de aproximação entre o homem e a natureza nas unidades de conservação. ONG Muda, 20 set. 2002 Disponível em: <www.muda.org.br/artigo8.htm>. Acesso em 06 out. 2007. Código Penal, Código de processo penal constituição Brasileira. Ed. Biblioteca Jurídica editora online, 2006. DIEGUES, A., C.; O mito da Natureza Intocada. 3.ed. São Paulo: Editora Hucitec, 2001 p. 159 FABRÉ, N., N.; RIBEIRO, M., O., A.; BATISTA, V., S.; Sistemas abertos sustentáveis (sas): uma alternativa para a gestão ambiental em áreas rurais disponível no endereço eletrônico<http://www.alasru.org/cdalasru2006/27%20GT%20Nidia%20Noemi%20Fab r%C3%A9,%20Maria%20Ol%C3%ADvia%20de%20Albuquerque%20Ribeiro,%20Va ndick%20da%20Silva%20Batista.pdf>acessado dia 04 de out. 2007. GUARESCHI, N. et. al. Problematizando as práticas psicológicas no modo de entender a violência. In: STREY, M. N.; AZAMBUJA, M. P.; JAEGER, F. P (Orgs.) Violência, gênero e Políticas Públicas. Porto Alegre: Ed: EDIPUCRS, 2004. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS. (IBAMA) Como o Ibama exerce a educação ambiental – Coordenador geral de educação ambiental. Brasília: Ibama, 2002. In. LOUREIRO, C., F., B.; Sinapse Ambiental edição especial – Abril de 2008. 85 AZAZIEL, M.; FRANCA, N.; 2007, Educação ambiental e conselho em unidades de conservação Aspectos teóricos e metodológicos, publicação do Ibase, Rio de Janeiro, abril de 2007 INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS (IEF), Oficinas ampliam participação comunitária em Unidades de Conservação, disponível no endereço eletrônico: < http://www.ief.rj.gov.br/imprensa/noticias/2007/Junho/jun13062007.htm > acessado dia 13 de abril de 2008. JACKSON apud Apple, 1982, p.127 In Brugger, P.; Educação Ambiental ou Adestramento Ambiental? Editora Argos, 3ed. LOUREIRO, C., F., B.; AZAZIEL, M.; FRANCA, N.; Educação ambiental e conselho em unidades de conservação Aspectos teóricos e metodológicos, publicação do Ibase, Rio de Janeiro, abril de 2007 Disponível no endereço eletrônico em <http://www.ibase.org.br/userimages/liv_ibase_pnt.pdf > acessado dia 07 de out. de 2007 LUTZENBERGUER, J. Entrevista revista expressão. 1995. disponível no endereço eletrônico <http://www.fgaia.org.br/texts/t-express2.html >acessado dia 06 de out. 2007. MILARÉ, E. Direito do Meio Ambiente, doutrina jurisprudência e glossário. 3.ed. São Paulo: Editora revista dos tribunais , 2004. p. 1024. ROCHA, R., G. Ecoideologias associadas aos movimentos ambientalistas: contribuições para o campo da educação ambiental. Curitiba: Editora UFPR, 2006. p 55-73 SALLES, P. B. Sistematização e Análise de Informações Gerenciais e Administrativas das Unidades de Conservação no Estado de Santa Catarina, disponível no endereço eletrônico: < http://teses.eps.ufsc.br/defesa/pdf/15777.pdf > acessado dia 12 de abril de 2008. SIMON, A. Conflitos na conservação da natureza: o caso do Parque Estadual da Serra da Tiririca. 2004.disponível no endereço eletrônico< http://www.anppas.org.br/encontro_anual/encontro2/GT/GT08/alba_simon.pdf >acessado dia 04 de out. 2007. VERDEJO, M. E. Diagnóstico Rural Participativo um guia prático, Secretaria da Agricultura Familiar – MDA, Brasília – DF . 2006. disponível no endereço eletrônico <http://www.pronaf.gov.br/dater/arquivos/1049212317.pdf> acessado dia 13 de abril de 2008. . Sinapse Ambiental edição especial – Abril de 2008.
Download