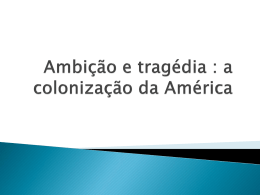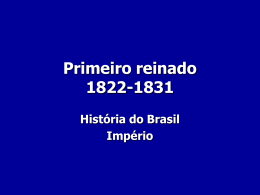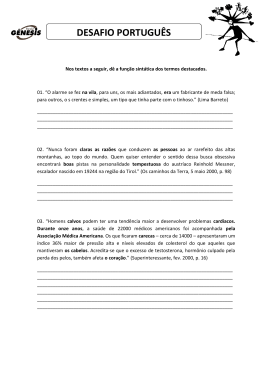1 Chamemos de relíquia mutilada esse pequeno texto sagrado escrito em uma língua já morta sobre um rolo de seda que, vítima de uma crise violenta de loucura, foi rasgado ao meio — não com as mãos nem com faca ou tesoura, mas com os dentes de um imperador enfurecido. Meu encontro casual com o professor Tang Li, em meados de julho de 1978, numa sala de reuniões do Hotel de Pequim, e aquilo que ele me revelou sobre esse tesouro brilham ainda hoje como um pequeno quadrado de luz no labirinto enevoado e turvo em que se transformaram as minhas lembranças da China. Pela primeira vez na vida eu era remunerada como intérprete, numa reunião de consulta organizada por uma produção de Hollywood para estabelecer o roteiro de O último imperador, que resultaria no filme espetacular que todos conhecem, coroado com oito ou nove Oscars e que arrecadou uma quantia faraônica nas bilheterias. Com a permissão da Universidade de Pequim, onde estava matriculada como estudante estrangeira no departamento de literatura chinesa, munida de um caderninho de anotações comprado na véspera especialmente para a ocasião, fui ao Hotel de Pequim no meio de uma tarde de verão em que o calor transformava tudo em vapor, fazendo da cidade uma caldeira na qual fervíamos a fogo brando. Com guinchos agônicos, as rodas de minha bicicleta enfiavam-se no asfalto grudento, amolecido pelo calor, do qual subiam, em espirais, fios azuis de fumaça. Tomava conta da entrada do grande hotel de oito andares, único arranha-céu da época, uma agitação fora de controle. A porta giratória de vidro fora ocupada por uma multidão barulhenta 8 de cinquenta, cem, duzentas pessoas — não saberia dizer exatamente. Pela diversidade dos sotaques, podia-se ver que tinham vindo de todos os cantos da China. Pais carregados com sacolas de alimentos, crianças levando nas costas um estojo de violino, vestindo, apesar do calor, um paletó ocidental, com uma camisa branca bem-abotoada e uma gravata borboleta ou gravata simples, embora algumas tivessem apenas seis ou sete anos de idade. Quando uma criança, acompanhada do pai ou da mãe, aparecia vinda do hall, provocava imediatamente um alvoroço; os outros se precipitavam em sua direção, espremiam-se em volta deles, cobriam-nos de perguntas, agitavam-se, discutiam, com ar de preocupação... Dir-se-ia uma verdadeira multidão de refugiados angustiados debatendo-se na entrada de uma embaixada. Acabei entendendo que todos estavam ali à espera de uma audiência privada com Yehudi Menuhin, que ia à China uma vez por ano com uma missão artística e beneficente, na qual não faltava uma sutil campanha publicitária pessoal: revelar uma ou duas crianças-prodígio, um novo Mozart chinês. Para os violinistas iniciantes, tratava-se de uma oportunidade de ouro, a chance inesperada de partir para os Estados Unidos e frequentar uma escola de música dirigida pelo próprio mestre. O elevador estava quebrado, e a subida até o oitavo andar, onde se realizava a minha reunião, exigiu um esforço considerável, maior ainda pelo fato de vários violinistas estarem amontoados também nas escadas, sentados ou deitados nos degraus, nos corredores e nos peitoris das janelas. Morta de cansaço, finalmente entrei na sala de reunião, a qual, por coincidência, ficava ao lado da sala de audiência dos futuros concertistas, cuja porta estava fechada. Fui convidada a me juntar a um grupo composto por um representante do diretor ítalo-americano, uma assistente de produção, um outro tradutor e uma dezena de eminentes historiadores chineses, em torno de uma mesa retangular coberta com uma toalha branca cheia de garrafas de Coca-Cola, xícaras de chá, cinzeiros, vasos de rosas de plástico e de papel, no meio da qual reinava um gravador profissional, imponente 9 e majestoso. Na parede estava presa uma ampliação de uma fotografia em preto e branco de Puyi, o último imperador, tirada na Cidade Proibida num dia de inverno particularmente rigoroso de 1920, trajando uma roupa ocidental, com óculos de vidros redondos e sem aros, os traços rígidos, o olhar sombrio. As trocas de apresentações e os apertos de mão eram acompanhados pela minha tradução hesitante do chinês para um inglês com forte sotaque francês, enquanto o outro intérprete, não muito mais à vontade do que eu, traduzia do inglês para o chinês; o protocolo era estritamente respeitado. Notei a presença de um chinês de uns sessenta anos de idade diferente de seus compatriotas, todos eles com camisas de mangas curtas. Estava todo coberto com o traje tradicional chinês, um robe de seda azul-escuro, abotoado lateralmente, que descia até os pés e lhe conferia, considerando a estação do ano, um aspecto meio despropositado, porém tocante. Era o único a se inclinar para cumprimentar os convidados da reunião, mas sem a menor bajulação, e, às vezes, erguia a mão elegantemente, num gesto de uma lentidão antiquada, para acariciar a longa barba branca que flutuava levemente ao sopro do ventilador de teto. O tempo parecia ter-se fixado nele, que encarnava sozinho toda uma época, um universo à parte. Quando pronunciou seu nome, em duas letras, senti-me tocada pela sua simplicidade e pela sua familiaridade, que se associava, em minha mente, a... eu procurava, procurava, examinando seu rosto, mas em vão. A lembrança se perdia em alguma dobra da memória entorpecida pelo nervosismo daquela primeira experiência profissional. Quando traduzi a forma como seus colegas chineses o apresentavam — “o dicionário vivo da Cidade Proibida” —, o representante do diretor deu uma gargalhada e, com um ar condescendente, prometeu encaixar aquele “Senhor” como figurante ou até mesmo em algum papel menor. Os outros chineses riram muito, mas ele não. Ouvi um zunido de insetos que o sopro artificial do ventilador fazia dançarem nos pequenos focos de luz da sala. O som de um violino, no outro lado da parede, uma sonata ou um concerto de Mendelssohn, suave, um tanto piegas, servia de música de fundo da reunião. 10 Passaram-se duas ou três horas até que meu olhar se voltou novamente para o homem de traje tradicional. A reunião, durante a qual ele permanecera calado, chegava ao fim, os presentes olhavam para seus relógios impacientemente, quando ele, de repente, pediu a palavra, com uma voz cansada, frágil, como que abafada. — Se ainda tivermos mais alguns minutos, gostaria, muito humildemente, tão humildemente quanto me impõe a minha cultura, de pleitear o restabelecimento da verdade. Numa fração de segundo, traduzindo suas palavras, achei que me lembrara do que o seu nome evocava em mim. Era... Nesse instante, um enorme mosquito, grudado na testa reluzente do representante do diretor, chamou-me a atenção; eu o vi se soltar dali, voar, voltar e aterrissar com precisão na ponta de seu nariz, provavelmente menos oleoso. Passou pela minha cabeça o verso de um poeta russo que eu tinha acabado de traduzir: “O mosquito exibia com beatitude um pequenino ventre rubi.” Era exatamente isso. Quanto a saber quem era o velho chinês, minhas reminiscências, que mal tinham despertado, acabaram por se apagar. — Peço ao diretor e a seus roteiristas — prosseguiu o velho —, por seu intermédio ou por intermédio do gravador do qual meus eminentes colegas não afastam os olhos, que joguem esse roteiro, ao menos essa versão, no lixo do hotel, onde, a despeito de seu prestígio, vive uma importante população subterrânea saltitante, como a chamava La Fontaine, que o roerá, eu espero, página por página, palavra por palavra, de tão mal que ele retrata a verdadeira personalidade de Puyi, que era, ao contrário do que dá a entender a biografia mentirosa na qual se baseia o seu roteiro, um ser patologicamente complexo, e não me refiro de modo algum à sua homossexualidade, pois outros imperadores antes dele também tiveram tendência semelhante. A questão não é essa, mas sim a sua crueldade sádica, seus frequentes acessos de delírio, tão imprevisíveis quanto incontroláveis, coisas de um esquizofrênico, no sentido puramente médico da palavra. 11 No silêncio generalizado, podiam-se ouvir, através da parede, as notas soltas do motivo com o qual começa o allegro de um concerto de Beethoven e, em seguida, um tapa que o representante do diretor deu em si mesmo. O mosquito, que eu não conseguia ver mais, devia ter escapado do golpe e desaparecido. — Merda! Gritando essa palavra vingativa, o sujeito levantou da cadeira, esmagou o inseto entre as mãos e lançou seu cadáver esmagado e sanguinolento num cinzeiro, onde o calcinou com a ponta de seu cigarro. — O que é que esse mosquito estava fazendo aqui? — disse ele. — Queria fazer cinema também? Deu uma gargalhada, para declarar em seguida que a reunião, então, encerrava-se por ali. Antes de sair, virou-se para mim. — Diga ao velho que ele certamente está dizendo a verdade, mas que ela é triste demais, negativa demais, que ela não é nada conveniente para o público ocidental, que não tem valor algum para o cinema, que ninguém se interessa por isso, muito menos um diretor conhecido mundialmente e cujo objetivo se resume numa única palavra: Oscar. E saiu. Enquanto eu fazia a tradução, procurando com dificuldade alguns contornos e palavras atenuantes, o “dicionário vivo da Cidade Proibida” fixava seus olhos enormes em mim, sua barba lisa e seus cabelos brancos entesados de tanta raiva. Só depois que a sua silhueta, naquele robe azul, desapareceu oscilante atrás da porta e que fechei aliviada o meu caderno cheio de rabiscos, veio-me à mente, de repente, aquilo que pouco antes eu não tinha conseguido me lembrar. Tang Li, é claro! O autor da Biografia secreta de Cixi. Eu me levantei, cruzei a porta e avancei pelo corredor, trombei com alguém e me lancei pela escadaria onde se amontoavam os futuros Mozarts, entre os quais fui abrindo caminho, a cada andar. Como se estivesse diante do portador da Boa-nova, a multidão nervosa, torturada pela espera e pela angústia, animou-se novamente. Meu jeito apressado, meu pequeno 12 caderno de tradutora, meu físico ocidental... eram detalhes certamente insignificantes mas que foram suficientes para suscitar expectativas, para erguer ondas de excitação que me acompanharam até o térreo, chuvas de perguntas, de súplicas, de temores quanto à escolha do rei do violino, de quem achavam que eu fosse a poderosa assistente que programava nos bastidores as audiências a portas fechadas. Apesar das minhas explicações, em meio às quais eu não parava de jurar em vão em nome do cinema e de pronunciar o nome de um outro rei, o da câmera, os pais dos jovens artistas me perseguiam obstinadamente, só Deus sabe o porquê, e uma mãe de uns trinta anos de idade, corcunda, o cabelo com permanente, o rosto todo suado, portando uma saia barata, puxando os filhos pelo braço, seguida do marido careca, partiu atrás de mim como uma predadora decidida e desceu as escadas com a impetuosidade de um corajoso soldado, sem me perder de vista. Mas ela deve ter tropeçado em algum degrau, pois sua sacola caiu e dela saíram latas, sanduíches, garrafas d’água e uma maçã vermelha que ficou saltitando de degrau em degrau até o patamar. Na rua, já era quase noite. Tive de deixar minha bicicleta no estacionamento e atravessar, à custa de muita acrobacia, o fluxo intenso, não de automóveis, que eram objetos raros naquela época, mas das bicicletas, que avançavam de modo irrefreável, para alcançar o velho de robe azul comprido no ponto do bonde, do outro lado da avenida mais larga da China, construída na loucura das grandiosidades dos anos cinquenta, imitando a Praça Vermelha de Moscou. Por dois segundos, eu teria perdido o bonde. O motorista partiu, mas meu alívio se desvaneceu quando vi chegarem correndo, ofegantes, o pai, o filho e o estojo do violino, sem, no entanto, a mãe. Corri até a porta, que tremia com os socos dados pelo pai e acabou-se abrindo. Mais uma vez fui posta a uma difícil prova; expliquei-lhe quem eu era, auxiliada pelo testemunho do velho historiador, que veio me ajudar e cuja hostilidade parecia ter sumido naquela avenida cinza e imponente, conhecida então no mundo todo por seus desfiles militares, suas 13 grandes manifestações supostamente populares e, anos mais tarde, pelo massacre de estudantes. O pai, perdido em meio a nomes como Menuhin, Bertolucci e Puyi, finalmente jogou a toalha, e a pressão de um grupo de estudantes que se aglomerava na porta do bonde acabou por afastá-lo, desamparado, junto com o filho. Mais do que os olhos fixos, imóveis, quase saltando das órbitas do velho historiador, é sua voz que me vem à mente e que ainda vibra em meus ouvidos; um fio de voz fremente, cansada, de grande suavidade, engolida na maior parte do tempo pelo barulho do bonde. Sua voz e a maneira com que ele limpava a garganta quando uma onda de tristeza ou de indignação o envolvia. Em pé entre os demais usuários, as mãos presas numa correia de couro, sem nada falar sobre as curvas que quase o derrubavam, sem olhar para mim, ele retomou o tema de Puyi no ponto em que fora interrompido naquela tarde, como se nada tivesse acontecido naquele intervalo de tempo e a reunião prosseguisse naturalmente no bonde todo empoeirado. — A história nos ensina que os dois imperadores-crianças, Guangxu e Puyi, nomeados sucessivamente pela tia, a imperatriz Cixi, com trinta anos de intervalo, foram afetados de modo semelhante pelo mesmo mal misterioso, que eu chamei de impotência, que punha fim a qualquer esperança de perpetuação da linhagem. O caso de Puyi é ainda mais fatal, pois, se considerarmos o seu status de último imperador, o fenômeno ganha uma dimensão quase metafísica que vai além de seu destino pessoal. Sofrendo dos nervos desde a infância, sua fragilidade agravou-se com o passar dos anos devido aos inúmeros medicamentos chineses ou ocidentais, às injeções em doses cavalares, às preces, aos rituais e todo tipo de cura, fumigações de aromáticos, afrodisíacos extraídos de testículos de diversos espécimes terrestres, celestes ou marítimos, dos quais o mais famoso é, sem dúvida, a “erva de verme” tibetana, um pequeno verme achatado, platelminto da ordem dos Peziza, com dois ou três centímetros de comprimento, parecido com o bicho-da-seda cinzento, chamado Bombyx mori. 14 Esse verme deve seu nome ao fato de que, depois de morrer, no inverno, seu cadáver coberto pela neve do Himalaia se transforma numa erva que acaba transpassando a neve e cresce na primavera, passando a ter, a partir daí, uma existência apenas vegetal. Mesmo assim, doses maciças desse poderoso afrodisíaco, reputado por sua eficácia, não foram capazes de tirar o membro imperial de sua letargia. Pior: fez o imperador mergulhar em estados de pânico extremo, provocou-lhe crises durante as quais ele se imaginava presa de pequenas criaturas que se agitavam dentro de seu estômago, invadiam-lhe o fígado, subiam até o coração, o cérebro, sentindo que elas eram ora lagartas com penugem cinza-pérola que o moíam, roíam e permaneciam dentro dele até a morte, ora talos de bambu pontudos, dos quais parecia-lhe enxergar o brilho esverdeado, florescendo em todas as partes do seu corpo, que se esfriava, e se esfriava e se esfriava como um campo no dia seguinte a uma batalha perdida, como um iceberg à deriva. Ele mergulhava então impetuosamente na caligrafia, uma verdadeira arte na época e que ainda hoje continua a sê-lo; o dia todo, da manhã à noite, punha-se a copiar a obra de um outro imperador, Huizong (1082-1135), da dinastia Song, de temperamento artístico, porém péssimo gestor, que também viveu um longo período de esterilidade e cumpriu um percurso penoso como combatente até o nascimento tardio de seu primeiro filho, que lhe chegou depois de ele, a conselho de um adivinho, mandar construir uma montanha artificial ao norte da capital. Ao final de seu reinado, o país estava em ruínas, e ele perdeu a guerra. Quando os “bárbaros do Norte”, os jin, avançaram em direção à capital, ele ordenou, a conselho de outro adivinho, que as portas da cidade fossem abertas, na crença de que um exército viria dos céus para socorrê-los. Viveu seus últimos anos como Puyi bem mais tarde, em cativeiro, no silêncio total do Grande Norte, a oito mil quilômetros de seu palácio, o qual ele só podia visitar em sonhos. Restaram tão poucos de seus escritos, que cada um deles, mesmo um pequeno fragmento de carta, possui um valor inestimável; tinham uma importância fundamental na coleção da família imperial, e Puyi, que era o seu 15 único herdeiro, pôde usufruir a felicidade não só de admirá-los como também de copiá-los. Ele abria sobre a mesa uma obraprima escrita normalmente em folhas de papel de cânhamo tingidas de amarelo a partir da decocção de uma polpa vegetal para protegê-las contra vermes e insetos, um tipo de papel utilizado apenas para a transcrição dos sutras e que com o tempo adquiria uma bela pátina cinza-escura. Em seguida, colocava em cima uma folha de papel translúcido coberto com uma fina camada de cera que possibilitava um trabalho de decalque perfeito. Mandou fabricar pincéis semelhantes àqueles utilizados por seu antecessor, com um tufo agrupado em torno de uma ponta central com longos pelos de doninha, conhecidos por sua rigidez, cujo controle no manuseio requer anos de prática contínua, mas que proporcionam uma resistência elástica capaz de conferir ao traço uma força bem afiada, traduzindo em mínimos detalhes a personalidade do calígrafo. Ainda se encontra na Cidade Proibida o cemitério de pincéis de pelo de doninha usados por Puyi; cada um tem a sua própria tumba, uma estela e um epitáfio redigido pelo próprio imperador, com o nome do fabricante e as datas de início e fim de sua utilização etc. Durante as suas longas sessões cotidianas de decalque, Puyi sentia o gigante da caligrafia chinesa guiar a sua mão, transmitindo o segredo contido em cada traço, em cada caractere; segundo o diagnóstico emitido anos mais tarde pelos médicos da Corte, essa atividade criou uma relação hipnótica, afetiva, amorosa, entre o decalcado e o produtor do decalque e fez nascer neste uma forma de autodestruição designada pelo estranho nome de “transferência de personalidade”. Dessa forma, o jovem imperador tinha a sensação de se revestir da pele de outro monarca aprisionado; quando mergulhava o pincel na tinta e o tufo de pelos se inchava, cobrindo-se com uma camada de tinta cuja precisão era típica de Huizong, Puyi se via num campo de prisioneiros, oitocentos anos antes, olhando a neve que tudo cobria, as tendas dos guardas e dos prisioneiros, as vastas planícies, o topo das colinas distantes. Prendia a respiração, e a mão exercia uma pressão delicada que concentrava todo o refinamento e toda a elegância estilística de Huizong. 16 Com essa pressão, a ponta de longos pelos de doninha despejava a quantidade adequada de tinta sobre o papel ou, melhor ainda, era a personalidade de Puyi que se despejava ou, como ele mesmo costumava dizer, a do próprio Huizong. Pouco a pouco, os traços de tinta se confundiam aos seus olhos com os traços de urina que tinha cavado seu curso numa espessa camada de neve no interior da tenda de Huizong numa noite de tempestade. O infeliz prisioneiro, torturado por uma doença na próstata, levantara no meio da noite mas não tivera tempo de alcançar as latrinas colocadas do lado de fora. Ocorria que, ao fazer o decalque, Puyi derramava lágrimas que deslizavam sobre a folha de decalque encerada, e ainda hoje é possível ver, numa das obras de Huizong conservadas pelo museu de Tóquio, o traçado dessas lágrimas sobre o papel de cânhamo amarelecido. Sofria grandes crises nervosas quando não conseguia controlar um gesto essencial, gesto que não é exclusivo de Huizong mas que é usado por outros grandes calígrafos, o qual consiste em trabalhar sempre com a mão no ar, sem nenhum apoio na mesa, seja para a mão seja para o cotovelo, para, nessa suspensão de todo o braço, definir a pressão a ser exercida pela ponta do pincel sobre o papel, de maneira que os movimentos adquiram seu impulso em total liberdade e criem a sequência rítmica necessária para formar as partes mais grossas e as partes mais finas das letras. O punho de Puyi, quando ele o erguia no ar, não o obedecia mais, tremia como uma folha, o que o deixava num estado de cólera de uma veemência paroxística e, como se tratava de um perverso, a única forma que encontrava para se acalmar era gozando do sofrimento dos outros: calçava uma luva e chicoteava ou espancava a cabeça de um ou vários eunucos que haviam testemunhado o seu fracasso, inventando, com base numa inspiração sádica, as mais ignóbeis torturas, pelo simples prazer de ouvi-los chorar, gritar de dor e suplicar. “No começo de abril de 1925, treze anos após a queda do Império, Puyi foi libertado de sua prisão dourada, a Cidade Proibida, protegida pelo exército da República nascente, depois de sofrer uma espécie de crise de epilepsia que o lançou 17 numa letargia profunda, deixando-o mais morto que vivo. Foi então transportado para a concessão japonesa de Tianjin, ao sul de Pequim. Permaneceu de cama durante várias semanas, voltando a sorrir apenas diante da chegada de um cortejo de carregadores com dois quilômetros de comprimento, que traziam em suas costas machucadas enormes baús. Havia três mil deles, todos lotados de objetos preciosos colecionados por seus antepassados. Para ele, porém, o mais belo desses baús repletos de tesouros nacionais, chuvas de pérolas, rios de diamantes, cascatas de jade, de ouro, porcelanas, cobre, esculturas, pinturas, caligrafias etc., era aquele reservado para as obras de Huizong. Assim que começou a se recuperar, voltou a mergulhar nas obras de seu mestre, dessa vez para copiar as pinturas, domínio em que Huizong atingira a excelência, mais ainda, talvez, do que na caligrafia, ocupando um lugar equivalente ao de Modigliani ou de Degas na pintura ocidental. Não se podia saber com precisão a que atribuir a sua recuperação: se às pinturas de Huizong ou ao lutador de sumô japonês de nome Yamata, que tinha um corpo tão grande que a cabeça, minúscula, parecia enfiada para dentro dos ombros caídos, e que desempenhou um papel indispensável em sua vida cotidiana. Por volta do meio-dia, Puyi tocava uma campainha para sinalizar que acordara, e o lutador de sumô, totalmente nu, aproximava-se dele, deslocando-se como uma montanha silenciosa, e, no calor de seus braços de uma maciez tão feminina, transportava-o para o banheiro, colocava-o numa banheira de mármore onde a temperatura da água tinha sido regulada e monitorada cuidadosamente com o auxílio de um termômetro alemão pelo próprio lutador, que sabia por experiência própria que qualquer mudança provocaria em seu tão maníaco senhor uma nova crise nervosa. Então, num estado de semissono — como contou Puyi um dia a um primo perante o qual, como diante de todo mundo, ele utilizava a terceira pessoa e o termo imperador para falar de si mesmo, explicou-me o professor —, o imperador ouvia a estrutura de seu próprio corpo, dilatado pela água, estalando e gemendo, embalado pela voz de uma jovem virgem sentada junto à banheira a ler um romance es- 18 colhido por ele mesmo na véspera. Na maior parte das vezes, tratava-se de algum trecho do Jin Ping Mei, lido por chinesas, uma mais bela que a outra, mas também ocorria de o imperador, aconselhado pelo lutador de sumô, encomendar romances eróticos japoneses; nesses casos, a leitura era feita por alguma japonesa desconhecida e, apesar de o imperador não entender nada daquela língua, a voz da japonesa, misturada ao vapor da água, o envolvia, e quando ele achava forças para abrir os olhos por uma fração de segundo, parecia-lhe ver uma sereia, pois a saia de seda cinza-pérola da moça cintilava naquela estufa como a cauda de um peixe, cujas escamas, segundo a lenda, se soltavam em pequenas porções diante do olhar de um homem, escamas que o imperador imaginava flutuarem na superfície da água, brilhantes como lâminas de prata, em torno de seu corpo mergulhado na banheira. Tocava novamente uma campainha para comunicar o final do banho, o lutador entrava, tirava-o da banheira, carregava-o para o quarto nos braços, colocava-o sobre a cama e o envolvia rapidamente em toalhas grandes, macias, espessas, impregnadas de um perfume embriagante. O imperador permanecia deitado por um longo tempo, numa escuridão absoluta, sem nada ver nem escutar, respirando aqueles aromas deliciosos de flores, plantas, almíscares, até se perder dentro deles. O tempo, que em outras partes passava como um relâmpago, desenrolava-se tão lentamente para ele que cada minuto parecia uma eternidade. “No final da tarde, segundo as memórias de seu primo”, continuou o professor, “após a primeira refeição do dia, o imperador fechava-se em seu birô, cujas janelas ficavam permanentemente cobertas por cortinas de um vermelho violáceo que o sol não conseguia atravessar, e, diante de uma mesa iluminada por um abajur verde, como um aluno com sua lição de casa, ele produzia uma cópia de um pássaro sobre um galho nu, pintado sobre seda por Huizong, que foi o pioneiro nesse gênero típico de pintura de corte, auge do refinamento e da elegância do espírito chinês, em que predomina uma pureza muito particular, despojada, fantasmagórica, sempre leve porém carregada de sentido. Não se podia dizer se o pássaro se 19 encontrava num céu paradisíaco, num mundo submarino, um aquário sombrio, de tão ausente que estava da obra a vulgaridade das realidades terrenas. É inútil precisar que o imperador demonstrava uma predileção particular por esse tipo de pintura. O lutador preparava a tinta e estendia uma peça de seda fabricada especialmente para ele por um ateliê de Suzhou, reprodução perfeita daquela utilizada por Huizong oitocentos anos antes: uma seda com pontos espessos, com dupla costura, não dessas sedas de hoje em dia, essas sedas vulgares de pontos finos e fios de cadeia dupla. Os artesãos, seguindo uma técnica da época dos Song, untavam a seda crua com uma mistura de cola e alume, primeiro com uma escova, depois por pressão, batedura e polimento, a fim de que ela se prestasse melhor a receber as múltiplas camadas de aquarelas aplicadas sucessivamente, técnica esta inventada por Huizong e da qual este era o mestre inquestionável. O imperador permanecia sentado, imóvel, horas e horas, contemplando o pássaro que ele iria copiar, procurando captar o segredo de sua plumagem acinzentada, feita de linhas justapostas, dissimulando sob um frêmito contínuo, quando se via de bem perto, uma absoluta precisão; o segredo daqueles vapores avermelhados, folhas sem forma nem identidade se tornando pétala, estame, pistilo... em torno da cauda de tom carmim do pássaro; e aquele bico preto, cuja única linha, muito fina, desenhava o contorno cristalizado numa forma fluida atravessada por uma invisível vibração; acima de tudo, o milagre do olho, que, de uma maneira ainda mais perturbadora, constituía um enigma que nem o imperador nem nenhuma outra pessoa jamais pôde desvendar: como o pintor conseguiu conferir-lhe um brilho e uma força tal que se poderia dizer, embora isso fosse em tese materialmente impossível, que ele estava examinando você, ultrapassando uma fronteira invisível. Às vezes o imperador imaginava que Huizong não tinha usado pincel, mas apenas a unha, sobre a qual derramara um ponto da tinta preta que então lançara a um metro de distância e que, por um acaso ou como efeito de um movimento minuciosamente elaborado, caíra sobre a tela no lugar exato onde deveria cair. A cabeça do pássaro, pinta- 20 da em cores translúcidas, com sombras de nuanças delicadas, uma proeza anatômica, detalhada e natural, essa cabeça frágil, vibrante, impregnada de uma profunda solidão, invocava no imperador a própria imagem quando criança, aos três anos, empoleirado sobre um trono trabalhado em ouro, sustentado por quatro dragões entrelaçados, que se elevava a uma altura que os olhos de uma criança tinham dificuldade de alcançar, aquele trono em que lhe parecera que o seu corpo, desprovido de peso, se transformava no de um pequeno pássaro abrigado em um ninho construído bem no alto, naquela sala de audiência onde reinava um frio glacial e, por mais paradoxal que possa parecer, um silêncio de morte, onde os gritos ensurdecedores de milhares de súditos que se ajoelhavam diante dele ressoavam como num abismo enorme, para misturarem-se em longos ecos sombrios e aterrorizantes. “O que Puyi não revelou ao primo”, comentou o professor, “é que ele nunca conseguiu, apesar da duração infindável de suas contemplações, efetuar um único traço sobre a seda, a menor mancha de tinta, a mais ínfima garatuja. As obras de Huizong acabaram inspirando-lhe tão somente um profundo desgosto em relação a si próprio. Ao final de cada sessão, o lutador de sumô repunha na gaveta os pincéis, cujas pontas nunca tinham sido mergulhadas na tinta, a qual lentamente se espessava, coagulando progressivamente, tornando-se irremediavelmente opaca, e depois guardava no fundo de um cesto as peças de seda virgens, rasgadas e rejeitadas por Puyi, e as enterrava no pátio, sob uma camada de terra e de folhas em decomposição. Esse período de “meditação sobre a pintura”, como o chamava Puyi, culminou com um episódio espetacular, não desprovido de alguns traços de comédia: no fim de novembro de 1926, após uma noite de muita neve, Puyi, então com vinte anos de idade, foi visto com espanto, ao primeiro clarão do amanhecer, com seu corpo frágil e nu enrolado num longo cachecol de plumas pretas e brancas, empoleirado, tremendo de frio, sobre o galho de um olmo, como o pássaro pintado por Huizong oitocentos anos antes. Nenhum dos criados ousou ir ter com ele, com exceção do 21 lutador de sumô, única pessoa autorizada a adentrar o birô, que era fechado para todos, para, no inverno, repor a lenha na lareira e, no verão, agitar um leque em silêncio às suas costas. Nunca saberemos que grau de intimidade havia entre o jovem imperador decadente e seu lutador japonês, mas, de acordo com as memórias de um dos últimos eunucos de Tianjin, toda vez que Puyi mergulhava numa letargia profunda, após uma crise nervosa, o lutador juntava-se a ele em sua cama e, deitado ao seu lado, abraçava-o dia e noite. Mas, naquela manhã, quando o lutador, já tendo atingido a altura em que seu senhor se localizava, partia para pegá-lo em seus braços, o galho do olmo, que já se envergara consideravelmente com o peso de Puyi, cedeu num estrondo ensurdecedor, e os dois, um nos braços do outro, caíram, sem no entanto se ferirem, graças à neve que cobria o pátio. “Outra coisa curiosa é que Huizong, além de pintor e calígrafo, era também um grande colecionador, se não o maior de todos, um domínio que requer uma fortuna imensa, sem dúvida, mas também conhecimento da arte ou, para resumir, bom gosto. Eu mesmo, que não sou artista”, dizia o professor, “já li e releio uma vez por ano os catálogos da coleção de Huizong, que trazem detalhes sobre seis mil e trezentas obras, cada uma com seu título, descrição, a biografia dos pintores e especialmente um comentário feito pelo próprio imperador reconstituindo a gênese de cada criação. Quase todas essas obras estão hoje desaparecidas, mas a leitura dos catálogos proporciona o mesmo prazer que a de um mapa antigo de uma cidade ou de um bairro, em que passeamos por ruínas imaginárias, atravessamos um cruzamento, perdemo-nos num mercado, caminhamos junto a um espelho d’água, espreitamos o nosso próprio temor ao longo da linha sinuosa das muralhas, que desaparece no mesmo instante em que acreditamos alcançá-la. Eis a razão pela qual, e a senhora há de compreendê-lo, fui tomado por uma grande sensação de felicidade ao descobrir, numa ampliação fotográfica, os títulos de duas obras desse catálogo mítico na etiqueta do baú confiado a Huizong que o nosso último imperador possuía. 22 “A primeira era uma caligrafia de Li Bo, o grande poeta da dinastia Tang, uma transcrição autografada de seu poema ‘O Terraço do Sol’, em papel de cânhamo. Três séculos separam Li Bo de Huizong, mas naquela época, como acontece ainda hoje, os letrados se dividiam em dois campos, o dos admiradores de Li Bo e o dos entusiastas de Du Fu, outro grande poeta da dinastia Tang, amigo íntimo de Li Bo. Visivelmente, Huizong pertencia ao primeiro grupo, pois possuía, segundo o catálogo de sua coleção, seis caligrafias autografadas de Li Bo — seis poemas dos quais era ele próprio o autor —, duas em estilo semicursivo, executadas no palácio diante do imperador que as encomendara, e as outras quatro com uma letra cursiva totalmente apressada, todas elas, a julgar por seus títulos, elogios ao álcool improvisados sob plena bebedeira e que Huizong, num comentário que vai além de seu papel como especialista, abordava assim: ‘Li Bo e o álcool, um correndo ao encontro do outro, confundem-se até formar, num desvanecimento, uma só criatura, compacta e indistinta, única no mundo.’ “Não pude deixar”, disse o professor, “de fazer uma pesquisa sobre esse poema intitulado ‘O Terraço do Sol’. Que enorme trajeto ele deve ter percorrido em meio às peripécias políticas, ao surgimento e quedas de dinastias! Depois que Huizong foi para o exílio, essa obra desapareceu, ressurgindo na dinastia Yuan, inicialmente com Yan Qin, depois com Ou Yangxuan (1274-1358), célebre mestre dos Arquivos Imperiais, desaparecendo depois novamente, para ressurgir trezentos anos mais tarde, na dinastia Ming, no catálogo do famoso colecionador Xiang Zijing, antes de se tornar propriedade, por volta do final do século XVI, dos imperadores Qing, antepassados de Puyi. A caligrafia não é senão a representação artística de uma outra forma, a dos ideogramas que compõem o poema, mas não só reflete a natureza e o temperamento do artista; podemos identificar nela também, acredite, seu ritmo cardíaco, sua respiração, seu hálito cheio de álcool, que proporciona ao amador uma euforia comparável à de um melômano apaixonado que viesse a descobrir ou, melhor ainda, que viesse a se 23 apropriar de um registro sonoro, gravado duzentos anos antes, de uma sonata para piano de Beethoven tocada pelo próprio Beethoven em pessoa. “Psicologicamente, o efeito hipnótico de uma caligrafia ou de um quadro que, segundo a opinião dos médicos, constituía um milagre em Puyi é, como qualquer sugestionamento artístico, um efeito de curta duração, que não podia ser suficiente no seu caso patológico nem manter nele um equilíbrio mental, ainda que frágil. Sem querer ser abusivo, digo que isso é, no entanto, o que lhe proporcionava o segundo tesouro da coleção de Huizong — um manuscrito em um rolo de seda, numa língua então desconhecida —, a coisa que mais lhe importava no mundo. Era tamanho o poder hipnótico que exercia sobre ele, que Puyi, que tinha mandado pendurar ao lado de seu leito a caligrafia de Li Bo, quase nunca mais olhou para ela, incapaz que se tornara de tirar os olhos do rolo manuscrito. “Vejo nos seus olhos”, observou o professor, “o grande interesse que esse rolo desperta na senhora, e, antes que isso adquira uma dimensão mais apaixonada, como ocorreu com todos os que dele se aproximaram, faço questão de alertá-la. Mesmo em mim, devo admitir, ele suscitou um grande entusiasmo quando me debrucei sobre o seu caso, esgotando todas as fontes possíveis, várias dentre as quais sujeitas a muito cuidado, por estarem intimamente misturadas com lendas, mas me parecia que, reconstituindo o seu percurso, por mais sinuoso que ele fosse, eu conseguiria falar melhor sobre os imperadores já mortos nos quais ele deixara a sua marca, recompor os fragmentos desaparecidos da vida de nobres depostos, como Setenta e Um, de quem falo no livro que a senhora leu. Lamento muito que, no momento da publicação, seu compatriota Paul d’Ampère ainda não tivesse chegado à China, que os caminhos desse nobre louco e desse manuscrito ainda não se tivessem cruzado, privando meu livro de um capítulo que seria o mais perturbador de todos. “Esse precioso rolo é constituído por dois pedaços de seda costurados um ao outro com pequenos pontos. O pri- 24 meiro contém o texto em língua desconhecida, sobre uma seda pintada com um amarelo alaranjado. Não traz nenhuma indicação de data, mas, por meio de um exame científico do tecido, sabe-se que a tintura foi extraída de uma decocção da casca da árvore Huangbo, típica da dinastia Han, e a análise da tinta, de excepcional qualidade, que conservou intacta toda a intensidade de seu preto profundo, tende a provar que essa obra misteriosa data provavelmente do século II ou do século III da nossa era, o que faz dele o rolo mais antigo preservado até o momento. “No outro pedaço, de uma seda mais luxuosa, tingida de azul-claro, figura um longo texto com trinta colunas de ideogramas chineses, na cor marfim, caligrafados por Huizong com pó de ouro — que ainda brilha em alguns pontos — misturado com uma cola, técnica utilizada nos templos budistas para copiar textos sagrados. (Teria Huizong algum pressentimento em relação à natureza desse texto escrito numa língua desconhecida?) “O texto começa com uma breve biografia de An Shigao, o primeiro tradutor de sutras budistas para o chinês, príncipe herdeiro de Pártia, na Ásia Ocidental, que se converteu ao budismo, tornou-se monge e, com a morte do pai, abriu mão de suas prerrogativas em benefício do tio. Partindo dos confins indo-iranianos, seguiu a rota dos oásis da Ásia Central, Khotan, Kucha, Turfan... até Gansu, depois de atravessar as cidades cosmopolitas de Dunhuang, Zangye e Wuwei. Avançou pelo vale do rio Amarelo, na China do Norte, onde sua presença foi atestada em meados do século II, mais precisamente em 148, na capital, Luoyang. À sua reputação de gênio linguístico — falava vinte línguas —, somava-se uma ampla erudição histórica e nenhum dia se passava sem que ele dedicasse algumas horas a seus trabalhos de tradução. Passou dez anos em seu quarto traduzindo para o chinês inúmeros sutras que trouxera de suas viagens; sua tradução, na maior parte das vezes em versos, concebida com uma sobriedade despojada de qualquer traço de sua vida anterior de príncipe parto e, mais ainda, de qualquer pretensão personalista, é de tocar a alma, 25 sendo que, no dia a dia, seu chinês era bem vacilante, marcado por um forte sotaque e por erros gramaticais. Certo dia, por ocasião de uma ida a Xi’an, a antiga capital chinesa, onde fora pregar no bairro de Fufeng, ele viu, bem no meio da noite, num terreno vazio, conforme relatou mais tarde ao imperador, feixes de luz brotando da altura do chão e iluminando alguns pontos, como nessas visões místicas representadas em pinturas religiosas. De acordo com o relatório que apresentou à Corte, em 480 antes da nossa era, depois de o Buda Shakyamuni entrar na insondável paz do Parinirvana, seus discípulos dividiram entre si suas relíquias e partiram em vários grupos em diversas direções para difundir sua palavra pelo mundo. Os que chegaram à China conheceram dificuldades insuperáveis, pois a guerra arrasava o país, sucumbindo um após o outro. O último deles, já bastante idoso, morreu ao chegar ao vale de Wei, um vale do rio Amarelo, onde teve de esconder as relíquias do Buda, que revelavam-se a An Shigao através daqueles feixes de luz divina que atravessavam a terra. Era a primeira vez que a Corte ouvia falar no nome de Buda, que causou risos em todos; de toda maneira, escavações foram realizadas pelo exército, sob as ordens do imperador, e encontraram-se cristaloides em forma de dentes e de falanges de dedos, em tamanhos superiores ao normal, de coloração dourada, translúcida, que brilhavam ao fundo de um fosso. Foi dessa maneira que An Shigao logrou converter o imperador da China, que, em memória desse milagre que marcava o triunfo do budismo, mandou construir no lugar um deslumbrante estupa — um edifício alto, de madeira e tijolos, pintado de branco —, em cuja cripta foram conservadas as relíquias do Buda. Ao lado, mandou construir uma casa onde An Shigao passou o restante de seus dias, a rezar, meditar, traduzir e ensinar, e que, depois de sua trágica morte (foi assassinado durante uma de suas inúmeras peregrinações religiosas), tornou-se o primeiro templo budista da China: o Templo da Porta da Lei. “Quase mil anos se passaram”, prossegue o texto escrito por Huizong, “até que em meados de agosto de 1128, no meio de uma noite de tempestade marcada por trovões,
Baixar