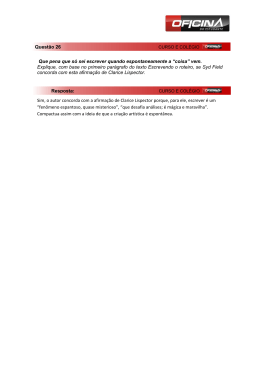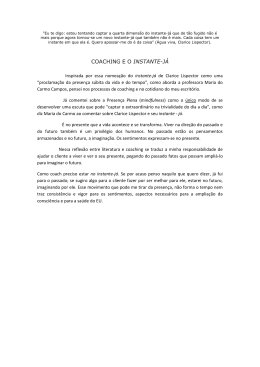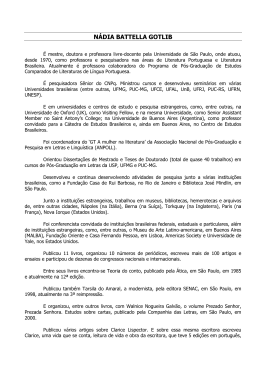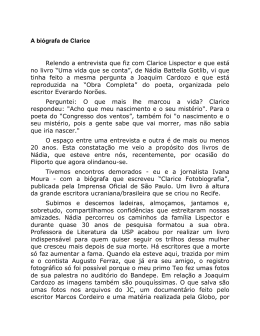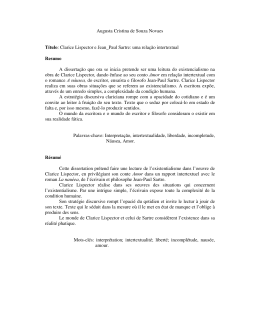Introdução CERTA VEZ PERGUNTARAM A Clarice Lispector que título ela daria a sua autobiografia. A resposta foi sucinta mas, como sempre, mortal: “À procura da própria Coisa.” A Coisa – o mundo real, neutro e indiferente às construções humanas, nisso incluída a própria literatura – foi, desde seu primeiro romance, Perto do coração selvagem, de 1943, a grande paixão e o grande inferno de Clarice. Viveu para perseguir esse núcleo de vida pura que nos iguala aos animais e nos despe de nosso manto cultural. Viveu, como ela mesma definiu, para buscar o que se esconde “atrás de detrás do pensamento”. Não foi pouco o que se propôs. Na aparência, o projeto literário de Clarice Lispector era escrever não para expandir a literatura, mas para ultrapassá-la. Não foi por outro motivo que Clarice não gostava de ser chamada de “escritora”. A definição – esnobe, profissional, de alguém que se julga dono das palavras, ou pelo menos que se considera em seu comando – a enojava. Clarice, ao contrário, escrevia por instinto. “Por que você escreve?”, lhe perguntaram. “Por que você bebe água?”, respondeu. Escrevia não “para viver”, com bens, honrarias, admiradores; mas para sobreviver, como uma fera perdida em sua selva. A perseguição da Coisa não a conduziu, porém, para uma escrita autobiográfica. Depois de ler seus nove romances, continuamos sem conhecer uma só linha de sua vida pessoal. Apesar disso, a literatura de Clarice Lispector promove um forte desnudamento, não para a exibição e celebração do Eu, como tanto acontece em nossa sociedade de holofotes e celebridades, mas para seu exterIntrodução 9 mínio. Clarice queria chegar à vida selvagem em que Joana, a protagonista de Perto do coração, esteve sempre perdida, e onde Virginia, personagem de seu segundo livro, O lustre, de 1946, continuou também. Lendo Clarice, a filósofa francesa Hélène Cixous, maior especialista europeia de sua obra, disse: “O que ela faz não é literatura, mas filosofia.” Observou ainda a singularidade extrema de sua escrita, ao afirmar: “Clarice não escreve em português, mas em lispector.” Sempre sensível às diferenças, o romancista mineiro Otto Lara Resende preferiu outro caminho para defini-la: “Não se trata de literatura, mas de bruxaria.” Não foi por acaso, não custa lembrar, que, no ano de 1975, a escritora foi uma das convidadas para o I Congresso Mundial de Bruxaria, realizado em Bogotá. Em sua palestra, não apresentou teses esotéricas, ou meditações místicas: limitou-se a ler um de seus mais enigmáticos contos, “O ovo e a galinha”, que está em Felicidade clandestina. Para Clarice, o enigma não estava fora do homem – não é um mistério a ser desvelado, ou um monstro que devemos matar. Ao contrário, está dentro dele e naquilo que dele escorre de mais íntimo. Como, por exemplo, a literatura. “Clarice é uma autora filosófica. Ela pensa e não temos o hábito de pensar”, resumiu Hélène Cixous. Mas pensadora de quê, se nunca produziu conceitos, ou se referiu a tradições filosóficas? Pensadora da Coisa – a própria Clarice respondia. Seu pensamento se voltava não para as palavras, mas para aquilo que sob elas se camufla, aquilo que elas, ao invés de mostrar, ocultam. Em resumo: pensadora do impensável. Seus romances, em consequência, formam uma lenta, fragmentada, mas atordoante dança em torno do núcleo do real. Alguns o chamam de Deus. Outros, de Mistério. A ciência, com sua técnica, luta para atravessá-lo. As religiões, para elevá-lo. Clarice sabia, porém, que, em torno dele, só nos resta, como frágeis humanos, dançar. Clarice, a dionisíaca: como Dionísio, 10 Clarice na cabeceira o deus grego da vida e da dança, também para ela existir é acariciar, beijar, a face do real. E isso é tudo. Feitiçaria é, ainda assim, uma metáfora adequada para a literatura de Clarice, assim como foi para um poeta como Arthur Rimbaud. Aos 23 anos, mesma idade em que Clarice publicava Perto do coração, Rimbaud abandonou para sempre a literatura para se alistar no Exército Colonial Holandês e, lançando-se ao mundo, desbravar os mais remotos lugares do planeta. Fugiu para fora: logo depois se tornou mercenário na África. Clarice, ao contrário, fugiu (se é que a ideia de fuga é adequada) para dentro – sua escrita é, na verdade, um doloroso exercício de introspecção. Não foi por outro motivo que, um dia, fazendo pose de costureira, assim resumiu seu trabalho com as palavras: “Não escrevo para fora, escrevo para dentro.” Quando, no ano de 1956, Clarice Lispector terminou seu quarto romance, A maçã no escuro – mesmo ano em que Guimarães Rosa, outro gênio da língua, publicava Grande sertão: veredas –, seu projeto de explosão dos limites literários chegava a uma configuração definitiva. No romance anterior, A cidade sitiada, ela ainda tentou praticar certo realismo, em um esforço felizmente fracassado, já que o livro, apesar da inesperada frieza, é um atordoante mergulho na instabilidade do ser. Mas agora, em A maçã, Clarice chegava àquilo cuja presença de Joana, em Perto do coração, e de Virginia, em O lustre, começaram a reconhecer: o que chamavam de Mal. O protagonista, Martim, cometeu um crime. Toda sua longa história, narrada ainda na terceira pessoa, é um esforço desesperado para entender o lado diabólico de seu coração. O lado negro do humano, lado avesso e oculto que, muitas vezes – nos criminosos, nos psicopatas, nos loucos –, se revira para fora. Depois de matar a mulher, Martim imaginou que usaria os anos de prisão para escrever um romance. “Juro que no meu livro terei a coragem de deixar inexplicado o inexplicável”, ele diz. Podemos pensar, agora, se esse romance que Martim escreveria não seria Introdução 11 A paixão segundo G. H., o mais importante livro de Clarice, publicado em 1964. Enquanto o Brasil fervia com o golpe militar, ela narrava a história de uma mulher burguesa que, fazendo uma faxina no quarto de empregada, mata uma barata. Ao ver a barata espremida contra a porta do armário, ao topar com a gosma enigmática que dela pinga, G. H., sem planejar fazer isso, “vê” a Coisa. Somos, tanto os insetos, como os humanos – e Kafka já sabia disso muito bem –, feitos da mesma matéria. Da mesma coisa. G.H. decide, então, que precisa provar da gosma que escorre do inseto agonizante, levando assim a Coisa a engolir a própria Coisa. Para, enfim, como na travessia de um deserto, chegar ao núcleo do que somos. E, cheia de horror, mas contrita como quem comunga a própria vida, é exatamente o que faz. Os romances de Clarice Lispector são muito avaros em matéria de conteúdos. Importante exceção a essa regra, Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, de 1969, embora mais centrado nos dilemas do desejo e na busca do contato humano, é, ainda assim, um livro doloroso. Tanto que, após publicá-lo, alegando uma profunda exaustão, Clarice chegou a pensar em abandonar a literatura. Pouca coisa, ou quase nada, acontece na maior parte de seus relatos: a um ponto em que Água viva, lançado em 1973, foi um livro que ela escreveu sem mesmo saber que escrevia. Durante meses, por impulsos, como um animal que se sacode e rosna, Clarice tomou notas dispersas, em tiras de jornais, guardanapos de papel, cadernetas, e as juntou em uma caixa. Um dia, em busca de um fio que costurasse aqueles pedaços, descobriu que, sem saber que fazia isso, escrevera um livro. Um romance escrito pela Coisa? Um romance de que o Eu, desde o início, como o fugitivo Martim, foi banido, ocupando a Coisa o seu lugar? Essa escrita “telepática”, como definiu a canadense Claire Varin, a mais importante estudiosa de Clarice na América do Norte, empurrou Clarice para uma posição absolutamente marginal não só no cenário da literatura brasileira, mas internacional. Clarice escreve, todo o tempo, deslocada em relação não só às normas letra- 12 Clarice na cabeceira das e aos bons costumes retóricos, mas à própria escrita, que para ela não é ofício, mas aventura interior. Daí seu estilo ciclônico – as palavras dançando, todo o tempo, em torno de um núcleo inatingível. Sua literatura tem, em consequência, a forma de uma roda que, em uma translação enlouquecida, e com um grande oco em seu centro, fulmina e mata – pobre ser dormente – o leitor. Mas é esse oco, esse rasto sem fundo que as galáxias repetem no firmamento, a melhor definição que dispomos do humano. Escrita que navega sem rumo, como um cometa desgovernado, a literatura de Clarice Lispector é, antes de tudo, uma escrita da ignorância e do fracasso. Ela nos lança isso na cara, sem nenhum pudor e com certa ironia, em A hora da estrela, de 1977. Trata-se da história de um escritor, Rodrigo S. M., que luta para narrar a vida da nordestina Macabea. Rodrigo “é” aquilo que Clarice sempre desprezou: um homem que acredita na realidade. Mais que isso: um homem que julga comandá-la – e talvez o misterioso sobrenome S. M. possa esconder, como um título de nobreza e poder, a alcunha de “Sua Majestade”. Talvez possamos encontrar um resumo para a obra de Clarice em uma frase de Nietzsche: “Falar é uma bela doidice: com ela o homem dança sobre todas as coisas.” Clarice cortaria, por certo, o plural, pois sempre preferiu o singular, e em vez de “as coisas”, mais uma vez, escreveria: a Coisa, objeto que sempre a fascinou, mas também a destruiu. Talvez outro resumo de sua obra apareça no romance de despedida, Um sopro de vida, um livro “de não memórias”, como ela mesma o definiu, “feito de destroços”. Imaginou-o como seu livro definitivo. Clarice o deixou inacabado. Assim como parece, também, nunca ter fim a leitura de seus esplendorosos romances. JOSÉ CASTELLO* * Escritor e crítico literário. Colunista do Prosa & Verso de O Globo, é autor, entre outros, do romance Ribamar, da coletânea de ensaios A literatura na poltrona e da biografia Vinicius: O poeta da paixão. Introdução 13
Baixar