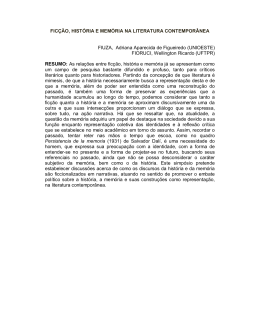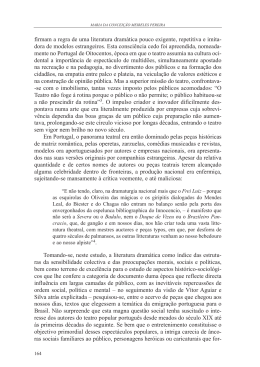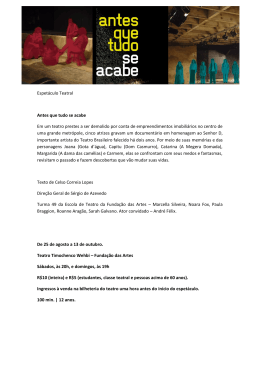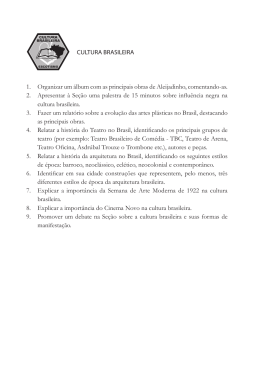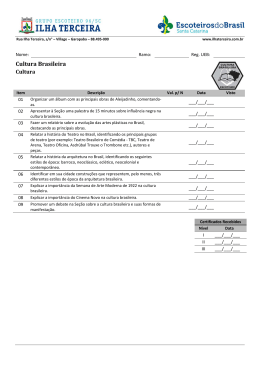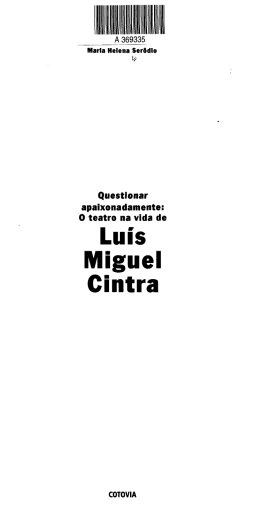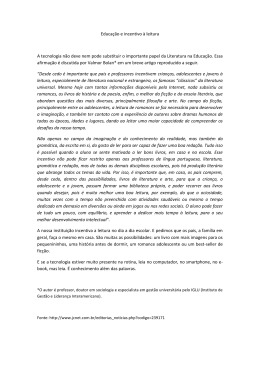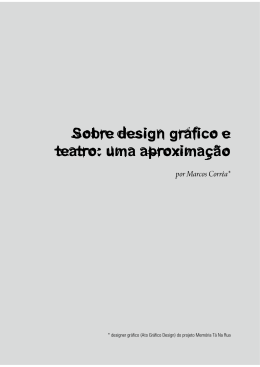UMA ESCRITA DE (HER)STORY Mariana Maia Simoni (PUC-Rio) Começo com uma fábula sobre o fim da história europeia marcada por grandes narrativas. Com perguntas diretas sobre o que fica depois do colapso dos grandes projetos políticos e dos grandes relatos totalizadores no discurso teórico. Começo com a construção e invenção de “um arquivo de utopias do século 20” que, ilusório e irônico, descontroi suas ideologias e mitologias a partir da exposição dos “mecanismos de sedução” impiedosamente incorporados à vida cotidiana. Começo com uma história. Particular. Herstory. Uma história sobre a fenda entre mundos, sobre a queda do muro de Berlim, a queda do comunismo e a ruptura espaço-temporal que isso causou. Uma história sobre o encontro de quatro pessoas, quatro performers, estranhos cosmonautas, com capacetes adornados de relógios e a torre de TV e Mickey Mouse, viajando através do espaço e do tempo. Quatro corpos interagindo sobre um espaço convencionado como palco, movendo-se e entremeando-se pelos “Light objects” criados pelo artista plástico de Nova York Noah Fischer – combinações de letras e palavras como “USSRA” e “BRDDR” performando ludicamente fronteiras imprecisas entre comunismo e capitalismo, objetos construídos sobre fontes luminosas, que funcionam como divisores do palco e marcadores de transições. Uma história sobre um espaço em que passado e futuro coexistem simultaneamente como temporalidades difusas. Uma história sobre um tempo em que a fronteira entre Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental não era apenas geográfica, mas também temporal. Uma história sobre. Uma história sobre Little Red, nascida de pais comunistas – e portanto já usando fraldas vermelhas – habitantes da Alemanha Ocidental. Uma história sobre Nicola Nord, diretora de teatro, performer, cantora, que depois de cursar estudos teatrais, de cinema e mídia na Universidade Johann Wolfgang Goethe em Frankfurt, recebeu um financiamento da DasArts, (The Amsterdam School for Performing Arts). little red (play): 'herstory' foi seu projeto final, inspirado em sua infância na Alemanha Ocidental e suas idas a uma colônia de férias no lado Oriental. Uma história que exibe uma marca singular do feminino. Little red (play) herstory foi idealizada a partir da suposição de um encontro no ano 2000 em Berlim, de 4 pessoas que haviam se conhecido em colônias de férias comunistas para jovens na Alemanha Oriental. O espaço dividido da Alemanha funciona, então, como ponto de partida para a narração nada linear da história de Little Red, que contrabandeava figurinhas do Mickey e da Minnie na colônia de férias oriental. Uma história sobre andcompany&co., uma rede internacional de artistas em trabalho colaborativo, oriunda da Escola de Giessen, renomada universidade alemã – cujo departamento de estudos teatrais se caracteriza pela orientação que indissocia teoria e prática – fundada por Alexander Karschnia, ele próprio também formado em história, Nicola Nord e Sascha Sulimma. Uma história sobre outra maneira de fazer teatro. Não mais subordinados ao texto, ou ao compromisso de controlar a transmissão de qualquer tipo de enunciado sintetizador, os elementos desta apresentação cênica participam de maneira autônoma na interação com os espectadores. O texto mescla os idiomas inglês e alemão, indicando muito mais do que referências frequentes à era McCarthy, uma total despretensão de provocar percepções totalizantes. Não mais sendo possível demarcar as fronteiras do literário em termos de propriedades inerentes a textos, não mais sendo possível demarcar as fronteiras do teatral em termos de textos subordinantes a que os demais elementos cênicos estariam subjugados, como incorporar à historiografia literária um objeto que não apenas se torna visível a partir da expansão do literário, mas que também tematiza e performa autorreflexivamente os próprios processos de construção de histórias? Em outras palavras, um objeto que compartilha fronteiras tanto com o campo da literatura quanto com o da própria historiografia literária. Em lugar de desencadearem ações a partir de motivações psicológicas, os textos nesta peça surgem das próprias ações provocadas por dois dispositivos primários de improvisação. Primeiro: os quatro performers sentam na escuridão, cada um com uma lâmpada operada por um pedal. Eles respondem com respostas estereotipadas à provocação estereotipada: “Let’s discuss the greatness and retardedness of _________ now,” cuja lacuna poderia ser preenchida por qualquer coisa, de John Lennon a Stalin ou a RDA. O aspecto estereotipado das perguntas e respostas e o rígido formato em que a improvisação acontece permitem um efeito de supresa. Paradoxalmente algo inesperado emerge a partir da geração de expectativas e do seu cumprimento total. Segundo dispositivo: os performers interrogam uns aos outros, numa referência gritante aos julgamentos de McCarthy, com perguntas inquisidoras, complicadas e em última instância non sense sobre arte, política, e o que acabaram de comer nos bastidores. Uma história sobre a impossibilidade de contar histórias sobre. Uma história que performa a invenção de uma história. Em seu ensaio “A performatividade de histórias –Waterland de Graham Swift como uma teoria da história”, o teórico da literatura holandês Ernst van Alphen diz: “O texto narrativo é um discurso específico que tem consequências cognitivas para a história contada. Isso impõe uma forma específica e um significado para a história” (VAN ALPHEN, 1994: 202). Neste texto, o autor explicita logo nas primeiras linhas sua moldura teórica – composta por autores como Hayden White, Hans Kellner, Stephan Bann e Frank Ankersmitt – e, em seguida, sua concepção de história, calcada muito mais em seus efeitos performativos, a partir das próprias estratégias historiográficas, do que em termos da busca pela “verdade”: “Não é mais possível dizer que falam sobre história; o que fazem, em lugar disso, é criar história por meio do discurso”. (p. 202). Como emblemático da ficção pós-moderna, o ensaio escolhe Waterland (1983), de Graham Swift, que – sem abandonar as convenções do romance tradicional, e ao mesmo tempo as desafiando – conta a história de um professor de história que reflete sobre sua profissão, sobre as histórias contadas na sua família, e sobre aspectos comuns entre este processo de narrar familiar e suas próprias aulas de história. Apoiado nas reflexões sobre a ficção pós-moderna elaboradas por Linda Hutcheon, a partir do conceito de “metaficção historiográfica”, van Alphen argumenta que o romance de Swift pode ser considerado uma teoria performativa da história. Partindo da premissa da não naturalidade das narrativas – tanto as históricas quanto as ficcionais – e, por conseguinte, de seu caráter de constructo, Hutcheon vincula o processo teleológico e totalizante implicado na criação de narrativas de estrutura início-meio-fim com a ideia de controle a partir da busca de significado e ordem. A intolerância pós-moderna com relação a este impulso totalizante que remonta aos anos 1960, segundo a autora, no início da década de 1990 parece acompanhar “um igualmente forte terror de que seja realmente alguém – mais do que nós mesmos – que esteja ordenando e controlando nossas vidas para nós”. (HUTCHEON, 2002: 60). Sob este aspecto, ao mesmo tempo em que a ficção pósmoderna simultaneamente instaura e subverte a causalidade da narrativa, a historiografia – não mais sendo considerada uma recordação objetiva e desinteressada do passado – também se rebela contra a totalização dos grandes relatos contestando a noção de continuidade na história e na sua escrita, e legitimando a descontinuidade tanto como novo instrumento de análise histórica quanto como resultado mesmo desta análise. A ênfase sobre a processualidade torna os resultados indistinguíveis das próprias estratégias. Neste sentido, o conceito de metaficção historiográfica opõe à ideia de descoberta do passado, tradicionalmente associada à atividade do historiador, a ideia de invenção/construção da forma narrativa ou do modelo usado. Isso significa o questionamento da estrutura e do status epistemológico do discurso histórico relativamente a outros discursos, suas possibilidades de representação, bem como a autoridade dos próprios historiadores. Sendo tanto a ficção quanto a história narrativas culturalmente dotadas de estruturas específicas, a partir de códigos estabelecidos de forma tácita, a metaficção historiográfica simultaneamente estabelece e contraria essas estruturas, enfatizando a convergência entre ambos os domínios no que se refere à contestação de ideias como originalidade artística, referencialidade histórica e o aspecto construtivo implicado na narração do passado. Esta nova autoconsciência do historiador/teórico pós-moderno, em que este observa – em segunda ordem – suas próprias operações de ordenamento, ênfase, repetição, supressão, subordinação, de modo a conferir sentido a eventos passados, aproxima-o, pois, de um escritor de ficção e de maneira ainda mais ampla, de um escritor de si. A inserção de elementos autobiográficos de Nicola Nord, que ao mesmo tempo atua como atriz e como idealizadora do projeto ao lado de seu parceiro Alexander Karschnia transgride tanto as fronteiras rígidas entre real-ficcional quanto a própria noção de personagem teatral. Sob este aspecto, Little Red poderia ser justaposta a manifestações teatrais que a partir dos anos 90 foram reunidas, entre outros rótulos, sob a etiqueta do teatro pós-dramático, pressupondo uma mudança de um teatro de papéis, de personagens, para um teatro de afetos. De atores para atores afetivos. Que não são nem frios nem quentes, nem si mesmos nem personagens, mas se movimentam neste espaço de permanente oscilação. A proposta do teórico alemão Hans-Thies Lehmann a partir de sua elaboração do conceito de pós-dramático é a de que, em verdade, desde os anos de 1970, determinadas experiências teatrais começaram a se afastar do paradigma dramático em direções muito diversas, configurando, então, outro paradigma de percepção, caracterizado, na maioria das vezes, justamente pela desierarquização dos signos teatrais. Lehmann situa a década de 1970 como início de uma condição histórica muito particular determinante desta transformação: a emergência de “forças de pressão”, como “velocidade” e “superficialidade”, que começam a dissociar teatro de literatura e a perturbar a estabilidade de uma hierarquia até então inabalável. O rótulo da pós-modernidade, de imediato associado à presença dessas forças, entretanto, não deve ser confundido com o próprio paradigma estético do teatro pósdramático (LEHMANN, 2007: 32). Segundo Lehmann, essa classificação de pósmoderno, que muitas vezes se aplica às manifestações teatrais ocorridas ao longo dos últimos vinte anos, não atende a uma demanda de caracterização estética, e sim, epocal. Para ele, este conceito “tem a pretensão de oferecer uma definição de época em geral” (p. 32). Evitando, deste modo, qualquer aproximação da ideia de Zeitgeist, que uma utilização não contextualizada e não relacional do termo pós-moderno poderia suscitar, Lehmann propõe o termo pós-dramático como possibilidade estética “para além do drama, não necessariamente para além da modernidade” (p. 33). A partir de uma análise centrada sobre o teatro europeu, sobretudo o francês, o autor desenvolve o conceito de teatro pós-dramático, justapondo a noção de teatro à de drama. O termo oferece não somente a possibilidade de tensão entre a dimensão textual e a da encenação, mas a configuração da autonomia mesma de uma em relação à outra. É nesse sentido que a ideia de desestabilização de hierarquias perpassa a prática teatral dos anos de 1970 aos de 1990. O que seria, pois, esse teatro que à primeira vista parece ter superado o modelo dramático? De que maneira compreende-se esse desconfortável prefixo pós que parece simultaneamente indicar o esgotamento de um paradigma e a sua permanente recontextualização? Ensaiar respostas, de fato, exige o pressuposto de enfoques relacionais e não dicotômicos: Pode-se então descrever assim o teatro pós-dramático: os membros ou ramos do organismo dramático, embora como um material morto, ainda estão presentes e constituem o espaço de uma lembrança ‘em irrupção’. Também o prefixo ‘pós’ no termo ‘pós-moderno’, no qual é mais do que uma mera senha, indica que uma cultura ou prática artística saiu do horizonte do moderno, antes obviamente válido, mas ainda tem algum tipo de relação com ele: de negação, contestação, libertação ou talvez apenas de divergência, com o reconhecimento lúdico de que algo é possível para além desse horizonte (LEHMANN, 2007: 34). Construir uma narrativa a partir de uma peça que não apenas subverte pressupostos de historiografias tradicionais no nível dos procedimentos empregados, mas também os tematiza explicitamente no nível de suas condições de possibilidade de constituição de sentido e presença, configura-se sem dúvida como um desafio. Isso porque esse experimento teatral promove performativamente a desestabilização de pares conceituais como real/ficcional, teoria/prática, público/privado, oriente/ocidente, construindo estados de limiaridade entre ator-espectador. Recuperando as três fases dos Ritos de passagem, descritas pelo antropólogo Victor Turner (1909) – fase de separação, fase de umbral, fase de incorporação – a teórica do teatro alemã, Erika Fischer-Lichte se detém sobre a fase de umbral, ou da transformação, em que o estado de limiaridade se configura em relação à percepção da realidade, e propõe dois fatores capazes de produzir experiências limiares: autopoiesis-emergência e destestabilização de pares conceituais, definidos tanto como instrumentos para a descrição do mundo quanto como reguladores de ações e comportamentos sociais. Neste sentido, sua desestabilização implica necessariamente uma mudança de percepção (FISCHERLICHTE, 2004). Isso significa não apenas o abandono de uma noção de comunicação calcada na metáfora da transmissão, mas sobretudo a concepção de interação como premissa para a realização da própria comunicação, concebida enquanto construção de processos cognitivos orientadores, a partir de um equipamento biológico e de uma socialização comuns aos participantes. Enfatizando a convencionalidade de constructos teóricos como texto, literariedade/teatralidade, ficcionalidade e interpretação, o teórico da literatura Siegfried Schmidt propõe que uma ficção social difere da ficção literária não apenas por seu caráter não deliberado – no sentido de que enquanto as ficções literárias implicam a utilização de regras aprendidas a partir de uma socialização literária, as ficções sociais são colocadas em prática no âmbito do senso comum de forma um tanto quanto involuntária – mas sobretudo pela relação estabelecida com a convenção de fatualidade. Neste sentido, a ficcionalidade é uma ficção operacional assim como qualquer ficção social, no entanto, dispensa absolutamente a convenção de fatualidade, à medida que no próprio sistema específico de regras pragmáticas em que se constitui, prevalecem possíveis comportamentos dos parceiros interativos a partir de diversas formas de inter-relação entre o que é socialmente convencionado como ficção e o que é socialmente convencionado como realidade. Desta forma, a partir do questionamento da dicotomia real/ficcional Schmidt associa o sucesso das interações entre parceiros comunicativos à ficção social da possibilidade efetiva de uma comunicação inteiramente bem sucedida, ou seja, ao fato de todos assumirem como verdade a possibilidade de compreensão mútua integral. Segundo Schmidt, ficções sociais são mecanismos de redução de complexidade a partir de atos de diferenciação realizados por observadores. Tais atos provocam a emergência de modelos de realidade que constituem determinado saber coletivo, compartilhado entre membros de um mesmo sistema social. Sua eficácia coletiva ocorre, pois, através da ficção operativa da expectativa da expectativa. As noções de modelo de realidade, ficção operativa e saber coletivo ficam mais claras no livro Geschichten&Diskurse. Abschied vom Konstruktivismus [Histórias&discursos. Despedida do construtivismo] (2003), em que Schmidt procura reorganizar suas premissas teóricas abrandando determinados postulados construtivistas radicais inicialmente vinculados à elaboração da ciência da literatura empírica. A noção de modelo de realidade introduz-se, então, não apenas como unidade de diferença entre categorias, formando uma rede, mas também entre categorias e diferenciações semânticas, com carga afetiva e moral, constituindo determinado saber coletivo, compartilhado entre membros de um mesmo sistema social: “O saber coletivo é ‘passado adiante’ a novos membros de uma sociedade via processos de socialização. Torna-se coletivamente efetivo em virtude da ficção operativa de que todos esperam que todos possuam basicamente o mesmo tipo de saber”. (p.31, tradução minha). Schmidt propõe que qualquer ação (como por exemplo perceber, descrever, ponderar, ou mesmo tornar-se consciente de algo como algo particular) se produz sob a forma de uma suposição que, por sua vez, assume uma forma determinada para agentes sociais específicos. Fazer uma suposição particular equivale a executar distinções em uma situação concreta no tempo e no espaço. Isso significa, pois, que a realização de uma suposição configura-se como acontecimento inscrito em um contexto de suposições prévias, constituído de narrativas e memórias, ou seja, de experièncias de vida anteriores colecionadas pelos próprios agentes, afetando suas experiências futuras na qualidade de expectativas. Sob este aspecto, uma suposição atual sempre é precedida por suposições prévias (pressuposições), em uma relação pendular, mais ou menos consciente, que constitui contingência, à medida que exige seleção com referência a outras opções. E neste sentido, se pode identificar a mesma relação de complementaridade entre suposições e pressuposições, entre contingência e seleção. Cada suposição efetua pelo menos uma pressuposição e a relação autoconstitutiva e complementar entre elas efetua-se porque uma não pode ser significativamente abordada sem a outra. No entanto, só é possível observar a pressuposição de uma suposição na referência reflexiva à suposição, isto é, não se pode partir de pressuposições, apenas de suposições. A reflexidade aparece, então, no argumento de Schmidt, como condição para a comunicação e o reconhecimento de referências, a partir de instâncias definidoras requeridas por cada suposição. O exemplo oferecido pelo autor é a consciência, que, enquanto instância definidora de suposições cognitivas (como percepções), “opera em todos os níveis por meio da referência através da interdependência autoconstitutiva de suposição e pressuposição”. (p.25, tradução minha). Sob esta perspectiva, reflexividade configurase como condição para tornar-se consciente da consciência, permitindo, assim, referência. Em outras palavras: consciência como condição para lidar com a consciência. O proveito para a historiografia literária de uma elaboração teórica que estabelece concepções específicas sobre sociedade e literatura a partir de um modelo de comunicação baseado em pressupostos construtivistas, enfatizando a interação e a contingência constitutiva de todas as ações resultantes de decisões tomadas na esfera individual e social, estende-se também à possibilidade de expansão do literário, dissolvendo a dicotomia teoria/prática, tão problemática sobretudo na esfera do teatro. No que se refere à Little Red, ao performar a impossibilidade de narrativas e percepções totalizantes, bem como ao operar a desestabilização de pares conceituais redutores de complexidade, provoca o constante reajuste do olhar do espectador, permanentemente remetido à auto-observação no próprio ato de observar e à convencionalidade que condiciona sua experiência estética em função de suas pressuposições sobre guerra fria, Alemanha, comunismo, história e teatro. A reinvenção de uma infância nos tempos do muro e da cultura pop dos anos 60 é performada, assim, a partir da invenção de uma nova escrita do passado, em que múltiplas vozes parecem flutuar no tempo e no espaço, em meio à falência de ideologias políticas, buscando por novas direções. No meio da peça anuncia-se a notícia de que Fidel Castro acaba de morrer. Os espectadores acreditam. REFERÊNCIAS FISCHER-LICHTE, Erika. Ästhetik des Performativen. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2004. HUTCHEON, Linda. The politics of Postmodernism. London/New York: Routledge, 2002. LEHMANN, Hans-Thies. Teatro pós-dramático. São Paulo: Cosac Naify, 2007. SCHMIDT, Siegfried J. Geschichten&Diskurse. Abschied vom Konstruktivismus. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag, 2003. VAN ALPHEN, Ernst. The performativity of histories – Graham Swift’s Waterland as a theory of history. In: Mieke Bal e Inge Boer. The point of theory: practices of cultural analysis. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1994, p. 202-210.
Download