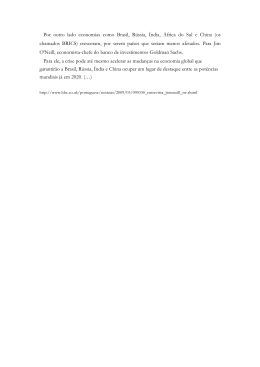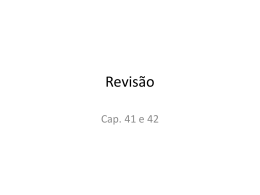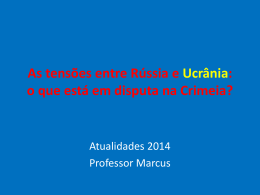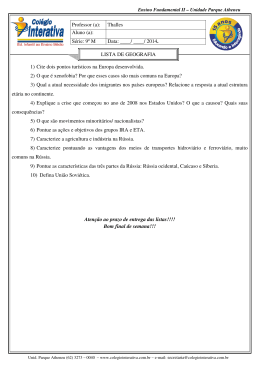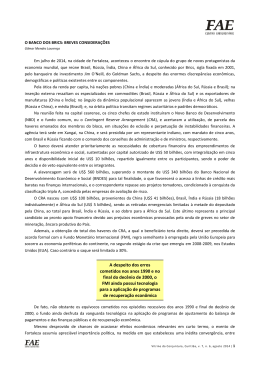A Necessidade de uma Nova Estratégia de Contenção ClaudioTéllez, Analista Internacional e Matemático. [email protected] Há pouco mais de três meses, no dia 11 de janeiro de 2007, a China disparou um míssil de médio alcance contra um de seus satélites meteorológicos obsoletos. Tratou-se de um experimento de caráter estritamente científico ou de uma clara e contundente demonstração de poder militar? Há indícios de que, em setembro de 2006, o Exército de Libertação Popular da China teria utilizado lasers para bloquear, temporariamente, os sinais de satélites espiões norte-americanos. A seguir, tivemos a destruição de um satélite a uma altitude de aproximadamente 850 quilômetros, isto é, situado em uma órbita mais elevada do que a maioria dos satélites militares dos Estados Unidos. Ambos os eventos podem significar o início de uma nova corrida armamentista, em escala de risco talvez maior do que durante o período da Guerra Fria – já que a situação atual, ao contrário dos tempos do equilíbrio bipolar, é de acentuada instabilidade. O recado é claro: a China desenvolveu a capacidade de destruir satélites e, como virtualmente todos os sistemas de defesa contemporâneos baseiam-se em informações satelitais, isso significa que o país asiático obteve um contundente incremento nas suas capacidades relativas de poder perante o resto do mundo. Em particular, os Estados Unidos tornaram-se extremamente dependentes da tecnologia dos satélites para as suas comunicações, para a coordenação de operações militares, para a navegação e, "last but not least", para a coleta das informações necessárias para que os analistas de inteligência possam produzir os relatórios que orientam os tomadores de decisões. Não parece ser por acaso que os Estados Unidos desejam colocar um escudo antimísseis na Polônia e na República Tcheca. Trata-se, afinal de contas, da implementação de medidas de proteção contra eventuais ataques da parte do Irã ou da Coréia do Norte? Essa é a razão oficial. Contudo, para o general Yuri Baluyevsky, chefe do Estado-Maior do Exército Russo, a instalação de radares na República Tcheca e de estações de interceptação de mísseis na Polônia tem por real objetivo incrementar o potencial de defesa contra mísseis russos e chineses, isto é, ao invés de Teerã e Pyongyang, os verdadeiros alvos desse sistema de defesa seriam Moscou e Beijing. A hostilidade do general Baluyevsky, que a seguir ameaçou apontar os mísseis russos contra Polônia e a República Tcheca, mostra que as relações entre a Rússia e a China, que vêm passando por uma fase de estreitamento pelo menos desde 2001, estão mais consolidadas do que pode parecer à primeira vista. Por sinal, em março deste ano, o embaixador russo na China, Sergey Razov, afirmou que a parceria estratégica entre o seu país e a China está no auge de seu desenvolvimento. Será que o estreitamento das relações entre esses dois países está indo além das esferas política e econômica? Além de estar comprando submarinos da Rússia, a China também receberá, ainda este ano, mísseis de longo alcance S-300, os mesmos mísseis com os quais a Rússia estaria armando o Irã e a Síria. Analisando sob a perspectiva russa, não há como tirar a razão do general Baluyevsky. A colocação de um escudo anti-mísseis em países do Leste Europeu de fato altera a conformação do sistema de segurança mundial de maneira desfavorável para a Rússia. Além do mais, a Rússia ainda não digeriu o fato de que a Europa Oriental não é mais o seu quintal. Já sob a perspectiva norte-americana, é impensável não levar adiante a implementação desse escudo. Os desenvolvimentos militares recentes por parte da China e a crescente influência russa no Oriente Médio não deixam muitas opções. Querendo ou não, estamos testemunhando o início de uma nova espiral armamentista, diante da qual a passividade ou a tentativa de "dialogar multilateralmente" teria somente uma conseqüência: a redução progressiva da presença norte-americana no cenário internacional de poder. A Rússia é historicamente um poder terrestre com a eterna ambição de tornar-se uma potência anfíbia. Toda a estratégia de contenção durante a Guerra Fria, conhecida como "Doutrina Truman", baseou-se no cerco do continente eurasiano para que a União Soviética não obtivesse uma saída para os mares quentes. Atualmente, a China também é um poder terrestre, com considerável potencial para tornar-se uma potência marítima no Pacífico (uma tradicional área de influência naval norte-americana). Em 1999, o Cap. Brad Kaplan, adido naval dos Estados Unidos na China, chamou a atenção para uma mudança no papel da Marinha do Exército de Libertação Popular, que cada vez mais substitui a sua posição estática de defesa costeira por uma posição ativa, visando alcançar o status de potência marítima regional capaz de capturar ou defender ilhas e proteger ou bloquear linhas de comunicação. Mesmo que dificilmente a China possa alcançar os Estados Unidos em termos de poderio naval, ela pode tornar-se um ator regional de importância significativa. O peso da Rússia e da China para a conformação de um novo cenário internacional multipolar já vem chamando a atenção, há algum tempo, dos principais pesquisadores e dos institutos voltados para assuntos estratégicos. Ainda há, contudo, mais interrogações do que resultados conclusivos e não é à toa que a edição de maio/junho da Foreign Affairs deste ano vem com dois artigos verdadeiramente impactantes: "Contendo a Rússia" (Containing Russia), de Yuliya Tymoshenko, líder da oposição no parlamento ucraniano e ex-Primeira Ministra da Ucrânia, que analisa as ambições imperiais da Rússia e o retorno a uma política expansionista por parte do Kremlin, e "A Odisséia Espacial da China" (China's Space Odyssey), de Bates Gill (especialista em assuntos chineses do Center for Strategic and International Studies CSIS) e Martin Kleiber (assistente de pesquisas também no CSIS), que expõem a perigosa existência de um hiato de informações entre as autoridades civis e militares na China, trabalhando exatamente sobre o exemplo do teste anti-satelital levado a cabo em janeiro passado. O que fica cada vez mais claro, não somente após a leitura dos artigos citados acima e de outras publicações recentes, mas principalmente a partir do acompanhamento da evolução das dinâmicas internacionais ao longo de pelo menos a última década e meia, é que estamos diante da necessidade de uma nova estratégia de contenção. Afinal de contas, na instabilidade que é intrínseca a uma configuração multipolar, dificilmente uma nova Guerra Fria permanecerá fria por muito tempo. Como seria, portanto, a face dessa nova contenção, após a experiência de décadas de Guerra Fria, mas ao mesmo tempo diante de novas tecnologias e – talvez o que seja mais importante – de novos assuntos no âmbito da segurança internacional? Que papel os Estados Unidos devem procurar desempenhar no mundo nas próximas décadas, para garantir a sobrevivência do modo de vida ocidental e promover ao menos um mínimo de estabilidade para a continuidade das atividades comerciais e financeiras? Será necessário, ao menos, aproveitar e intensificar algumas parcerias já existentes, criar novos laços de cooperação estratégica, garantir a sobrevivência de certos pontos-chave, saber trabalhar com a opinião pública mundial e fortalecer as atividades de inteligência para, a partir da coleta e análise de informações, identificar e aproveitar de forma otimizada as diferenças existentes entre os interesses da Rússia e da China. A aliança entre Washington e Tóquio progrediu nos últimos anos, porém não deve ser descuidada. O Japão enfrenta uma ameaça muito próxima, representada pela Coréia do Norte. As recentes negociações secretas dos Estados Unidos com diplomatas norte-coreanos, que ocorreram em Berlim em janeiro passado, deixaram pouca margem de manobra para o Japão. Independente de se a Coréia do Norte abandonará ou não o seu projeto de tornar-se uma potência nuclear, está claro que os Estados Unidos e o Japão deverão concentrar seus esforços na partilha de uma visão estratégica mais ampla e sofisticada, inclusive no sentido de fomentar o desenvolvimento das democracias emergentes no Sudeste Asiático. Uma postura de negligência dos Estados Unidos para com o Japão pode abrir o caminho para a preponderância dos interesses da China na região. As relações do Japão com a China, por sinal, também vêm melhorando nas últimas semanas. O Japão representa a segunda maior economia do mundo e, após um longo período de recessão, está finalmente retomando o caminho do crescimento. Com um produto interno bruto de 5 trilhões de dólares e um PIB per capita de 38.000 dólares, as firmas japonesas começam a mostrar-se cada vez mais interessadas pelos negócios com a China. De acordo com revelações recentes do ministro das finanças do Japão, a China superou os Estados Unidos como parceiro comercial com o Japão pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Se os Estados Unidos desejam manter a sua presença na Ásia e, principalmente, no Pacífico, devem considerar a aliança com o Japão como central. A Índia representa outra possibilidade de contrapeso às ambições globais da China. As relações dos Estados Unidos com a Índia, reaquecidas desde 1994, ainda durante o governo de Bill Clinton, vêm ganhando alento durante o governo de George W. Bush. A Índia compartilha das preocupações norte-americanas com relação ao terrorismo e Washington vê na Índia uma possibilidade para contrabalançar a influência chinesa na Ásia. No que diz respeito ao terrorismo, as redes islâmicas que operam a partir do Paquistão constituem uma ameaça para os dois países. A Índia, pelo seu lado, vê a China como uma ameaça e as relações de cooperação que mantém com esse país são marcadas pela cautela devido a uma série de questões, como por exemplo as ligações entre a China e o Paquistão – é sabido que a China forneceu armamentos e tecnologia ao país islâmico, que é o principal rival da Índia na região. No dia 12 de abril deste ano, a Índia testou com sucesso o seu sistema de mísseis Agni-III, capazes de carregar ogivas nucleares, que possuem um alcance de 3.500 quilômetros e a capacidade de atingir as principais cidades chinesas (Beijing e Shanghai). A intensificação da cooperação nuclear entre os Estados Unidos e a Índia a partir da visita do presidente Bush em 2006 tem por objetivo, a princípio, a utilização de energia nuclear para fins pacíficos, porém os Estados Unidos afirmam-se prontos a transferir produtos sensíveis tais como urânio enriquecido para a Índia, mesmo que ela não tenha assinado o Tratado de Não-Proliferação Nuclear – o que está provocando um complicado debate interno nos Estados Unidos. Independente das sempre intermináveis discussões internas, a cooperação nuclear com a Índia pode significar um passo decisivo para a contenção da China na região da Ásia. Ainda na Ásia, os Estados Unidos não devem medir esforços para apoiar Taiwan e a Coréia do Sul, dois pontos-chave em termos estratégicos. No Oriente Médio e na Europa, podemos identificar ainda alguns pontos que devem ser levados em consideração: a intensificação das pressões sobre a União Européia para a admissão da Turquia, que é um aliado estratégico norte-americano, o fortalecimento das capacidades militares de Israel, para fazer contrapeso à Síria e ao Irã (dois aliados importantes da Rússia na região) e, naturalmente, a implementação do sistema de defesa antimísseis na Europa Oriental, por mais que isso contrarie – como não poderia ser diferente – a Rússia de Putin. A opinião pública mundial tem cada vez mais peso nos processos de tomada de decisões, por influir nas dinâmicas políticas internas dos países. Diante das crescentes preocupações ambientais, deve-se deixar claro que a China, que demanda cada vez mais recursos energéticos para manter o seu assombroso ritmo de crescimento, talvez venha a tornar-se, em pouquíssimo tempo, o maior emissor mundial de gases de efeito estufa. De acordo com a Agência Internacional de Energia, sediada em Paris, isso pode acontecer ainda este ano. Devido a seu status de país em desenvolvimento, a China, apesar de signatária do Protocolo de Kyoto, está isenta de suas restrições. Caso a China venha a superar os Estados Unidos na emissão de gases de efeito estufa, será que as organizações de ambientalistas vão exercer pressões sobre o país asiático tal como vêm fazendo sistematicamente com os Estados Unidos? Finalmente, cabe mencionar a necessidade de não permitir que, em um provável retorno dos democratas à Casa Branca, a inteligência norte-americana volte a se deteriorar tal como aconteceu durante a década de 1990, quando a comunidade de inteligência perdeu em torno de 23.000 posições, prejudicando todas as suas atividades. De acordo com Chen Yonglin, ex-diplomata chinês na Austrália que desertou em 2005, a China está realizando atividades de inteligência em larga escala nos Estados Unidos, envolvendo grandes quantidades de informações classificadas norte-americanas. Com relação à Rússia, o periódico britânico The Guardian noticiou recentemente (13 de abril de 2007) que as atividades da inteligência russa na Inglaterra estão no mesmo nível da Guerra Fria. A Rússia e a China, apesar de seus recentes pontos de aproximação, possuem diferenças significativas e interesses hegemônicos colidentes. Para conseguir aproveitar essas diferenças de maneira favorável aos objetivos ocidentais, há que intensificar também a inteligência norte-americana na Eurásia. Independente das tradicionais diferenças entre as convicções político-partidárias nos Estados Unidos, o momento atual não permite que se pense apenas em objetivos de curto prazo. Conseqüentemente, nos próximos debates eleitorais norte-americanos, os temas de política externa e a necessidade de pensar em uma nova estratégia de contenção deverão merecer um lugar de considerável importância. ___________________________________
Baixar