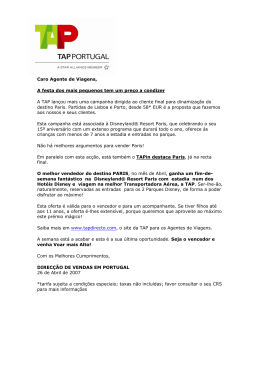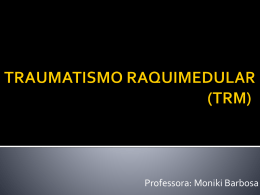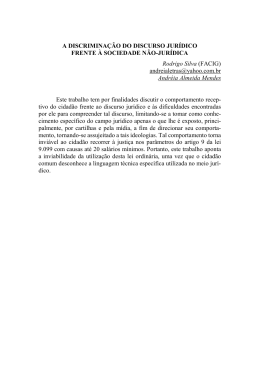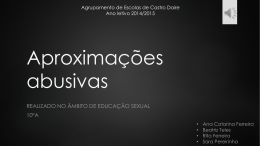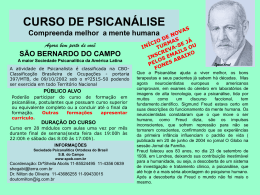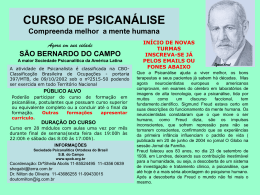VI Congresso Brasileiro de Psicopatologia Fundamental Recife, de 05 a 08 de setembro de 2002 CO/06 UMA QUESTÃO TÃO DELICADA Caterina Koltai [email protected] Gostaria de começar esse meu trabalho por uma sensação, continuar por uma constatação para, quem sabe, terminar elaborando uma questão. Para dar conta desses três momentos tentarei relacionar o inconsciente freudiano com as transformações sociais e históricas do mundo contemporâneo, uma vez que além de uma terapêutica do sujeito, a psicanálise é, a meu ver, também uma teorização da relação do sujeito com o mundo em que vive, razão pela qual acredito que as transformações sociais interessam a psicánalise tanto em sua prática quanto em sua teoria. Quanto à responsabilidade do analista, ela se situa tanto no nível da clínica quanto no social uma vez que nenhum sintoma se forma sem essa implicação social , à condição que diga respeito ao real. A psicanálise nasceu no campo da medicina mas Freud jamais aceitou reduzí-la ao desenvolvimento normal e patológico do indivíduo. Muito pelo contrário, sempre tentou alargar o campo de competência de sua descoberta. De Totem e Tabu (1914) a Moisés e o Monoteismo (1939) passando principalmente por Mal Estar na Civilização (1930), ele nunca deixou de articular singular e coletivo, nunca aceitou a clássica distinção entre individual e singular de um lado, coletivo e social do outro. Lacan em “Função e Campo da Palavra” (1953) ao definir o inconsciente como “ essa parte do discurso concreto enquanto transindividual, que não está a disposição do sujeito para restabelecer a continuidade de seu discurso consciente”, explicitou ainda mais o que já estava em Freud, ou seja que o sujeito é marcado não apenas por papai e mamãe, mas também pelas representações sociais assim como pela História. Talvez seja interessante relembrar aqui as palavras de Lacan numa entrevista concedida à Gilles Lapouges em 1966, para a revista Magazine Littéraire, onde diz: “.... voltem ao meu texto e perceberão a importância que dou à História, a ponto dela me parecer coextensiva ao registro do inconscient. O inconsciente é história. O vivido é marcado pela historicidade primeira”. Isto posto, voltemos àquilo que chamei de sensação. A minha é que estamos novamente entrando num período de barbárie que como lembra Henry (1987) nem é o primeiro nem provavelmente será o último que a humanidade conhecerá. Uso esse termo na concepção desse autor para quem a barbárie nunca é um começo e sim decorrência de um estado de cultura que, necessariamente, a precede e que é em relação a esta que aparece como um empobrecimento. O atual 1 caracteriza-se, a meu ver, por reivindicações identitárias 1 de extrema violência que vêm embaladas pelo discurso vazio do politicamente correto 2. Quanto a Freud , ele nunca deixou de nos alertar para o fato de que a barbárie e o genocídio fazem parte da humanidade, que são o próprio do homem e que a “famosa besta humana ” de Brecht nada tem a ver com a animalidade e sim com o homem habitado pela pulsão de morte. Para Freud o conflito entre Eros e Thanatos atravessa tanto o processo civilizatório quanto o desenvolvimento individual sendo que a civilização consiste justamente numa série de transformações sucessivas da violência. Não por acaso, no prefácio de é um dos últimos textos que nos legou Moisés e o Monoteismo (1939) chamou nossa atenção para o pacto firmado entre o progresso e a barbárie, assim como em Mal Estar na Civilização (1930) nos alertara para a extrema dependência do homem contemporâneo para com as suas próprias invenções mortíferas. Se Freud nos alertou para a barbárie e o genocídio como sendo próprios do humano, ainda não conhecera o pior pois morreu antes de Auschiwitz e Hiroshima que acabaram com o mito da ciência boa e amiga da humanidade. Mas não só. Auschwitz, como lembra Zaltzman (1999) foi um acontecimento maior, individual e coletivo, posterior à metapsicologia freudiana que marcou o desmoronamento da civilização ocidental em sua função de defesa do indivíduo contra o reino da morte, desmoronamento esse que a partir de então passou a fazer parte da herança da realidade humana. Auschwitz, esse lugar onde como dizia Primo Levi era proibido perguntar Warum ( por que?), levou nas palavras de Ginestil- Delbreil (1997) à própria destruição da metáfora, essa competência específicamente humana. Segundo Giorgo Aganbem (1997 e 1999), filósofo italiano, discípulo de Foucault, o campo de extermínio, do qual Auschwitz foi o maior exemplo, não pode ser considerado como um mero fato histórico, uma anomalia pertencente ao passado mas sim como sendo a matriz escondida do espaço político em que vivemos. Ao introduzir um traço específico, o da impossibilidade de um recurso a uma Lei, que ocuparia o lugar de terceiro, se tornou o fenômeno emblemático de nossa modernidade. Coube a Lacan (1967) avançar nessa questão, tirar as conclusões da subversão operada pelos “campos de extermínio” e chamar nossa atenção para os estragos produzidos pela civilização tecnocientífica, a ponto de relacionar o mal-estar contemporâneo aos efeitos do discurso da ciência sobre a subjetividade contemporânea. Foi o primeiro a chamar nossa atenção para a mudança que representou , para nossa subjetividade, a passagem de um mundo organizado em torno da religião em que a legitimidade era fundada sobre a autoridade de um enunciador, para um mundo organizado em torno da ciência, no qual a legitimidade vem da coerência dos enunciados. 1 Ao chamar a atenção para a crise identidária que estamos vivendo estou me referindo aos conflitos étnicos que vem se sucedendo em várias partes do mundo. Só para lembrar vale citar os recentes acontecimentos na ex-Iugoslávia, Ruanda, 11 de setembro, etc. 2 Estou me referindo aqui ao políticamente correto como sendo o discurso que veicula a ilusão de um mundo apolítico no qual a própria possibilidade de uma subversão social e intelectual tivesse se tornado ilusória. 2 O discurso da ciência, ao se erigir sobre as ruínas do saber do mestre antigo, produziu um novo laço social onde, o que comanda não é mais a enunciação de um mestre, seu dizer, mas um conjunto de enunciados, um “acéfalo de ditos” como diz Lebrun (1997) que tem o poder de produzir uma adesão a um mundo sem limites, autorizando a transgressão da palavra que nos caracteriza enquanto humanos. Jean Pierre Lebrun (1997) , ao tentar delimitar no que nosso social está marcado pelos implícitos do discurso da ciência, chama nossa atenção para o “terceiro momento da ciência”, que , segundo ele , é o que estaríamos vivendo hoje em dia. O primeiro momento, em sua opinião, teria sido o do homem da ciência, em que a enunciação estava presente, mas já havia o desejo de fazê-la desaparecer; o segundo, seria o do discurso científico marcado pela destruição da enunciação; e o terceiro e atual, técnico por excelência, seria aquele em que temos meros enunciados e em que não subsiste nem o traço da destruição da enunciação. Segundo ele os novos e sempre crescentes poderes da ciência levaram a confundir o deslocamento do limite do impossível com a evacuação do lugar do impossível, daí o risco de perda de limites. Evacuar o lugar do impossível muda nossa relação com o tempo e com o espaço. O tempo, antes histórico, se torna, agora, operatório como o tempo da técnica que só conhece o futuro. Um futuro que, no entanto, deixou de ser a atualização progressiva, difícil e arriscada, de um potencial inscrito no passado e de um presente que decorre deste passado. Na sucessão passado, presente, futuro no lugar de um futuro esperado ou ao qual somos obrigados a nos submeter tem-se um futuro produto. Quando a conjuntura social deixa acreditar na realização plena e satisfatória do desejo, esquecendo que a renúncia ao gozo é condição para se preservar o desejo, o sujeito vai se instalando num mundo onde o sofrimento se torna intolerável, pois o que lhe é prometido é o acesso direto e imediato ao verdadeiro objeto. Como isso se traduz no campo da subjetividade? Novos sintomas, ou nova posição do sujeito? Tentarei explicitar essa diferença logo mais. Por hora, o simples fato de enunciar a questão desta maneira me permite chegar no meu segundo momento: o da constatação. Constato, e acredito não ser a única a fazê-lo, que cada vez mais somos procurados por pessoas que perante qualquer dor moral, seja um luto ou uma separação, nos procuram como vão ao médico ou ao psiquiatra, como se a tristeza mais banal tivesse se tornado uma patologia que justificaria uma prescrição de anti -depressivos quando não de uma análise. Será que os indivíduos se tornaram mais frágeis perante a dor ou será que é a sociedade que não suporta mais indivíduos que sofrem e não sabe lidar com processos lentos? Um luto, por exemplo, é necessariamente um processo lento mas tudo se passa atualmente como se os indivíduos não suportassem mais o tempo de cicatrização de uma ferida e esperassem ser curados imediatamente. E no limite tanto faz se a cura está disponível na farmácia da esquina sob forma de Prozac ou Viagra ou se chega enquanto queixa em nossos consultórios na forma de uma demanda, certamente mais de psicoterapia do que de psicanálise, mais de cura do que de saber. 3 Acabamos de ver que a tecnociência mudou nossa relação ao tempo, e sabemos qual importante é a questão do tempo para o sujeito que se posiciona entre esses dois limites que são o tempo e o espaço. Não há dúvida que nossa sociedade não sabe mais lidar com os processos lentos. Mas também é verdade que o indivíduo contemporâneo, libertado dos sistemas de coerção e inscrição nas instâncias dos deveres coletivos, como afirma Ehrenberg ( 1998) não suporta mais os entraves de suas potencialidades, quer como a criancinha pequena tudo, agora e já. É assim que aos poucos vamos reconhecendo, no mundo de hoje, uma cumplicidade entre o sujeito, sempre tentado a fazer a economia de um trabalho psíquico necessário para assumir a insatisfação fundamental que caracteriza nossa condição e um discurso social que o faz acreditar que a ordem simbólica não traz em si, enquanto estrutural, essa inelutável decepção. A partir daí parece que o campo está livre para uma lua de mel entre a negação da castração por parte do sujeito e aquilo que permite, como miragem, uma sociedade marcada pelos implícitos do discurso da ciência. Fazendo acreditar na possibilidade da satisfação pulsional a tecno ciencia se torna cúmplice da pulsão de morte e o sujeito, sem se dar conta vai deixando para trás uma economia psíquica e vai substituindo-a por uma outra, na qual sua queixa não mais se originará no sofrimento legítimo por ter que assumir o caracter fundamentalmente decepcionante da ordem simbólica. Nesse novo contexto a queixa emana de um sofrimento que é preciso qualificar de ilegítimo uma vez que decorre daquilo que o sujeito se recusa a assumir : essa decepção fundamental. A partir daí como afirma Buckner, citado por Lebrun (1997), todas as definições de normal e patológico tem que ser revistas já que não estar doente é o mínimo que se espera de alguém. É preciso sarar rapidamente dessa doença mortal que é a vida já que ela está fadada a acabar um dia. E é assim que o sujeito moderno passa a não distinguir mais as fatalidades modificáveis das inexoráveis: a finitude e a morte. Dito isto, posso talvez passar da constatação para a “minha questão”, esta que eu chamo de uma questão tão delicada. Como sarar dessa doença mortal que é a vida? Transformando-se em vítima, fígura que como afirma Cacciali (2001) vem se transformando na metáfora de nossa condição moderna. Concordo com ele e tenho a impressão não só que cada vez mais nossa sociedade parece levar profundamente em conta as vítimas, sejam elas de dramas pessoais ou coletivos, presentes ou passados, como também, e é isso que é preocupante o sujeito contemporâneo vem se instalando nessa condição de “vítima”, nessa posição de puro gozo, cada vez mais longe do que poderíamos chamar de sujeito desejante. Nos Estados Unidos, esse paraíso do politicamente correto, e que apontam para o “ eu sou você amanhã” os processos contra estupros não acontecidos, de exfumantes contra fábricas de cigarro, de secretárias contra seus patrões se contam aos milhares. Esse sujeito deixa de se perguntar porque fumou a vida toda e qual o eventual preço que terá que pagar por isso, para exigir um ressarcimento daquele que produziu a mercadoria. Numa sociedade preventiva o risco , graças ao progresso da ciência, deve ser inexistente e o que poderia ser evitado deve ser reparado. Mas evitado por quem? 4 Afinal embora o cigarro esteja à venda o sujeito pode escolher se quer ou não fumar. É por isso que concordo com Cacciali (2001) quando afirma que em nossa sociedade da reparação generalizada a vítima pode se tornar uma representação dominante da subjetividade. Com o progresso da ciência procura-se sempre uma causa para as catástrofes, inclusive as naturais que acabam sendo encaradas como “traumas” e a pessoa vítima de um traumatismo. A pessoa deixa de ser vítima dos riscos e responsabilidades relacionadas ao engajamento em seu desejo, sua vida, e se torna vítima de circunstâncias desfavoráveis, o que vai constituí-la num sujeito traumatizado e não mais num sujeito engajado em sua própria vida com todos os riscos decorrentes do exercício de seu desejo. Em psicanálise temos o hábito de distinguir necessidade, demanda e desejo. A vítima é alguém que está sempre no registro da demanda já que demanda reparação pelo objeto que realmente perdeu. E bem sabemos que toda demanda é demanda de amor, de reconhecimento, portanto impossível de ser satisfeita, razão pela qual vem se transformando sistemáticamente em reivindicação de um direito. Mas gostaria de viajar um pouco na história e ao abordar a questão da vítima retomar algo a que me referi lá atrás: a peculiaridade da Shoah, e vou fazê-lo através das palavras de um filósofo citado por Debreil ( 1997) . Trata-se Yehuda Elkana, um sobrevivente de Auschwitz. Segundo ele, a visão do genocídio que tenta fazer do povo judeu uma eterna vítima de um mundo hostil é uma velha crença que se constitui paradoxalmente na trágica vitória de Hitler. O que lhe permite analisar a atitude israelense em relação aos Palestinos afirmando que: “Determinar a relação ao presente e modelar o futuro exclusivamente em função das lições do passado constitui uma ameaça para o futuro de toda sociedade que deseja, assim como os outros países, viver numa relativa segurança e serenidade(...) A própria existência da democracia é posta em perigo quando a lembrança do passado das vítimas desempenha um papel ativo no funcionamento do político. Os ideólogos dos regimes fascistas o haviam compreendido perfeitamente (...) A utilização do sofrimento passado como argumento político se resume a associar os mortos ao processo democrático dos vivos (...) Com essa longa citação, volto ao início desse trabalho e à minha sensação de que estamos vivendo um novo momento de barbárie. O conflito no Oriente Médio mais uma vez chama nossa atenção para com que facilidade antigas vítimas podem se transformar em algozes. Se tem algo que a psicanálise nos ensina é quão difícil é impedir que isso aconteça já que a compulsão à repetição está sempre à trabalho. Ela nos ensina também quão mortífera pode ser essa posição de vítima, que a meu ver se assemelha muito à posição que H.Arendt define como sendo a do homem “ressentido”. Ressentido contra tudo que lhe é dado, inclusive sua própria existência. Levado por esse ressentimento fundamental a não ver o menor sentido no mundo tal como se apresenta, proclama que tudo é permitido e crê secretamente que tudo é possível. Segundo a autora a gratidão é a única alternativa ao niilismo do ressentimento. É por isso que embora seja uma posição 5 “totalmente incorreta políticamente” sou contra todas as formas de quotas e ressarcimentos. Não se rescreve a História, não há como ressarcir certos “crimes”. Pode o analista algo nesse sentido? Acredito que sim. E desse ponto de vista pouco importa se o paciente chega com uma demanda de psicoterapia ou psicanálise. A nossa tarefa, enquanto analistas, é permitir que se impliquem em seu sofrimento que é também o sofrimento da época em que vivem. Para tanto é preciso que o analista possa relacionar sua escuta do individual com a escuta do social, os avatares do sujeito a quem atende aos avatares do social em que ambos vivem. E talvez a melhor maneira para tanto é ocupando o lugar do estrangeiro, daquele que permite interrogar as evidências e balançar as certezas. Parece-me que, hoje em dia, nosso trabalho de analistas nos leva a trabalhar com os pacientes no sentido de permitir-lhes restaurar sua capacidade de julgamento, aqui entendida, como sendo uma aptidão própria ao sujeito. Lá onde a vítima responsabiliza o outro por seu trauma,. o sujeito ao sustentar um julgamento o faz do lugar de sua própria divisão, única maneira em que pode sustentar sua enunciação. Julgar é a responsabilidade de cada um, logo remete à escolha do sujeito, escolha desejante. A partir daí talvez valesse a pena retomar a discussão Freud-Ferenzci sobre o lugar do analista. Vários autores tem feito isso recentemente, entre eles Lebrun (2001) e Ginestet-Debreil (1977) com os quais trabalhei ao longo de todo esse trabalho. No que me diz respeito é o resto que deixo para me permitir continuar no trabalho. 6 BIBLIOGRAFIA Aganben, G., (1997). Homo sacer, Paris, Le Seuil ___________ (1999). Ce Qui reste d’Auschwitz, Paris, Rivages Cacciali, J.L. (2001) : La victime un nouveau sujet. In Les désarrois du nouveaux du sujet, Paris, Erès Ehrenberg, A (1998). La Fatigue d’ête soi. Paris, Odile Jacob Freud, S.(1914) Totem et Tabu. Paris, Petite Bibliothèque Payot, 1968 ________(1930) Malaise dans la Civilisation, Paris, PUF, 1971 ________ (1939) Moise et le Monothéisme, Paris, Gallimard, 1986 Ginestet-Delbreil , S. (1997) La Terreur de Penser, Paris, Diabase Henry, M. (1987). La Barbarie, Paris, Le livre de Poche Lacan, J. Proposition 9 octobre 1967, Silicit.1, Paris _______ (1953)Fonction et Champ de la parole et du langage. In Écrits, Paris, Seuil Lebrun J,P; (1997). Un monde sans limite, Paris, Erès Lebrun, J.P. (2001). Les désarrois Nouveaux du Sujet, Paris, Erès Zaltzman, N.(2001). La résistance de l’humain, Paris, PUF 7
Download