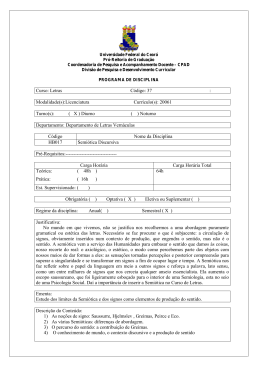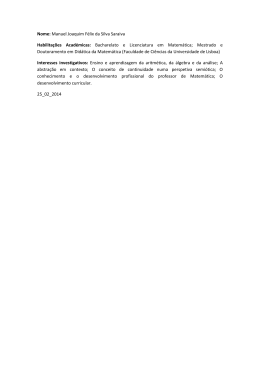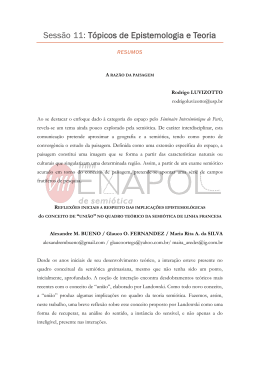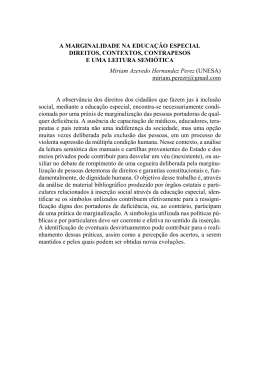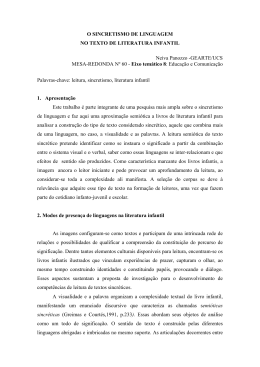Apresentação Há, pelo menos, três semióticas: a doutrina dos signos elaborada por Charles Sanders Peirce, o desenvolvimento do formalismo russo e a teoria da significação proposta por Algidar Julien Greimas. Nosso trabalho é vinculado a esta última. O que a diferencia das demais, e também da teoria geral do signo chamada semiologia, é a ênfase dada não mais nas relações entre os signos, mas no processo de significação capaz de gerá-los. O livro que inaugura essa semiótica chama-se Semântica estrutural, de A. J. Greimas. Partindo da dicotomia de Saussure significante verus significado, Greimas define assim os domínios da semiótica: Quando um crítico fala da pintura ou da música, pelo próprio fato de que fala, pressupõe ele a existência de um conjunto significante “pintura”, “música”. Sua fala constitui-se, pois, em relação ao que vê ou ouve, uma metalíngua. Assim, qualquer que seja a natureza do significante ou o estatuto hierárquico do conjunto significante considerado, o estatuto de sua significação se encontra situado num nível metalingüístico em relação ao conjunto estudado. Essa diferença de nível é ainda mais visível quando se trata do estudo de línguas naturais: assim o alemão ou o inglês podem ser estudados numa metalíngua que utiliza o francês e vice-versa. Isso nos permite a formulação de um princípio de dimensão mais geral: diremos que esta metalíngua transcritiva ou descritiva não apenas serve ao estudo de qualquer conjunto significante, mas também que ela própria é indiferente à escolha da língua natural utilizada. (GREIMAS, 1979: 23) Semiótica visual • Os percursos do olhar Recorrendo às definições de plano de expressão e plano de conteúdo, de Louis Hjelmslev, Greimas define os domínios da semiótica no plano de conteúdo, já que o conjunto significante mencionado por ele pertence aos domínios da expressão, e a manifestação em línguas naturais distintas também. Nos domínios do conteúdo, a significação é descrita pela semiótica no modelo do percurso gerativo do sentido, que prevê a geração do sentido por meio do nível semio-narrativo, geral e abstrato, que se especifica e se concretiza na instância da enunciação, no nível discursivo. Colocado de lado em um primeiro momento do desenvolvimento teórico da semiótica, o plano da expressão passa a ser tomado como objeto de estudo quando uma categoria do significante se relaciona com uma categoria do significado, ou seja, quando há uma relação entre uma forma da expressão e uma forma do conteúdo. Em seu texto “Por uma semiótica topológica”, A. J. Greimas faz a seguinte observação a respeito: Porque o espaço assim instaurado nada mais é que um significante; ele está aí apenas para ser assumido e significa coisa diferente do espaço, isto é, o homem que é o significado de todas as Linguagens. Pouco importam, então, os conteúdos, variáveis segundo os contextos culturais, que podem se instaurar diferencialmente graças a este desvio do significante: que a natureza se ache excluída e oposta à cultura, o sagrado ao profano, o humano ao sobre-humano ou, em nossas sociedades dessacralizadas, o urbano ao rural; isso em nada muda o estatuto da significação, o modo de articulação do significante com o significado que é ao mesmo tempo arbitrário e motivado: a semiose se estabelece como uma relação entre uma categoria do significante e uma categoria do significado, relação necessária entre categorias ao mesmo tempo indefinidas e fixadas num contexto determinado. (GREIMAS, 1981: 116) Essa relação entre expressão e conteúdo é chamada semi-simbólica. Ela é arbitrária porque é fixada em determinado contexto, mas é motivada pela relação estabelecida entre os dois planos da linguagem. Assim, partindo dos conceitos de signo e de símbolo de F. de Saussure, define-se o semi-simbolismo entre o arbitrário de signo e o motivado 8 Apresentação do símbolo (SAUSSURE, sd: 81-84). Considerado um dos principais fundadores da semiótica visual, Jean-Marie Floch explorou em seus trabalhos esse conceito, aplicando-o ao estudo das artes plásticas, do marketing, da comunicação, do gosto, entre outros objetos. Este trabalho é motivado pelos estudos de J. M. Floch, em especial pela obra Petites mythologies de l’oeil et de l’esprit. Nela, o autor desenvolve o conceito de semi-simbolismo aplicando-o no estudo da fotografia, da pintura, das histórias em quadrinhos, da arquitetura e da propaganda publicitária. Em nosso trabalho, escolhemos os mesmos objetos, com excessão da propaganda publicitária, e incluimos dois capítulos sobre a poesia concreta e um sobre a escultura. Contudo, tomamos o cuidado de escolhê-los entre manifestações da cultura brasileira, com o objetivo de torná-los mais próximos do contexto histórico e cultural de nossos leitores. Não se trata, por isso, de repetir o trabalho de J. M. Floch mudando apenas seus objetos de estudo, mas de mostrar a operatividade do conceito de semi-simbolismo aplicado a outros textos; e de propor alguns avanços no estudo da expressão a partir da aplicação da semiótica nesses domínios, a respeito da enunciação, do ritmo e da narratividade. Como conceito teórico, qual o estatuto semiótico do semi-simbolismo? J. M. Floch define a semiótica semi-simbólica dentro dos domínios da semiótica poética. Utilizando a definição de função poética da linguagem, de Roman Jakobson, como a projeção do eixo paradigmático no sintagmático, a semiótica define a poeticidade do mesmo modo. Quando no plano de expressão de um texto verbal há uma rima, as relações paradigmáticas estabelecidas entre significantes semelhantes são projetadas no eixo sintagmático; e quando no plano de conteúdo há uma metáfora, são projetadas as relações paradigmáticas estabelecidas entre significados. Essas projeções, embora responsáveis pelos efeitos de poeticidade, não são necessariamente semi-simbólicas. No entanto, a relação entre uma forma de expressão e uma forma de conteúdo manifesta-se quando há uma relação entre os eixos paradigmáticos de cada uma delas, e quando eles são projetados no eixo sintagmático. Se em uma pintura, por exemplo, as cores quentes são relacionadas a conteúdos do sagrado, e as cores frias, do profano, em seu texto há uma projeção no eixo 9 Semiótica visual • Os percursos do olhar sintagmático da relação entre os paradigmas que formam a categoria de expressão cor quente vs. cor fria e a categoria de conteúdo sagrado vs. profano. Assim, toda relação semi-simbólica é poética, mas nem toda relação poética é semi-simbólica. Quando se trata de objetos próprios dos sistemas semióticos plásticos, sempre que houver uma relação semi-simbólica entre formas plásticas e formas semânticas, há efeito de poeticidade. Contudo, nem todo semi-simbolismo é necessariamente uma semiótica plástica. Uma relação entre sabores, próprios de uma semiótica gustativa, pode ser semisimbólica caso uma categoria dessa ordem, como doce vs. salgado, seja relacionada a uma categoria de conteúdo, como infantil vs. adulto. Como a semiótica plástica estuda as formas de expressão relacionadas a formas de conteúdo, toda semiótica plástica é semi-simbólica, mas nem todo semi-simbolismo é uma semiótica plástica. Desse modo, como afirma o próprio J. M. Floch, a semiótica plástica faz parte da semiótica semi-simbólica, que por sua vez faz parte da semiótica poética (FLOCH, 1985: 1415). Esse é o estatuto semiótico do conceito de semi-simbolismo. Como este trabalho tem também o objetivo de divulgar a semiótica, tomamos o cuidado de anexar, antes dos textos destinados às aplicações, uma pequena introdução, em que se apresenta o percurso gerativo do sentido, para os leitores que não conhecem a teoria. Recomendamos, para aqueles que quiserem uma introdução mais detalhada, os trabalhos Elementos de análise do discurso (FIORIN, 1989), de José Luiz Fiorin; Teoria semiótica do texto (BARROS: 1990), de Diana Luz Pessoa de Barros; e A abordagem do texto (FIORIN, 2002: 187-209), de Luiz Tatit. Por fim, nesta apresentação, não poderia deixar de agradecer à professora Maria Aparecida Barbosa, que me iniciou nos estudos da semiótica, e ao professor José Luiz Fiorin, pelas orientações indispensáveis à minha formação acadêmica e pelo cuidado com que leu e comentou este trabalho, fazendo sugestões sem as quais não seria possível terminá-lo. A ambos dedico este livro. 10
Download
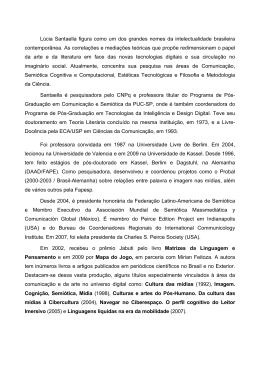
![Presentazione [Edizione-PT]](http://s1.livrozilla.com/store/data/000653693_1-67a0579b55eebaa7e60d8146e4deb33d-260x520.png)