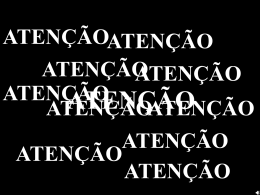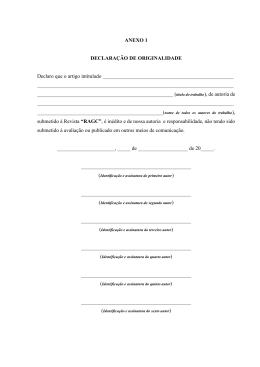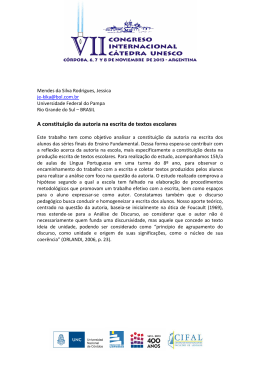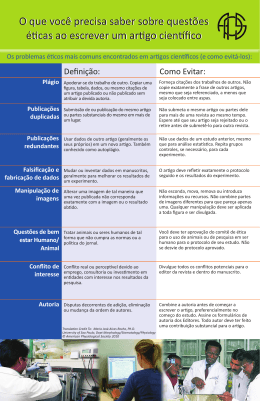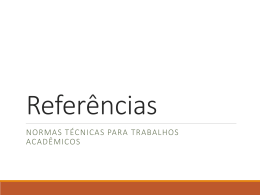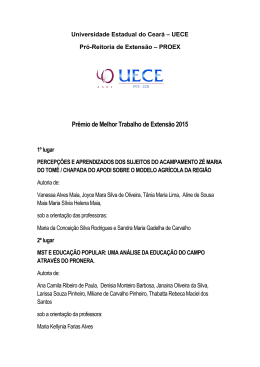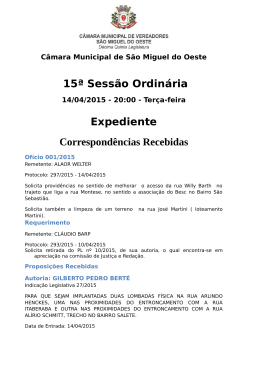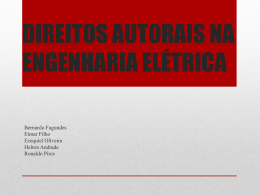Prof. Dr. Alexandre Faria (UFJF) Fronteiras da autoria na narrativa contemporânea (Comunicação apresentada no X encontro regional da ABRALIC, Sentidos dos Lugares, integrante do grupo temático Literatura e cultura: identidade e locais de enunciação, no dia 09/07/2005, no Instituto de Letras da UERJ) Este texto pretende empreender uma reflexão sobre as implicações advindas da relação entre a crise de identidade do sujeito pós-moderno, manifesta especificamente através da figura do autor, e as tensões registradas no mundo contemporâneo entre identidades culturais, especialmente as das nações, diante do processo de globalização. O tema é um dos desdobramentos da pesquisa “Representações da identidade cultural no Brasil contemporâneo”, que atualmente desenvolvo com incentivo da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFJF, e tem como ponto de partida a identificação da temática da autoria em crise, em narrativas brasileiras contemporâneas, tais como Budapeste (2003), de Chico Buarque ou O manuscrito (2002), de Edgard Telles Ribeiro. Deixarei, no entanto, a análise das obras para um momento posterior, e limitar-me-ei ao levantamento de algumas questões teóricas. A reflexão objetivará estabelecer os pontos de contato possíveis entre duas questões de amplitude consideravelmente diversas: a da autoria e a da identidade cultural. Pretendemos experimentar a hipótese de que a questão do autor é potencialmente útil para se aprofundar, a partir dela, a compreensão da crise das nações diante do processo de globalização. Se a crise do sujeito pode ganhar conotações subjetivas, que conduzam, por exemplo, a uma compreensão psicanalítica da questão, ou, por outro lado, conotações 1 sociológicas, que procurem relacionar a crise do sujeito à da sociedade, a autoria, por sua vez, é um segmento híbrido, em que o subjetivo entra, mais nitidamente, em confluência com o social. Além disso, elementos da reflexão especificamente literária, que há algum tempo vem sendo dedicado à figura do autor, podem, neste caso, também ser úteis para enriquecer o debate. Assim como se aproxima dos traços identitários de afirmação cultural, tais como etnia, classe, gênero, nacionalidade, etc, o lugar do autor também deles se afasta, na medida em que, via de regra, representa um certo apogeu do indivíduo na sociedade moderna (ainda que uma obra seja coletiva, muito raramente os autores não são identificados individualmente). A autoria é o lugar em que a modernidade permitiu a projeção ampla e a afirmação do indivíduo que, no entanto, tradicionalmente, investe-se do poder de representar a coletividade. São freqüentes tomadas de posições em que o autor assume conscientemente esta atribuição querendo mesmo atingir uma escala universal através do projeto humanista e civilizador. Victor Hugo, por exemplo, assim se dirige a seus pares, em 1978, num Congresso Literário Internacional: Senhores, não é por interesse pessoal ou restrito que estão aqui reunidos; é por um interesse universal. O que é a literatura? É o que faz caminhar o espírito humano. O que é a civilização? É a perpétua descoberta que faz a cada passo o espírito humano em marcha; daí a palavra progresso. Pode-se dizer que a literatura e a civilização são idênticas... senhores, sua missão é grandiosa. (apud BONCOMPAIN, 2002, p. 16)1 O poder civilizador da literatura e, por contiguidade, do autor, evidenciou-se na cultura ocidental moderna. Entre os intelectuais brasileiros pode-se identificar a assimilação deste papel quando um autor como Castro Alves propõe o livro como um dos pilares da 1 Esta, como as demais citações das referências bibliográficas de originais em francês, são traduções minhas. Devido ao limite de espaço para a apresentação desta comunicação, optei por não citar também as passagens originais. 2 modernidade, coadjuvante da nova civilização, sediada, pelo poeta, no Novo Mundo, que substituiria a tradição bélica das antigas civilizações; não custa lembrar os famosos versos de “O livro e a América”: O livro — esse audaz guerreiro Que conquista o mundo inteiro Sem nunca ter Waterloo... (ALVES, 1960, p. 77) Outro exemplo, menos ufanista no entanto, mas não menos fiel ao projeto civilizador, são as idéias de Machado de Assis, quando propõe uma alternativa à construção da identidade brasileira a partir da cor local, e defende que os costumes civilizados “igualmente oferecem à imaginação boa e larga matéria de estudo” (ASSIS, 1986, p. 803). Nosso intuito não é, porém, averiguar propriamente o projeto civilizador assimilado e empreendido pela literatura brasileira, mas destacar o fato de que o autor assume para si este dever, inclusive refletindo crítica e teoricamente sobre a produção literária de seu tempo, como é o caso do texto de Machado mencionado, “Instinto de nacionalidade”, ou do projeto literário de Alencar2. Confunde-se, ainda, em alguns momentos, o papel do autor com o do intelectual. Revestido da autoridade que sua prática ordinária lhe fez merecedor na sociedade moderna, o autor pode lançar mão de seu poder de influência político-ideológica em questões urgentes (vide o paradigmático papel de Zola no caso Dreyfus), ou mesmo considerar sua obra uma demanda do seu tempo, engajando-a em causas sociais ou políticas.3 Os romances da primeira fase de Jorge Amado, por exemplo, a despeito de qualquer discussão sobre o 2 A esse respeito, inclusive avaliando o destino contemporâneo do projeto de civilização, sugerimos o artigo PEREIRA, Terezinha Maria Scher: “Imagens de nação e povo na literatura brasileira”. In: NASCIMENTO, Evando et alii (org). Literatura em perspectiva. Juiz de Fora: UFJF, 2003. 3 Fazemos a distinção entre o intelectual e o autor engajado a partir de DENIS, Benoît. Littérature et engajament: de pascal à Sartre. Paris: Seuil, 2004. 3 valor literário do texto, são modelares para esta situação em que a obra é produzida a serviço de uma ideologia. Não restam dúvidas, no entanto, de que, quer nas sociedades democráticas, quer nas submetidas ao autoritarismo político, um importante papel do autor foi o de coadjuvante na escritura da História dos estados-nação, seja em sua consolidação ou em sua contestação. Walter Benjamim, em artigo de 1934, explicita esta noção quando concebe que o autor, ao atuar como produtor, estaria contribuindo para a consolidação do estado socialista, em contraposição ao regime fascista: Aragon tem razão quando afirma (...): “ o intelectual revolucionário aparece, antes de mais nada como um traidor à sua classe de origem”. No escritor, essa traição consiste num comportamento que o transforma de fornecedor do aparelho de produção intelectual em engenheiro que vê sua tarefa na adaptação desse aparelho aos fins da revolução proletária. (BENJAMIM, 1994, p. 136). Levando-se em conta, dessa forma, o papel do autor na modernidade, a crise da autoria não precisa ser lida, necessariamente, como a crise do autor enquanto sujeito, mas a crise de um lugar de extrema subjetividade que se projeta, desde a ascensão da sociedade burguesa, a um papel social bem demarcado, através do qual, inclusive, torna-se possível contribuir para a fundamentação de um sistema imaginário, responsável pela fixação de identidades coletivas. O lugar do autor, pois então, é como estamos nomeando esta condição de projeção do indivíduo na sociedade burguesa, ainda que ele se projete manifestamente crítico e conteste os valores desta mesma sociedade. Este lugar pode ser compreendido como um híbrido entre o individual e o social, que em certo sentido contribuiu para a própria instituição da morte do autor, conforme a defendeu Roland Barthes, conforme abordaremos mais adiante. 4 Jacques Boncompain fixa entre 1773 e 1815 o nascimento da propriedade intelectual, ou seja, fato simultâneo à ascensão da burguesia, de onde propaga a idéia de autor como um elemento produtivo na sociedade de mercado. Porém, a intensificação industrial, ou a passagem da industria têxtil à metalúrgica, em certo sentido o nascimento do capitalismo moderno, relativiza o papel do autor que, segundo Barthes, fica “repartido entre sua condição social e sua vocação intelectual” (BARTHES, 2000, p. 54). Obriga-se, então, o autor a construir a autoria através de um, “artesanato do estilo”. Dessa forma, o bem coletivo e social, no caso a língua, reveste-se das marcas subjetivas de seu uso, numa multiplicidade de escritas: É então que as escritas começam a se multiplicar. Cada uma, de ora em diante, a trabalhada, a populista, a neutra, a falada, reivindica para si o ato inicial pelo qual o escritor assume ou detesta sua condição burguesa. (...) Cada vez que o escritor traça um complexo de palavras, é a própria existência da literatura que está sendo questionada; o que a modernidade dá a ler na pluralidade de suas escritas é o impasse de sua própria história.” (BARTHES, 2000, p.54) Barthes não deixa de atribuir ao autor o papel de “antena da raça”, para usarmos expressão de Pound, quando conclui seu ensaio O grau zero da escrita com a constatação de que o paradoxo modernista, construir/destruir, é a condição utópica de que a literatura reveste a linguagem. Ora, o autor modernista, longe de ter experimentado uma crise de identidade sem saída, fica sendo o autor da utopia, condição através da qual ele pode se inserir no seu tempo e, paradoxalmente, romper com ele. Dessa forma, se o momento contemporâneo permite a identificação de uma crise do autor, este fato pode relacionar-se com uma certa instabilidade da utopia que também marca a atualidade. Por isso, identificar a crise da autoria é não estar mais apenas na dimensão subjetiva, como a do indivíduo que transita entre grupos identitários distintos, abandonando 5 a rigidez dos sistemas ideológicos fechados, e lançando mão da provisoriedade das relações, mas também reconhecer a autoria como potente mecanismo de centramento da e na sociedade ocidental. Não só o indivíduo se (con)centra no lugar do autor como também instâncias coletivas afirmam-se ideologicamente pela autoria de suas leis e de suas construções políticas. O princípio democrático, por exemplo, pode ser compreendido como a criação de um estado, cujo autor é o povo (e fiquemos, por enquanto, só pelo princípio, pois sabemos que a prática nem sempre o confirma); a luta sindical, para darmos outro exemplo, seria o mecanismo de autoria coletiva das conquistas dos trabalhadores. Pensemos autor, então, como esse lugar social que do lado das elites (as artes, a ciência) tendeu, desde a modernidade, a se assumir pelo indivíduo, e do lado do povo (o folclore, a cultura popular) é passível de identificação com a coletividade; isso permite, na dimensão política, usa-lo como uma metáfora produtiva para compreender o mecanismo de (con)centração de atos criadores e/ou transformadores da sociedade. Dessa maneira, fazemos eco à concepção de Homi Bhabha de que nação é narração, mas admitimos, que como tal, requer uma autoria, sobretudo quando esta narração se aproxima das formações nacionais modernas. Por mais que seja recorrente a mitologia que remete a origem de algumas nações a uma autoria perdida, a modernidade das nações, em geral, não prescinde de um herói capaz de ações políticas e históricas. A autoria das nações, no entanto, nunca se afirma individualmente, é um lugar tenso cuja identificação, para continuarmos na proposta de Bhabha, pode, a partir de estruturantes saussurianos, ser compreendida como o entrelugar entre a “langue da lei” e a “parole do povo” (BHABHA, 1998, p. 52): A nação como forma de elaboração cultural (no sentido gramsciano) é um agente de narração ambivalente que detém as culturas em sua posição mais produtiva, como uma 6 força para “subordinar, fraturar, difundir, reproduzir – tanto quanto para produzir, criar, forçar guiar” (BHABHA, 1998, p. 55)4 Ideal para compreender a autoria de e em nações de histórico colonial ou neocolonial, este entrelugar discursivo, seria o nosso lugar híbrido de (con)centração autoral. É curioso notar como na própria formulação da idéia de entrelugar do discurso latino americano, Silviano Santiago tenha proposto a leitura de um conto que justamente relativiza o lugar da autoria, “Pièrre Menard, autor do Quixote”, de Borges. Guardadas as proporções e o contexto em que Bhabha e Santiago forjam o conceito de entrelugar, não se pode deixar de admitir que, se nação é narração, o entrelugar é mesmo discursivo, como postulara o crítico brasileiro ao fazer uma reflexão mais específica sobre questões relativas ao comparativismo, sem no entanto deixar de pensar a condição de dependência cultural. Proponhamos, agora, situações nas quais há uma tendência de se externalizar a autoria das suas narrativas. As identidades religiosas, por exemplo, (con)sagram suas escrituras. Por mais que autores possam ser identificados, como os evangelistas ou os profetas, eles acabam limitando-se a mediadores de um texto de autoria divina. “No princípio era o verbo”, afirma João, “e Deus era o verbo.” Esta condição de divindade da palavra põe em cheque o lugar do autor que deixa de ser agente e passa a ser medium do discurso. Outro exemplo de deslocamento da (con)centração autoral para o exterior do grupo ou do sujeito está nas ações criminosas. A atribuição ou a confirmação da autoria de um crime (seja um homicídio ou um genocídio) compete, via de regra, a um tribunal superior. O genocídio empreendido pelo ideal ariano, sabe-se muito bem, não foi um ato coletivo do povo alemão, mas dos responsáveis julgados e condenados no tribunal de 4 A citação entre aspas refere-se a SAID, E. The world, the text, and the critic. Cambridge: Havard University 7 Nuremberg. Assim, também é freqüente que os povos de forte tradição colonial, submetidos a constantes regimes autoritários, atribuam ao “governo” (aos “homens”, como se costumava usar no Brasil do regime militar) a autoria do Estado, e eximam-se de reconhecer sua participação (mesmo que por omissão) no processo de (con)centração autoral da nação. Voltemos à reflexão literária e admitamos, então, duas categorias de autor enquanto (con)centração, ou seja, enquanto origem densa da ação, da obra: a externa, atribuída ou dissociável e a interna, requerida ou associável. A primeira é homóloga ao princípio da divindade. Deus é autor mor, a quem se pode tudo imputar; a segunda compreende o conceito moderno, burguês, de autor, que assina/registra a obra, seja pelo estilo ou pelos órgãos de registro de obras intelectuais, e sobre elas exercem (ou não) seus direitos morais e patrimoniais. Cito os nomes de Fernando Pessoa e Chico Buarque para exemplificar a autoria moderna como lugar de (con)centração a despeito de mecanismos de homonímia ou pseudonímia. O nome de Fernando Pessoa é associável aos de Ricardo Reis ou de Álvaro de Campos, assim como o de Chico Buarque é associável ao de Julinho de Adelaide e Leonel Paiva. Dissociá-los, sobretudo os do primeiro, demandaria hipóteses espíritas ou parapsicológicas pouco caras à teoria literária. Ainda, Homero ou Shakespeare são (con)centrações autorais dissociáveis, tornaram-se autores hipotéticos, ou em tese. Um último exemplo: pode-se contestar a autoria das Cartas chilenas, pois é atribuída através de uma tese; contestar, no entanto, a autoria de “Pelo telefone”, demandaria, mais do que uma tese, um processo judicial. Tomás Antônio Gonzaga é, em outros termos, com relação às Press, 1983, p. 171. 8 Cartas chilenas uma (con)centração menos densado que a de Donga/João da Bahiana, ainda que se admita que “Pelo telefone” circulava nos terreiros de samba antes do primeiro registro. Da mesma forma, com relação ao conceito de nação, pode-se identificar maior ou menor densidade na (con)centração autoral. Por exemplo, considerar nação um princípio espiritual, como conclui Renan em 1882: “uma nação é um princípio espiritual, que resulta das profundas complicações da história, uma família espiritual, não um grupo determinado pela configuração do solo” (RENAN, 1998, p. 38) é uma (con)centração autoral mais dissociável (ou menos densa) do que a noção de uma comunidade imaginada através do mecanismo de memória e esquecimento, como quer Anderson, que, ainda é menos densa do que a idéia de um entrelugar na confluência de discursos e contradiscursos, artísticos e históricos, que fundam um imaginário coletivo nacional. Houve um tempo em que a autoria das nações encontrava fortes alicerces na vontade divina. Lembra-nos Camões que a expansão do império era concomitante à da fé. Se relacionarmos esta questão com as obras de fundação obtemos uma hipótese segundo a qual quanto maior a possibilidade de uma obra enraizar sentidos, maior será a possibilidade de fixação coletiva dos valores que ela aporta. No caso do Brasil, o romantismo representa não só o momento de consolidação do autor como também da dos nossos mitos nacionais (em outro aspecto, o clímax de nossa formação literária, segundo Candido), que serão rearticulados no modernismo, outro momento de profundo enraizamento de sentidos para a nação. A melhor forma de se processar este enraizamento talvez seja através de alguma substituição da ação do autor, por aquela do intérprete ou do descobridor. São desse período, o século que se conta entre 1850 e 1950, os principais 9 intérpretes do Brasil (para nos referirmos a tais autores através de título da seleção organizada por Silviano Santiago). Cabe aqui, no entanto, entender o papel do intérprete não apenas como o do hermeneuta que vai buscar um sentido profundo e enraizado na cultura nacional, mas também como um autor desse sentido, e ressaltar seu papel político na sociedade. Iracema, por exemplo, a despeito de ser um clássico de Alencar, nunca deixará de ser uma “lenda do Ceará”; Macunaíma tem na rapsódia e na “traição da memória” seu melhor processo constitutivo; as Raízes do Brasil talvez ainda sejam lidas como mais do Brasil do que de Sérgio Buarque. É quando a invenção se confunde com interpretação ou com descoberta que mais (con)centração o lugar do autor apresenta. Este fato talvez encontre eco na teoria literária se tentarmos interpretar a noção Barthesiana de “morte do autor”, como limite máximo a que a modernidade levou este lugar de (con)centração. Ao consolidar a morte de Deus (para tomarmos a lição Nietzschiana), a modernidade promove a ascensão de artistas que, muitas vezes a soldo da imprensa burguesa, tomam para si a tarefa da autoria das nações. Por outro lado, a morte do autor, decretada por Barthes em 1968, combate este sujeito político, consolidado na sociedade burguesa, e o reduz a sujeito do discurso. Paradoxalmente, esta questão expõe o limite máximo a que chegou o lugar do autor enquanto (con)centração. Nada mas passível de reverência ou entronização que um autor morto. Não é à toa que a crítica literária, há até bem o pouco tempo, temia formular juízos sobre autores vivos. A morte do autor, então, através da autonomia que pretende dar à obra, revela como a teoria literária ratifica a crença na intenção, ainda que tente tomá-la como uma falácia. Paradoxalmente, então, o que mais parece ser autônomo, sem autor, mais estreita os vínculos associativos de autoria. Sean Burke, após relacionar a noção de autoria à de Deus, afirma: 10 “A morte do autor”, de Roland Barthes visa menos a destruir o Deus-autor do que participar de sua construção. Ela procura criar um rei digno de ser morto. O autor deve ser comparado não somente a uma divindade tirana, mas ao burguês em pessoa. (apud COUTURIER, 1995, p. 12) Maurice Couturier defende que o assassinato barthesiano representa uma reação a um modelo da crítica, predominante na França dos anos 60, que ainda era profundamente biográfica, do tipo “o autor e sua obra”, o que de certa forma justificaria o manifesto de Barthes e lembra, ainda, que em O prazer do texto seria recuperada a figura do autor: Como instituição o autor está morto: sua pessoa civil, passional, biográfica, desapareceu; desapossada, já não exerce sobre sua obra a formidável paternidade que a história literária, o ensino, a opinião tinham o encargo de estabelecer e de renovar a narrativa: mas no texto, de uma outra maneira eu desejo o autor: tenho necessidade de sua figura (que não é nem sua representação nem sua projeção) tal como ele tem necessidade da minha (salvo no tagarelar) (BARTHES, 1996, p.38) Como não pretendemos, aqui, retomar a discussão sobre o autor na perspectiva apenas da teoria literária, resta-nos pensá-lo como função social, o que nos leva a escolher o caminho que compreende a literatura sob a perspectiva da comunicação. Couturier, dando continuidade à identificação da “figura do autor”, como a menciona Barthes, chega exatamente à idéia de que A leitura não é uma apropriação do texto, mas uma troca entre dois sujeitos separados no tempo e no espaço. Toda arte supõe um modo específico de comunicação, nem tanto no nível do conteúdo quantificável mas no da relação intersubjetiva. E não é porque a crítica ainda não inventou uma maneira de estruturar seu discurso em termos de comunicação que essa dimensão deva ser considerada ausente ou desprovida de interesse. (Couturier, 1995, p. 19) Couturier argumenta ainda que duas tendências fortes no âmbito dos estudos literários contemporâneos reafirmam uma certa ressurreição do autor: a análise genética e o ensino de criação literária. De nossa parte, queremos crer que, além dessas constatações, o lugar do autor passa a ser objeto de reflexão e reivindicação no âmbito da crítica tanto 11 quanto no das próprias criações literárias, sobretudo por duas causas que, diferentemente da “morte-exaltação” requerida pela teoria literária, realmente o desestabilizaram. A primeira delas se relaciona com a vertiginosa ascensão dos aparatos maquínicos e da tecnocultura que desde as últimas décadas do século passado vem desestabilizando a noção de autoria naquilo que mais solidamente a constituiu na sociedade moderna: o princípio da propriedade intelectual. Um romance como Budapeste (2003), de Chico Buarque, ou um conto como “Artes e ofícios” (1995), de Rubem Fonseca, ensejam esta reflexão, na medida em que relativizam e desdobram a noção de autoria em dois segmentos: criação e titularidade (o autor de um livro é o que cria ou o apresenta o nome na capa?). A alienação ou a renúncia da paternidade de obra intelectual, segundo Raymond Lindon, seria um “não exercício imoral do direito moral” (apud MANSO, 1987, p 54). Cumpriria, dessa forma, investigar de que maneira os novos mecanismos de recorte e colagem passam a exigir ou uma reformulação das fronteiras entre obra e autor, citação e plágio, original e cópia, propriedade privada ou patrimônio público, ou o que talvez seja mais desejável, uma ampla e profunda reflexão sobre ética e comunicação. A segunda causa - a que mais especificamente interessa a este trabalho, pois permite refletir em paralelo a questão do autor e a das identidades culturais – apresenta, em certa medida, o mesmo contexto da primeira, ou seja, a ascensão da tecnocultura, mas traz outras implicações. A tecnocultura promove profundas mudanças paradigmáticas nos mecanismos das trocas sociais e culturas. A velocidade e a vertiginosidade com que a informação e o homem atual podem deslocar-se no tempo e no espaço cria uma territorialidade suspeita. Conceitos como o de não-lugar, de Marc Augé (1992), ou de Meio-técnico-científicoinformacional, de Milton Santos (1997), buscam dar conta desta nova espacialidade, cujo 12 efeito mais evidente no homem é o de atenuar as noções de pertencimento e de enraizamento. Em estudo anterior, dedicado à narrativa contemporânea, já destacávamos este fato no que nomeamos uma “literatura de subtração” (FARIA, 1999), que furta ao leitor, as certezas, os valores e, sobretudo, a utopia, a própria crença no discurso e na História. Esta crise da autoria também pode ser lida como uma das faces da subtração e está em contemporâneos como Rubem Fonseca, Sérgio Sant’Anna, Carlos Sussekind, ou Edgard Telles Ribeiro. Como vimos, foi o autor moderno uma dos principais fontes a engendrar nações e utopias. Agora, apesar de ainda mal adaptado ao modelo capitalista e industrial, já experimenta a crise diante do tempo voraz da tecnocultura e diante do desenraizamento do não-lugar. Em função disso, propomos uma inversão de ponto de vista: a crise das nações pode ser lida não apenas como conseqüência de circunstâncias econômicas e políticas ou de conjunturas sociais. Autores desenraizados não podem narrar as nações; as nações entram em crise porque estão sem autores. Refletir sobre a autoria na contemporaneidade pode ser, finalmente, uma forma de compreender um privilegiado papel do sujeito moderno e, talvez, mais uma alternativa para se encontrar caminhos para o homem neste, cada vez mais difícil, mundo das máquinas. Referência bibliográfica ALVES, Castro. Obra completa. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1960. ANDERSON, Benedict. "Memória e esquecimento", in ROUANET, Maria Helena (org.). Nacionalidade em questão. Rio de Janeiro: UERJ, 1998. ASSIS, Machado. “Instinto de nacionalidade”. In: Obras completas. v 3. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986. 13 AUGÉ, Marc. Non-lieux: introduction à une antropologie de la sur-modernité. Paris: Seuil, 1992. BARTHES, Roland. O grau zero da escrita. São Paulo: Martins Fontes, 2000. _______. O prazer do texto. São Paulo: Perspectiva, 1996. _______. “A morte do autor”. In: O rumor da língua. São Paulo: Brasiliense,1988. BENJAMIM, Walter. “O autor como produtor”. In Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1994. BHABHA, Homi. Narrando a nação. In: ROUANET, Maria Helena (org.). Nacionalidade em questão. Rio de Janeiro: UERJ, 1998. BONCOMPAIN, Jacques. La revolution de l’auteur. Paris: Fayard, 2002. COUTURIER, Maurice. La figure de l’auteur. Paris: Seuil, 1995. FARIA, Alexandre. Literatura de subtração. Rio de Janeiro: Papel Virtual, 1999. FOUCAULT, Michel. “O que é um autor?”. In: Ditos e escritos III – Estética: Literatura e pintura, música e cinema. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001 HALL, Stuart. Identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 1999. MANSO, Eduardo J. Vieira. O que é direito autoral. São Paulo: Brasiliense, 1987. RENAN, Ernest. “O que é uma nação?”. In: ROUANET, Maria Helena (org.). Nacionalidade em questão. Rio de Janeiro: UERJ, 1998. SANTIAGO, Silviano. O entrelugar do discurso latino-americano. In: Uma literatura nos trópicos. São Paulo: Perspectiva, 1978. SANTOS, Milton. Técnica espaço tempo - globalização e meio técnico científico informacional. São Paulo: Hucitec, 1997. 14
Baixar