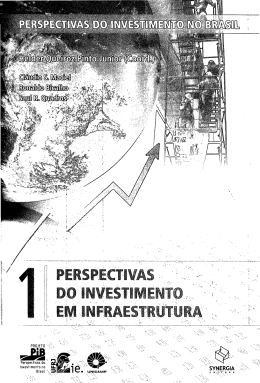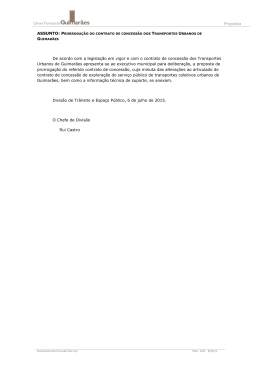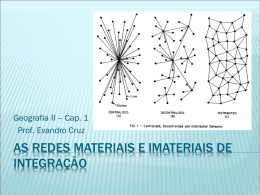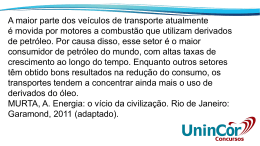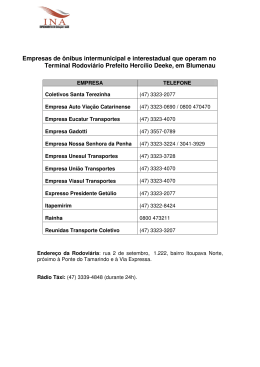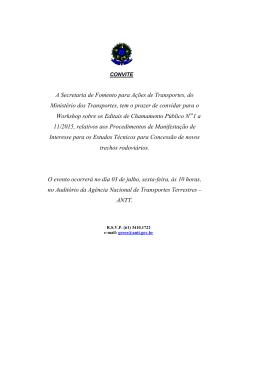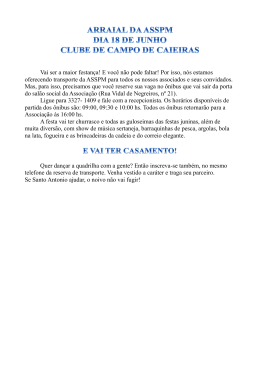Esse texto é um excerto da tese de doutorado de Enilson Santos, cuja referência completa é: SANTOS, E. (2000) Concentração em mercados de ônibus urbanos no Brasil: uma análise do papel da regulamentação. Tese de doutorado, Programa de Engenharia de Transportes/COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro. ESTADO E TRANSPORTE URBANO A importância dos transportes, mais especificamente dos transportes urbanos, para o desenvolvimento do capitalismo industrial a partir do século XIX, é inegável. Enquadrados entre as infra-estruturas e serviços estratégicos para a economia, os transportes urbanos têm sido objeto de constante intervenção do Estado, sob as mais variadas formas. Desse modo, a estrutura dos mercados locais de transporte vem sendo moldada ao longo do tempo pelas sucessivas tipologias de regulamentação estatal, caudatárias de particulares compreensões da dinâmica econômica setorial, como também de hegemonias teóricas e/ou ideológicas a respeito do papel do Estado na economia. Claro está que os elementos conceituais e teóricos da intervenção do Estado nos transportes urbanos foram sendo definidos ao longo dos últimos 150 anos, em um processo de sucessivas consolidação e contestação de experiências e culturas regulatórias, defrontadas por outra parte com a evolução das estratégias de acumulação de capital e das tecnologias de produção presentes no setor. Em decorrência, a evolução histórica de estruturas de mercado de transportes urbanos requer, para sua compreensão e análise, considerar como, ao longo do processo de constituição do setor, se processaram as relações entre o Estado e essa atividade econômica singular. A matriz conceitual desenvolvida no capítulo precedente, então, é adotada neste capítulo como quadro de referência para refletir e discutir os diversos momentos das relações entre o Estado regulador e a iniciativa privada produtora de serviços de transportes de passageiros nas cidades. Enfoca-se primeiramente a questão em uma perspectiva geral, em três seções respectivamente dedicadas às etapas do Estado liberal, do Estado do Bem Estar e da reforma contemporânea do Estado. Em seguida, analisa-se especificamente a problemática no Brasil, abordando como o Estado brasileiro construiu e aplicou, ao longo do tempo, sua cultura intervencionista nos transportes urbanos. O ESTADO LIBERAL E O TRANSPORTE URBANO A circulação de pessoas e bens, seja em plano regional, seja no interior das cidades, se constituiu como um tema de interesse público desde as primeiras manifestações da importância do transporte para o desenvolvimento das civilizações. Cumpre destacar, no que concerne à movimentação interregional de pessoas e cargas, a importância das políticas de planejamento e construção dos caminhos romanos nas áreas anexadas ao Império, cujo exemplo mais significativo talvez seja a malha viária que o exército de Roma executou e geriu durante a dominação da Península Ibérica, com o objetivo de facilitar os movimentos de tropas e o seu abastecimento. Fatos históricos igualmente relevantes são a ordenação do tráfego e estacionamento de carruagens na Roma imperial (Pederson, 1980) ou o licenciamento de operação de carruagens públicas, requerido por Pascal à municipalidade parisiense no século XVII (Vuchic, 1981). Na idade mercantil do capitalismo, a associação de interesses entre o Estado absolutista e os grandes mercadores havia dado origem, no campo do transporte de cargas, a formas mais diretas de intervenção estatal: garantia de exclusividade do comércio marítimo, abrangendo rotas e/ou mercadorias, concretizada na concessão de privilégios comerciais e cartas-patente às companhias nacionais, em troca de pagamentos de elevados impostos para sustentar os dispêndios das Cortes e da defesa militar das instalações portuárias metropolitanas e coloniais, também contemplada na delegação estatal aos mercadores da defesa dos interesses nacionais. Tais procedimentos, segundo Braudel (1982) e Beaud (1981), se estendiam a uma regulamentação incisiva sobre o uso dos portos por navios estrangeiros, na forma de proibições de descarga de produtos e tarifas portuárias discriminatórias que, somadas às tarifas aduaneiras protecionistas e às restrições legais com respeito ao acesso às profissões, inviabilizavam ou simplesmente impediam a competição de navegadores forâneos e de novos exportadores/importadores nativos. Assim sendo, o ideário liberal contra os privilégios mercantis também era esgrimido contra as políticas absolutistas no setor de transportes, mais especialmente no âmbito da circulação comercial de cargas. Monopólios de comércio zonal ou de mercadorias, tarifas protecionistas, regulação rígida de acesso à profissão, todas essas medidas típicas da intervenção do Estado mercantil na economia eram, decerto, incompatíveis com os interesses do crescimento industrial emergente. O próprio Adam Smith circunscrevia a atuação do Estado na infra-estrutura (de transportes) ao seu papel de provedor de certas obras públicas — no campo dos transportes, vias e portos com usos tarifados para a sua conservação (Izquierdo, 1997) — requeridas pelo novo ciclo desenvolvimentista, impulsionado pelas forças de livre mercado e alicerçado pela dinâmica econômica da produção industrial em larga escala. É justamente essa hegemonia da livre iniciativa e da competição industrial-comercial que, a partir das últimas décadas do século XVIII, veio estabelecer novas bases geo-demográficas para a economia, ampliando quantitativa e espacialmente as necessidades de transportes de carga e requerendo o desenvolvimento acelerado das tecnologias de transporte de pessoas nas áreas urbanas. Tais exigências derivavam, essencialmente, do caráter predominantemente urbano da sociedade industrial. Se nos primórdios da industrialização, a localização de plantas estava determinada pelas disponibilidades locais de matérias-primas, de recursos energéticos naturais — como a madeira ou as correntes de água — e de vias fluviais ou marítimas de transporte, posteriormente a localização industrial seria liberada dessas amarras naturais pelo desenvolvimento tecnológico da energia térmica e dos transportes ferroviários. Antes da metade do século XIX, as cidades já estavam definitivamente potencializadas como polos de concentração industrial, nos quais as empresas se beneficiavam de economias de aglomeração, da proximidade de instituições governamentais, bancárias e comerciais, das infra-estruturas de transporte hidroviário e terrestre, e da abundante mão-de-obra deslocada para os centros urbanos pela mecanização agrícola crescente e pela perda de competitividade da pequena manufatura rural (Sica, 1981; Santos, 1989). O processo de urbanização engendrado pela Revolução Industrial e pelo capitalismo liberal do século XIX é sobejamente conhecido. Cruzando informações aportadas por Frampton (1989), Adams (1981) e Vance (1981), pode-se afirmar que os índices de urbanização dos principais países europeus ao redor de 1800 se situavam entre 10 e 30%: cem anos depois, haviam atingido valores entre 30 e 70%. Nos Estados Unidos da América, o século XIX viu o contingente urbano da população saltar de 5% para mais de 30%. Por outro lado, Vuchic (1981) estima que as 23 cidades européias com mais de 100.000 habitantes em 1800 saltaram para 147 em 1900. No continente americano, o mesmo autor avalia que, no início do século XIX, apenas uma cidade tinha população superior à centena de milhares de habitantes, enquanto que, cem anos depois, este número passou a 50. Essa reconversão da cidade em locus central da produção industrial traria profundas transformações na estrutura urbanística até então vigente. Em primeiro lugar, porque novos usos do solo urbano foram gerados pelas mudanças tecnológicas em curso e pelo perfil classista da sociedade. Em segundo lugar, porque o capitalismo industrial requeria umas relações cidade-território ajustadas a suas necessidades de matérias-primas e mão-de-obra e adequadas a uma maior fluidez na circulação de mercadorias, essencial para garantir a velocidade do processo de acumulação. Nesse sentido, o eixo fundamental da reestruturação industrial do espaço urbano estava no acoplamento funcional entre as fábricas, os bairros obreiros e os terminais de transporte, sob a restrição de garantir a disponibilidade de áreas (e trajetos) não-degradadas para assentar as zonas residencias e comerciais que atendiam as camadas mais privilegiadas da população (Vance, 1981). A pressão por solo urbano suficiente para abrigar todas essas novas atividades colocaria rapidamente a prova a capacidade de absorção das cidades, impondo a necessidade de sua ampliação sobre o território circunvizinho. No marco de um conceito radicalmente liberal de propriedade de solo, a expansão da área edificada das cidades era conduzida por um mercado imobiliário completamente desregulamentado e que, à falta de tecnologias de transporte urbano redutoras dos tempos de viagem casa-trabalho, se encaminhou para a superutilização do espaço e para o congestionamento ambiental. Uma ampliação da área urbana adensada, requerida pelas características do desenvolvimento capitalista industrial de então, entretanto, não seria possível sem a entrada em cena do transporte coletivo urbano. Até os anos 50 do século passado, entretanto, as potencialidades das tecnologias de transporte de passageiros eram bastante limitadas. A circulação das pessoas se fazia hegemonicamente a pé. Só uma ínfima minoria da população possuía carruagens a tração animal e poucos eram os que podiam pagar pelo uso das carruagens de aluguel. Os únicos meios de transporte intraurbano razoavelmente coletivizados eram os ônibus a tração animal, operados pela iniciativa privada sob licença municipal, em geral sem exclusividade, e que visavam principalmente aos mercados de deslocamentos entre as zonas residenciais periféricas e os centros comerciais, ou seja, às demandas da classe média mais bem aquinhoada. Esses serviços certamente foram responsáveis (Muller, 1986) por uma lenta ampliação da área urbana construída na direção de seu entorno imediato, ao mesmo tempo em que pequenos núcleos residenciais suburbanos foram se consolidando adjacentemente às estações da ferrovia a vapor, cujas primeiras linhas de longa distância — orientadas ao transporte de carga, mas com vagões para passageiros — haviam entrado em operação a partir da década de 1830. Implantação das ferrovias Orientada economicamente pelas necessidades de ampliação geográfica dos mercados para uma produção industrial massiva e geograficamente concentrada, a evolução científico-tecnológica nos transportes logo produziria seus primeiros avanços concretos, associando a força motriz do vapor ao suporte viário metálico. As ferrovias de longo curso passaram a representar, aí pelos anos 40 do século XIX, um negócio extremamente lucrativo e para o qual se dirigiram grandes montantes de capital privado. Sob a égide política do liberalismo governamental, a infra-estrutura e a operação ferroviária seriam a princípio tratados como quaisquer outros empreendimentos privados: a intervenção do Estado era a mínima possível, requerendo-se sua presença para aplainar as condições de contorno ao investimento. O licenciamento dos Poderes Públicos era entendido tão somente como uma forma de garantir o uso das terras necessárias à implementação da via permanente e das estações. Exercia-se a atuação policial do Estado na proteção à propriedade e ao negócio privado, embora algumas vezes as próprias companhias ferroviárias fossem autorizadas a manter corpos de vigilância e segurança. Com efeito, o desenvolvimento do negócio ferroviário se deu, ao longo de boa parte do século XIX, no âmbito exclusivamente privado. Linhas ferroviárias concorrentes foram licenciadas e nenhum mecanismo público regulatório de vulto era implementado, operando-se os empreendimentos, em geral, sem qualquer restrição à liberdade das empresas em termos de políticas de preços, quantidade e qualidade de serviço. Pode-se afirmar que, nesse período inicial, o desenvolvimento ferroviário foi completamente orientado pelas forças livres de mercado. Nesse quadro, era permanente o estímulo à inovação gerencial e, de fato, como lembra Ramos (1998), as ferrovias foram pioneiras na implantação de novas técnicas de captação de recursos e de gerenciamento da produção. Para Button (1993), nas primeiras décadas de sua existência, as ferrovias inglesas e norteamericanas apenas participavam do rol de preocupações dos Governos liberais, no sentido de que o envolvimento dos Poderes Públicos estava ligado fundamentalmente a garantir a construção e operação das infra-estruturas. Rioux (1972) busca uma explicação para esse fato na cadeia produtiva das ferrovias, ressaltando que o papel das encomendas das companhias de transporte ferroviário na expansão econômica e tecnológica das industrias de base — a siderúrgica e a metalúrgica. Assim, os Governos nacionais conferiam as licenças liberalmente e evitavam interferir nos negócios ferroviários tendo em vista seus efeitos benéficos na economia em geral. Por outro lado, as ferrovias se prestavam muito bem ao exercício da captação de poupanças individuais, através da emissão de ações e debêntures pelo setor bancário, uma vez que os prazos de retorno eram elevados e os riscos de competição redutora de lucros não eram até então patentes. Os muitos mercados abertos à maior produtividade e menores fretes ferroviários (comparativamente às estradas de rodagem e mesmo aos canais) resultavam em grandes possibilidades de que os empreendimentos ferroviários fossem bem sucedidos comercialmente. Evidentemente, houve diferenças algo significativas entre as políticas de Governo para as ferrovias em diversos países, notadamente em função que elas adquiriam no desenvolvimento comercial e industrial de cada um deles. O liberalismo inglês face às ferrovias passou a coexistir, por efeito do Railway Act de 1844, com uma incipiente regulamentação de tarifas máximas — aplicada a uma viagem ao dia útil, com parada obrigatória em todas as estações (Wistrich (1983) —, associada à opção de compra pelo Estado de novos empreendimentos ao fim de 21 anos de operação (Klein & Roger, 1994). Nos Estados Unidos, já em 1856, alguns estatutos ferroviários estaduais previam limites à liberdade de fixação de preços ou às taxas de retorno das companhias. Países de maior tradição intervencionista, como a França ou a Alemanha unificada, ainda que mantivessem políticas liberais de licenciamento, costumavam impor obrigações às companhias ferroviárias — amplitude da malha, por exemplo — em troca de participação no financiamento infra-estrutural e garantias de rentabilidade mínima (Rioux, 1972). Não obstante esses primeiros mecanismos de intervenção pública nas liberdades econômicas dos empreendedores ferroviários — mecanismos que podem mesmo ser vistos como antecessores das sistemáticas regulatórias que mais tarde incidirão sobre os negócios de transportes —, pode-se afirmar que as políticas públicas a eles concernentes mantinham características francamente liberais (Stoffaes, 1995). Mas a expansão da malha e, portanto, a redução da lucratividade marginal das ferrovias traria, na segunda metade do século passado, duas conseqüências importantes para a indústria: em primeiro lugar, a queda progressiva nos lucros foi instaurando cada vez mais a tendência empresarial ao desfrute das condições de monopólio pela via dos abusos e da discriminação de preços; em segundo lugar, os diferenciais de lucratividade entre companhias, associados à necessidade de altos reinvestimentos em vias permanentes e equipamentos já próximos de esgotarem suas vidas úteis, trouxeram ao setor ferroviário uma dinâmica empresarial concentracionista que aprofundava a estrutura monopolista dos mercados. De fato, as companhias ferroviárias anteciparam a onda de fusões, aquisições e incorporações que deu a tônica da indústria nas últimas décadas do século XIX (Bell & Clocke, 1990). Também antecipando-se a desenvolvimentos posteriores da legislação geral, a Lei estado-unidense de Comércio Interestadual de 1887, específica para as ferrovias, proibia os acordos entre empresas, o estabelecimento de tarifas de monopólio e a prática de diferenciação de preços (Bulgarelli, 1996), além de conferir à Comissão Reguladora poderes para controlar a entrada e a saída de empresas no setor. Em 1894, as tarifas praticadas pelas ferrovias passaram a ser passíveis de revisão pelas autoridades norte-americanas, em defesa dos usuários do transporte de cargas. Progressivamente, desenvolvia-se conceitual e legislativamente a noção de public utility como elemento básico da cultura regulatória anglosaxônica nos transportes, inspirada pela necessidade de controle público do monopólio natural exercido por instituições privadas. Na Inglaterra, a apreensão com respeito às práticas monopolistas das ferrovias levou, segundo Button & Gillingwater (1986), à edição do Railways Act de 1875, que delegava ao Poder Público competência controladora sobre as tarifas e fretes. Ao mesmo tempo, nos países da Europa continental, ganhava contornos mais bem definidos o conceito de service public, a partir da fixação de obrigações contratuais cada vez mais rígidas às companhias privadas operando em regime de exclusividade territorial (Stoffaes, 1995) ou de sua nacionalização, como na Alemanha em 1879. Essa evolução das técnicas e dos sistemas regulatórios no campo dos transportes foi incorporada rapidamente à provisão concessionada dos serviços de transporte urbano, cuja expansão começa a ser sentida mais fortemente a partir da introdução no setor das tecnologias mecanizadas, na década de 1880. Os primórdios do transporte urbano de massa Ao redor da metade do século passado, o desenvolvimento industrial já fizera das cidades o loci privilegiado da acumulação capitalista. Desse fato decorria uma visível necessidade de transformar as estruturas urbanas, herdadas do medievo e desorganizadas por quase um século de crescimento em bases estritamente liberais, no sentido de conferir-lhes mais eficiência no desempenho de suas novas funções. Nesse contexto, além das necessárias medidas higienizadoras — abastecimento de água potável, saneamento básico, iluminação pública etc —, ressaltava-se a carência de tecnologias eficientes e racionalmente exploradas de transporte coletivo, meios essenciais para possibilitar a expansão territorial das áreas adensadas e, ao mesmo tempo, garantir a mobilidade casa-trabalho dos operários fabris. A tarefa de reconstrução urbana, tal a sua magnitude, dificilmente poderia ser levada a cabo por agentes de mercado, vez que implicava a mobilização de recursos vultosos a serem aplicados de forma coordenada. Exemplar em todos esses aspectos, a reconstrução haussmanniana de Paris (1848-1865) representou uma demonstração cabal das possibilidades de concretização de planos urbanísticos formalmente concebidos para adequar a infra-estrutura física urbana às exigências colocadas pela nova economia industrial capitalista. Também no que concerne aos transportes de passageiros, a estratégia utilizada em Paris foi de certa forma precursora com respeito ao papel dos Poderes Públicos locais. Indisponíveis as tecnologias mecanizadas que surgiriam com a eletrificação do transporte sobre trilhos, Haussmann incentivou uma coordenação geral dos serviços então produzidos por um sem-número de pequenas companhias de ônibus e bondes a tração animal — estimulando a substituição dos primeiros pelos segundos, mais eficientes e rápidos —, por meio da criação de sindicatos de operadores. Visava assim a integrar a produção de transporte, reduzindo os desperdícios e os excessos de competição entre os produtores licenciados pela municipalidade (Daumas e Larroque, 1977). São precisamente esses dois conceitos — racionalidade e coordenação anti-competitiva — que, mais tarde, foram constituir o arsenal de políticas regulatórias públicas dedicadas aos bondes eletrificados. A introdução extensiva da eletricidade nos serviços de transporte coletivo urbano teve lugar nas duas últimas do século XIX. Se, por um lado, uma larga reação ao laissez faire governamental já se havia instaurado na sociedade, e já se registrava a assumpção do Estado ao papel de coordenador do desenvolvimento econômico capitalista; por outro lado, a caótica situação da maioria das grandes cidades e o êxito da empreitada de Haussmann em Paris estimulava os Governos centrais e locais a adotarem posturas mais efetivas no sentido de reordenar o desenvolvimento urbano. O bonde eletrificado surgiu como uma opção de transporte tecnologicamente moderno e eficiente, capaz de apoiar o amplo desenvolvimento territorial das metrópoles sem quebrar-lhes a unidade funcional (Santos, 1989). Do ponto de vista dos grandes empreendedores privados, o bonde representava o laço de articulação entre o mercado imobiliário periférico à grande urbe e a distribuição de energia elétrica, um negócio verticalizado e altamente rentável: a curto prazo, a reconversão de áreas rurais adjacentes à cidade possibilitava recuperar rapidamente parcela significativa do investimento (Button, 1995); a médio e longo prazos, haveria sido criado um mercado cativo de consumidores de transporte e de eletricidade doméstica, capaz de garantir lucratividade sustentada. Dessa forma, como mostra Jones (1985), as companhias de bonde eletrificado nos Estados Unidos se estruturam rapidamente de forma monopolista, sob a égide de regulamentação protecionista: a concorrência, quando havia, se dava nos gabinetes, em busca de favores políticos para a obtenção de franquias exclusivas de rotas, por largos períodos, em mercados promissores. Para garantir esses mercados, as companhias aceitaram a fixação de tarifas máximas, publicamente anunciadas como forma de prevenir abusos de monopólio. Para prevenir-se de eventuais franquias concorrentes, em corredores paralelos, muitas empresas passaram a desenvolver densas malhas de serviço (barreiras à entrada) e adquirir pequenas franquias remanescentes da era do bonde a tração animal (Yago, 1984). O super-investimento decorrente dessas estratégias privadas seria um dos fatores fundamentais na queda de qualidade dos serviços, cuja consequência imediata foi o aprofundamento do rigor regulatório das autoridades públicas: prescrição de equipamentos, extensão de rotas, tarifas não reajustáveis. O bonde logo se revelaria como o produto de menor margem de contribuição nos negócios verticalizados das companhias, as quais passaram a priorizar outros investimentos — mais rentáveis, menos sujeitos à regulamentação de preços e serviço, como a eletricidade, e também não submetidos à competição do emergente transporte automobilístico privado. Diferentemente dos Estados Unidos, a intervenção pública nos negócios de transporte urbano na Grã-Bretanha não foi estritamente um fenômeno reativo à má qualidade dos serviços. Orientados pela experiência regulatória com as ferrovias de longo curso, a imposição de obrigações de serviço e o temor de competição ruinosa ou de guerras de preços, com severas repercussões sobre a segurança circulatória e a continuidade da provisão (Nash, 1982), levaram as autoridades britânicas a assegurar condições de exclusividade mais estáveis para o processo de eletrificação do transporte urbano. Ressalte-se que nas últimas décadas do século XIX, já se exercitava na Grã-Bretanha um controle público do desenvolvimento urbano e, portanto, a expansão territorial da cidade não ficava tão somente a cargo dos promotores imobiliários privados. O bonde eletrificado, então, se enquadrava em um projeto público de reordenação urbanística, embora tanto a produção de transporte quanto a requalificação de periferias e subúrbios se realizasse, em geral, com base em capitais privados. Inclusive, no limite, algumas municipalidades britânicas assumiram totalmente o transporte público eletrificado — Vuchic (1981) cita como pioneira a experiência de Glasgow, em 1884. Assim, o transporte urbano, regulamentado ou estatizado, se integrava de forma mais ou menos articulada na Grã-Bretanha do final do século passado ao esforço de reconversão urbanística, seguindo os passos apontados pela Paris de Haussmann. Certamente, a experiência francesa de tratar as redes técnicas urbanas como serviços públicos concedidos por meio de contratos de construção e/ou operação, criou eficientes mecanismos de vinculação dos bondes às necessidades de expansão urbana. Nesses contratos, nos quais o Estado aportava parte ou a totalidade dos investimentos em infra-estrutura — concessão —, às vezes os equipamentos — affermage — e às vezes produzia todo o serviço por administração — régie — (Stoffaes, 1995), os privilégios de exclusividade por prazo certo estavam contrabalançados pela regulamentação de tarifas, rotas e equipamentos. A provisão pública de serviços públicos locais de transporte, excepcional nos casos francês e britânico, foram entretanto a regra da eletrificação dos bondes e trens de subúrbio alemães, sob o impulso de uma cultura bismarckiana promotora de conglomerados privados e de forte intervenção estatal promotora do desenvolvimento (Yago, 1984) — o que incluía, por certo, a prática de subsídio público ao transporte coletivo municipalizado. O ESTADO DE BEM-ESTAR E O TRANSPORTE URBANO Observe-se que, embora guiando-se por diferentes matrizes culturais, a evolução das relações entre o Estado e os transportes urbanos na era de surgimento e expansão das redes eletrificadas de bondes sinalizava claramente para uma intervenção pública no setor progressivamente mais abrangente. Essa intervenção crescente já refletia alguns dos elementos conceituais básicos que configurariam a essência intelectual e a atuação microeconômica do Estado do Bem-Estar, predominante no século XX, quais sejam as funções estabilizadora, redistributiva e alocativa da intervenção pública na economia. No âmbito da produção de transporte urbano, pode-se perceber o exercício da função estatal de fomento e estabilização do crescimento econômico na medida em que a compreensão de que a dinâmica econômica capitalista, neste século, esteve intimamente ligada à funcionalidade e à eficiência da circulação intraurbana de pessoas e bens. Tal dependência, já percebida na segunda metade do século XIX, foi se acentuando na medida em que cresciam os índices de urbanização e, concomitantemente, as parcelas da renda nacional geradas no setor secundário (Boyer, 1983). Nesse quadro, como demonstram Chapoutôt & Gagneur (1973), os transportes, especialmente o transporte urbano de pessoas, seriam entendidos como um insumo da produção capitalista — com forte influência sobre os níveis de custos e preços da economia nacional e, consequentemente, sobre a competitividade dos distintos países no mercado mundial —, sendo suas racionalidade e eficiência requeridas para alimentar e agilizar o processo de acumulação de capital na indústria. Por outro lado — primeiro com a metalurgia e a siderurgia básicas para a expansão ferroviária, depois com a indústria da eletricidade para o boom dos bondes e trens eletrificados, e mais tarde com o setor automobilístico e a construção civil impulsionadas pela explosão rodoviarista —, os transportes se constituíram em um setor de alta significação pela dinamização das atividades industriais a montante, como também por sua própria importância na geração de oportunidades de investimento, de emprego e de renda (Orrico et al., 1997). Todos esses fatores, enfim, inseriram o setor transportes, em particular os transportes urbanos, na pauta das políticas macroeconômicas do Estado do Bem-Estar. No que se refere à função redistributiva, os transportes em geral foram entendidos como elemento importantes para as políticas de redução de diferenças interregionais de renda, na medida em que a incorporação de territórios economicamente deprimidos ao mercado nacional era tida como fator do desenvolvimento social integrado do país (o conceito francês de coesão nacional que, na visão de Stoffaes, 1995, estabelece vínculos entre o Estado do Bem-Estar e a noção de services publics, de uma parte, e o ideário da Revolução Francesa). No plano urbano, verifica-se que a função redistributiva é atribuída aos transportes por seu papel na oferta de acessibilidade generalizada aos mercados de serviços pessoais, do comércio e de mão-de-obra da cidade, com repercussões significativas sobre a qualidade de vida da população e, ao mesmo tempo, sobre a dinâmica da economia local. Quanto à função alocativa, a intervenção estatal nos transportes urbanos foi inicialmente marcada pela hipótese, bastante bem analisada por Nash (1982), de que a produção de transportes coletivos em livre regime concorrencial levaria inevitavelmente ao excesso de competição e seus corolários: a superoferta e as guerras ruinosas de preços. A experiência negativa com os trilhos urbanos eletrificados nos Estados Unidos, que secundara historicamente as prejudiciais disputas entre ferrovias naquele país e na Inglaterra, dava as justificativas necessárias para que os Governos passassem a lançar mão de controles de entrada no mercado, por meio de contratos de exclusividade operacional em corredores, compensada por obrigações de expansão de rotas, de tarifas máximas e de indiferenciação de tratamento. Essas primeiras injunções anticompetitivas no mercado, entretanto, redundavam em freqüentes situações de abuso de poder de monopólio, o que obrigava aos Poderes Públicos à adoção de práticas regulatórias mais intrusivas em prol do interesse público. A evolução dessas práticas, nos transportes urbanos hegemonizados pelas companhias de bondes, se dá com base em dois conceitos: o de coordenação operacional e o de monopólio natural. A síntese conceitual veio a se concretizar com a assimilação dos serviços de transporte urbano a uma rede técnica, impulsionada pelo interesse governamental em generalizar a acessibilidade, de modo funcional, a todos os rincões da geografia da cidade. Nessa direção, convergente com os interesses de integração horizontal e vertical dos grandes empreendedores do setor, a rede de bondes elétricos seria mais eficiente na produção dos serviços se delegada integralmente a um único provedor, “naturalmente” monopolista, sob a tutela de organismos reguladores, fossem esses da Administração direta (modelo europeu-continental) ou independentes (modelo norte-americano). Aplicou-se então à rede de bondes uma estratégia regulatória concebida a partir do conceito de monopólio natural: como a produção integrada se dava com retornos crescentes de escala, e os prazos de maturação das inversões era elevado, o regime de monopólio natural regulamentado parecia apropriar, para o público consumidor e a sociedade em geral, as vantagens das economias derivadas do porte da rede de serviços, e ao mesmo tempo inibia possíveis abusos monopolísticos do produtor. Com o surgimento, no primeiro terço do século, das tecnologias de transporte automotor, trazendo à cena a competição intermodal ônibus-trilhos, três novos elementos vão se somar à base intelectual do aparato regulador do Estado. De uma parte, as companhias ferroviárias urbanas, assim como as de transporte regional, estritamente regulamentadas em preços, qualidade e quantidades de serviço, passaram a perder parcelas de mercado para a nova tecnologia, ainda em gozo de relativamente maior liberdade comercial (Button, 1995), quando não operadas à margem dos regulamentos. Em segundo lugar, o veículo automotor, circulando livremente no sistema viário, era um claro produtor de externalidades ambientais — inclusive riscos de acidentes de tráfego — e beneficiário de infraestrutura cuja provisão era, em geral, pública. Por fim, o transporte rodoviário praticamente não apresentava rigidez de rota, quebrando em sua base física a articulação entre os desenvolvimentos do transporte e do adensamento urbano. A proteção às redes de bondes seria então entendida como um ato em prol do interesse público, cuja concretização se deu na forma de uma regulamentação protetora das ferrovias, incidente sobre a nascente produção de serviços rodoviários de transporte urbano na forma de controles rígidos de entrada no mercado, fixação de tarifas e supressão da liberdade de operar livremente rotas ou corredores já servidos pelos trilhos. Na Europa, em alguns casos, essa regulamentação simplesmente estendia às companhias de bonde o monopólio sobre os novos serviços de ônibus, ampliando a noção de rede “naturalmente” monopolizada. Nos Estados Unidos, segundo Jones (1985), algumas Comissões regulatórias procederam nessa direção, mas também registram-se casos em que estimulou-se a competição dos operadores independentes de ônibus para reforçar a posição das autoridades nas negociações com as companhias de bonde. Nesses casos, as companhias passaram a operar redes suburbanas de ônibus, complementares aos bondes, seja criando subsidiárias, seja adquirindo as empresas familiares de transporte rodoviário. Entretanto, aí pelos anos 20 e 30, os problemas financeiros das ferrovias já eram agudos. Nos países em que o modelo privado de public utility produzida por monopólio regulamentado era a tônica da expansão dos bondes, como nos Estados Unidos, a tendência clara foi a substituição tecnológica, com o desaparecimento progressivo dos trilhos urbanos e a ascenção dos ônibus à condição de modo hegemônico de transporte urbanos, de modo análogo ao que sucedia com as ferrovias de longo curso, vencidas pela competição do ônibus intermunicipal de passageiros e do transporte rodoviário de cargas, um processo acentuado mais tarde com o desenvolvimento da aviação comercial. Já na Europa, o processo de substituição da ferrovia pela rodovia foi atenuado. Conquanto aí a tipologia regulatória seguia uma orientação conceitual de service public, com regulamentação pública incisiva no tocante a preços máximos e obrigações de rotas e freqüências, dois elementos novos haviam sido gestados pela prática de intervenção governamental: • a introdução de garantias de receitas (ou de cobertura de custos), aplicável em geral ao transporte ferroviário comercialmente atingido pela concorrência agressiva dos modos rodoviários; e, • a estatização dos sistemas sobre trilhos, proposta e executada com êxito em Glasgow (1884), adotada amplamente na Alemanha e, posteriormente, de modo progressivo, em vários países europeus. A regulamentação com base no conceito de serviço público suprimia amplamente as liberdades comerciais das companhias, uma vez que o design operacional dos serviços ficava fortemente limitado pelas obrigações de serviço público concedido e as tarifas estavam limitadas a um máximo, quando não estritamente fixadas. Essa intervenção governamental dos serviços, evidentemente, seguia uma orientação política cujos alicerces intelectuais eram a compreensão do transporte urbano como um bem público (ou de mérito), a ser estendido a toda a população, e o entendimento de que a continuidade e a amplitude da rede de serviços era vital para o bom desempenho funcional das economias urbanas e para a qualidade de vida dos cidadãos. Portanto, as garantias de cobertura dos custos, observadas rigorosamente as condições tecnológicas e operacionais da prestação de serviços, eram vistas como uma obrigação do Estado na mesma medida em que este, excluindo as forças de mercado do planejamento e da operação do transporte urbano, assumia as decisões concernentes ao projeto operacional da rede, inclusive no que respeitava à política tarifária. Em conseqüência, os deficits de operação deveriam ser cobertos pelo conjunto da sociedade, na medida em que os benefícios de um transporte urbano eficiente se configuravam como vantagens socializadas, disseminando-se os seus efeitos positivos por todos os agentes sociais e econômicos da cidade. Entretanto, além dos subsídios governamentais, essa ação estatal em prol do interesse público impunha elevados custos de transação quando a produção do transporte era privada. Se a sociedade aportava subsídios à produção privada de transportes, parecia natural que o Estado construísse um arcabouço fiscalizatório potente, capaz de apurar com precisão o custo do serviço e de assegurar a fidedignidade da produção com respeito ao que se havia fixado no projeto operacional. Como essa percepção se manifestava em um momento de crise financeira das companhias privadas operadoras, que se desinteressavam do negócio, a estatização da produção de transporte, em particular do transporte urbano, não enfrentou grandes resistências, até porque a marcha das relações entre o Estado e a economia havia instituído a necessidade de um Estado, em larga escala, produtor de bens e serviços estratégicos para a economia nacional, apropriando para os tempos de paz o caráter abrangente da presença do Estado durante períodos de guerra. Cada país, por certo, em função de suas particulares condições, desenvolveu um modelo institucional próprio para os transportes urbanos, entre a encampação municipal e a nacionalização. Mas o fato é que, entre princípios do século e o pós-Guerra, a produção de transporte público nos países europeus foi progressivamente sendo assumida pelo Estado, através de agentes diretos ou de empresas estatais independentes. A ocorrência desse processo na Grã-Bretanha, tradicionalmente vinculada ao conceito de public utility, merece ser ressaltado: mais do que na França do serviço público e do Direito Administrativo — que manteve o monopólio privado regulamentado na maioria de suas conurbações de province (Troger, 1995) —, a presença dos Poderes Públicos ingleses na produção de transporte urbano foi ao ponto de quase suprimir por completo a empresa privada. Por outras linhas, mas atingindo o mesmo ponto, evoluiu o modelo regulatório norte-americano para o transporte urbano. Como mostra Jones (1985), poucas eram as cidades dos Estados Unidos, na década de 50, que praticavam alguma forma de subsídio direto às empresas operadoras. A norma ainda era a propriedade privada, sujeita ao controle público da operação e da contabilidade (devido à regulamentação baseada em uma taxa admissível de retorno máxima). Mesmo a grande maioria das empresas públicas formadas para encampar companhias privadas falidas operava sem deficits de caixa. Mas essa aparente saúde financeira generalizada se dava principalmente em função de uma redução dos serviços, à época já hegemonizados pelo transporte público por ônibus e sob a pressão de constante e crescente perda de demanda para o automóvel privado. Nesse quadro, requeria-se a presença do Estado para promover a recuperação dos serviços de transporte coletivo, tendo em vista a ausência de atratividade para novos investimentos privados no setor. A decisão congressual de prover fundos federais para subsidiar a encampação e a melhoria dos serviços foi, de certa forma, galvanizadora de um processo que culminaria nos anos com uma quase completa absorção dos operadores privados por autoridades regionais de transporte (Wilson, 1991). De forma análoga ao que ocorrera antes na Europa, o Estado, também nos Estados Unidos, passara a ser o responsável pela formulação de políticas, pelo planejamento e projeto da rede e pela produção de serviços de transporte público — sejam eles executados por instituições públicas ou por organizações privadas, sob delegação — nas cidades e áreas metropolitanas. Essa intervenção abrangente, por certo, se orienta por uma fundamentação econômica que é analisada na sub-seção a seguir, com o objetivo de apresentar os pontos sobre os quais incidiriam, nos anos 70/80, as principais críticas à atuação do Estado do Bem Estar nos transportes urbanos. Fundamentos econômicos da intervenção estatal nos transportes urbanos Como já se detalhou anteriormente, a hipótese básica de trabalho da análise microeconômica é o modelo de concorrência perfeita: a auto-regulação dos mercados propiciando máxima eficiência produtiva e a otimização alocativa de recursos sociais. O equilíbrio (de longo prazo) entre oferta e demanda se daria a um preço equivalente ao custo marginal. Nessa situação, também seria alcançada a maximização da utilidade social agregada, de modo que nenhuma ação pública seria necessária no mercado. A aplicação dos conceitos acima ao mercado de transportes urbanos supõe a adoção, para essa atividade, das hipóteses fundamentais do modelo de concorrência perfeita. Uma análise das especificidades do processo de produção e consumo de transportes coletivos urbanos, entretanto, põe em relevo algumas importantes ressalvas a esse modelo. Em primeiro lugar, a premissa da livre escolha do consumidor não se verifica na maioria dos mercados locais de transporte público. Ainda que se possa admitir que, para boa parte dos consumidores potenciais do serviço, é possível optar entre viajar ou não, ou mesmo entre viajar em modos coletivos, em automóvel ou a pé, não resta dúvida de que, para outra boa parte dos usuários, esta possibilidade de opção não se coloca. Aos usuários cativos, a viagem em um modo de transporte público será um meio insubstituível para que se concretize o papel que lhes reserva a sociedade, diante da indisponibilidade de outros modos — públicos ou privados — de transporte e da inércia relativa das decisões de localização espacial de moradia e trabalho. Por outro lado, a hipótese da plenitude de informação é de difícil realização em um livre mercado de transportes urbanos. Características peculiares do produto não permitem que o consumidor tenha conhecimento prévio de todas as conseqüências que lhe advirão da decisão de consumir ou não este ou aquele serviço ofertado — com o que fica diminuída sua capacidade de decisão racional, baseada nas utilidades esperadas de cursos de ação alternativos. Não permitem, outrossim, que o consumidor tenha a certeza, ou sequer possa contar com a possibilidade, de que haverá uma oferta seguinte do produto que lhe interessa, em caso de que não aceite a que lhe é ofertada em um dado momento. Portanto, a hipótese de um mercado de transportes urbanos auto-regulado não encontra sustentação nem mesmo no plano dos pressupostos fundamentais do modelo de concorrência perfeita. Mesmo assim, supondo seu funcionamento em regime de livre competição, o mercado de transportes urbanos apresentaria disfunções que comprometeriam a eficiência econômica da produção e da alocação de recursos. Tais disfunções — falhas de mercado — reclamariam a presença reguladora do Estado, sendo a principal delas o fato de o setor apresentar características de monopólio natural, com produção registrando retornos crescentes de escala e, portanto, sub-aditividade de custos. Essa seria uma falha estrutural de mercado, por si só importante e suficiente para justificar a regulamentação estatal da atividade. Posições discordantes da naturalidade do monopólio em mercados de transportes urbanos observam, entretanto, que outras características da indústria também dariam suporte à intervenção pública. Exclusividade da informação ou economias potenciais de escala e escopo seriam também elementos presentes no mercado, e serviriam para erigir barreiras à imigração de capitais. Por outro lado, a diversificação do produto no espaço e no tempo caracterizaria uma estrutura econômica tendente, ao menos, à concorrência monopolística. Além dessas falhas referentes à estrutura do mercado, ressalta-se que a existência de externalidades no mercado é um fato. Os custos de produção — e, conseqüentemente, os preços — em livre mercado não refletiriam, por exemplo, a depreciação da infra-estrutura viária, meio escasso mas essencial da produção, nem os efeitos nas funções de custo dos demais produtores. Por outro lado, a operação de transporte urbano produz impactos negativos sobre o bem-estar de terceiros nãoconsumidores — contaminação atmosférica, ruído, congestionamentos — e há condições de ambiente produtivo — sistema viário, concentrações espaciais de demanda —, diferenciadas entre os fornecedores, agindo no sentido de reforçar tendências à concentração espacial do serviço, com efeitos às vezes negativos, às vezes positivos sobre o valor dos imóveis. Por outro lado, o consumidor será, em geral, incapaz de perceber e computar de forma satisfatória os riscos de uma decisão, tais são as incertezas sobre a viagem: são imprevisíveis os níveis de congestionamento ou ocupação veicular a jusante da rota, os eventuais acidentes de tráfego envolvendo o veículo, ou mesmo o comportamento do condutor. Deve-se mencionar que, historicamente, questões relativas às seguranças veicular e circulatória se constituíram nos primeiros e fortes motivos para a regulamentação estatal da circulação urbana. Por outro lado, o serviço de transporte urbano, quando operado livremente, também tenderia a produzir excesso de oferta. Os itinerários servidos seriam desnecessariamente longos, uma vez que cada fornecedor seria instado a oferecer alta capilaridade e cobertura espacial, o que, além de produzir capacidade ociosa em excesso, seria ineficiente do ponto de vista econômico. Lograr que se extraia da rede de serviços, através da coordenação tarifária e temporal da operação, racionalidade no uso de recursos seria um objetivo da presença tuteladora do Estado, seja para promover a conciliação entre interesses conflitantes dos fornecedores, seja para fomentar a articulação operacional entre eles. Nesse sentido, desloca-se o conceito de produto, do deslocamento singular adquirido por um consumidor para uma rede de serviços disponibilizados de forma agregada aos consumidores e por estes diferenciáveis tecnológica, temporal e espacialmente. Uma vez que se admita o entendimento do produto transporte público urbano como sendo um produto em rede, evidencia-se o caráter de monopólio natural da atividade. Nesse sentido, então, a regulamentação pública tende a ser exercida de modo a garantir a eficiência da rede, sejam os serviços produzidos por empresa estatal ou privada monopolista, sejam eles produzidos por diversas empresas. O caso clássico europeu é o de comando único da produção, por entidade pública ou, como na province francesa, privada. No caso de diversas empresas produzindo serviços em rede, esses serviços estariam articulados entre si pela atuação das autoridades públicas reguladoras no planejamento operacional. Como se verá adiante, foi essa última alternativa regulatória que se adotou no Brasil para os serviços de transportes urbanos, muito embora a posta em prática de tal alternativa regulatória, por questões institucionais, só tenha abrangido mais efetivamente os serviços de ônibus urbanos. Duas características emanam da regulamentação do transporte público como monopólio natural: por um lado, os serviços são produzidos sem a pressão de possíveis competidores, a menos que se inclua no rol dos concorrentes a autoprovisão do serviço, ou seja, o transporte privado; por outro lado, a supressão parcial ou total das liberdades comerciais da operadora monopolista supõe garantias de coberturas de custos de produção. Estes dois fatores estão no cerne da crítica que, nos anos 70, atingirá duramente o desempenho do Estado do Bem Estar nos transportes urbanos e estabelecerá as bases para profundas reformas regulatórias no setor. A REFORMA DO ESTADO NOS TRANSPORTES URBANOS A aplicação de estratégias regulatórias baseadas no conceito de monopólio natural nos transportes urbanos, fossem eles operados por empresas públicas ou privadas, deu origem a uma escalada dos volumes de subsídio e a custos crescentes de produção, não compensados pelo aumento da demanda e nem mesmo por níveis satisfatórios de serviço. Os críticos da onipresença estatal destacam o fato de que, públicos ou privados, os monopólios ou oligopólios protegidos de competição perderiam eficiência operacional, deixariam de ser eficazes — no sentido de que os objetivos estratégicos da sociedade (sociais, ambientais etc.) também não seriam alcançados — e, além disso, capturariam a regulamentação em seu próprio interesse. Nesse sentido, a reintrodução da arbitragem pelo mercado propiciaria a volta da competitividade, maior produtividade, racionalidade e eficiência dos serviços, adaptação de preços a custos, tudo isso sem perda de qualidade. Especificamente no que concerne aos serviços de ônibus urbanos, duas eram as correntes da crítica anti-estatal: uma que defendia que o transporte urbano por ônibus fosse tratado com base no modelo teórico de concorrência perfeita; outra, que propunha a utilização dos pressupostos da plena contestabilidade desse mercado, ainda mais porque não existiriam, no setor, economias significativas de escala. O papel do Estado seria apenas o de monitorar política e administrativamente o mercado, visando sobretudo a assegurar a competição (ao invés de controlá-la e restringi-la), corrigir eventuais distorções e garantir a segurança dos serviços. Claramente, a indicação de privatizar empresas estatais no setor foi e ainda está sendo seguida em muitos países. Mas os defensores do mercado entendem que a presença do setor público na regulamentação do setor e na definição do projeto operacional também deveria ser extirpada, ou severamente reduzida. Os casos da desregulamentação do mercado de ônibus urbanos em Santiago (anos 80) e em Lima (Peru; mais recentemente) são exemplos de uma atuação pública que tem por base a concepção de livre mercado em transporte urbano por ônibus. A experiência britânica de desregulamentação, por sua vez, está lastreada no conceito de contestabilidade de mercado. O papel do Estado ficaria restrito apenas a prescrever e licitar, junto a operadores privados, serviços julgados essenciais pela população mas que não fossem considerados atrativos pela iniciativa privada, cuja produção, nesse caso, deveria ser subsidiada. Já em Londres e nos países escandinavos, tem se aplicado uma reforma regulatória baseada ainda no conceito de rede em monopólio natural, escolhendo-se os operadores de cada trecho da rede de serviços através de processos licitatórios cíclicos. Uma breve análise dessas experiências, nas subseções a seguir, buscam verificar os impactos das reformas na estrutura da indústria. A experiência chilena de desregulamentação No caso da desregulamentação chilena — cujo embasamento conceitual se vincula à possibilidade teórica de que o regime de livre concorrência leve à obtenção de máxima eficiência na alocação de recursos e de ótimos de bem-estar coletivo —, a competição entre os agentes produtores e a relação oferta-demanda seriam responsáveis pela total definição dos parâmetros do serviço e pela estrutura de mercado prevalecente. Tratava-se, portanto, de estabelecer a primazia completa do mecanismo de livre mercado na produção dos serviços. Os resultados obtidos em Santiago enfatizaram, entretanto, que a implantação da livre concorrência em transporte público, com a total abstenção regulamentadora dos Poderes Públicos, é restringida pela formação de cartéis: as associações de operadores passaram a regular a entrada no mercado e a definir preços em função dos custos dos operadores menos eficientes. Por outro lado, a oferta se expandiu de forma caótica, concentrando-se na área central e produzindo grandes congestionamentos e contaminação ambiental. A perda de noção de rede de serviços foi evidente — como demonstra a competição entre operadores de ônibus e o Metrô de Santiago —, muito embora as estratégias e a atuação das associações estivesse voltada à totalidade do mercado metropolitano. Os maus resultados levaram a que, em uma segunda etapa do processo chileno, o papel regulador do Poder Público fosse retomado de forma sutil, através da introdução das licitações de vias como forma de induzir a rede de serviços a um equilíbrio funcional. Com a pré-definição de alguns parâmetros do serviço, ademais, o Estado chileno passou a exigir eficiência do operador para que ele tenha o direito de estar presente no mercado. O modelo regulatório dual da Grã-Bretanha No caso da experiência britânica, o fundamento teórico se associava à contestabilidade dos mercados de ônibus urbanos, definidos estes no plano de cada itinerário. Buscava-se exigir dos incumbentes que operassem a nível máximo de eficiência técnica e a preços equivalentes ao seu custo médio, única forma de evitar uma entrada que o deslocasse. Verificou-se, entretanto, que nos serviços ditos comerciais (sem subsídio público à operação) as entradas bem sucedidas foram pouco significativas, concentrando-se mais na diferenciação de serviços (nichos de mercado) do que na competição direta nas ruas (competição no mercado). Os grandes operadores já estabelecidos lançaram mão de severas intimidações à entrada, principalmente baseadas na oferta de serviços em rede, com sistemas de passes e abundante informação ao usuário, no conhecimento do mercado e na sua boa reputação. Além disso, em uma fase posterior, as grandes empresas buscariam estratégias de fusão e aquisições que a elas permitisse uma maior presença no mercado, não mais a nível local e sim no plano nacional. Em conseqüência, possíveis desafiantes às empresas estabelecidas refugiaram-se naqueles serviços licitados (planejados e subsidiados pelo Poder Público), onde a competição se dava pelo direito de operar e não diretamente pelo usuário. Esta estratégia regulatória (competitive tendering), também em implantação progressiva para a rede de serviços na área metropolitana de Londres, parece haver permitido uma maior contestação à dominância dos operadores estabelecidos. Os serviços licitados têm menores riscos e custos de entrada, e neles diminui a importância do conhecimento prévio do mercado e da reputação da empresa, pois os serviços são planejados pelo Poder Público, que também incorre nos custos de divulgação. Com efeito, as empresas menores se refugiaram neste tipo de regime regulatório e que, daí, foi possível obter no mercado londrino um menor grau de concentração empresarial. Por outro lado, ainda no caso britânico, operadores que obtiveram posições dominantes em corredores de alta demanda passaram a lançar mão de estratégias mono(oligo)polistas de fixação de preços e descontos — inclusive com a prática de subsídio cruzado —, como bem demonstra o fato de as tarifas terem crescido apesar da redução dos custos por passageiro. Este resultado aponta claramente que, diferentemente do que prediz a teoria da contestabilidade, a competição virtual pelo passageiro não redunda em efeitos sobre preços que sejam equivalentes aos que se obteriam em regime de competição real, uma vez que as empresas incumbentes mantêm maior rentabilidade — lucros monopolistas — enquanto não se vêem real e diretamente ameaçadas com respeito à sua posição no mercado: em se concretizando essas ameaças, dispõem da possibilidade de praticar preços menores como forma de predação ante os desafiantes. Londres e Escandinávia: entre o planejamento e o mercado Os resultados da experiência britânica parecem demonstrar a inadequação do tratamento dos mercados de ônibus urbanos como mercados contestáveis. No caso dos países escandinavos, à frente a Suécia, a reforma regulatória em curso foi inspirada pela experiência de Londres: baseia-se na possibilidade de construir a contestabilidade no plano do mercado por contratos de operação de serviços programados pelo Poder Público. A competição na Escandinávia se dá, na forma de licitações por mínimo custo operacional, por contratos de operação exclusiva, com vigência por um período improrrogável que vai de 3 a 5 anos (até 8 anos, no caso finlandês). Andersen (1992), analisando resultados parciais da reforma regulatório sueca, põe em relevo a redução de custos da ordem de 10%. Os operadores públicos, agora submetidos às mesmas condições que os privados, têm sido superados em algumas licitações por propostas de operadores privados; mas têm superado estes em outras. O balanço geral aponta um crescimento da participação de operadores privados no mercado, registrando-se um crescimento do tamanho médio da operadora, com o surgimento de grandes empresas atuando em plano nível nacional e em expansão para outros países, como a Dinamarca. A tendência, portanto, é na direção de uma maior concentração, em parte explicada pelo fato de que a frota média por operador privado na Suécia era, em 1988, de apenas 9 veículos. Em contrapartida, as propostas dos licitantes em sucessivos certames vêm mostrando uma redução progressiva dos custos operacionais, o que indica, por um lado, a existência de economias de aprendizado e escopo e, por outro, a eficácia da política pública em sustentar a competitividade no setor (o que só poderá ser plenamente comprovado quando decorrido um maior tempo de implementação do novo regime institucional). Cabe salientar que as licitações suecas se tornaram, com o tempo, mais e mais prescritivas (Banister e outros, 1992), suprimindo, no limite, quaisquer ações de forças de mercado na definição de itinerários, freqüências e outros elementos da programação dos serviços, o que estabelece limites claros à redução dos custos operacionais por passageiro. O caso sueco parece indicar a possibilidade de que o conceito de contestabilidade venha a ser traduzido adequadamente no plano da competição para o acesso ao mercado, embora com a ressalva de Berechman (1993) de que os resultados obtidos pelo regime de tendering são fortemente dependentes de injunções políticas, da qualidade do design da rede de serviços e das licitações, bem como da monitoração de performance da incumbente. Pode-se acrescentar a estes condicionantes a estrutura de mercado anteriormente estabelecida, a qual é fator relevante na determinação, ao menos a curto e médio prazos, dos níveis de contestação a que serão submetidas as empresas dominantes da indústria. Algumas conclusões A análise dos casos referidos permite adiantar algumas conclusões, ainda que preliminares, a respeito da aplicabilidade do conceito de contestabilidade de mercado ao setor de ônibus urbanos, seja no plano singular do itinerário, seja na dimensão metropolitana ou a nível da indústria em sua totalidade. Definido o mercado como uma rota determinada, a pretensa contestabilidade, conforme demonstra o caso britânico, é quase plenamente anulada pelo fato de que as estratégias empresariais de preço e quantidades são delineadas de forma mais ampla, levando em conta, no mínimo, a estruturação produtiva em rede, forte característica do setor. Esta peculiaridade da indústria de ônibus urbano permite que empresas dominantes em um mercado local se apropriem de economias, se não as de escala, mas certamente de escopo, de rede, de informação e de densidade, para deter possíveis entradas ou predar competidores de menor porte. Neste caso, a contestabilidade não é sustentável, pois mesmo que nas primeiras fases do processo de desregulamentação se verifique um afluxo de novos entrantes no mercado, este tende a constituir um oligopólio suficientemente protegido de contestação. Assim, a competição deveria dar-se no plano de um maior complexo de serviços integrados e, portanto, os pressupostos de livre entrada e custos irrecuperáveis não significativos já não mais se verificariam. O mercado local de ônibus urbanos, portanto, não seria naturalmente contestável, apresentando elementos de competição imperfeita que requereriam algum tipo de regulamentação econômica. Decorre desta conclusão o crescimento da opção por tipologias regulatórias apoiadas em licitações (competitivetendering) pelo direito de operar partes da rede de serviços planejada pelo Poder Público. Nesta opção, supõe-se que o Poder Público necessita e é capaz de desenhar uma política regulatória pró-competição e indutora de ganhos de produtividade e melhoria de qualidade na produção dos serviços (até porque permanecem vigentes o reconhecimento do transporte público como elemento de estruturação funcional urbana e a compreensão do seu papel no desempenho econômico, social e ambiental das cidades). É evidente que há riscos inerentes a este tipo de política pública (ver Berechman, 1993, para uma boa discussão sobre o tema). Pode-se citar, a princípio, a possível captura da regulamentação pelos incumbentes — influência sobre os Editais de licitação —, as injunções políticas e a ineficiência das corporações reguladoras. Cumpre, porém, lembrar que estes riscos estão presentes também na regulamentação clássica do tipo franchising. Por outro lado, cabe salientar a possibilidade de inadequação do tipo de licitação adotada, tendo em vista o tamanho do mercado, a presença de modos de transporte público de massa operando no mercado, a estrutura empresarial vigente e a possibilidade de colusão entre os licitantes, bem como a dinâmica urbanística específica em cada caso. Questões como a propriedade de garagens e terminais, os prazos de contrato, o tamanho dos lotes de serviço licitados, as exigências de capital imobilizado e outras são cruciais para que se possa realmente construir uma permanente contestação aos operadores incumbentes, de modo que estes venham a elaborar e implementar estratégias de permanência no mercado que sejam consoantes com os interesses dos usuários e o interesse público em geral, ao invés de permanecerem atuando de forma a exclusivamente garantir sua presença no mercado via supressão ou intimidação de competidores potenciais. Por fim, é importante mencionar que, conforme pode-se verificar nos casos britânico e escandinavo pós-reforma regulatória, e também no caso clássico francês, a grande empresa de transporte público por ônibus tende — dadas a mobilidade do capital rodante, a disponibilidade de mão-de-obra operacional (semi-)qualificada e a similaridade tecnológica da produção ao largo do território nacional — a expandir seus negócios além dos mercados locais, constituindo-se como holding com atuação nacional (e até internacional) tanto em ônibus urbanos, quanto em interurbanos e de excursão. Tal possibilidade, decerto, abre espaço para maior concentração empresarial em um espaço econômico que transcende a capacidade regulatória dos poderes locais e, em conseqüência, requer que políticas antitruste para a indústria sejam concebidas e postas em prática a nível nacional, sob pena de oligopolização dos mercados de contratos de operação. ESTADO E TRANSPORTE URBANO NO BRASIL Nos primeiros passos da urbanização brasileira, que vai ocorrer de forma significativa somente nas últimos décadas do século XIX, par e passo com o incipiente processo de industrialização vivido pela economia do país, o transporte urbano foi, em geral, sendo produzido já com base nos bondes a tração animal. Como seus antecessores tecnológicos, os ônibus puxados por cavalos, o serviço era prestado por pequenas firmas particulares com base em licenças municipais mas sem maiores intervenções da Administração Pública no que concernia a rotas, freqüências ou tarifas. Paralelamente a esse processo, entretanto, foi sob a égide das obrigações de serviço público que se deu o desenvolvimento ferroviário primeiro do Brasil. Cabe a ressalva de que as ferrovias que se implantavam no país pertenciam a capitais estrangeiros, principalmente ingleses, e sua implantação, portanto, tinha uma característica singular: a experiência trazida pelos empreendedores de sua experiência européia. É possível que essa seja uma explicação para o fato de que, já em 1852, a autorização para a implantação de uma linha ferroviária entre o Rio de Janeiro e as províncias de Minas Gerais e São Paulo apresentava cláusulas típicas de serviços concedidos, quais sejam: privilégio de zona, tarifas fixadas em contrato, garantia de rentabilidade mínima ao capital e previsão de reversibilidade dos bens (Johnson et al., 1996). Em seu conjunto, essas cláusulas conduziram, já em inícios do século XX, à encampação pelo Estado de boa parte das concessões ferroviárias, que recebiam fortes transferências de recursos públicos para atingir as taxas de rentabilidade mínimas acordadas. Segundo Saravia (1988), em 1929 já estava nacionalizada 50% da malha ferroviária do país, mas esta nacionalização não refletia ainda uma decisão política em prol de uma maior presença do Estado nos transportes e sim uma solução para a pressão financeira que o Tesouro sofria dos subsídios requeridos pelas companhias ferroviárias e previstos nos contratos bilaterais de concessão administrativa. Esse tipo de arranjo contratual foi basicamente o mesmo usado para a grande maioria dos serviços ferroviários implantados no século XIX no país. Não será muito diferente o formato das relações público-privado em torno aos bondes elétricos que vão aparecer no final do século, quando a urbanização começa a se acelerar em todo o país. As companhias de bondes, em geral, também eram exploradoras de serviços urbanos outros, como a iluminação pública e o abastecimento de energia elétrica. Gozavam em geral de benefícios para importação de equipamentos, empréstimos públicos e largos prazos de garantia de exclusividade operacional, sob o argumento de que tardariam bastante em recuperar os investimentos em infra-estrutura. Não havendo imposições públicas sobre os itinerários, a expansão das redes de bondes era estritamente definida pelo mercado imobiliário, o qual, em muitos casos, estava vinculado também a essas companhias de serviços públicos. Com respeito à tarifa, Leite (1997) aponta que a imposição contratual típica, advinda do setor elétrico, permitia o reajustamento periódico do valor fixado em contrato com base na cláusula-ouro, um mecanismo que indexava metade da tarifa às flutuações do valor do ouro no mercado internacional. Esse modelo entra em crise nos anos 30 e 40, devido a fatores os mais diversos (Brasileiro, 1996; Leite, 1997; Santos e Pinheiro, 1994). Em primeiro lugar, as grandes companhias de bondes começam a se defrontar com os problemas de reinvestimento, agravados pelos sucessivos períodos de restrições às importações. Em segundo lugar, o crescimento urbano periférico passava a requerer maiores investimentos em expansão da malha de trilhos, sob pena de perda de demanda para os primeiros ônibus automotores que circulavam, ora à margem de regulamentos públicos, ora por contratos com as próprias companhias de bondes, os quais seriam alimentados por ônibus. Por fim, o Código de Águas de 1934 atribuía ao Estado a fixação de tarifas de energia elétrica, o que na prática expurgava a cláusula-ouro dos contratos. O bloqueio dos Governos aos reajustamentos de tarifas impunha maiores restrições ainda à rentabilidade das operações e, em conseqüência, as companhias foram sendo levadas a abandonar progressivamente o negócio em favor dos pequenos operadores artesanais de veículos rodoviários. A regulamentação aplicável a estes pelas municipalidades era do tipo autorização precária, fixandose as tarifas por linha. Não havia, a princípio, nenhuma definição de exclusividade, como também não demonstrava o Poder Público nenhum interesse em coibir a competição. Ao contrário, na medida em que, à época, o transporte rodoviário urbano era tido como sinal de progresso, os governos locais não estavam interessados em proteger os bondes da competição com os ônibus e necessitavam de liberdade de acesso ao mercado para que a substituição dos serviços ferroviários em decadência pudesse ser feita de forma rápida. Assim, os ônibus puderam tornar-se, rapidamente, o principal modo de transporte nas cidades brasileiras, e o crescimento do mercado pôde gerar uma dinâmica endógena de concentração empresarial, impulsionada pelos diferenciais de habilidade gerencial e de capacidade de financiamento que se registravam entre os pequenos operadores (Santos e Brasileiro, 1996). No final dos anos 50, no entanto, a necessidade de organizar a oferta de transporte fez do serviço de ônibus urbano um item importante na agenda política local. Pela primeira vez, as cidades brasileiras iriam eleger seus prefeitos e o transporte urbano era um tema muito importante do debate. Uma vez eleitos, os novos prefeitos dispuseram-se a promover uma reforma regulatória que impusesse controles de quantidade e qualidade ao setor. As principais características da nova regulamentação incluíam as exigências de propriedade de garagem e de um tamanho mínimo de frota para que o operador permanecesse no mercado. Tais exigências resultaram em uma série de fusões e aquisições e, portanto, as estruturas locais da indústria de transporte por ônibus foram redefinidas em um nível mais alto de concentração. A crescente urbanização do país nos anos 60 e 70 levou o governo federal brasileiro, no período 1976/84, a desenvolver e implementar uma política metropolitana centralizada. Com relação ao transporte urbano, essa política visava à melhoria e à expansão das malhas viárias, à racionalização operacional dos sistemas e à capacitação de organismos públicos locais e empresas privados para o planejamento, operação e controle da rede de serviços. As relações contratuais entre os Poderes Públicos locais e os operadores privados também seriam alteradas. Os novos regulamentos introduziram mudanças na política tarifária e estabeleceram contratos de permissão ou concessão com base no custo total. Formalmente, os contratos de operação seriam disputados em licitação, mas, na prática, foram simplesmente alocados aos antigos operadores — reorganizados através de fusões induzidas pelo poder concedente — e, posteriormente, renovados ao final da cada período de vigência. Itinerários, quadro de horários e tecnologia veicular passaram a ser estabelecidos pelo organismo público gestor do sistema, com o objetivo de evitar competição nas vias, em um contexto de monopólios espaciais pré-definidos. A totalidade da rede de ônibus urbanos constituía a base para a fixação da tarifa, fosse ela única ou zonal, em geral calculada de forma a cobrir completamente os custos de operação com a arrecadação tarifária. Assim, subsídios cruzados entre grupos de linhas operadas por diferentes operadores seriam praticados, garantindo às distintas empresas a mesma rentabilidade sobre o capital imobilizado. Entre princípios dos anos 80 e meados dos 90, essa tipologia regulatória foi aplicada praticamente em todas as aglomerações urbanas brasileiras, ao menos aquelas de médio e grande portes. Novamente, ao longo do período, a estrutura do setor de ônibus urbano se modificaria. Acentuou-se fortemente a concentração industrial, em um processo que já não mais se dá ao nível da empresa e sim do grupo. Mas persiste a pergunta básica: se os mercados de transporte urbano por ônibus tendem naturalmente à concentração — inclusive com independência da política regulatória pública adotada —, qual a influência da regulamentação típica do ônibus urbano no Brasil no sentido de acelerar o processo concentracionista ? Ou seja, que elementos da regulamentação brasileira de ônibus urbanos se constituem como catalisadores da dinâmica concentracionista própria do setor ?
Download