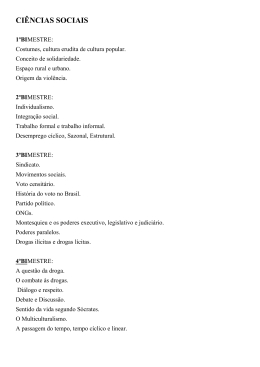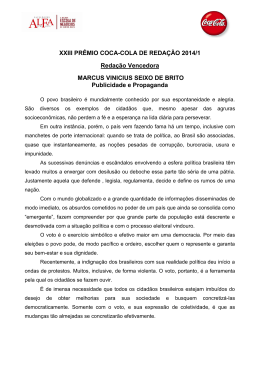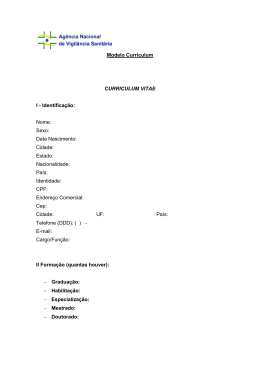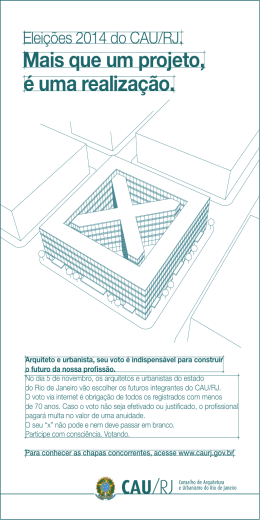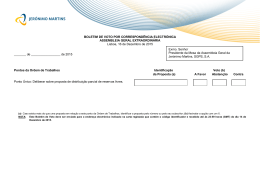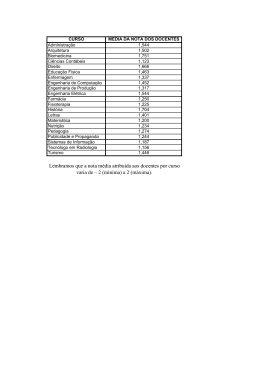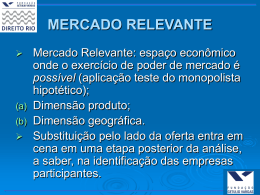Fonte: http://www.adunesp.org.br/pdfs/pagina_principal/noticias/Documento%20sobre%20Paridade%20na%20Unesp.pdf Por que estamos a favor da paridade do voto em todas as instâncias deliberativas da UNESP A função histórica da universidade é produzir conhecimento, fruto do trabalho cooperativo de um grande número de trabalhadores, assim considerados por participar dessa produção, cada um com suas especificidades. Entendemos que todos e todas possuem responsabilidades que se complementam, razão pela qual defendemos a paridade entre os setores da universidade que nela cooperam: docentes, funcionários não docentes e discentes. Os professores e pesquisadores, categorias a partir das quais nos manifestamos, pensam que a universidade só pode realizar com êxito as suas tarefas de ensino, pesquisa e extensão com o concurso não hierárquico dos três setores, igualmente conscientes e responsáveis pelo conjunto delas. Se as responsabilidades assumidas são equitativas e necessárias umas às outras, não vemos razão para que a desigualdade se instaure no ato das deliberações. É necessário que nós, professores e pesquisadores, a quem o ofício obriga ao enfrentamento permanente da realidade com as armas da reflexão, questionemos argumentos do senso comum que sustentam o voto censitário na decisão sobre os rumos da universidade. Segundo tais argumentos, a posse de um título acadêmico e a aprovação por concurso para assumir cargo docente e de pesquisa, habilitariam, com mais mérito, para as tomadas de decisão sobre questões de variadas naturezas no interior da universidade. Fala-se em “meritocracia” como governo dos mais habilitados, com maior autoridade e conhecimento para a tarefa, mas a aplicação cabal de tal princípio nos obrigaria a delegar as decisões aos especialistas em administração pública. Tal critério, porém, é muito frágil, uma vez que, se as decisões exigem conhecimentos técnicos, o que está verdadeiramente em questão nas deliberações são decisões políticas sobre o tipo de universidade que queremos. Os atuais dispositivos, que reconhecem para os docentes um peso correspondente a 70% nas tomadas de decisão e apenas 15% para os funcionários não docentes e 15% para os discentes, são expressão da matriz que marcou a fundação das universidades no nosso país em geral e as paulistas em particular. Júlio Mesquita Filho, a quem a UNESP homenageia como patrono, dizia que a universidade, se referindo à USP, deveria ser o cérebro do organismo social: “Nós temos que cuidar muito do organismo político brasileiro, e não podemos dar direito de voto a determinadas regiões [...] porque o organismo brasileiro é meio teratológico, cresceu de um lado e não se desenvolveu em outro. [...] Ocorreu na sociedade brasileira um problema seríssimo, foi incorporada à cidadania a massa impura e formidável de 2 milhões de negros, que fizeram baixar o nível da nacionalidade, na mesma proporção da mescla operada.” Nós, que aqui assinamos, renunciamos a essa herança. Abraçamos, em troca, a herança humanista do mestre Florestan Fernandes, para quem a universidade deve ser democratizada a fim de “elevar o nível da nacionalidade”. Precisamos romper com aquela matriz de sua fundação que se destina a formar a elite para uma sociedade de caráter fortemente estamental e reproduzir uma sociabilidade definida por uma cadeia de favores entre cidadãos com poder de decisão desigual. Do contrário, a universidade, longe de ser a vanguarda da nacionalidade democrática, tende a ser um renitente lastro do século XIX. A não paridade entre os setores envolvidos com a construção da universidade reproduz perigosamente o espírito do voto censitário e restritivo que vigorou durante o Império, de 1824 a 1881. Nestes tempos não votavam menores de 25 anos, índios, escravos, assalariados, mulheres e nem mesmo os soldados. O voto censitário foi restaurado parcialmente em 1934, justamente na época de fundação da Universidade de São Paulo. Argumentos bastante semelhantes à “meritocracia” mantiveram os analfabetos sem direitos políticos até as eleições de 1985. Considerando a flagrante desigualdade de oportunidades na nossa sociedade, a “meritocracia” tende a coincidir com “plutocracia”. Isto faz-nos suspeitar que o critério é mais um recurso e um nome bonito para prolongar em novas bases o “darwinismo social” do século XIX. Esta teoria, que foi expulsa da academia pela porta da frente, volta pela porta dos fundos, como um substrato de doxa, outro nome para o senso comum, protegido assim de qualquer crítica. Profa. Dra. Silvia Beatriz Adoue Profa. Dra. Maria Orlanda Pinassi Prof. Dr. Edmundo Peggion todos da FCL Araraquara
Download