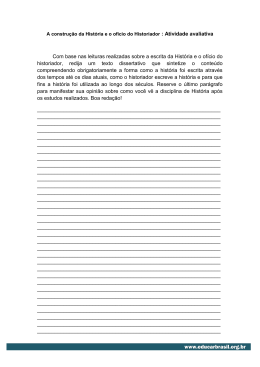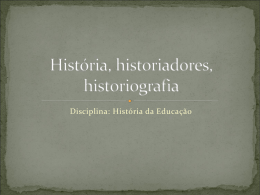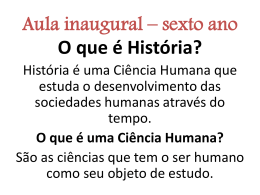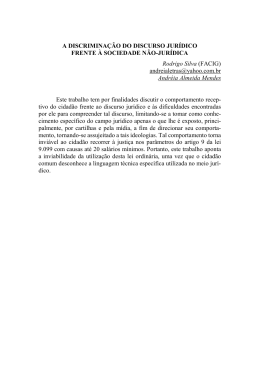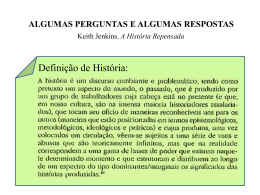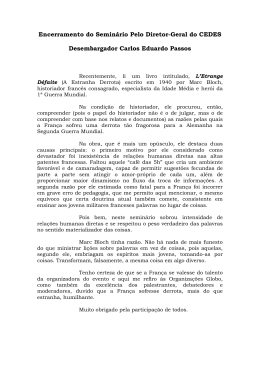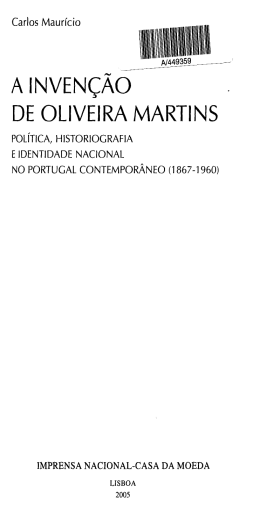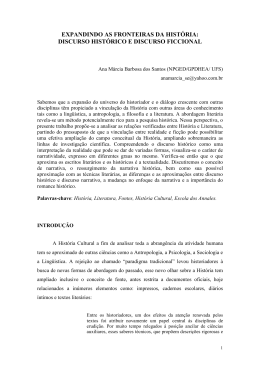[REVISTA CONTEMPORÂNEA – DOSSIÊ HISTÓRIA & LITERATURA] Ano 3, n° 4 | 2013, vol.2 ISSN [2236-‐4846] A ESCRITA HISTÓRIA: DISTINÇÕES ENTRE O TEXTO LITERÁRIO E O TEXTO HISTORIOGRÁFICO Janote Pires Marques João Carlos Rodrigues da Silva ∗ ∗∗ Introdução Por vezes, encontramos argumentações ou registros de que a escrita da História é um tipo de literatura. Entretanto, se podem existir pontos tangentes a essa área do conhecimento, defendemos que ao escrever a História, o pesquisador não cria um texto literário ou ficcional, mas, sim, elabora um texto com certas especificidades próprias dos estudos históricos. Assim, a problemática que se coloca é: que distinções podemos fazer entre um texto literário e um texto historiográfico? Eis aqui o mote para esse artigo, que tem como objetivo discutir elementos que caracterizam a escrita da História como um gênero textual específico. Quanto aos procedimentos metodológicos, a elaboração deste trabalho exigiu uma pesquisa de abordagem predominantemente qualitativa, baseada numa bibliografia a respeito do tema discutido. Nesse caminho, discutimos o texto histórico sob a ótica da teoria dos gêneros do discurso (BAKHTIN, 1997; KOCH, 2004), da teoria literária (SAMUEL, 2011; AMORA, 2006) e de alguns pensadores das Teorias da História (BLOCH, 2011; CERTEAU, 1999; RODRIGUES, 1978; MARTINHO RODRIGUES, 2008, 2009). Pensando a noção de gênero textual Estudar os gêneros textuais não é novidade no Ocidente, uma vez que, há pelo menos vinte e cinco séculos, o filósofo Platão já se debruçava sobre a análise de determinados gêneros literários. Hoje, percebe-se uma retomada do mesmo tema, mas Doutorando em Educação Brasileira e Mestre em História Social pela Universidade Federal do Ceará (UFC). ∗ Doutor em Linguística pela Universidade de Brasília (UnB), professor do Colégio Militar de Fortaleza (CMF). 1 sob outras perspectivas teóricas, que aqui não serão abordadas. O termo gênero sempre esteve relacionado aos gêneros literários cuja análise, como já destacamos, inicia-se na Grécia Antiga com Platão, continua com Aristóteles, passando por Horácio e Quintiliano, pela Idade Média, o Renascimento e a Modernidade até o início do século XX, com os trabalhos de Bakhtin. Atualmente, a noção de gênero não se relaciona somente ao campo da literatura, já que passou a ser empregado para referir uma categoria distintiva de discurso de qualquer tipo, falado ou escrito, com ou sem características literárias (MARCUSCHI, 2002). De acordo com Bakhtin (1997), a utilização da língua efetua-se em forma de enunciados orais, escritos, concretos e únicos, os quais emanam dos integrantes de uma dada esfera de atividade humana, como por exemplo, de um profissional da medicina, da história, da engenharia, do campo, etc. O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada esfera, ou seja, de uma forma imediata, sensível e ágil, refletem a menor mudança na vida social. Qualquer que seja o “enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo por isso denominados gêneros do discurso.” (BAKHTIN, 1997, p.279). Bakhtin (1997) propõe a seguinte classificação para os gêneros do discurso: 1) Gênero de discurso primário (simples) – “diálogo cotidiano” / ”os tipos do diálogo oral”: “linguagem das reuniões sociais, dos círculos, linguagem familiar, cotidiana” e “carta”; e 2) Gênero de discurso secundário (complexo) – “romance, o teatro, o discurso científico, o discurso ideológico”. O texto de História enquadrar-se-ia, pois, no segundo grupo, tendo em vista que busca constituir um discurso científico – “uma ciência em marcha” nas palavras de Marc Bloch (2001) –, ou ao menos, busca guardar certa relação de proximidade com a cientificidade e/ou com as denominadas ciências humanas. Inspirados em Mikhail Bakhtin (1997), parece-nos coerente defender que o texto histórico também apresenta um conteúdo temático, que normalmente são as narrativas das ações humanas passadas; um estilo, que se materializa, por exemplo, nas escolhas lexicais; e uma estrutura composicional, que se manifesta via de regra em forma de prosa. Um dos entendimentos possíveis sobre o discurso é que ele constitui um texto (falado, escrito, imagético) produzido num contexto, ou seja, numa situação históricosocial que implica não somente as instituições humanas, como também outros textos que sejam produzidos em volta e com ele se relacionem. De certa forma, um contexto 2 [REVISTA CONTEMPORÂNEA – DOSSIÊ HISTÓRIA & LITERATURA] Ano 3, n° 4 | 2013, vol.2 ISSN [2236-‐4846] constitui uma espécie de moldura de um texto e envolve elementos tanto da realidade do autor quanto do receptor. A análise destes elementos ajuda a determinar o sentido do texto. A interpretação de um texto implica, portanto, um autor – sujeito com determinada identidade social e histórica. E o discurso reflete certa visão de mundo, valores, ideias, necessariamente vinculados à do(s) seu(s) autor(es) e à sociedade em que vive(m). Buscando melhor definir a terminologia dos termos texto e discurso que aparecem nesse artigo, seguimos o proposto por Ingedore Koch. Chamaremos de discurso toda atividade comunicativa de um locutor, numa situação de comunicação determinada, englobando não só o conjunto de enunciados por ele produzidos em tal situação – ou os seus e os de seu interlocutor, no caso do diálogo – como também o evento de sua enunciação. O texto será entendido como uma unidade linguística concreta (perceptível pela visão ou audição), que é tomada pelos usuários da língua (falante, escritos / ouvinte, leitor), em uma situação de interação comunicativa específica, como uma unidade de sentido e como preenchendo uma função comunicativa reconhecível e reconhecida, independentemente da sua extensão. (KOCH e TRAVAGLIA, 1997, p.8-9). O texto historiográfico, pois, manifesta-se como linguagem que, por sua vez, está inserida nas coordenadas do espaço-tempo, o que configura o contexto de produção dos textos. No nosso caso, a escrita da História. Define-se contexto de produção como o “conjunto dos parâmetros que podem exercer influência sobre a forma como um texto é organizado.” (BRONCKART, 1999, p.93). Fica evidente que muitos fatores podem influenciar, tais como as condições físicas, o estado emocional do produtor, a filiação ideológica, etc., mas só devem ser levados em conta os fatores que exercem influência necessária. Dividi-los-emos em dois grupos: o primeiro referente ao mundo físico; o segundo, ao mundo social e ao subjetivo. No primeiro grupo, enquadram-se: 1) o lugar de produção, espaço físico em que o texto – histórico, no caso – é produzido; 2) o momento de produção, a extensão de tempo durante o qual o texto é produzido; 3) o produtor, a(s) pessoa(s) ou entidade(s) autor(es) do texto; 4) o interlocutor, a(s) pessoa(s) ou entidade(s) a quem o texto se destina. 3 No segundo grupo, enquadram-se os parâmetros relativos ao mundo social, uma vez que todo texto se inscreve em uma interação comunicativa, que implica a existência de pelo menos quatro parâmetros: 1) o lugar social diz respeito ao locus – ou esfera de atividade – onde o texto é produzido: escola, família, imprensa, exército, administração, história, interação formal, etc.; 2) a posição social do produtor diz respeito ao papel social do produtor do texto: professor, historiador, superior hierárquico, instituição pública, partido político, grupo etc.; 3) a posição social do interlocutor diz respeito ao papel social do receptor do texto, que pode ser ou não o mesmo do produtor; 4) o(s) objetivo(s) da interação diz(em) respeito ao querer-dizer do texto, a que efeito o texto deve produzir no(s) interlocutor(es). Na Teoria Literária, por sua vez, ao invés de “gêneros do discurso”, empregase o termo “gênero literário”, utilizado para referir um conjunto de obras que apresentam características semelhantes de forma e conteúdo, segundo critérios explicitados por Aristóteles na obra Arte Retórica e Arte Poética. O termo “tradicional” se refere especificamente à divisão dos gêneros literários conhecidos como clássicos, os quais vêm desde a primeira tentativa de organizar a produção literária levada a cabo por Aristóteles e sedimentada na Idade Média, durante a qual se consolidaram as três categorias básicas até hoje em uso: o gênero literário épico, constituído por longos poemas narrativos em que um acontecimento histórico protagonizado por um herói é celebrado em estilo grandiloquente; o gênero literário lírico, constituído por formas líricas (elegia, écloga, ode e soneto) nas quais uma voz particular expressa seu mundo interior carregado de sentimentos, emoções, estado de espírito; e o gênero literário dramático, constituído por textos elaborados para serem representados, isto é, a voz narrativa pertence às personagens, que agem por diálogo ou por monólogo (CULLER, 1999; SAMUEL, 2011). Buscando compreender a configuração da escrita da História como gênero textual, destacamos algumas perspectivas e aplicações do texto historiográfico nas sociedades ocidentais. É o que se apresenta, brevemente, no tópico a seguir. Pensando a escrita da História As reflexões sobre a escrita da História e sobre os saberes que constituem os estudos históricos se interligam e variam ao longo dos tempos. Um olhar sobre os percursos dos estudos históricos no mundo ocidental ajuda-nos a perceber o esforço 4 [REVISTA CONTEMPORÂNEA – DOSSIÊ HISTÓRIA & LITERATURA] Ano 3, n° 4 | 2013, vol.2 ISSN [2236-‐4846] dos historiadores nos lides com os pressupostos teóricos no campo da história. Segundo Jacques Le Goff (2003), os historiadores antigos basearam a história na “verdade” e deixaram definições que permaneceram válidas durante séculos, como a ideia de “história como mestra da vida” e “luz da verdade”. O texto historiográfico tinha, pois, certa função pública e literária. Para o “pai da história”, Heródoto (480 a 425 a.C), a História deveria lembrar grandes feitos, ser um relato racional e agradável, sendo que o historiador deveria investigar o passado por meio da visão e da audição. Heródoto viajava o mundo grego colhendo histórias que depois relatava; nos primeiros tempos, de forma oral em praça pública; depois, de forma escrita; Heródoto sempre ressaltava a importância do testemunho direto (FUNARI e SILVA, 2008). O relato, incluindo o que Heródoto fazia, constituía-se numa espécie de obra literária fundada na razão, nas opiniões contrastantes, na contraposição dos pontos de vista. Destaque-se, ainda, que havia uma preocupação com a narrativa e com os relatos orais em Heródoto, o que era de se esperar, considerando que, para os antigos, a memória e a História estavam ligadas de forma bastante importante. (BOURDÉ e MARTIN, 2004). Se Heródoto não pode ser chamado rigorosamente de “pai da História”, pois não foi o primeiro a deixar registrado algum tipo de discurso de gênero historiográfico (os Mesopotâmios/Acadianos, muito tempo antes, já faziam isso institucionalmente), por outro lado pode-se dizer que com Heródoto surge pela primeira vez a figura do historiador, como um indivíduo pensante (nos moldes dos filósofos e poetas da época) que fazia escolhas, fossem elas por um tipo de discurso ou por determinadas reflexões sobre a História. (BOURDÉ e MARTIN, 2004). Para Tucídides (460 a 400 a.C), outro autor grego clássico, a História escrita deveria servir como uma referência perene e como uma busca da verdade. Tucídides estava preocupado apenas com a História contemporânea (de sua época). Não falava em praça pública e não queria saber a opinião das pessoas. Tucídides preocupava-se com a precisão do conhecimento e suas descrições eram centradas no quotidiano e na descrição acurada do efêmero, do dia-a-dia, sem olhar o grande quadro do contexto histórico e das causas profundas. A busca da objetividade e da precisão ligava-se a 5 uma visão judiciária da história, como se a pesquisa histórica fosse uma investigação das provas de um tribunal em busca de uma verdade (essa ideia seria retomada no século XX pela chamada História Científica). Tucídides será uma referência importante na historiografia moderna. (BOURDÉ e MARTIN, 2004). Podemos perceber aspectos de um discurso histórico em Tucídides no seguinte trecho da História da Guerra do Peloponeso: Pode acontecer que a ausência do fabuloso em minha narrativa pareça menos agradável ao ouvido, mas quem quer que deseje ter uma idéia clara tanto dos eventos ocorridos quanto daqueles que algum dia voltarão a ocorrer em circunstâncias idênticas ou semelhantes em conseqüência de seu conteúdo humano, julgará a minha história útil e isto me bastará. Na verdade, ela foi feita para ser um patrimônio sempre útil, e não uma composição a ser ouvida apenas no momento da competição por algum prêmio. (TUCÍDIDES, 2001, Livro I, p.15-16). Vale destacar que Tucídides foi além do método puramente narrativo de Heródoto e passou a investigar como operava o suceder histórico. No livro História da Guerra do Peloponeso, aparece a noção de reversibilidade dos fatos, ou seja, “a história se repete e devemos aprender com o passado”. No trecho transcrito acima, podemos perceber a preocupação de Tucídides com a verdade e com a utilidade da História, inclusive no que se refere ao preparo para o futuro. Uma mudança no discurso historiográfico teria ocorrido com o advento da História cristã, no chamado período medieval. Segundo Jacques Le Goff (2003), o Cristianismo foi visto como uma ruptura na mentalidade histórica da Antiguidade Clássica. Ao dar à História três pontos fixos: a Criação (início absoluto da História); a Encarnação (início da História Cristã e da História da Salvação); e o Juízo Final (fim da História), o “cristianismo teria substituído as concepções antigas de um tempo circular pela noção de um tempo linear e teria orientado a História, dando-lhe um sentido.” (LE GOFF, 2003, p.64). Nesse contexto, é que afirmara Marc Bloch (2001, p.42): “O cristianismo é uma religião de historiador”. Já os historiadores renascentistas, segundo Jacques Le Goff (2003), teriam dado contribuições importantes aos estudos históricos ao fazerem certa crítica aos documentos com a ajuda da filologia, e ao começarem a laicizar os estudos históricos e a eliminar-lhes os mitos e as lendas. No século XIX, a história pretendeu se emancipar da filosofia e aderir à ciência (REIS, 2006). Nesse sentido, a história científica seria produzida por um historiador imparcial, que se neutralizaria enquanto sujeito para fazer aparecer o seu 6 [REVISTA CONTEMPORÂNEA – DOSSIÊ HISTÓRIA & LITERATURA] Ano 3, n° 4 | 2013, vol.2 ISSN [2236-‐4846] objeto e que se basearia apenas em enunciados válidos para todo o tempo e lugar. O historiador deveria evitar hipóteses e julgamentos. Os fatos falariam por si. Decorrente dos pressupostos dessa “história ciência”, intensificou-se a valorização dos documentos oficiais como fontes e da história política como objeto de estudo, posições que dariam margem a críticas ao longo do século XX. Por outro lado, os estudos históricos atualizaram o método crítico aos documentos, difundindo este método e seus resultados por meio do ensino e das publicações (LE GOFF, 2003). Ainda nesse breve percurso dos estudos históricos, destaque-se a “Escola dos Annales” que, no final da década de 1920, defendeu a substituição da tradicional narrativa por uma história-problema; propôs a história de todas as atividades humanas e não apenas história política; promoveu a ampliação da noção de documento e o diálogo da história com outras áreas do conhecimento. Constituiu-se, assim, no que Peter Burke (1997) denominou de “A Revolução Francesa da historiografia”. Sem desmerecer a história-problema proposta pelos Annales e ampliada pela História Social, consideramos plausível uma valorização da narrativa para a produção historiográfica, pois o desprezo pela narrativa pode contribuir para supervalorizar as explicações teoréticas, submetidas a certas “leis” ou paradigmas históricos. (MARTINHO RODRIGUES, 2009). Eis aqui o gancho para a nossa discussão sobre a escrita da História como uma gênero textual não-ficcional e que constituiu uma narrativa composta basicamente por três elementos: ambiente (físico, cultural, psicológico), personagens (que fazem escolhas e tomam decisões) e enredo (articulando os significados dos fatos, personagens e ambiente). Por outro lado, quanto à validade da narrativa (crônica) fica o alerta de Rui Martinho Rodrigues (2009, p.431): “Não se confunda crônica com lista telefônica”. Noutros termos, defendemos que a escrita da História é uma narrativa, mas que deve seguir critérios teóricos e metodológicos ligados ao fazer histórico e que, ao mesmo tempo, esses critérios sejam explicitados ao leitor da obra. Somemos aqui três características de um texto historiográfico, segundo Antoine Prost. 1) Um texto saturado: que contenha narrativa, argumentação, fatos, justificativas do tema e do tempo (cronologia); 2) Um texto objetivado e digno de 7 crédito: que evita juízo de valor; referencia outras pesquisas históricas; 3) Um texto manuseado: desdobra-se na interrelação dos discursos do historiador e dos outros pesquisadores (PROST, 2012). Ainda considerando a escrita da História, são instigantes as considerações de Michel de Certeau (2009) de que a “operação historiográfica” deve ser compreendida como uma relação entre o lugar (socioeconômico, político, cultural) de onde o historiador fala, a escrita (tentativa de representar a realidade vivida) e uma técnica, que seria justamente o trabalho com as fontes. O segundo aspecto se refere aos procedimentos metodológicos. Aproximamo-nos do que Paul Ricouer (2007) denomina de fase documental, indo da declaração das testemunhas oculares à constituição dos arquivos. Faz-se necessário salientar, portanto, que, no trabalho com as fontes, há uma técnica. “Em história, tudo começa com o gesto de separar, de reunir, de transformar em ‘documentos’ certos objetos distribuídos de outra maneira”. (CERTEAU, 2006, p.81). Assim, “fazer história” é também uma prática. Das fontes guardadas nos arquivos o pesquisador faz outra coisa: a História (aqui, com “H” maiúsculo). Nesse percurso, o historiador é uma espécie de mediador entre os homens passados e os homens presentes. Afirma José Honório Rodrigues que “um problema histórico é sempre uma questão levantada pelo presente em relação ao passado” (RODRIGUES, 1978, p.28). A História, pois, não é apenas dos mortos, mas, igualmente, dos vivos. A base do fazer histórico interliga-se às fontes ou, nas palavras de Marc Bloch, aos “testemunhos” do passado que, por sua vez, “não falam senão quando sabemos interrogá-los.” (BLOCH, 2001, p.79). Entretanto, para cada tipo de fonte histórica o historiador utiliza e explicita suas metodologias de pesquisa, bem como a organização dos dados que, por sua vez vão embasar sua escrita. Fontes arqueológicas, impressas, orais, audiovisuais, dentre outras, têm suas especificidades e o historiador faz escolhas e utiliza certas técnicas e procedimentos ao abordar cada um desses tipos de fontes. A escrita da História passa, portanto, pelas fontes às quais se tem acesso ou se escolhe ter acesso e às quais são múltiplas as possibilidades de tratamentos. Entendemos, então, que não se pode perder de vista que “entre o pesquisador e os fatos encontram-se as fontes históricas”. (MARTINHO RODRIGUES, 2008, p.437). Admite-se, assim, a subjetividade na escrita da História, mas não o subjetivismo. 8 [REVISTA CONTEMPORÂNEA – DOSSIÊ HISTÓRIA & LITERATURA] Ano 3, n° 4 | 2013, vol.2 ISSN [2236-‐4846] O subjetivismo – considerado aqui como criação, como invenção criativa – estaria presente se a História, enquanto texto, fosse ficcional, o qual pode desfrutar de várias modalidades de liberdade. A primeira é a liberdade de criação que o autor de ficção tem como traço essencial de seu trabalho. A segunda, um desdobramento desta primeira, é a liberdade que o ficcionista dispõe para utilizar qualquer informação que achar pertinente para compor essa memória, condição sine qua non para o extravasamento de sua criatividade. A terceira, ainda decorrente das duas outras, nos remete à liberdade do autor em recorrer a diferentes formas de expressão para materializar o enredo ficcional veiculador dessa memória: texto, poema, canto, imagens, liberdade, que lhe permite atingir um público muito mais amplo do que outras narrativas. A quarta é a liberdade que o público consumidor dessa narrativa também desfruta na decodificação e incorporação do enredo ficcional. (MARSON, 2004). Essas liberdades das quais trata Marson, o historiador não as tem. Se as tivesse e as utilizasse, não seria texto de história, seria texto ficcional. O que ele pode fazer é valer-se de uma obra ficcional com o intuito de subsidiar seu trabalho de pesquisa. Isso ocorreria, por exemplo, se um historiador se valesse de informações da Ilíada e da Odisséia para ajudar a explicar ou compreender determinados fatos históricos da época narrada. Culler (1999) aborda a distinção entre o discurso ficcional e o não-ficcional, destacando que o discurso não-ficcional geralmente está inserido num contexto que diz ao leitor como considerá-lo, entendê-lo e lê-lo, como ocorre, por exemplo, em um manual de instrução, uma notícia de jornal, uma carta de uma instituição de caridade. O contexto da ficção, por sua vez, “explicitamente deixa aberta a questão do que trata realmente a ficção. A referência ao mundo não é tanto uma propriedade das obras literárias quanto uma função que lhes é conferida pela interpretação” (CULLER, idem, p.38). Ainda de acordo com Culler (Id. Ib.), a obra literária, exemplo paradigmático de ficção, é um evento linguístico que projeta um mundo ficcional que inclui falante, atores, acontecimentos e um público implícito (um público que toma forma através das decisões da obra sobre o que deve ser explicado e o que se supõe que o público saiba). As obras literárias, com exceção da literatura de testemunho, referem-se 9 principalmente a indivíduos imaginários e não-históricos (Policarpo Quaresma, Capitu, por exemplo), mas a ficcionalidade não se limita a personagens e acontecimentos. Da nossa parte, acrescentamos que os textos históricos, em contrapartida, se referem a indivíduos reais e históricos (Pedro Álvares Cabral, D. Pedro II, por exemplo) sobre os quais o historiador pesquisa, com dada metodologia e em dadas fontes, e escreve pretendendo uma interpretação, normalmente uma que seja, a seu ver, livre de ambiguidades ou polissemias. A interpretação da obra literária, ainda segundo Culler, depende da relação leitor-obra. Relação esta que é aberta, no sentido de que o leitor decide, não sem influência de sua formação sociocultural, qual é a sua própria interpretação. Citemos, então, o exemplo dado por Culler (op. cit., p.39): Interpretar Hamlet é, entre outras coisas, uma questão de decidir se a peça deveria ser lida como uma discussão, digamos, dos problemas de príncipes dinamarqueses, ou dos dilemas de homens da Renascença que estão vivendo a experiência das mudanças na concepção do eu, ou das relações entre os homens e suas mães em geral, ou da questão de como as representações (inclusive as literárias) afetam o problema da compreensão de nossa experiência. O fato de haver referências à Dinamarca ao longo da peça não significa que você necessariamente a lê como sendo sobre a Dinamarca; essa é uma decisão interpretativa. Podemos relacionar Hamlet ao mundo de diferentes maneiras, em diversos níveis diferentes. A ficcionalidade da literatura separa a linguagem de outros contextos nos quais ela poderia ser usada e deixa a relação da obra com o mundo aberta à interpretação. Interpretar um texto histórico, por seu turno, tende a ser uma atividade de leitura exatamente o contrário do que ocorre com uma obra de ficção, na medida em que se espera que o leitor associe as informações constantes no texto ao contexto real. Em decorrência disso, a relação da obra de história com o mundo deixaria de ser aberta a inúmeras interpretações. Em suma, o texto, para ser considerado literário e ficcional, apresenta em si as seguintes características: criação de um mundo ficcional, que apresenta verossimilhança com o mundo real; relação não-imediatista, o que significa que não há em que, nem como utilizá-lo de imediato; suspensão das convenções de significados correntes, ou seja, há presença do fabuloso, ao contrário do se refere Tucídides, há presença da linguagem figurada, conotativa; despreocupação com a sistematização, típica dos textos científicos, que prezam por uma metodologia; despreocupação com o saber, considerado aqui como o saber sistematizado; 10 [REVISTA CONTEMPORÂNEA – DOSSIÊ HISTÓRIA & LITERATURA] Ano 3, n° 4 | 2013, vol.2 ISSN [2236-‐4846] inexistência da utilidade prática, ou seja, um imediatismo, um objetivo específico. (CULLER, 1999). Como se vê, definitivamente o texto de história não se enquadra como literário, muito menos como ficcional, uma vez que, conforme dito anteriormente, o historiador – o produtor do texto – utiliza e explicita a metodologia de pesquisa escolhida, bem como a organização dos dados embasadores de sua escrita. O historiador, ainda, utiliza-se de diversas fontes (arqueológicas, impressas, orais, audiovisuais, etc.) e de técnicas e procedimentos ao abordar cada uma das fontes. Considerações finais A partir da análise, é possível fazermos uma distinção entre a história como gênero literário tradicional e a História como gênero textual. A história como gênero literário tradicional é uma narrativa que busca transmitir um conhecimento intuitivo e individual, cujas regras de expressão são criadas pelo artista (AMORA, 2006). Cremos que os textos históricos que mais se aproximam dessa categoria são, por exemplo, as primeiras manifestações “literárias” no Brasil, conhecidas como literatura de viagem, que tinham o objetivo de informar como eram os povos nativos, seus hábitos e seus costumes, e como era a nova terra aos habitantes europeus. Isso criou um desafio interessante para os autores à época: de que forma apresentar por intermédio do texto escrito um mundo completamente diferente do europeu? A solução encontrada pode ser contrastada no estilo dos textos – ou seja, nas escolhas lexicais – nos quais predomina uma estrutura descritiva rica em adjetivações e comparações, as quais beiram o caráter literário, tudo sob a visão de mundo peculiar de um europeu do século XVI. Enquadrar-se-iam aqui, ainda a guisa de exemplo, certas lendas, histórias infantis ou outras obras de ficção. Importa destacar que essas obras devem ser entendidas como lugar onde há a “presença marcante e irrefreável do imaginário” (SAMUEL, 2011, p.45). De certa forma, era o que às vezes acontecia também nas descrições da nova terra elaboradas pelos viajantes. 11 A História como gênero textual na perspectiva sociodiscursiva é uma narrativa na qual o historiador seleciona informações registradas em fontes históricas e, a partir desses dados, escreve sua versão sobre o passado. A escrita da História, nessa perspectiva, é não-ficcional porque o historiador, tanto quanto um jornalista, não pode, por exemplo, inventar ou criar livremente personagens e suas respectivas ações, reações e comportamento em um dado ambiente durante o decorrer do tempo. Caso o faça, incorrerá em fraude, o que lhe renderá no mínimo o descrédito perante os colegas de profissão. Aliás, a título de ilustração, esse tipo tentador de fraude aconteceu com a repórter Jane Cooke, do Washington Post, que apurou, redigiu e publicou naquele conceituado diário uma história sensacional a respeito de um garoto viciado em heroína. De tão boa, a reportagem rendeu-lhe o Prêmio Pulitzer de Jornalismo. Desconfiaram da história, pressionaram-na, e ela admitiu que tudo era ficção. Em consequência, perdeu o emprego e a credibilidade, e devolveu o prêmio. O historiador, também o jornalista, pode sim tomar conhecimento das ações dos personagens, analisá-las, interpretá-las e tentar apreender (mas não fantasiar) o significado delas ao longo do tempo. Afinal, um historiador é um cidadão, um autor, um sujeito, com determinada identidade social e histórica, e seu discurso, conforme visto, reflete certa visão de mundo, valores, ideias, necessariamente vinculados à do(s) seu(s) autor(es) e à sociedade em que vive(m). São nesses termos em que ocorrem, ou deveriam ocorrer, as narrativas históricas produzidas pelos historiadores. A História como gênero textual materializa-se, enfim, em um texto, no qual sobressaem sequências narrativas e descritivas, sobre personagens e fatos reais, elaborado por um pesquisador no presente. É indispensável também que sejam estabelecidos objetivos de pesquisa, referenciais teóricos, explicitando-se sua metodologia de pesquisa e as técnicas utilizadas no trato das fontes. Referências Bibliográficas AMORA, Antônio Soares. Introdução à teoria da literatura. 13. ed. São Paulo: Cultrix, 2006. 12 [REVISTA CONTEMPORÂNEA – DOSSIÊ HISTÓRIA & LITERATURA] Ano 3, n° 4 | 2013, vol.2 ISSN [2236-‐4846] BAKHTIN, M.M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1997. BARROS, José D’Assunção. Teoria da História. Princípios e conceitos fundamentais.Vol. 1. 2. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2011. ______. Teoria da História. Os primeiros paradigmas: positivismo e historicismo. Vol. 2. Rio de Janeiro: Vozes, 2011. BLOCH, Marc. Apologia da História: ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. BOURDÉ, Guy; MARTIN, Hervé. Las escuelas históricas. Trad. Rosina Lajo y Victória Frígola. 2. ed. Madrid: Akal Universitária, 2004. (Serie Historia Contemporánea) BRONCKART, Jean-Paul. Atividade de linguagem, textos e discurso: por um interacionismo sócio-discursivo. São Paulo: Educ, 1999. CULLER, Jonathan. Teoria literária: uma introdução. Trad. Sandra Vasconcelos. São Paulo: Beca Produções Culturais Ltda., 1999. BURKE, Peter (org.). A escrita da História: novas perspectivas. São Paulo: Editora Unesp, 1992. CERTEAU, Michel de. A escrita da História. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006. FUNARI, Pedro Paulo Abreu; SILVA, Glaydson José da. Teoria da História. São Paulo: Brasiliense, 2008. KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Texto e coerência. 5. ed. São Paulo: Cortez, 1997. LE GOFF, Jacques. História e Memória. 5. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2003. MARCUSCHI, Luiz A. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONÍSIO, A. P., MACHADO, A. R., BEZERRA, M. A. (Org.) Gêneros textuais e ensino. Rio de Janeiro: Editora Lucerna, 2002, p. 19-36. MARSON, Izabel Andrade. Obras de ficção revelam características de momento histórico. Disponível em: <http//comciencia.br/entrevistas/2004/10/entrevista2.htm> Acesso em: 15 jul 13. 13 MARTINHO RODRIGUES, Rui. História, fontes e caminhos da educação e da cultura. In: Escolas e Culturas. Políticas, tempos e territórios de ações educacionais. n: CAVALCANTI, M. J. M.; QUEIROZ, Z. F. de; VASCONCELOS JR, R. E. de P.; e ARAÚJO, J. E. C. (Org.). Fortaleza: Edições UFC, 2009, p. 422441. (Coleção Diálogos Intempestivos, 73) ______. Teorias, fontes e períodos na pesquisa histórica. In: História da Educação. Vitrais da memória. Lugares, imagens e práticas culturais. In: CAVALCANTI, M. J. M.; VASCONCELOS JR, R. E. de P.; e ARAÚJO, J. E. C.; e QUEIROZ, Z. F. de (Org.). Fortaleza: Edições UFC, 2008, p. 435-454. PROST, Antoine. Doze lições sobre a história. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2012. (Coleção História e Historiografia) REIS, José Carlos. A História, entre a Filosofia e a Ciência. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Trad. Alain François [etc. al]. Campinas: Editora da Unicamp, 2007. RODRIGUES, José Honório. Teoria da História do Brasil: introdução metodológica. 4. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional,1978.] SAMUEL, Rogel. Novo manual de teoria literária. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2011. TUCÍDIDES. História da Guerra do Peloponeso. Prefácio de Helio Jaguaribe. Trad. do grego de Mário da Gama Kury. 4. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001. 14
Baixar