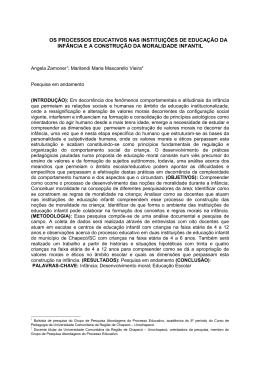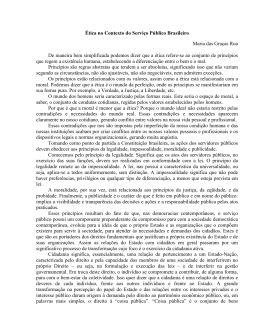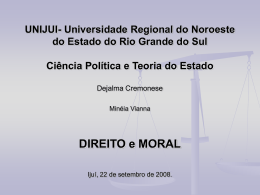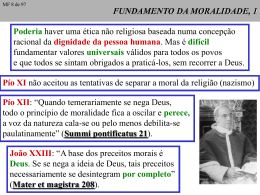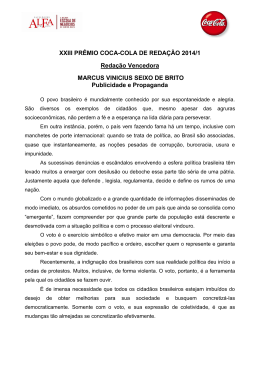Justiça, moralidade e verdade: sobre fichas e outros jogos sujos na arena política Luiz Eduardo Soares Para Marcos Rolim Consideremos o cidadão bem posto na vida que ludibria a alfândega e se regala com equipamentos contrabandeados para si e sua empresa. Comete um crime, ou vários, mas a deliquência não o faz criminoso. O epíteto nefando só manchará seu colarinho branco se for flagrado pulando a cerca. Aí sim, deixará de ser o executivo competente, o empreendedor agressivo, atento às oportunidades e bem relacionado, ornado com sobrenome de avenida. Passará a ostentar o nome de seu ato, contrabandista, criminoso, e será destratado pela voz do povo: meliante, vagabundo. Ou seja, não é o ato de praticar um crime que faz de seu autor um criminoso, mas ser flagrado. Por isso, os pais da moça procuram saber quem namora sua filha de um modo amplo e sensível, tentando descobrir que valores o pretendente preza, o que ele faz, como se porta diante das situações do dia a dia. Os pais não pedem a folha corrida do futuro genro. Seja porque nem todo transgressor cai na malha fina da Justiça, seja porque nem todo cidadão capturado nesse filtro merece a repulsa moral. Depende. Pode estar envolvido sem culpa em um enredo capcioso, mas pode também ter superado o estágio de seu desenvolvimento pessoal em que tropeçou. Culpa é diferente de responsabilidade. Quem age com generosidade com um amigo em quem confia, pode ser traído em sua lealdade. Por exemplo, dispondo-se a incluir em sua bagagem o pacote que o amigo pede que seja entregue a um parente. Por que desconfiar do amigo? Se, nesse caso, o pacote embrulha drogas, isso torna quem transporta responsável, não culpado. A Justiça condenará o intermediário por tráfico, mas a família da noiva apoiará o casamento, entendendo que o réu merece solidariedade. Do mesmo modo, o que dizer daquela pessoa que assina o contrato de aluguel como fiador e acaba obrigada a ressarcir prejuízos? Não podendo pagar a dívida, responderá na Justiça e será responsabilizada. Quem, entretanto, a consideraria culpada de um erro moral ou de uma violação ao pacto social, mesmo a reconhecendo passível de responsabilização judicial? Os juízos morais variam muito e dependem de circunstâncias bastante específicas. Nem sempre coincidem com as decisões da Justiça, mesmo que elas estejam certas e ainda que as Leis aplicadas sejam as mais justas. Não se trata de paradoxo, muito menos de contradição. A moralidade é regida por princípios mais sensíveis às variações individuais e à singularidade de cada caso, e leva em conta as intenções e o sentido subjetivo em uma extensão que as leis não podem fazer. Por mais que haja moralidades distintas em uma sociedade pluralista, laica e democrática, são diferentes as finalidades da moral e da Lei, mesmo quando compartilham referências axiológicas. A Lei tem como objetivo definir regras do jogo para o funcionamento estável do pacto social, tornando razoavelmente previsível a vida em sociedade, ou melhor, transformando a previsibilidade em uma expectativa legítima e persuasiva para a média das pessoas. A moralidade tem o objetivo de tornar as pessoas, individualmente, melhores para si mesmas e para os outros, fazendo da reflexão crítica sobre atos pregressos um mapa que orienta ações futuras. A esfera moral é espinhosa e complicada, porque, em seu domínio, valores e comportamentos se mesclam a dinâmicas psicológicas e afetos, mobilizando potenciais cognitivos e emocionais, estimulando ou inibindo o engajamento em experiências construtivas ou destrutivas de convívio. Nesse campo tão delicado, a moralidade, com frequência, acusações culpabilizadoras tendem a deprimir a auto-estima e reduzir a energia necessária para a desejável mudança. Portanto, em matéria de juízos morais aplicados, muitas vezes, menos (atribuição de culpa) é mais (chance de transformação), ou seja, demonstrações de confiança, sem prejuízo do reconhecimento enfático do erro, estimulam a correção da rota. Recordemo-nos: o propósito da moralidade é melhorar as pessoas -entendendo-se este verbo de distintos pontos de vista. Nada a ver com as Leis, cuja finalidade é estabilizar expectativas positivas, levando cada um a supor que o futuro imediato é previsível porque há regras e um conjunto de instituições de segurança e Justiça supostamente aptas a garantir sua efetividade. Essa estabilização viabiliza a vigência do pacto social, preservando o ambiente de negócios indispensável a investimentos, mantendo firmes as molduras para a cooperação e reduzindo a cota de medo e angústia ante as incertezas da vida. A estrutura que descrevo articula-se sob a forma do Estado democrático de direito, equilibrado pela divisão entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. David Hume dizia que só outro poder limita o poder. Por isso, seguindo o roteiro concebido por Montesquieu e aplicando o modelo experimentado nas primeiras democracias modernas, a Constituição de 1988 organizou o Estado brasileiro respeitando o princípio das tensas mas indispensáveis limitações recíprocas entre os poderes. Nessa paisagem institucional, qual o papel do Judiciário? Mais especificamente: quais as relações entre verdade e justiça? Onde entra a moralidade? Como avaliar a Lei que exclui da competição eleitoral os candidatos com “ficha-suja”, isto é, que tenham sido condenados por decisão colegiada em primeira instância? Os temas são complexos e exigiriam elaboração mais longa e profunda. Não me furto, entretanto, a resumir alguns argumentos e colocá-los em circulação, mesmo antes do recomendável tratamento mais amudurecido, dada a urgência do debate público suscitado pela decisão do novo partido, Rede, segundo a qual condenados em primeira instância não serão candidatos pelo partido, como determina a Lei, mas poderão ser admitidos como filiados, a depender da avaliação de cada caso pela direção nacional, ouvido o conselho de ética. Do ponto de vista estritamente legal, nenhum problema: todo cidadão mantém a integralidade de seus direitos enquanto sua eventual condenação estiver sub judice, ou seja, enquanto não houver uma decisão judicial definitiva –em outras palavras: enquanto a decisão condenatória não transitar em julgado. A exceção diz respeito à privação provisória da liberdade, que restringe o direito de ir e vir por motivos muito específicos e que se aplica, como o nome diz, àqueles ainda não definitivamente condenados que representem um risco para a sociedade, uma ameaça a testemunhas ou um obstáculo ao desenvolvimento das investigações. Contudo, mesmo nesses casos excepcionais (que, desafortunadamente, são mais comuns do que deveriam ser, no Brasil, hoje), o direito ao voto e à filiação partidária permanece intocado. O movimento pelo respeito ao direito ao voto dos presos preventivos e provisórios tem crescido, no Brasil, exigindo que o Estado garanta a aplicação da Lei e ofereça meios para que o exercício do voto não continue a ser indevidamente vedado, como ainda acontece com tanta frequência no país. A violação das disposições legais tem diminuído e mais presos têm podido votar. Tenhamos presente que a Lei de execuções penais vem sendo transgredida com acintoso despudor e que a prática do voto assinala a afirmação de milhares de cidadãos brasileiros como sujeitos de direito, o que em nenhum momento nega sua condição de réus, que respondem a acusações de violação de direitos alheios. A punição imposta pelo Estado não se confunde com vingança, nem sentenças judiciais devem ser confundidas com retribuição, a violadores, das violações perpetradas. É isso que distingue o Estado democrático de direito de uma tirania; é isso que distingue a sentença judicial do justiçamento. O movimento referido deseja mais: quer estender o direito ao voto ao preso condenado, entendendo que incluí-lo no universo dos eleitores significa tratá-lo como membro da sociedade e corresponsável por seu futuro. Seria educativo e uma forma de valorização potencialmente transformadora. Os presos poderiam unir-se e eleger alguém que se comprometesse com uma pauta contrária aos interesses gerais da sociedade? Talvez isso pudesse acontecer, no caso de candidaturas proporcionais. Entretanto, o funcionamento das casas legislativas impede que a proposta de um segmento social específico se converta em Lei sem que a maioria a aprove. Se a própria dinâmica democrática tem se mostrado insuficiente para conter os lobbies, terse-ia de discutir mecanismos que limitassem sua eficiência, ampliando a transparência, fortalecendo a participação e criando freios à mercantilização do voto. O ponto a reter é mais simples: a Lei, hoje em vigor, não retira de quem responde a processos na Justiça, criminais ou não, que não tenham “transitado em julgado”, o direito de participar da vida política como cidadão que vota, manifesta-se e opina. Faria sentido que um partido que se pretende comprometido com a Constituição e com os valores que a regem vedasse a esse cidadão o exercício desses direitos em seu interior, sempre, em qualquer caso, independentemente de cada circunstância e do exame das condições singulares? A única resposta plausível e compatível com a regência dos princípios referidos é negativa, porque, se fosse positiva, estar-se-ia negando uma separação --que é constitutiva das democracias—entre a justiça, a verdade e a moralidade. Quem procura a verdade, estuda, torna-se cientista ou filósofo, dedicase à pesquisa. Sabe que, no horizonte, não está propriamente a verdade, mas o conhecimento possível naquele momento histórico, que será formulado com os conceitos, os argumentos e os recursos de verificação mais convincentes para a comunidade científica mundial, que opera com os mesmos critérios de avaliação da aceitabilidade das proposições formuladas. Quem procura a verdade, em sua provisoriedade inevitável, sabe que não há ciência de um acontecimento único, mas conhecimento da dinâmica logicamente apreensível que rege o grupo de fenômenos dos quais determinados acontecimentos singulares podem ser a manifestação. Quem procura a Verdade com V maiúsculo dedica-se à religião e até mesmo a algumas filosofias. O acontecimento único pode adquirir aí o status de revelação. Nesse campo, a verdade não é produto do conhecimento humano, carregando consigo a precariedade do humano, mas dádiva transcendente1. Todas as procuras e seus caminhos têm sua razão de ser e fundam sua legitimidade na história das civilizações, cumprindo papéis relevantes, ainda que nem sempre convergentes e harmônicos. Não raro, 1 Essa é apenas uma das concepções religiosas da verdade, mas basta para permitir um contraste significativo. cientistas, tomados pela sedução da Hybris, deixam-se enganar pela vaidade e a vontade de poder, escrevendo suas teorias com letras maiúsculas. Por outro lado, surpreendendo a visão positivista dos que ignoram a riqueza cultural das religiões, há fiéis que submetem o conteúdo de suas crenças ao princípio da humildade ante o desconhecido, e recusam a intolerância ou qualquer dano ao pluralismo. De todo modo, ninguém, procurando a verdade, com maiúscula ou minúscula, irá à Justiça. O poder judiciário não é o destino de quem quer saber; é o destino de quem precisa dirimir uma desavença, refratária à solução “natural” entre pares, quando os demais mecanismos acessíveis não dispõem de legitimidade consensual a todas as partes envolvidas, incluindo o terceiro vértice do confronto: a sociedade. A Justiça é o endereço ao qual se dirigem os que precisam de uma decisão com força para dissolver o nó --o conflito insolúvel-- que paralisa os fluxos de ação social e de cooperação. Quando a Justiça, ante uma guerra de versões, acolhe uma e exclui as demais, ou estabelece uma narrativa alternativa sobre determinado fato ou série de fatos, não o faz por amor à verdade, mas por compromisso prático. O que está em jogo não é a infinita causa da pesquisa, mas a solução de um conflito. Solução que sirva para, reafirmando a supremacia do Estado, por intermédio de seu braço judicial, restabelecer as condições de vigência do pacto social, consagrado na Carta Magna, distribuindo responsabilidades, direitos, deveres e reparações. Claro que, à Justiça, importa descobrir o que, de fato, aconteceu, nos casos sob exame. Evidente que a decisão mais justa será aquela que conjugue o respeito às normas - sempre reinterpretadas - com o endosso ao relato mais verossímil, entre as versões que competem pelo selo oficial da justiça, o crachá da “acreditação” institucional. Mas a procura pela restauração do fato tal como realmente aconteceu é tão vaga e subjetiva quanto são as pesquisas sobre eventos singulares, em ambientes reconstruídos por descrições interessadas, por mais que seja viável contar com dispositivos tecnológicos2. Esses últimos, na melhor das hipóteses, funcionam como redutores do repertório de narrativas alternativas plausíveis, isto é, de narrativas sustentáveis diante da comunidade dos falantes da língua compartilhada, cuja natureza não é apenas linguística, mas social, cultural e normativa. Por isso, trata-se antes de retórica que interpela a inteligência e a emoção dos ouvintes – juiz, júri, opinião pública mobilizando reações relativas à confiabilidade e à credibilidade dos relatos (e dos relatores), do que de articulação lógica de proposições sobre o real com pretensões de verdade. Observe-se, contudo, que os esforços de elucidação, que anseiam, no limite ideal, pelo estabelecimento de um consenso, cedem 2 Exploro esse ponto em Justiça; pensando alto sobre violência, crime e castigo (Nova Fronteira, 2011). ante a necessidade imperiosa, e legal, de decidir. E quem decide olha para o passado e o presente, com vistas postas no futuro, isto é, em suas consequências prováveis. Nada a ver com a ciência e suas atribuições. Nada a ver com as condições de produção da verdade. Enquanto a ciência opõe-se à ignorância, a Justiça opõe-se ao conflito e aos riscos de que, não dirimido, contagie o pacto e inocule imprevisibilidade na formação coletiva das expectativas. A incerteza é o umbral da crise e, no quadro de agravamento extremo, é o preâmbulo para a conflagração anárquica. O problema da Justiça é a incerteza – que representa o desafio “à ordem e ao progresso”. A ciência convive bem com a incerteza e se resigna negociar com ela e restringi-la, topicamente. Alimenta-se da incerteza como se ela fosse o seu combustível. A Justiça oferece um tratamento para fatos passados que dialoguem com o senso comum e acomodem tensões, visando garantir a reprodução da ordem social no presente e no futuro. A ciência, enquanto busca da “verdade”, não tem nenhum compromisso com o senso comum, com a regulação de expectativas e com a ordem social. Sua procura não se limita a prazos regimentais, nem é obrigada a seguir procedimentos pré-fixados. A ideia de que a Justiça está engajada na promoção do futuro da ordem social, exorcizando a instabilidade, na medida do que lhe compete – posto que há fontes alheias à sua intervenção -, provoca dúvidas importantes. Por exemplo, a Justiça deveria privilegiar o cumprimento rigoroso de seus protocolos formais e do universo normativo pertinente, quando esse viés colidir com a substância do fato em causa? O caráter exemplar e dissuasório da Justiça criminal deve sacrificar o réu individual em nome dos efeitos sociais de um veredito? Qual a mensagem mais valiosa para o futuro da ordem democrática e da estabilização de expectativas positivas sobre a cooperação e o respeito ao pacto social? A consistência inabalável no cumprimento das regras? Ou sua flexibilização para que se faça justiça, substantivamente, ante evidências reconhecidas pela sociedade ainda que neutralizadas nos ritos formais? A corrente de juristas que conhecidos como “garantistas” sustenta que a fidelidade absoluta aos protocolos (normas e ritos com que opera a Justiça) não só representa o esteio para a estabilização de expectativas positivas, como corresponde mais radicalmente ao direito e, portanto, ao que a Justiça deveria ser, reconhecendo a inocência de cada réu individual até que os limites da razoabilidade da hipótese da inocência tenham sido exauridos. Ninguém pode ser sacrificado em benefício utilitário de outros fins, por mais nobres que sejam. O utilitarismo, assim concebido, fere as garantias individuais, que constituem a matriz axiológica do Estado democrático de direito. Formulado em abstrato, impossível contestar o argumento garantista. Entretanto, há casos, não poucos, em que a estrita observância dos protocolos fere outros direitos individuais – e mesmo aqueles reunidos em coletividade e difusos, mas nem por isso menos significativos para as garantias individuais. Nesses casos, não cabe mais à Justiça a opção entre ferir e não ferir garantias. Impõe-se a trágica interrogação: quais garantias individuais seria menos danoso ferir? Esse não é o universo desejável, nem corresponde à realidade pressuposta pela teoria em que as regras convivem coerentemente entre si, ordenadas por lógica sistêmica. Todavia, é o mundo real, arena concreta em que contradições jogam, uns contra outros, valores e normas. Na área ambiental, assim como no campo político em que atuam movimentos sociais, os casos problemáticos multiplicam-se. Além disso, é consabido que as partes não se chocam em uma tribuna efetivamente regida pela equidade. A desigualdade no acesso à Justiça é uma das mais dramáticas, no país, e realimenta as demais. O garantismo, naquilo que aporta de adesão radical ao procedimento, comporta uma dimensão virtuosa inexcedível, mas não tem alcance para pretender converter-se em diretriz absoluta ou horizonte filosófico-jurídico de nosso tempo, porque faz tabula rasa da inexorável inconsistência das referências (nos planos normativo e valorativo) e das contradições práticas, vividas sob a forma de conflitos hermenêuticos, em meio a antagonismos de interesses historicamente situados. De sua parte, ao contrário do que ocorre na esfera da Justiça, a moralidade não se constrange ante a indecidibilidade e seus efeitos: a hesitação, a dúvida. Pelo contrário, nutre-se dos dilemas trágicos, tão instrutivos para nos remeter à finitude, nossa condição inescapável. Por isso, até hoje Hamlet é superior a dogmatismos prêt-à-porter. Nada mais enriquecedor, moralmente, do que debruçar-se sobre as dificuldades objetivas que situações concretas representam para pautas valorativas. Aprende-se que muitas vezes não há uma solução, o que há é a escolha entre valores ou formas de violá-los, restando apenas a redução de danos. As aporias não corróem a moralidade, não revelam sua inaptidão para o mundo vivido. Ao contrário, mostram quão imprescindível é a instância moral para vivermos em nosso mundo, mergulhados em contradições, e quão inadequadas são as simplificações que degradam a moralidade em moralismo. Quando perdemos o senso moral, perdemos a sensibilidade para as contradições enquanto tais, ou seja, mais do que desafios cognitivos, laboratórios experimentais para nossa auto-reinvenção e para repensar o social, sempre de novo. Nem sempre há contradições. Há também convicções morais que se aplicam, no dia a dia. Como foi dito na abertura, às vezes, o registro do julgamento moral não coincide com avaliações judiciais. Isso significa que seria aceitável renunciar à supremacia da Justiça e trocá-la por juízos morais, que variam ao sabor dos ventos, dos códigos culturais, das teorias filosóficas e dos envolvimentos pessoais? Claro que não. Decisões da Justiça existem para ser cumpridas. Esse é um postulado elementar da democracia, para isso há a separação dos poderes. Nem hipertrofia do executivo, nem linchamentos: o império da Lei. Por outro lado, a separação entre verdade, justiça e moralidade demonstra que há espaço para as três modalidades de pensamento, avaliação e decisão. O importante é que se compreenda o seguinte: a vigência da sentença judicial, cujo valor prático e cuja legitimidade não estão em dúvida, pode afetar, dependendo das circunstâncias, mas não anula a especificidade do juízo moral que se faça a respeito de cada caso. Desistir de problematizar, no campo dos juízos morais, cada ato humano, para respeitar uma decisão judicial seria confundir inteiramente o significado do pronunciamento da Justiça, que requer obediência prática na esfera a que se reporta, mas não impõe silêncio obsequioso a outras indagações, a outros regimes de reflexão e avaliação. Uma sociedade não pode furtar-se a pensar e repensar, moralmente, como não pode renunciar a investir em pesquisas científicas, mesmo quando elas ameacem subverter sua autoimagem ou as crenças hegemônicas. Não há ofensa à Justiça, nem violação legal, quando um partido toma a liberdade de submeter à sua própria avaliação a conduta de uma pessoa condenada em primeira instância e conclui que ela tem as qualidades necessárias para filiar-se. Quem defende a tese oposta, sugere que a decisão parcial da Justiça basta para definir o postulante à filiação não só como responsável por alguma transgressão identificada, mas também como moralmente inepto. Imenso equívoco. A Justiça não se pronunciou sobre o status moral dessa pessoa. Não pode fazê-lo, nem lhe compete fazê-lo. A Justiça, vale reiterar, não existe para produzir a verdade, nem para medir o calibre moral dos cidadãos. A sociedade não pode ceder ao Estado, a qualquer de seus braços ou ramificações, a preciosa e inalienável liberdade de avaliar moralmente e de construir suas representações da verdade: nas ciências e nas filosofias, nas religiões e nas reflexões públicas e privadas sobre a moralidade. Nos embates que resultam da multiplicidade de teses e perspectivas sobre a verdade e a moralidade, não cabe a intervenção judicial, a menos que eles transbordem as fronteiras das diferenças culturais e políticas, traduzindo-se em violência e violação de direitos. Os conflitos de ideias e avaliações morais são irredutíveis, inconciliáveis, intermináveis e indispensáveis à vitalidade democrática. Pessoalmente, considero a Lei da ficha limpa uma dupla contradição: atribuindo-se poder de excluir da competição eleitoral a decisões judiciais de primeira instância, viola-se o princípio da Justiça, enunciado na Constituição, segundo o qual só há condenação quando a decisão judicial transita em julgado. Por outro lado, viola-se a soberania popular expressa no voto, ainda de acordo com a Carta Magna. Afinal, não se elege quem quer, quem se oferece como candidato, mas quem recebe votos populares. Se o voto é soberano, parece um contrassenso esterilizá-lo, vetando candidatos. Mesmo porque as Leis erram, suas aplicações falham, mas, em última instância, a fonte de sua correção ou de sua manutenção, a fonte da legitimidade das instituições são os eleitores. Eles constituem a ultima ratio do poder na democracia. O risco da judicialização é esvaziar a soberania popular. Entretanto, admito que há um clamor na sociedade contra a corrupção e a mercantilização do voto, e que confia no filtro judicial em primeira instância para sinalizar, demarcar e auxiliar a escolha eleitoral –como se vivêssemos em um mundo carente de informações. O clamor parece-me mais do que justificado, mas o método adotado, não. Seria mais eficiente promover mudanças nas estruturas políticas e nas regras eleitorais. Sobretudo, seria mais efetivo mobilizar a sociedade discutir política e eleições. Mas o clamor há, a demanda é fortíssima, o ceticismo cresce e as instituições perdem credibilidade, velozmente. É preciso considerar a dimensão simbólica de propostas e decisões. O que não me parece razoável é repetir o mantra demagógico para receber aplausos fáceis. É necessário revalorizar a política, a complexidade dos debates morais, a inalienável liberdade de pensar fora da circunscrição judicial, não para depreciar a Justiça, mas para não esperar dela o que ela não pode dar, e não lhe transferir o que é prerrogativa inalienável da sociedade: a elaboração autônoma e plural de juízos morais e a formulação independente de avaliações políticas. Ou jamais mudaremos o que houver de errado com as leis, com a Justiça, com a política e com nossa vida coletiva. Apesar das aparências e das perversões históricas nacionais, o Estado nasce da sociedade - não o contrário. A Rede pode prestar um serviço ao Brasil se resistir ao canto de sereia da aprovação fácil, do moralismo pueril, da ideologização maniqueísta, das dicotomias simplistas, do populismo penal, em nome de algumas posições de princípio contra-intuitivas, difíceis e, por isso mesmo, mais necessárias do que nunca.
Baixar