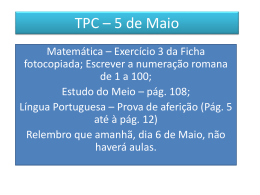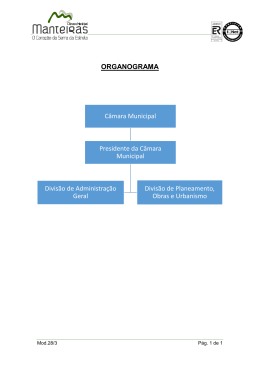155 III. Crítica às outras posições: a controvérsia O comentário de JESUS MARIA SOUSA, JOSÉ SÍLVIO FERNANDES, ANA CATARINA FERNANDO, HELDER ARSÉNIO LOPES Numa primeira e rápida análise, logo se nota a diversidade de perspetivas adotadas pelos diferentes autores, facto que constitui, naturalmente, um indicador da falta de debate nesta área, um indicador que é reforçado pelo facto de ter havido, como sabemos, uma enorme dificuldade em encontrar pessoas (‘interessantes’) interessadas em participar no debate. São situações que robustecem a nossa perceção acerca dos obstáculos que se colocam, mesmo ao nível das instituições, para que este debate seja realizado para além da pura discussão de aspectos técnicos sobre as avaliações em curso. Julgamos, por isso, que a problemática da avaliação de desempenho mereceria que sobre ela se realizassem aprofundados debates não só para os aspectos institucionais, mas também para prospetivar os efeitos dos resultados obtidos. Avaliações que no fundo não passam de instrumentos auxiliares da gestão, quer das instituições ligadas ao ensino e à formação (onde o ensino superior tem naturalmente um peso elevado), quer da própria sociedade em geral, pelo efeito transformador e multiplicador que o ensino e a formação provocam, quer ainda pelas consequências que têm na vida das pessoas que são o alvo e o objeto do processo educativo e formativo. 156 Salientamos esta função instrumental da avaliação, o que é mais uma razão para que sejam tidas em conta a sua eficiência e a forma de desempenho. A avaliação é, sem dúvida, um factor determinante em qualquer projeto social, pois permite não só o diagnóstico dos cenários prospectivos, mas também o controlo da evolução dos processos. Nestas cinco perspetivas apresentadas pelos diferentes autores sobre a avaliação, podemos verificar que três delas tiveram uma preocupação mais orientada para os aspetos da estrutura institucional, embora com abordagens diferentes, enquanto as outras duas se centraram nitidamente em aspetos instrumentais e de análise da funcionalidade, mas igualmente com incidências distintas. Todas estas perspetivas são certamente importantes, mas é fundamental que o debate permita conseguir uma coerência global, resultante da integração destas facetas, de modo a podermos sair dos diversos discursos, complementares, mas, por vezes, divergentes nos quadros de referência utilizados, o que dificulta a troca de opiniões, para encontrarmos formas de operacionalização, resultantes de políticas coerentes e capazes de abarcar todas as vertentes da questão. Centrando-nos mais diretamente no debate, verificamos que existe um consenso generalizado de que a crise que vivemos se integra num conjunto de crises locais, nomeadamente ao nível do ensino superior. Tem, assim, de ser realizada uma rutura no sentido kuhniano do termo, como já defendemos no nosso documento inicial. A nossa posição, eventualmente por não exercemos funções governativas ou por estarmos mais preocupados com o que vai ser do que com o que foi, apresenta algumas divergências relativamente às opiniões apresentadas por alguns dos autores. Encontrada uma base para a discussão e aceite o interesse do confronto de ideias divergentes, passamos a expor pontos de conflito entre as diferentes posições 157 defendidas nos documentos iniciais. Quando há convergência, o debate não é necessariamente menos rico nos ensinamentos que podemos retirar. Pontos de convergência de ideias podem, à luz deste nosso entendimento, constituir marcas de consolidação de posições. Alguns autores optaram por enquadrar e definir o quadro de referência usado para compreender as instituições do ensino superior e a dinâmica geral do seu funcionamento, reflexão que consideramos importante para a realização de diagnósticos, mas que, a nosso ver, não se esgota num conjunto de referências bibliográficas, que se, por um lado, nos permitem manter numa zona de conforto, por outro, impedem-nos de dizer algo de novo, para além do óbvio. Naturalmente que os diagnósticos são fundamentais, mas, quando considerados como um fim e não como um meio para definir uma possível intervenção (prescrição), correm o risco não só de perder objetividade, mas também de serem um mero exercício académico ou político, pouco eficaz, uma vez que os custos são muito elevados para os benefícios que daí podem advir. Na rentabilização do processo global, cada um deverá assumir o papel que melhor sabe desempenhar, numa lógica de subsidiariedade, segundo a qual toma as decisões quem para tal tem mais competência. No entanto, não nos podemos esquecer da necessidade de uma coerência global sobre o assunto. O percurso e o discurso não são, ou não devem ser, desarticulados. São faces da mesma moeda que marcam os trajetos de cada um. Tentaremos, portanto, concretizar as nossas leituras críticas sobre os textos apresentados para análise. “A mudança da Universidade e a avaliação dos académicos”, Alberto Amaral “Para criar um mercado ou quase-mercado de ensino superior é necessário conceder, em maior ou menor grau, autonomia às universidades 158 para que possam competir. Ora instituições autónomas a competir num mercado podem seguir estratégias que divergem dos objetivos do governo, ou da prossecução do bem público” (in pág. 29). “No caso do ensino superior este problema cria dificuldades em relação à autonomia institucional, uma vez que o estado vai procurar controlar a atuação dos agentes [universidades]” (in pág. 29). “Os mecanismos de controlo utilizados pelo estado incluem, por exemplo, sistemas de qualidade e acreditação, financiamento por contrato, intervenção de representantes da sociedade na governação, limitações à contratação de pessoal, etc.” (in pág. 30). Apesar de não estarmos de acordo com o “controlo do mercado “que se pretende instituir para cumprir os “objectivos do governo” ou para a “prossecução do bem público”, aceitamos que deve ser exercida uma função fiscalizadora institucional, a nível estatal ou outro. Concordamos, também, sem dúvida, com o diagnóstico apresentado, mas, mais uma vez, julgamos que é fundamental refletir sobre a coerência global entre os objetivos pretendidos e os mecanismos de avaliação utilizados numa lógica de custo benefício e numa perspetiva que não englobe só aspetos setoriais pois, julgamos que não pode ser perdida uma coerência global e, consequentemente, qualquer arranjo pontual exige os acertos necessários para que sejam mantidos os equilíbrios que propiciem a eficiência global do processo. “A educação passou a ser considerada um ingrediente indispensável da competitividade económica e deixou, progressivamente, de ser um direito social, para se tornar num serviço pago pelos seus consumidores, os estudantes” (in pág. 24). O facto de a educação ser um ingrediente indispensável da competitividade económica não é, na nossa opinião, necessariamente impeditivo de esta constituir um direito social. Assumir que a educação pode dotar os indivíduos para uma inserção no mercado de trabalho como cidadãos produtivos que poderão gerar riqueza e contribuir para desenvolver o país, seria um motivo mais do que suficiente para considerá-la uma obrigação social. Quanto ao serviço vir a ser pago pelos consumidores, julgamos tratar-se de uma afirmação de cunho populista, pois, apesar do aumento do valor das propinas, o seu 159 significado no orçamento geral das IES ainda não atinge essa dimensão. Naturalmente, não está aqui em causa a discussão do valor das propinas e se este é adequado ou não, mas sim quem assume o papel de cliente e de regulação do mercado ou “quase mercado”. “Os valores e as atitudes dos empreendedores são impostos aos académicos, ao passo que a nomeação definitiva vai desaparecendo com o fundamento de que inibe o espírito empreendedor (Torres e Schugurensky 2002)” (in pág. 24). Ora a revisão dos estatutos da carreira docente (DL nº 205/2009, de 31 de agosto e DL nº 207/2009, de 31 de agosto) já extinguiu esta figura. Atualmente existe um período experimental e um vínculo reforçado que poderá ser atingido nas categorias de topo (tenure). “… a diversificação das fontes de financiamento e as restrições do financiamento público, a atribuição do financiamento de acordo com critérios de avaliação da performance ligada a necessidades da economia, a primazia dada à relevância económica do ensino e da investigação, o aparecimento dos rankings, formam um quadro comum…” (in pág. 25). Quanto à atribuição de financiamento de acordo com critérios de avaliação da performance ligada a necessidades da economia, não temos conhecimento de que tal prática esteja implementada nas IES portuguesas, mas a acontecer, seria desejável que os critérios saíssem do obscuro palavreado para uma definição clara e precisa, de modo a permitirem ajustes intencionais por parte dos avaliados. Também a primazia da vertente económica do ensino e investigação, na nossa opinião, sofre de problemas graves de conversão de capitais, pois entre as “métricas académicas” (ISIs, factores de impacto, etc.) e a relevância económica, social, na criação de conhecimento, etc., existe uma espécie de buraco negro que torna ininteligível esta transformação de capitais. Quanto aos rankings, como já foi referido por outro autor, cada um deles compara determinados indicadores, sendo necessário ter consciência se são os mais apropriados e os que de facto interessam para avaliar o que pretendemos. Em suma, julgamos que há que não esquecer a necessidade de existir uma coerência global. Torturar os indicadores até que nos apresentem os resultados que pretendemos ver é um exercício comum, mas que acarreta perigos na avaliação dos processos a 160 médio/longo prazo e que pode comprometer os comportamentos que pretendemos solicitar. “A primeira razão é que, embora o sistema de ensino superior esteja mais orientado para o mercado, este é dominado por fatores (resultados da avaliação da investigação e número de alunos) que só os académicos podem controlar e explorar. … A terceira razão é que os novos órgãos de gestão não foram capazes de promover a excelência académica. As universidades que, em regra, ocupam as primeiras posições nos rankings, têm modelos de governo que realçam a colegialidade na gestão em vez do domínio por um executivo, o que questiona o modelo empresarial como apropriado a instituições de ensino superior de elite.” (in pág. 32). Neste conjunto de razões, cada uma delas talvez defensável, não haverá uma contradição que resulta numa conclusão (sem que sejam feitas opções) inexequível? “Este tempo já não é tempo dos académicos, mas dos outros; dos outros que avaliam e monitorizam e a quem os académicos prestam contas do seu tempo. Mas o tempo académico está a tornar-se curto e rápido. Dá-se prioridade às tarefas que podem ser completadas rapidamente. O tempo rápido é o resultado da competição crescente entre instituições e investigadores. Competição que é parte da lógica dos mercados. Mas o tempo rápido tem a função de reduzir a dimensão crítica da Universidade. O tempo rápido reduz o tempo para pensar o impensável. Não se trata, apenas, de uma questão de tempo mas de uma questão de qualidade do tempo” (in pág. 35). A qualidade do tempo dos académicos é sem dúvida um tema pertinente de discussão, mas aqui não percebemos se se propõe a mudança do tempo ou a dos académicos. “Resta saber se e quando será possível inverter as tendências atuais.” …. Poderemos assim concluir que o homem certo no tempo certo no local certo é sempre um objetivo desejável mas nem sempre alcançável. “A avaliação do (no) Ensino Superior”, Fernando de Almada 161 Relativamente ao texto deste autor concordamos com os problemas levantados em relação ao quadro de referência, bem como com a noção de ensino/formação como um processo de adaptação do homem (num equilíbrio de ganhos e perdas). Como o autor refere, a avaliação é um instrumento e pode assumir diferentes funções que julgamos fundamental discutir, pois é a compreensão desta coerência que nos permitirá não só refutar as atuais avaliações como construir novos processos que sejam coerentes com os objetivos pretendidos e os meios disponíveis. Partilhamos a noção da crise hoje vivida ao nível do Ensino Superior e do domínio de uma perspetiva centrada numa visão burocrática/tecnocrática, onde os académicos, pela sua falta de espírito crítico e dificuldade em assumir algumas responsabilidades, são os principais responsáveis, e da necessidade de operar transformações de fundo que nos permitam sair desta teia tão bem urdida. “Avaliação de desempenho: competição ou cooperação”, José Ferreira Gomes O texto merece genericamente o nosso acordo, quanto ao diagnóstico do processo que conduziu ao estabelecimento das bases jurídicas e institucionais da avaliação de desempenho dos docentes do ensino superior. A remissão para o articulado do ECDU sobre as vertentes da atividade docente que devem ser consideradas (artigos 4º e 74º), com a menção expressa de que foram interpretadas de forma literal pela generalidade das instituições. Sublinha esse nosso entendimento a opinião de que tudo isso resultou em “longuíssimas listas a considerar e fórmulas muito complexas (e opacas) para a produção de uma nota como resultado final da avaliação”. Parece-nos que a complexidade dos itens a ter em conta, tanto na discriminação das funções dos docentes como no conspecto normativo que deve regular a avaliação de desempenho, demonstra claramente que outro resultado não poderia ser atingido que não a elaboração de regulamentos inapropriados para medir as diversidades das 162 funções do docente do Ensino Superior. O alvo dessas funções não deve ser certamente o de um qualquer oficiante cujo objetivo é mergulhar numa estrutura burocrática que produz resultados a partir da aplicação de uma métrica, que, a prazo, fará da sua atividade uma rotina tão nefasta quanto a que fora identificada para justificar a alteração da forma como antes era avaliado. Parece-nos, por isso, que não faz sentido que o Estado promova, através de legislação própria, a implementação e execução de modelos de avaliação que podem resultar em esgotamento de tempo e de recursos, para, por exemplo, não se poder ver aplicados os prémios previstos, por via do congelamento dos reposicionamentos salariais, em consequência da crise financeira, embora, como é referido pelo autor, quando isso foi possível acontecer, a maioria dos docentes pôde ver o seu vencimento aumentado. Talvez tivesse que ser mais ousado na análise, uma vez que, além deste episódio, haveria que reflectir sobre a dificuldade de aplicar, em toda a sua extensão, os artigos 74º A, B e C do ECDU, nomeadamente no que diz respeito às restrições de execução orçamental que afetam as IES. Se se adicionar o argumento de que um tal processo é assim considerado como verdadeiramente complexo, moroso e dispendioso, teremos necessariamente que concordar que, em vez de facilitar a avaliação de desempenho dos docentes, cria problemas sérios de sustentabilidade das IES, muitos deles resultantes da incapacidade de harmonizar os critérios de justiça na avaliação dos docentes com a conveniente gestão dos recursos financeiros disponibilizados. Toda a argumentação apresentada a seguir a este diagnóstico corresponde a uma lúcida análise do processo atualmente em vigor, de que destacamos a passividade com que a avaliação de desempenho foi aceite pela generalidade dos docentes; a ilusão das lideranças institucionais quanto ao facto de poderem dispor de instrumentos para extrair ganhos de eficiência; os efeitos impercetíveis da avaliação nestes quatro anos; o aumento da carga burocrática; a falta de integração de sistemas de informação para acesso e tratamento de dados necessários, nomeadamente na relação com o sistema de currículos da FCT. Depois de fazer uma rápida transição para a constatação de que “não havendo experiência que permita avaliar o efeito da Avaliação de Desempenho no comportamento dos docentes do Ensino Superior, não 163 podemos saber com segurança quais os efeitos que terá sobre o funcionamento das IES e sobre a produção dessas instituições…”, o autor não valorizou a questão fundamental de, de algum modo, as IES, juntamente com a FCT, propugnarem por um sistema integrado de informação sobre os docentes e investigadores, que pudesse dar conta de todas as vertentes das suas funções a que estão legalmente obrigados, de modo a evitar que algumas delas apareçam notabilizadas em relação a outras. Dispersam-se esforços por diversas formas e instrumentos de recolha de informação, consumindo desnecessariamente tempo e recursos. Além disso e, como é referido na análise realizada, não é líquido que, em todas as suas implicações, o sistema de Avaliação de Desempenho, genericamente fundamentado numa métrica rigorosa e minuciosa, resulte em ganhos de prémios, com incidência remuneratória, seja satisfatório e colha a concordância dos avaliados. Os exemplos arrolados, a partir de experiências levadas a cabo noutros países, demonstram que poderemos estar novamente a mimetizar processos já experimentados extra-muros há muitos anos, sem salvaguardar as diferenças temporais e a fortiori a vantagem que, apesar de tudo, nos dá o facto de termos entrado mais tarde neste processo. Poderíamos, assim, ter evitado os erros já apontados por outros, em particular aquele que diz respeito às métricas que pouco dizem da real capacidade de o docente ser qualitativamente exímio em componentes tão importantes como o ensino, a investigação, e o serviço à instituição e à sociedade. A referência específica ao modelo de avaliação da Universidade de Aveiro reflete a preocupação de denunciar as vertentes de confidencialidade, de hierarquização e de verificação de alguns dados que estão para “além da capacidade humana”. No entanto, o autor não deixa de avaliar os algoritmos de avaliação como interessantes, “representando um enorme esforço dos seus autores e dos órgãos que os aprovaram para produzir um modelo compreensivo, equilibrado e aceitável pela comunidade docente” (in pág. 103). Na sequência desta questão, percebe-se claramente a crítica da incapacidade de se ter realizado em Portugal uma devida discussão sobre esta matéria, de modo a ter sido operacionalizado um sistema mais consentâneo com a avaliação da atividade de desempenho dos docentes do ensino superior que proporcionasse uma escala de 164 mérito, expressa numa real medida da qualidade tanto individual como institucional, promotora de evolução e de enriquecimento dos saberes. Percebe-se também que tal análise está fundamentada por estudos e experiências, sobretudo retiradas de modelos anglo-saxónicos, sem necessariamente deslustrar a pertinência dos efeitos comparativos e das possibilidades de aplicação. Não se entende, porém, a citada cedência à métrica da Universidade de Aveiro, apenas supostamente válida a partir do pressuposto de que os autores e os órgãos que a formularam estariam a antecipar a aceitação dos docentes, depois de indicar aspetos menos afáveis do processo de que resulta “uma potente folha de Excel” que dá o resultado e que conclui o processo de avaliação. Menos ainda se entende tal concessão (se intencional), quando, no remate da exposição, o exemplo retirado do Departamento de Química da Universidade de Stanford, sobre os critérios para a obtenção da tenure, aponta precisamente para uma legitimação democrática através dos pares, evitando-se métricas “objetivas”. É que à pergunta se haverá outra maneira de fazer as coisas, que é resolvida através da consideração sucessiva dos tópicos que podem ser simplificados na qualidade, nos custos, na investigação com impacto internacional e na criação de conhecimento útil, parece-nos haver uma preocupação por fazer uma análise extensiva, para a qual concorrem não só as evidências da realidade atual como a ponderação de soluções apropriadas. Nesse sentido, o autor demonstra capacidade de abertura para a discussão sobre os modelos mais adequados para otimizar os sistemas que enquadram a avaliação dos docentes e investigadores e, por consequência, a avaliação das IES, tanto interna como externamente. Por isso, na referida menção a práticas de Stanford, pelo menos na ideia de que a avaliação da qualidade de um docente, para uma determinada função ou categoria, não deve ser sujeita a métricas “objetivas” merece a nossa inteira concordância, ademais reforçada pela consideração final de crítica à mensurabilidade dos métodos de avaliação, pois “podem ser úteis e serenar suspeições mas não são os preferidos pelas instituições de topo para identificar os melhores” (in pág. 111). Fica, portanto, por saber se a derradeira frase, incluída na sequência daquele pensamento (“A última palavra é dada ao falível perito humano”), encerra a convicção 165 de que afinal o modelo deve simplesmente e, quiçá ao arrepio de algumas das declarações anteriores, resumir-se à avaliação pelos peritos. Assim sendo, poder-se-ia dizer que teremos que repensar tudo, de modo a encontrar uma forma de avaliação mais simples e atinente ao que é absolutamente essencial na atividade de um docente do ensino superior. Ainda assim, vem a propósito rememorar um célebre passo do tratado Brutus de Cícero, quando estabelece os critérios para a avaliação do orador. Diz o grande orador e retórico romano que nunca houve divergência de opiniões entre especialistas e o povo no que diz respeito ao facto de um orador dever ou não ser avaliado como bom ou mau. Sempre houve essa concordância, apenas com exceção nos casos em que inexistia um termo de comparação. Um orador mediano podia, por essa razão, ser tomado como bom orador. À distância de mais de dois mil anos, parece que não é necessário esgotar recursos e tempo em pormenores avaliativos que irão, na prática, resultar em ordenações hierarquizadas, nas quais o lato espectro entre o excelente e o mau, confirmará a improbabilidade estatística destes dois extremos. Seria, por isso, conveniente encontrar uma solução de compromisso aceitável entre as falíveis avaliações pelos pares e a pretensa infalibilidade das métricas mais tenazes. “O desafio de avaliar o Ensino Superior”, Michael Seufert Se analisarmos de per se cada um dos pontos focados no documento apresentado, podemos afirmar genericamente que até concordamos com algumas das posições que são assumidas, em particular no que concerne ao diagnóstico que é feito. Contudo, tendo em conta uma visão de conjunto e à articulação de alguns dos aspetos considerados, mostramos algumas reservas, pois parecem existir conceções contraditórias que colocam em causa a coerência global do que se pretende defender. Meramente a título de exemplo, vejamos alguns das posições com que concordamos e algumas das disfuncionalidades das posições assumidas: 166 “Olhando para a realidade portuguesa, reflectir acerca da avaliação do ensino superior é particularmente pertinente.”, até porque parece que é pertinente que exista reflexão sobre qualquer vertente que seja estruturante (in pág. 118). “É que se existem poucas dúvidas acerca das vantagens da avaliação, subsistem muitas mais questões pendentes sobre os diferentes modelos possíveis para essa avaliação” (in pág. 118) - embora muitas vezes as poucas dúvidas sejam fruto de pouca reflexão e debate. “…é naturalmente legítimo perguntar: como avaliar diferentes instituições, que usam diferentes métodos e que até quanto à matéria científica concreta podem divergir? Como avaliar a percepção pública sobre a qualidade duma instituição que opera numa área em que existe pouca investigação ou em que a investigação é polémica?” (in pág. 119) - É tanto mais legítimo, quando não se quer respeitar e estimular diferentes escolas de pensamento, antes pelo contrário procura-se (e exigese) que exista uma uniformização e padronização de linhas de investigação, de planos de estudos de cursos da mesma área científica, etc. “A visibilidade pública destes rankings é muito grande, o que obriga as instituições a estarem não somente preparadas para facultar a informação necessária como, em muitos casos, incentiva as instituições a trabalhar para satisfazer os objectivos quantitativos que compõem estes rankings. As metodologias dos rankings divergem, e consequentemente conduzem a diferentes resultados, …” (in pág. 120). Claro, e por isso como é que se pode querer alimentar rankings que não tenham em conta os objetivos que queremos alcançar? “Ficam assim em oposição, de um lado, um indicador objectivo (número de publicações5) e, do outro lado, um indicador altamente subjectivo (reputação)...5 Ainda que a normalização dos dados para compensar áreas em que se publica menos possa oferecer dúvidas quanto à objectividade” (in pág. 121). Que objetividade das publicações? Boa parte das vezes não significará, essencialmente, que se pertence a uma confraria de publicações e citações? O conceito de revistas predadoras, associadas em muitos casos a universidades de referência, não é conhecido por todos? Os interesses económico-financeiros associados, quer do Estado quer de alguns 167 “publicadores”, muitas vezes fruto de verdadeiras negociatas institucionais também não são do conhecimento geral? Até quando continuaremos a esconder a cabeça na areia e a assobiar para o lado como se nada se passasse? Porém o mais grave é que se continua a condicionar e mesmo a obrigar a construir carreiras e inclusive, em muitos casos a fazer uma verdadeira regulação da oferta do ensino superior com base neste tipo de critérios dito objetivos. Como em educação estamos a falar de ciclos longos, as más opções que hoje se façam terão repercussões a longo prazo. “Em primeiro lugar, a recolha da informação. Qualquer uma destas avaliações obriga as instituições a recolher sucessivamente informação, de modo a as poder levar a cabo. Evidentemente, o tipo de informação não é o mesmo, nem é o processo de recolha dessa informação. Mas é pertinente para a nossa reflexão o facto de, sendo necessária essa recolha, as instituições que têm o interesse de participar nas avaliações serem obrigadas a recolher dados junto dos alunos (o seu grau de satisfação, por exemplo) – um exercício que, independentemente do fim principal, permite a autoavaliação, o conhecimento próprio e, forçosamente, permite a melhoria” (in pág. 123). Ou, pelo contrário, pode reforçar os erros que se cometeram, ou levar a novos erros, de modo a estar em conformidade com aquilo que seja exigido pelos critérios dos rankings e respetivas ponderações. Erro no sentido de opções que não sejam as mais adequadas tendo em vista não só as situações em causa mas também o seu desenvolvimento futuro (como referimos anteriormente). “Tal como não é segredo que a recente fusão irá possibilitar à Nova Universidade de Lisboa alcançar posições nesses rankings, por uma questão de escala, que de outro modo nenhuma universidade em Portugal alcançaria” (in pág. 126). Quando, por uma questão de escala, é possível ter grandes melhorias nos rankings estamos conversados. Se por um lado é fácil concordar com: “Fica, no entanto, evidente que o carácter subjectivo é indissociável da avaliação, e que como tal qualquer resultado de uma avaliação deve ser lido com prudência” (in pág. 124). 168 “Sendo evidente que não há IES iguais, tal como não há escolas iguais, e que consequentemente haverá instituições melhores do que outras, os rankings obrigam (comparativamente aos outros tipos de avaliação) a uma prudência acrescida. Desde logo, porque cada ranking valoriza mais um ou outro factor, e porque nem sempre essa valorização é coincidente com aquilo que valoriza quem consulta o ranking” (in pág. 125). “Ou seja, a opção pelos rankings poderá ser, em alguns casos, um incentivo às instituições para investirem em questões laterais (de forma a conseguirem mais pontos na classificação), em vez de investirem em aspectos que poderiam ser mais benéficos para os estudantes (mas que não teriam impacto na pontuação do ranking). Talvez por causa deste risco, não há registo de rankings oficiais feitos por Ministérios da Educação” (in pág. 125). Por outro lado, em função do que foi afirmado, já temos dificuldade em perceber a posição que é tomada relativamente ao financiamento do Estado (ou será Governo) “Isto passará inevitavelmente por ligar financiamento aos resultados da avaliação. Isso já acontece ao nível de financiamento da Ciência no âmbito dos apoios da FCT, mas não acontece de forma alargada no financiamento das IES pelo Orçamento de Estado” (in pág. 126). Também não nos parece ser muito feliz apresentar o exemplo da FCT como algo a seguir … A hermenêutica sem dúvida permitiria algumas interpretações mais profundas, ou mesmo os postulados aceites e os significados utilizados para os diferentes conceitos para podermos ir mais longe na análise dos sentidos atribuídos, mas pensamos que nos bastará concluir que o debate sobre as fundamentações tem que ser feito, não só sobre alguns dos seus aspetos superficiais, mas sobretudo nas suas justificações e alicerces. Se tal não é possível ao nível do ensino superior, onde poderá sê-lo? A CONCLUIR: Um ensino superior sem debate, porque anda só a ‘apagar fogos’ ou por outra “razão menos razoável” (existem não tenham dúvidas!) é um desperdício de valores e 169 vontades, assim como um dispêndio de recursos e de meios de uma forma não só criticável, mas por vezes mesmo infractora. É fundamental encontrar as competências para cada uma das diferentes áreas fundamentais para que seja pensada uma avaliação coerente, credível, séria e objetiva. Isto significa a existência de uma coordenação global, ou seja, fundamentalmente, de um projeto que possa evoluir e ser corrigido através dos tempos, suportado por uma investigação consistente e objectiva, o que permitirá sair até de aspetos meramente pontuais como hoje se verifica em muitos dos trabalhos realizados; uma coordenação que permita rendibilizar as múltiplas valências existentes, e distinguir e selecionar as que têm um valor real e prático, fazendo emergir, assim, as potencialidades existentes num projeto global que possa alicerçarse nas múltiplas iniciativas resultantes das autonomias institucionais e individuais. É, por isso, nossa convicção de que o debate franco e aberto constitui o meio mais conveniente para congregar perspetivas e vontades e para encontrar as melhores soluções.
Download