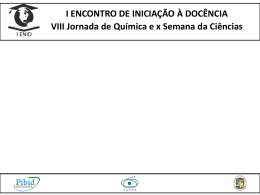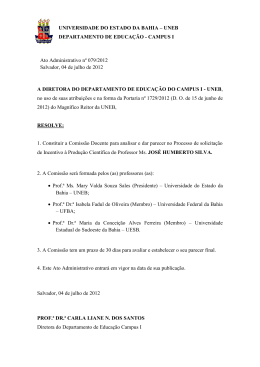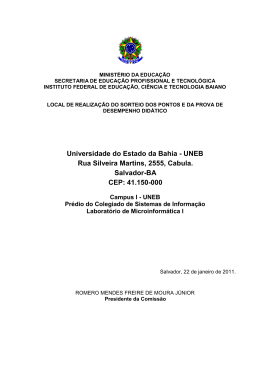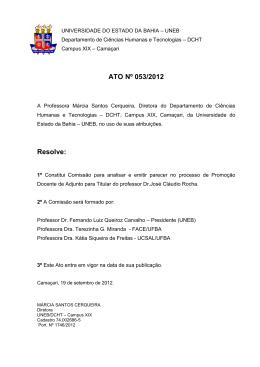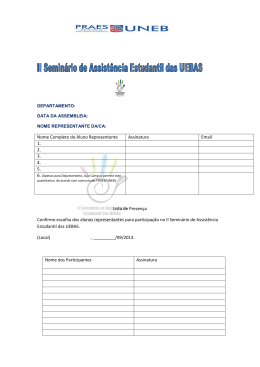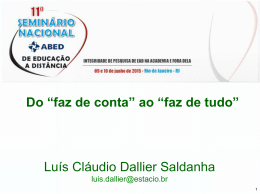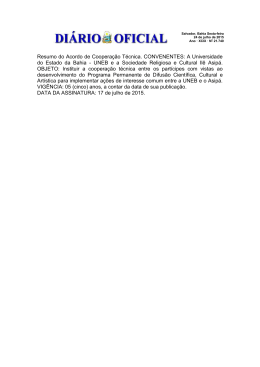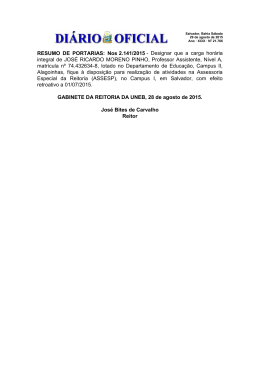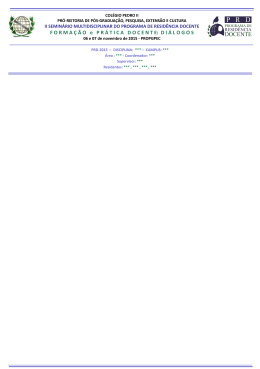EXPEDIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Reitor Lourisvaldo Valentim da Silva CADERNO DE RESUMOS DO II SEMINÁRIO DE IDENTIDADE E DOCÊNCIA DO DCHT – CAMPUS XVI Coordenador(es/as) de Colegiados Lormina Barreto Neta – Pedagogia Marielson Bispo Carvalho - Letras Vice-reitor Adriana dos Santos Marmori Lima Editores Drª Á Cenilza Pereira dos Santos – UNEB Robério Pereira Barreto – UNEB Pró-reitor de Pesquisa e Pós – Graduação José Cláudio Rocha Comitê Científico Dr. André Luiz Gaspari Madureira - UNEB M.Sc. Dndº Alcides Leão Santos Júnior – UERN M.Sc. Ana Lúcia Nunes Pereira – UNEB M.Sc. Dndª Ana Carla Ramalho Evangelista Lima – UEFS M.Sc. Dndª Cenilza Pereira dos Santos – UNEB Mnda. Cinara Barbosa O. Morais - UNEB Dr. Cl Dr. Claudio Roberto Meira – UNEB Dr. Claudio Eduardo Félix dos Santos – UNEB Mnda. Claudilson Souza dos Santos– UNEB M.Sc. Dndª Christiane Freitas Luna – UESC Mnda. Daniela Lopes Dourado – UNEB M.Sc. Darcy Ribeiro – UNEB Drª Edilene Maiole – UFRB M.Sc. Dndª Emanuela Carvalho DouradoUNEB M.Sc. Fabrício Oliveira da Silva – UNEB Esp. Gleiton Silva de Sales – UNEB Mnda.Helga Porto Miranda - UNEB Esp. Hilderlândia Penha Machado – UNEB M.Sc. Dndª Ivonete Barreto de Amorim – UNEB/Fundação Visconde de Cairú M. Sc. Kedma Barreto - UNEB M.Sc. Dndª Leomárcia Caffé de Oliveira Uzêda – UEFS Mnda. Lormina Barreto Neta – UNEB M.Sc. Marluse Arapiraca dos Santos – UNEB M.Sc. Dndº Robério Pereira Barreto - UNEB M.Sc. Dndª Zenilda Fonseca de Jesus – UEFS Pró-reitor de Ensino de Graduação José Bites de Carvalho Equipe Técnica: Bibliotecária Responsável II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Diretora do DCHT Helga Porto Miranda Coordenador do NUPE Joabson Lima Figueiredo Coordenador do NULTEC Robério Pereira Barreto Coordenador(a) do NUFOP Cenilza Pereira dos Santos Realização e organização Núcleo de Formação de Professores – NUFOP Núcleo de Estudos de Linguagens e Tecnologias – NULTEC Direção do DCHT – UNEB – Campus XVI Ilvânia Oliveira Silva Monitores: Recepção: Juliana Cirino, Patrícia Morais e Bruna Lago Cerimonial: Stácio Alves, Suellen Barreto, Jackson Rosendo, Patrícia Barreto Apoio à organização: Aidê Lima, Luane Matos, Rafaela Nunes Multimeios: Luciel Rodrigues da Silva Atualização do site: www.unebirece.org/id Hugo Eduão/Robério Barreto/ Wemder Marcolino Apoio: Fundação de Amparo a Pesquisa da Bahia – FAPESB DCHT – campus XVI Pró-Reitoria de Extensão – PROEX Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD 3 Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência UNEB – Campus XVI/ Irecê-BA Bibliotecária: Ilvânia Oliveira Silva CRB-5/1321 Catalogação na Fonte Seminário sobre Identidade e Docência (2: 2012: Irecê,BA) S471c Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência / Organizadores Cenilza Pereira dos Santos, Robério Pereira Barreto. – Salvador, BA: EDUNEB, 2012. 379 p. 1 CD. ISSN 2237-1710 Vários autores 1. Educação. 2. Formação de professores. 3. Docência 4. Tecnologia de Informação e Comunicação. I. Universidade do Estado da Bahia (UNEB). II. Título. CDD: 370.19 20. ed Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ SUMÁRIO PROGRAMAÇÃO 09 APRESENTAÇÃO 11 CONFERÊNCIA DE ABERTURA: Trabalho Docente e Formação de Professores: novos desafios e possibilidades Profª Drª Amali Mussi - UEFS 13 MESA TEMÁTICA: Identidade e trabalho docente: algumas reflexões Profª M.Sc. Ivonete Amorim – UNEB – Campus XI/Visconde de Cairú Ana Carla Ramalho Evangelista Lima (UEFS/NEPPU) IDENTIDADE E TRABALHO DOCENTE: especificidades e tensões Ivonete Barreto de Amorim (UNEB) 24 SER PROFESSOR NA EDUCAÇÃO BÁSICA: DOCÊNCIA, IDENTIDADE E FORMAÇÃO Ana Carla Ramalho Evangelista Lima (UEFS/NEPPU 32 MESA TEMÁTICA: Perspectivas contemporâneas para a formação de professores Prof. M.Sc. Robério Barreto – UNEB – Campus V Profª M.Sc. Cenilza Santos – UNEB – Campus XV LETRAMENTO DIGITAL E SUAS IMPLICAÇÕES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES Robério Pereira Barreto (UNEB) 41 IDENTIDADE PROFISSIONAL E DOCÊNCIA: ALGUMAS REFLEXÕES Cenilza Pereira dos Santos (UNEB) 49 CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO: A construção do Trabalho docente nos cursos de formação de professores Profª Drª Denise Guerra – UFBA A CONSTRUÇÃO DO TRABALHO DOCENTE NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: O QUE UM CURRÍCULO COMO NARRAÇÃO NOS DIZ? Denise Moura de Jesus Guerra FORMACCE/FACED/UFBA 58 Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). 5 ARTIGOS 1.1 SOBRE OS SABERES NECESSÁRIOS AO PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO IDENTITÁRIA DO PROFESSOR: O OLHAR DE LICENCIANDOS 68 Jéssica Fernanda França Silva (UEFS) Amali de Angelis Mussi (UEFS) 1.2 O PROFESSOR E A(S) IDENTIDADE(S) DOCENTE(S) NO CONTEXTO FORMAÇÃO INICIAL 78 Maximiano Martins de Meireles (Universidade Estadual de Feira de Santana) Antonio Roberto Seixas da Cruz (Universidade Estadual de Feira de Santana) 1.3 FORMAÇÃO DE EDUCADORES EM ECONOMIA SOLIDÁRIA: A EXPERIÊNCIA DO PROJOVEM - SABERES DA TERRA NA BAHIA 87 Denise Nascimento de Araújo (UNEB) Tatiana Santos Borba (UNEB) Gilma Flávia Souza Ferreira (UNEB) 1.4 CONSTRUCIONISMO E INOVAÇÃO PEDAGÓGICA 101 Helga Porto Miranda (UNEB – DCHT – Campus XVI) 1.5 A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NA UNIVERSIDADE QUANDO OS ESTUDANTES VIVENCIAM A INDISSOCIABILIDADE ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 109 Monique Barreto Pereira (UNEB – DCHT – Campus XVI) 1.6 A ESCOLA NORMAL RURAL E SEUS ATORES NA MICRORREGIÃO DE JACOBINA Á CIDADE DE MIGUEL CALMON : rituais de formação, mitos de identidade e vivências pedagógicas. 117 Rúbia Mara de Sousa Lapa Cunha (UNEB – Campus IV) Helga Porto Miranda (UNEB – DCHT – Campus XVI) 1.7 REPRESENTAÇÕES DE ESTUDANTES DE LICENCIATURA DA UEFS SOBRE SABERES NECESSÁRIOS À DOCÊNCIA 126 Taiara de Lima Silva Brandão SANTOS (Universidade Estadual de Feira de Santana); Adriana de Oliveira SOUZA (Universidade Estadual de Feira de Santana); Aline dos Santos SOUZA (Universidade Estadual de Feira de Santana); Antonio Roberto Seixas da CRUZ (Universidade Estadual de Feira de Santana) 1.8 EDUCAÇÃO, TRABALHO E PRÁTICA PEDAGÓGICA: PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS 139 Denise Nascimento de Araújo (UNEB) Tatiana Santos Borba (PPGEduc - UNEB) Macio Nunes Machado (UNEB – DCHT – Campus XVI) 1.9 ELEMENTOS DE QUALIDADE: REPRESENTAÇÕES DOS ESTUDANTES DE LICENCIATURA DA UEFS 148 Ana Maria Fontes dos Santos (Universidade Estadual de Feira de Santana) Izabel Pires da Conceição (Universidade Estadual de Feira de Santana) 1.10 O CENÁRIO PEDAGÓGICO DE UMA ESCOLA NORMAL NA MICRORREGIÃO DE JACOBINA: CURRÍCULO, FORMAÇÃO E MEMÓRIA. 159 Frederico Brasileiro dos Santos (SEC-BA/DIREC16) Rúbia Mara de Sousa Lapa Cunha (UNEB – DCHT – Campus XVI) II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ 1.11 O CONSTRUCIONISMO E INOVAÇÃO PEDAGÓGICA: a ordem é inovar! 175 Cinara Barbosa de Oliveira Morais(UNEB – DCHT – Campus XVI) 1.12 A CULTURA DE PAZ NA EDUCAÇÃO BASEADA NA CONSCIÊNCIA CRÍTICA DE PAULO FREIRE 183 Guilhermina da Silva Souza (UNEB – DCHT – Campus XVI) EIXO TEMÁTICO: Identidade e Docência: Trabalho docente e Práticas educativas 2.1 PRÁTICAS DA ORALIDADE QUE ELUCIDAM A COMUNICAÇÃO ENTRE PROFESSOR E ALUNO 191 Fabrício Oliveira da SILVA (UNEB – DCHT – Campus XVI) 2.2 A ESCRITA DA ORALIDADE NO LIVRO “UM CONTO DE CADA CANTO” DE PITA PAIVA 201 Leusina Neves Monteiro (UNEB – DCHT – Campus XVI) Robério Pereira Barreto (UNEB – DCHT – Campus V) 2.3 INDISCIPLINA - ANÁLISE DE UMA REALIDADE 209 Susana Rita Barreto Pimentel (IEB) Lormina Barreto Neta (UNEB – DCHT – Campus XVI) 2.4 EDUCAÇÃO INFANTIL: O SILÊNCIO DO PRECONCEITO ÉTNICO-RACIAL NA SUA PRÁTICA PEDAGÓGICA 217 Marta Ribeiro Sena (UNEB – DCHT – Campus XVI) 2.5 A CRIANÇA COM TDAH: CARACTERÍSTICAS E INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS 225 Edcleia Gomes Lacerda (UNEB – DCHT – Campus XVI) Jérssica Durães de Souza (UNEB – DCHT – Campus XVI) Patrícia Júlia Souza Coelho (UNEB – DCHT – Campus XVI) 2.6 DA DIDÁTICA A MATÉTICA – REPENSANDO A EDUCAÇÃO 234 Lormina Barreto Neta (UNEB – DCHT – Campus XVI) 2.7 PROJETO UNIVERSIDADE PARA TODOS - UPT: IMPACTO EDUCACIONAL NO TERRITÓRIO DE IRECÊ 240 Jorge Luiz Santiago Rocha (UNEB – DCHT – Campus XVI) 2.8 A EXPERIÊNCIA DO ENSINO COLABORATIVA NO MUNICÍPIO DE IRECÊ: O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO RESIGNIFICANDO A APRENDIZAGEM DO ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. 250 Sheila Briano de Oliveira (UNEB – DCHT – Campus XVI) 2.9 A INCLUSÃO DA CRIANÇA SURDA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: DESAFIOS E POSSIBILIDADES NA ESCOLA MANOEL AUGUSTO DOURADO NO POVOADO DE BELO CAMPO MUNICIPIO DE AMÉRICA DOURADA-BA. 263 Elis Regina da Silva Dias Dourado (UNEB – DCHT – Campus XVI) Sheila Briano de Oliveira (UNEB – DCHT – Campus XVI) 2. 10 ANÁLISE DO DISCURSO DA LITERATURA BAIANA EM PROL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. 279 Geórgia Ludmila Martins Silva (UNEB – DCHT – Campus XVI) Sheila Briano de Oliveira (UNEB – DCHT – Campus XVI) Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). 7 EIXO TEMÁTICO: Identidade e Docência: Trabalho docente e tecnologias 3.1 A DOCÊNCIA E O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS EM SALA DE AULA- ENSINO FUNDAMENTAL 293 Eliabe Batista de Souza (UNEB – DCHT – Campus XVI) Maria Geane Pereira da Silva (UFBA) 3.2 A CULTURA HUMANA DA COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO NO AMBIENTE DAS TECNOLOGIAS E DA INFORMATIZAÇÃO 300 Élis Franciélis Barbosa Paiva (IFBA – Campus –Irecê) 3.3 INTERNETÊS: TRANSPOSIÇÃO E USO DOS GÊNEROS DIGITAIS NA ESCRITA DE ALUNOS 311 Keila Nunes dos Santos (UNEB – DCHT – Campus XVI) Robério Pereira Barreto (UNEB – DCHT – Campus V) 3.4 A ESCRITA ANALÓGICA E DIGITAL DOS ESTUDANTES DA ESCOLA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES – IRECÊ –BA 326 Giomara Gomes Rocha Machado (UNEB – DCHT – Campus XVI) Robério Pereira Barreto (UNEB – DCHT – Campus V) 3.5 MOBILE LEARNING COMO UMA AÇÃO SIGNIFICATIVA NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 340 Adelmo Ferreira de Abreu (UNEB – DCHT – Campus XVI) Robério Pereira Barreto (UNEB – DCHT – Campus V) 3.6 EDUCAÇÃO, CIBERCULTURA E LEI QUE ORGANIZA O MUNICÍPIO - LOM 349 Ednildes Sodré Gomes (FAM – Faculdades Montenegro). (ATHUS – Consultoria e Gestão de Pessoas) 3.7 EDUCAÇÃO MUSICAL EAD CONTRAPONTOS DE UMA TUTORA- ALUNA 359 Vanessa da Silva Parisi (Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS) Orientadora: Jaqueline Câmara Leite (Universidade Federal da Bahia – UFBA) 3.8 AVALIAÇÃO DE SOFTWARE EDUCATIVO: UM OLHAR SOBRE OS FINS DA SUA UTILIZAÇÃO NA MEDIAÇÃO DA APRENDIZAGEM – A PARTIR DA AVALIAÇÃO DO SOFTWARE CMAPTOOLS . Daniela Lopes O. Dourado (UNEB – DCHT – Campus XVI) 3.9 ANÁLISE DO DISCURSO NA PEÇA PUBLICITÁRIA VEICULADA PELA FIAT 376 Suellen Barreto dos Santos (UNEB – DCHT – Campus XVI) Robério Pereira Barreto (UNEB – DCHT – Campus V) II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ PROGRAMAÇÃO DO II SEMINÁRIO SOBRE IDENTIDADE E DOCÊNCIA 16 de maio de 2012 (19h30min às 21h30min) 18h - Credenciamento 19h – Mesa de Abertura: Convidados (Representantes da Uneb: Profª Adriana Marmori, Prof. José Bites, Profª Helga Porto, Coordenadores de Colegiados, Coordenação do NUPE e Coordenação do Seminário; da Direc: Profª Maria da Conceição Correia; Representante da Secretaria Municipal de Educação. 19h40min. Lançamento da 1ª revista científica do DCHT – UNEB – Campus XVI: Cadernos de Educação e Linguagem, v. 1. N. 1, jan./2012, ISSN 2237-552X – Tema: Poiesis: olhares sobre linguagens, educação, tecnologias e contemporaneidade. 20h. às 21h – Conferência de Abertura: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Conferencista: Profª Drª Amali Mussi – UEFS 9 17 de maio de 2012 8h às 11h30min. – Mesa Temática: Identidade e trabalho docente: algumas reflexões 1. Identidade e Trabalho docente: especificidades e tensões Palestrante: Profª M.Sc. Ivonete Amorim – UNEB – Campus XI/Visconde de Cairú 2. Ser professor da Educação Básica: docência, identidade e formação Palestrante: Profª M.Sc. Ana Carla Lima – UEFS 12h às 13h30min. – Intervalo para o almoço 14h às 17h – Apresentação das sessões de comunicação: 1. Identidade e Docência: Trabalho docente e Formação de professores – reflexões teóricas 2. Identidade e Docência: Trabalho docente e Práticas educativas 3. Identidade e Docência: Trabalho docente e tecnologias 18 de maio de 2012 8h às 11h – Mesa Temática: Perspectivas contemporâneas para a formação de professores 1. Letramento digital e suas implicações na formação de professores Palestrante: Prof. M.Sc. Robério Barreto – UNEB – Campus V 2. Formação docente e identidade profissional na ótica dos licenciandos do curso de Letras Palestrante: Profª M.Sc. Cenilza Santos – UNEB – Campus XVI 12h às 13h30min. – Intervalo para almoço Sumário Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). 14h às 15h30 – Conferência de Encerramento: A construção do Trabalho docente nos cursos de formação de professores Conferencista: Profª Drª Denise Guerra – UFBA 15h45 às 16h30 – Mesa de Encerramento Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ APRESENTAÇÃO A questão que envolveu as discussões no I Seminário sobre Identidade e Docência era a demanda por formação profissional que cumprisse os requisitos técnico, didático e político-pedagógico exigidos pela sociedade contemporânea. Nesse ínterim é que todos nos almejamos a uma formação profissional sólida. Essa foi, sem dúvida, a nossa fábula inicial, uma fantasia que também perpassava os discursos das ciências e das tecnologias a ponto de nos fazerem pensar que a identidade docente não poderia ser dissociada dessa realidade; estamos numa sociedade educativa e tecnológica que reclama por profissionais da educação que se compreendam e, consequentemente, entendam o outro com ser capaz de interação contínua. O Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias – Campus XVI – Uneb Irecê-Ba, através de seus núcleos de estudos, pesquisa e extensão coloca a lume sem imiscuir-se da formação, o pleito de que a identidade profissional tem que ser vista como o núcleo do ser social e ontologicamente constituído pela formação política, acadêmica e humanitária que sustenta as licenciaturas. Dando continuidade à fabulação iniciática da 1ª edição do I Seminário sobre Identidade e Docência, hoje, a perspectiva do II Seminário sobre Identidade e Docência dá continuidade à nossa busca por uma formação inicial e continuada para os docentes da Educação Básica da microrregião de Irecê. A temática desse II Seminário sobre Identidade e Docência é fruto de todo o processo de maturação e de reflexão a respeito dos modus operandi que sustenta a prática de formação docente daqueles que irão lidar com estudantes da escola de Ensino Básica. Com a temática: Trabalho docente e a formação dos professores: novos desafios e possibilidades, este seminário tem pretensões ousadas e vai durante as mesas de debates e seus respectivos eixos temáticos, (des)construir fundamentos teóricos e práticas de formação até então cristalizadas a respeito do que é ser docente. Para isso contam palestrantes de vasta experiência na área educacional e, portanto, dispensa elocutivas apresentações. São profissionais que além de professores, são pesquisadores de suas práticas educativas, tendo, na maioria das vezes, atuado em conjunto com os professores das escolas básicas da Bahia. Desse modo, os dias 16, 17 e 18 de maio de 2012 tornar-se-ão mais uma vez marcantes para os profissionais da educação básica de Irecê e Microrregião, porque todos nós teremos a oportunidade de dialogar com fundamentos teóricos e metodológicos mobilizadores de estados de latência existentes em nosso fazer docente. Porém, ainda servem dormentes sobre os quais passa a locomotiva da racionalidade moderna em que o ensino positivista radical ainda é tido como referência. Esperamos, pois, que as provocações feitas a respeito das categorias: trabalho docente, formação de professores e tecnologias digitais e inteligentes sejam vistas como desafios que, se deslocados para a prática e a reflexão, subsidiarão a todos a Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 11 entrarem em movimentos contínuos de reflexão e desconstrução no sentido de irmos ao encontro de fantasias até então não feitas. Assim sendo, compreender o trabalho docente como processo dialético e mutável que se torna visível a partir de práticas sociais desenvolvidas pelos sujeitos da educação é o ponto nevrálgico deste seminário. Importa dizer ainda que ao tratarmos de formação docente num evento científico dessa natureza é estarmos constituindo provocações a respeito das possibilidades que a identidade profissional tem como categoria central para o exercício docente que visa a reificação da cidadania daqueles que se formarão como cidadãos da polis moderna. Porém, nos é claro que fazer a junção de desafios e de possibilidades que permeiam a formação para docência, pressupõe o entendimento de que o fazer pedagógico vai além de ministrar aulas; é um processo complexo que se constrói no cotidiano da escola e da sala de aula. Portanto, é ato político, cultural, profissional e cidadão. A despeito de nossas fantasias, a formação profissional é para todos nós a chave para o exercício da cidadania plena. Sabemos, portanto, que isso só será possível quando nos valorizarmos e nos reconhecermos através de práticas docentes em que os saberes profissionais adquiridos no fazer cotidiano da escola, articulando-os com pressupostos científicos, políticos e sociais atinentes à profissão serão a base para a vida. A assunção do status de professor está para além de uma fábula moderna – é, portanto, e reconhecer como mediador entre saberes e conteúdos científicos e as necessidades de aprendizagem dos estudantes e da comunidade. Este pensamento articulado com compromissos éticos, estéticos e políticos moderadores da criação e da aplicação de tecnologias à educação faz do homem um ser consciente de seu lugar social e político. Desse modo, ter formação docente na contemporaneidade é transitar no real da escola, nos seus discursos homogeneizantes, nas suas práticas interacionais e desconstrutoras, bem como potencializadoras pelas tecnologias digitais que são instituintes no dia a dia de nossa sociedade. Por outro lado, ao tempo em que as tecnologias digitais adentram no ambiente educacional e formativo, também assumem condição de articuladoras de desafios e possibilidades. Entretanto, para que sejam implantadas melhorias no trabalho docente e, consequentemente, na formação profissional, as tecnologias ganham lugar de destaque a tal ponto, que se não nos prepararmos profissionalmente para esses desafios seremos conduzidos ao domínio de novas práticas metodológicas, teóricas e epistemológicas excludentes. Esperar-se-á, então, que estes sejam pontos de partida para nossas compreensões do quão significativo é o processo de formação de professores na sociedade contemporânea; paradoxal por essência. Então, serão esses paradoxos que nos conduzirão ao fetiche de que desejamos uma formação profissional humana, holística e socialmente articulada com as ocorrências do fazer/ser professor. Prof. M.Sc./Dnd Robério Pereira Barreto Profª M.Sc./Dnd Cenilza Pereira dos Santos Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ TRABALHO DOCENTE E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: NOVOS DESAFIOS E POSSIBILIDADES Amali de Angelis Mussi A toda hora rola uma estória Que é preciso estar atento A todo instante rola um movimento Que muda o rumo dos ventos Quem sabe remar não estranha Vem chegando a luz de um novo dia O jeito é criar um novo samba Sem rasgar a velha fantasia. (PAULINHO DA VIOLA, Rumo dos Ventos) RESUMO: Nos tempos atuais, ao nos referirmos à profissão docente, ao ser professor, o que pensamos? Uma profissão indesejada por muitos, social e economicamente desvalorizada e que enfrenta diferentes complexidades diante das rápidas mudanças sociais, culturais, econômicas, políticas, informacionais? Podemos dizer que é uma profissão cuja sua identidade está em crise, esteve em crise ou encontra-se historicamente em crise com momentos de estabilidade e mudança? Se em crise, pode, por sua própria natureza, promover novas possibilidades e novos desafios. É nesse sentido que este texto está organizado: discute o contexto atual de formação e de trabalho do professor no Brasil, a partir de dados estatísticos disponíveis em fontes oficiais e na literatura e suscita reflexões acerca das possibilidades e necessidades da profissão assumir-se enquanto categoria profissional da melhor qualidade. PALAVRAS-CHAVES: Trabalho docente. Formação de Professores. Identidade Docente. 1. Introdução Ao ser convidada para realizar a abertura deste II Seminário sobre Identidade e Docência, intitulado “Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades”, além de sentir-me honrada, avaliei como um momento oportuno para discutirmos algumas das complexidades que estão presentes na profissão docente, e que têm tomado corpo nas pesquisas educacionais, não só no Brasil, mas também em toda a América Latina e em outros países, tais como: Portugal, Espanha, França, Suíça, Canadá, Estados Unidos, entre outros. A partir das reformas educacionais iniciadas nos anos 1990, muitas são as pesquisas que, com diferentes enfoques, têm analisado as mudanças ocorridas nas formas de organização, de trabalho e de formação de professores que implicam diretamente à constituição da especificidade da profissão docente. Destacam-se a incorporação de novas funções e postos de trabalho, diferentes contextos profissionais marcados pela fragilidade e insegurança e a existência de processos de precarização cujos reflexos se expressam não apenas na formação, carreira e salários, mas também Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 13 no status social, na baixa atratividade pela profissão e na identidade dos professores (RAMALHO, NUÑEZ, GAUTHIER, 2003; TARDIF e LESSARD, 2007; FANFANI, 2008; GATTI e BARRETO, 2009; GATTI et al, 2010; GATTI, BARRETO, ANDRÉ, 2011). Diversos fatores têm sido apontados e que contribuem para essa desvalorização docente: as políticas educacionais postas em ação, a depreciação da escola e do “saber escolar”, a falta de parceria com os familiares dos estudantes, as formas de estrutura e gestão das escolas e a própria condição do professorado: a sua formação inicial e continuada, as condições de trabalho nas escolas e o isolamento profissional, os planos de carreira e os baixos níveis salariais. Incorpora-se a esse contexto, a crise vivida pela educação em face da crescente oferta escolar, a massificação do ensino, decorrente de política educacional orientada pela busca da equidade social, perseguindo, como prioridade, a universalização do ensino fundamental, e, mais recentemente, ampliando o acesso ao ensino médio e à educação infantil. Essa expansão, fruto de uma pressão cada vez mais marcante da população para acesso à educação escolar, acompanhada das mudanças sociais, políticas e econômicas, delineiam uma nova configuração do espaço escolar, e consequentemente, da profissão docente. Além da inclusão crescente de camadas sociais diferenciadas, que trazem consigo um novo jeito de ser, novas linguagens, necessidades e experiências, os professores1 ainda se deparam com escolas sem a infraestrutura adequada, um currículo muitas vezes desarticulado com a realidade, situações de violência e desrespeito nunca antes vivenciadas, corroborando, infelizmente, para a complexidade da profissão. Sob o discurso da suposta valorização, observamos um investimento em políticas públicas no Brasil e no Estado da Bahia, voltadas a aumentar os anos de escolaridade da população, investir na infraestrutura física e nos recursos educacionais e tecnológicos, orientar os currículos da educação básica, ampliar as oportunidades na educação superior, formar os docentes por diversos meios, deslocar a formação dos professores da educação básica do nível médio para o nível superior, investir no desenvolvimento de programas de formação continuada, entre tantas outras ações políticas. Entretanto, as condições de formação e de trabalho dos professores não tem apresentado um reconhecimento social e financeiro condizente com as características necessárias ao exercício profissional. De fato, baixos salários, condições insatisfatórias de trabalho, processos de formação de professores desarticulados, uma carreira docente precariamente construída convivem com os desafios que os professores são chamados a desempenhar na dinâmica da função social da escola. Nesse contexto, a situação a qual vive a profissão docente pode ser entendida como uma situação de crise, uma vez que “crise” refere-se a qualquer momento ou situação afetada por uma perda de estabilidade, de equilíbrio, ou que motive uma anormalidade grave no funcionamento da sociedade, das instituições, da economia e na vida das pessoas (DINIZ-PEREIRA, 2011). Por outro lado, momentos de crise exigem respostas adequadas e rápidas de modo a enfrentar e superar a situação posta. Por isso mesmo, crises geram oportunidades e costumam dar origem a mudanças. 1 Neste trabalho, o substantivo professor(es) refere-se a categoria profissional. Portanto, abrange tanto indivíduos professores do gênero feminino quanto do gênero masculino. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Com esse olhar, passamos a discutir a profissão docente, destacando aspectos constituidores do atual momento de crise profissional, o que implica pensar no impacto dessa crise na constituição de sua profissionalidade e de sua profissionalização em forma socialmente reconhecida. Profissionalidade, entendida como constituição do sujeito no sentido de ele conseguir se colocar na profissão e se desenvolver como profissional. É no contexto de formação e trabalho que o docente constitui a sua profissionalidade e recria a sua experiência, inova e se renova como pessoa e profissional (DUBAR, 2002). E profissionalização como a obtenção de um espaço autônomo, próprio à sua profissionalidade, com valor claramente atribuído pela sociedade como um todo (RAMALHO, NUÑEZ, GAUTHIER; 2003). 2. Profissão docente: considerações sobre a crise profissional No meio do meu caminho Tem coisa de que não gosto. Cerca, muro, grade tem. No meio do seu, aposto, Tem muita pedra também. Pedra? Ou ovo? Fim do caminho? Ou caminho Novo? No início, no meio, durante toda a caminhada nos deparamos com situações incertas, divergentes e relativas expressadas nas palavras de Ana Maria Machado (2003), e que nos convidam a pensar e ressaltar que nada em nosso tempo pode ser pensado sem que se leve em conta que as mudanças ocorrem em contextos históricos, culturais e sociais com realidades locais e regionais diferenciadas. A intensidade da penetração das mudanças que estão ocorrendo neste novo milênio, ou mesmo o seu controle, não ocorre em escalas niveladas, justamente porque os contextos são relativos, divergentes e ambíguos. Em sintonia com a ideia de movimento, entendemos que o exercício da profissão docente é uma ação humana, complexa, dinâmica, social, histórica e cultural que está emaranhada em uma teia de significados que constituem os sujeitos nela implicados. Nesse contexto, consideramos importante pontuar na reflexão sobre a profissão docente, o tempo de mudanças em que nos encontramos. Tempo esse que nos oferece oportunidades de (re)visão e (re)construção constantes. Tempo também que nos remete a compreender que as mudanças geram movimentos e rupturas em todos os setores da vida humana. Tal consideração nos remete a defender a ideia, nesse trabalho, que a possível crise profissional vivida pelos docentes insere-se numa crise mais ampla, cujo principal aspecto são as radicais mudanças que atingem o mundo do trabalho. Estas mudanças têm demandado o redimensionamento dos papéis desempenhados pelo professor, o que sugere uma crise de identidade. De acordo com Fanfani (2008) e Jesus (2004), a situação de crise, específica da docência, tem sido chamada de “crise de identidade docente”. Abrahan (apud JESUS, Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 15 2004, p. 197) explica que esta crise também resulta “da contradição entre o ‘eu ideal’, ou o que os professores gostariam de ser ou foram preparados para fazer, e o ‘eu real’, ou aquilo que eles têm que ser e fazer cotidianamente nas escolas”. Ou seja, a crise de identidade também ocorre por que [...] existe simpre una distancia entre la imagen ideal que los docentes hacen de su vocación, y la realidad de su práctica, a menudo decepcionante, dado el estado de los alumnos y la sociedad (DUBET Y DURU, apud FANFANI, 2008, p. 336). Cada vez mais, os professores trabalham em uma situação em que a distância entre a idealização da profissão e a realidade de trabalho tende a aumentar, em razão da complexidade e da multiplicidade de tarefas a que são chamados a cumprir nas escolas. A nova situação requer que o professor esteja preparado para exercer uma prática contextualizada, atenta às especificidades do momento, à cultura local, ao alunado diverso em sua trajetória de vida e expectativas escolares. Uma prática que depende não apenas de conhecimentos sobre o ensino, objeto de sua atuação, mas também de valores e atitudes favoráveis a uma postura profissional aberta e flexível, permeada pela ética, capaz de criar e ensaiar alternativas para os desafios que se apresentam. Quando falamos em identidade, nos referimos a características que especificam algo ou alguém. A identidade, no entanto, não é estática. Ao contrário, ela está em permanente (re) construção e movimento num contexto social de interação de indivíduos e grupos, implicando reconhecimento recíproco. O escritor uruguaio, Eduardo Galeano (2001, P. 21) contribui para a nossa compreensão e reflexão quando afirma em sua obra, “De Pernas Pro Ar - A Escola do Mundo ao Avesso”: [...] Há 130 anos, depois de visitar o país das maravilhas, Alice entrou num espelho para descobrir o mundo ao avesso. Se Alice renascesse em nossos dias, não precisaria atravessar espelho algum: bastaria que chegasse à janela. Na “escola do mundo do avesso” Galeano (2001) encontra "cátedras do medo", "aulas magistrais de impunidade" e uma "pedagogia da solidão". Isso levou à indagação: terá a escola perdido sua identidade, neste mundo ao avesso, de mudanças rápidas? O que nos remete a perguntar: terão os professores perdido sua identidade, neste mundo ao avesso, permeado por conflitos internos e externos? De acordo com Alonso (1999, p.13), vivemos atualmente um período que em nada se assemelha a outros vividos por nossos antepassados e para o qual não fomos preparados. Daí nossa falta de referência para enfrentar os desafios postos no cotidiano. “Tudo aquilo que nos dava certeza, hoje gera insegurança *...+”. Acostumamos até então a um trabalho claro, bem definido pelo ensino, a transmissão de conhecimentos, nos dias atuais os professores se veem diante de situações totalmente novas. E ainda que muitas vezes reconheçam a necessidade de redimensionar seu trabalho e buscar novas bases para o ensino, geralmente se encontram despreparados, atordoados e sem condições de, sozinhos, enfrentarem os desafios. Os professores sentem-se perdidos frente ao novo cenário da educação e, as reações perante este desajuste, é o que conhecemos por “mal-estar docente”, que vem sendo muito discutido por grandes teóricos da contemporaneidade, pois pode Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ ocasionar uma crise de identidade nos professores. Nesse mal-estar docente, há diferentes reações dos professores, apontadas por Esteve (1999), como: desajustamento e insatisfação perante os problemas reais da prática; pedidos de transferência para fugir das situações problemas; inibição de envolvimento pessoal; desejo de abandono da profissão; absentismo laboral; esgotamento; estresse; ansiedade; reações neuróticas; depressões. O que podemos fazer diante deste cenário? Abandonar a profissão? Ou pior, exercê-la de qualquer modo? Se assim, a “crise de identidade docente” tende a aumentar/permanecer? Ou será que nos encontramos em um momento histórico para tomar rédea da situação e, organizados profissionalmente, assumir o seu/nosso espaço, dar as respostas necessárias à sociedade e orientar as políticas educacionais? Não cometeremos a ingenuidade de afirmar que a responsabilidade de promover a reversão do quadro acima apontado repousa exclusivamente nos ombros dos professores. As causas são mais complexas e as mudanças demandam tempo e dependem de políticas educacionais de governo consistentes, contínuas, voltadas para metas definidas. Mas a questão da formação e do trabalho docente é, indubitavelmente, da maior importância. Por isso consideramos que a categoria profissional docente não pode ficar à mercê das oscilações do mercado e das políticas educacionais para olhar em seu entorno, compreender os fenômenos, socializar saberes e angústias, elaborar propostas e produzir respostas às mudanças sociais. Não obstante, Gadotti (2003) alerta que “*...+ para entender a crise de identidade dessa profissão é preciso colocar em evidência as características atuais da profissão docente”, já que, estamos, segundo ele, “diante de uma profissão massificada, o que realça o grande alcance dessa profissão e sua importância estratégica”. (GADOTTI, 2003, p. 11). Por essa razão, destacamos alguns dos aspectos que estão diretamente implicados na “crise de identidade docente”, para provocar a nossa reflexão, buscando discuti-las, no sentido de encontrar caminhos para o aprimoramento do nosso ofício e para a emancipação que resulta desse aprimoramento. 3. Características de Formação e de Trabalho de Professores no Brasil Se o professor atua como uma primordial função, a de formar cidadãos plenos, capazes de intervenção digna, produtiva e consistente na sociedade, este deve ser, então, o foco de sua formação, promovendo a inclusão social do aluno sob sua responsabilidade formativa: o aluno em sua complexidade, o aluno em suas possibilidades, o aluno em suas necessidades singulares e coletivas. Se o aluno deve ser olhado em sua multiplicidade, também a formação do professor precisa desencadear seu desenvolvimento profissional em múltiplas dimensões, sincronicamente entrelaçadas no próprio indivíduo. (Vera Maria Nigro de Souza PLACCO, 2006, p.251) Os problemas relacionados à formação e ao trabalho de professores na educação básica têm sido estudados por variados grupos de pesquisadores, sob Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 17 diversos olhares. Elegemos destacar nesta seção, alguns dos dados apresentados em recentes estudos publicados pela UNESCO (GATTI, BARRETTO, 2009; GATTI, BARRETO, ANDRÉ, 2011), também o estudo organizado por Gatti et al (2010) publicado pela Fundação Victor Civita, bem como no relatório de pesquisa publicado pela Fundação Carlos Chagas (GATTI, NUNES, 2009), que nos permitem ter um panorama geral sobre o cenário da profissão docente no Brasil. Além destes estudos, também consultamos dados estatísticos sobre os professores da educação básica, disponíveis em fontes oficiais, a exemplo do Ministério da Educação (MEC), e do Instituto Nacional de Estudos de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Iniciamos por identificar o tamanho da categoria profissional na Educação Básica: de acordo com o Censo Escolar realizado em 2010 (BRASIL, INEP, 2011), últimos dados disponíveis, temos 2.005.734 de professores atuando na Educação Básica e 366.882 professores atuando na Educação Superior. Dentre vários aspectos levantados no Censo Escolar realizado em 2010, destaca-se aqui o nível de formação do docente no Brasil. Tabela 01 - Número de Professores da Educação Básica por Escolaridade – 2010 Unidade da Federação Professores da Educação Básica Total Escolaridade Fundamental Brasil Ensino Médio Superior Médio Total 611.26 0 Normal/ Magistério 450.707 Ensino Médio 160.553 1.381.909 2.005.734 12.565 169.930 1.792 73.029 57.007 16.022 95.109 600.796 6.597 288.74 8 220.231 68.517 305.451 800.241 1.860 163.50 3 119.674 43.829 634.878 290.927 1.574 CentroOeste 143.840 742 Fonte: MEC/Inep/Deed, 2011. 58.723 39.735 18.988 230.630 27.257 14.060 13.197 115.841 Norte Nordeste Sudeste Sul Observa-se ainda hoje, o alto índice de professores sem a formação adequada. De acordo com os dados publicados em 2011, o Estado da Bahia possui 150.231 professores atuando na Educação Básica, conta ainda com 1.332 docentes com formação no Ensino Fundamental, 94.604 professores com formação em nível Médio e 54.295 professores com formação universitária (BRASIL, INEP, 2011). Sobre a formação inadequada ao exercício profissional da docência, os dados nos mostram que o contexto piora ainda mais quando observamos que, dos 1.381.909 docentes com formação universitária no Brasil, nem todos realizaram essa formação em cursos de licenciatura, conforme indica a tabela 02 abaixo. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Tabela 02 - Número de Professores da Educação Básica com formação superior, licenciados e não licenciados – 2010 Professores na Educação Básica Situação da Licenciatura Unidade da Federação Brasil Norte Nordeste Sudeste Total 1.381.909 95.109 305.451 634.878 Sul 230.630 Centro-Oeste 115.841 Fonte: MEC/Inep/Deed, 2011 Possui curso com Licenciatura Possui curso sem Licenciatura Possui cursos com e sem licenciatur a 1.297.940 82.831 287.992 608.162 63.726 11.619 16.560 16.365 20.243 659 899 10.351 214.566 104.389 14.514 4.668 1.550 6.784 No Estado da Bahia, já informamos acima que somente cerca de 30% dos docentes possuem formação universitária. Deste total, ou seja, do total de 54.295 docentes com Ensino Superior, 3.706 docentes possuem graduação, mas não com formação em licenciatura. O quadro até aqui apontado já nos incitam a discutir a crise profissional docente. Engrossando este contexto, encontramos os dados publicados há poucas semanas atrás com o Resumo Técnico do Censo Escolar 2011 (BRASIL. INEP. 2012) que nos informam que, dos docentes que atuam na Educação Infantil, 56,9% possuem Formação Superior e 49,1% não possuem Formação Superior. Dos docentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 68,2% possuem Formação Superior e 37,8% não possuem Graduação. Do total de docentes que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental, 84,2% possuem Formação Superior e 15,8% não possuem Ensino Superior. E no Ensino Médio, 94,1% possuem Formação Superior e 5,9% não possuem Ensino Superior. O mesmo Resumo Técnico (2012) nos informa que há, hoje no Brasil, 381.214 professores matriculados em cursos superiores. Destes 381.214 professores matriculados na educação superior, 206.610 fazem cursos presenciais e 174.604, educação a distância. Mais de 50% dos educadores estão em cursos de pedagogia – 192.965, seguido de letras (44.754), matemática (19.361) e história (14.478). Sobre os cursos de licenciatura, Gatti, Barreto e André (2011) destacam a preocupação quanto à transferência da formação de professores para a modalidade a distância, muito especialmente dos que trabalharão na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental. De acordo com o estudo coordenado pelas pesquisadoras (2011, p.107), 58% dos formados em pedagogia e 45% dos formados em cursos Normal Superior, em 2009, fizeram seus cursos a distância. Dentre os nove estados do Nordeste, Bahia e Pernambuco, os mais populosos da região, concentram 40% da oferta. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 19 O contexto apresentado pelas pesquisadoras deixa claro que não se trata de preconceito em relação à educação a distância, mas pela ponderação de que tipo de professor desejamos defender, quais políticas favorecerão a melhor formação dos professores, visando à melhor formação para as futuras gerações no contexto da contemporaneidade e do próprio contexto de implantação e expansão desses cursos no Brasil. “Trata-se de tomar decisões balizadas sobre em quais circunstâncias e condições cabem processos de formação inicial de docentes na modalidade a distância” (GATTI, BARRETO, ANDRÉ, 2011, p. 108). Quando investigamos sobre as condições de trabalho docente, dois aspectos nos chamam a atenção: o número de turmas que os professores assumem no exercício da docência e a quantidade de estabelecimentos em que trabalha. No Brasil, mais de 50% dos professores possuem entre 03, 04 e 05 turmas de estudantes para dar conta no processo didático, conforme destacado abaixo. Tabela 03- Número de Professores da Educação Básica por Quantidade de Turmas em que lecionam – 2010 Unidade da Federação Professores da Educação Básica Total Brasil 2.005.734 Norte 169.930 Nordeste 600.796 Sudeste 800.241 Sul 290.927 Centro-Oeste 143.840 Bahia 150.231 Fonte: MEC/Inep/Deed, 2011 Quantidade de Turmas 1 Turma 728.026 62.589 230.920 293.082 91.164 50.271 52.181 2 Turmas 286.471 29.103 89.745 105.621 44.873 17.129 23.351 3 Turmas 99.367 7.202 33.861 38.304 13.625 6.375 7.675 4 Turmas 123.682 10.305 44.189 42.805 17.670 8.713 10.791 5 ou mais 768.188 60.731 202.081 320.429 123.595 61.352 56.233 Sobre os docentes que atuam no Estado da Bahia, a situação não é diferente: mais de 50% dos professores também possuem entre 03, 04 e 05 turmas de estudantes para dar conta no processo didático, conforme destacado abaixo. Tabela 04- Número de Professores da Educação Básica da Bahia por Quantidade de Turmas em que lecionam – 2010 Unidade da Federação Total Professores da Educação Básica Quantidade de Turmas 1 Turma 2 Turmas 3 Turmas 4 Turmas Bahia 150.231 52.181 Fonte: MEC/Inep/Deed, 2011 23.351 7.675 10.791 5 ou mais 56.233 Além do número de turmas, muitas vezes o professor se depara com número de alunos por turma em sala de aula que limita suas possibilidades de ação. Claro que temos que pensar diante do contexto concreto que temos, e nosso contexto concreto atual, é esse. Mas também devemos avaliar, relatar, divulgar as práticas efetivas que desenvolvemos, de modo a possibilitar a socialização de saberes, bem como a socialização profissional. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Sobre a quantidade de estabelecimentos em que trabalha o professor da Educação Básica, Os dados também nos indicam que mais de 75% dos docentes atua em um único estabelecimento de ensino, o que contribui ao seu desenvolvimento profissional. Sobre essa questão, os dados nos indicam que a proporção dos docentes com apenas um trabalho na educação infantil é de 88,4%; no ensino fundamental, 82%; no ensino médio, 75%. A jornada média de trabalho docente é de 30 horas semanais (BRASIL, INEP, 2010). Com efeito, na educação infantil estão concentradas as maiores proporções dos que recebem os salários mais baixos e os que praticam as mais extensas jornadas de trabalho semanais (GATTI e BARRETO, 2009). É conhecimento popular que o docente deve conhecer seus alunos, planejar atividades adequadas ao processo de desenvolvimento em que se encontram, estabelecer relação afetiva e cuidadosa de modo a favorecer a aprendizagem significativa, entre diferentes necessidades estabelecidas ao exercício profissional de qualidade. Entretanto, como dar conta disso, diante das atuais condições de formação e de trabalho? Esse contexto brevemente apresentado justifica os dados encontrados por Gatti et al (2010) sobre a baixa atratividade de jovens pela profissão docente. Na densa investigação realizada, os pesquisadores perguntaram a 1.501 estudantes concluintes Ensino Médio brasileiro se em algum momento do processo de escolha profissional eles haviam cogitado trabalhar como professor. O resultado sobre “se pensaram” em ser professor em algum momento, revela que 32% responderam que sim. Porém quase todos logo descartaram a ideia. Ou seja, cerca de um terço dos entrevistados cogitou a ideia da docência, mas acabou se afastando pelos fatores negativos ligados à carreira. Somente 2% (31 dos 1501) dos entrevistados indicaram como 1ª opção de ingresso ao Ensino Superior, o curso de Pedagogia ou alguma outra Licenciatura (GATTI et al, 2010, pp. 167-169). 4. Considerações Finais Penso que o maior perigo para a Pedagogia de hoje está na arrogância dos que sabem, na soberba dos proprietários de certezas, na boa consciência dos moralistas de toda espécie, na tranquilidade dos que já sabem o que dizer aí ou o que se deve fazer e na segurança dos especialistas em respostas e soluções. Penso, também, que agora o urgente é recolocar as perguntas, reencontrar as dúvidas e mobilizar as inquietudes. (Jorge LARROSA, 2004, p.8) Lembro-me de uma fala de Terezinha Rios, em certa situação, quando dizia que um seminário é um lugar que disseminam ideias. Concordo com ela. Acredito que o espaço de construção de conhecimentos é um espaço que nos leva a recolocar as perguntas, afastar a arrogância, reforçar a escuta atenta, mobilizar as inquietudes, reencontrar as dúvidas. Por isso me vejo, ao final deste artigo, com mais dúvidas do que certezas. Entretanto, entre as certezas que me seguem, está a credibilidade no que pode fazer um professor. E claro que neste contexto, não posso deixar de lembrar do eterno professor Paulo Freire, que nos ensina que a utopia é a esperança no possível. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 21 Esperança não no sentido de espera, mas de garra, de luta, de compromisso com uma causa. E é Rios (2002) quem me ajuda a decifrar o que preciso: Uma das coisas que realizo com maior alegria é ensinar, fazer aulas. Gosto das aulas tanto quanto gosto daquilo que ensino. Fui escolhendo devagar o meu oficio e hoje tenho certeza de que não poderia fazer escolha melhor [...] Não penso que sou uma exceção, um caso raro. Não deixo de enfrentar limites, de querer de vez em quando "largar tudo", de ver às vezes a esperança se afastar. Entretanto é no próprio espaço do trabalho que "esperanço" de novo, que retomo com vigor a luta, que encontro possibilidades e alternativas (RIOS, 2002, p.12). O que posso fazer como professora diante de um contexto profissional que se apresenta tão complexo? Ser a melhor professora que me for possível ser. Colocar-me como “eterno aprendiz”, buscar alternativas, fortalecer minha categoria profissional. Isso não significa desprezar e não cobrar o cabe às nossas políticas de governo, mas implica em assumir-se como profissional e enquanto profissional, o desejo humano de ser feliz. Em minhas aulas, sempre pergunto aos licenciandos: todos sabemos que os professores deixam marcas, boas ou ruins, que nos registram. Que marcas cada um de vocês buscam/vão buscar deixar em seus alunos? Acredito que a valorização passa por cada um de nós, na praxis intencional de homens e mulheres que, a partir de seu trabalho, fazem coletivamente a história. Referências ALONSO, M. Formar Professores para Uma Nova Escola. In ALONSO, M. (Org.). O trabalho docente: teoria e prática. São Paulo: Pioneira, 1999. BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Censo da Educação Básica: 2011 – Resumo Técnico. Brasília: 2012. Disponível em http//www.inep.gov.br BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Resumo Técnico: Censo Escolar. Brasília: MEC/Inep/DEED, 2010. Disponível em http//www.inep.gov.br _________. Resultados preliminares do Censo Escolar de 2009. Brasília, 2009. Disponível em http//www.inep.gov.br _________. Sinopse Estatística do Professor da Educação Básica. Brasília, 2011. Disponível em http//www.inep.gov.br DINIZ-PEREIRA, Júlio Emílio. O ovo ou a galinha: a crise da profissão docente e a aparente falta de perspectiva para a educação brasileira. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Brasília, v. 92, n. 230, p. 34-51, jan./abr. 2011. DUBAR, Claude. La crises de lãs identidades, la interpretación de uma mutação. Barcelona, Edicions Bellatema, S.L., 2002 (seni General Universitária, 15). ESTEVE, J. M. Mudanças sociais e função docente. In: Nóvoa, A. (Org.). Profissão professor. Portugal: Porto Editora, 1999. FANFANI, E. Consideraciones Sociologicas sobre profesionalización docente. In: SEMINÁRIO REDESTRADO – nuevas regulaciones em América Latina. VII, 2008, Buenos Aires. Anais do VII Seminário Redestrado. Buenos Aires, 2008. vol. 28, p.335-353. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ GADOTTI, M. Boniteza de um sonho: ensinar-e-aprender com sentido. São Paulo: Editora Cortez, 2003. GALEANO, Eduardo. De pernas pro ar: a escola do mundo ao avesso. Trad. Sergio Faraco. Porto Alegre: L&PM, 2001. GATTI, B. A. (coord.); BARRETO, E. S. Professores do Brasil: impasses e desafios. Brasilia: UNESCO, 2009. GATTI, B. A. et al. A atratividade da carreira docente no Brasil. Estudos e Pesquisas Educacionais. São Paulo, Fundação Victor Civita, n. 1, p. 139-210, 2010. GATTI, Bernardete Angelina; BARRETO, Elba Siqueira de Sá; ANDRÉ, Marli Eliza D. A. Políticas docentes no Brasil: um estado da arte. Brasília: UNESCO, 2011. GATTI, B.A.; NUNES, M.M.R. (Org.). Formação de professores para o ensino fundamental: estudo de currículos das licenciaturas em Pedagogia, Língua Português, Matemática e Ciências Biológicas. Textos FCC, São Paulo, v. 29, 2009. 155p. JESUS, Saul Neves. Desmotivação e crise de identidade na profissão docente. Florianópolis, SC: Katálysis, v.7, n.2, jul./dez. 2004. LARROSA, Jorge. Pedagogia profana – danças, piruetas e mascaradas. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. MACHADO, Ana. Maria. No meio do caminho. São Paulo: Ática, 2003. PLACCO, Vera M. N. S. Perspectivas e dimensões da formação e do trabalho do professor. In: Anais: XIII Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino (13: 2006: Recife, PE). Educação formal e não formal, processos formativos e saberes pedagógicos: desafios para a inclusão social. Recife, PE, 2006. p. 251-262. RAMALHO, B.L.; NUÑEZ, I.B.; GAUTHIER, C. Formar o professor, profissionalizar o ensino. Porto Alegre: Sulina, 2003. RIOS, Terezinha de A. Professores: Autores e Atores nos dizeres da escola – a contribuição da reflexão filosófica.I Congresso Internacional de Filosofia da Educação de países e comunidades da Língua Portuguesa. São Paulo: Uninove, p 01-14, 2002. TARDIF, M. e LESSARD, C. O trabalho docente: elementos para uma teoria da docência como profissão. 3ª ed. Petrópolis/RJ: Vozes Ed., 2007. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 23 IDENTIDADE E TRABALHO DOCENTE: especificidades e tensões2 Ivonete Barreto de Amorim (UNEB)3 RESUMO: Este texto visa explicitar algumas reflexões acerca da identidade e do trabalho docente na educação básica, destacando as especificidades e tensões no exercício do trabalho docente à luz das contribuições teóricas de Tardif e Lessard (2007); Santos (2005); Gatti (1996); Cunha (2006); Enguita (1991); Carbonneau (2006), dentre outros colaboradores, que compreendem o exercício do trabalho docente permeado pelo enfoque da formação, da autonomia, da relações com outros seres humanos, com vista a construção, medição de conhecimentos significativos para práxis educativa. PALAVRAS-CHAVES: Identidade. Trabalho docente. Especificidades. Tensões. Considerações iniciais O termo identidade na contemporaneidade apresenta-se com conotações diversas, pois, a depender do contexto e do campo de estudo, pode assumir formas rígidas e/ou flexíveis. Para Santos (2005), as identidades são consideradas plurais e transitórias, a medida que, mesmo as mais sólidas (as identidades de homem, mulher...), ganham interpretações diferentes conforme as interlocuções junto a discursos polissêmicos, assim como as alterações dadas aos sentidos que cada período histórico, legitimamente situado, explicita. Com efeito, a identidade do sujeito está fincada em um determinado contexto social e constitui-se de inevitáveis ações compartilhadas de sentidos e significados, os quais são gestados nesse espaço e nas subjetividades da historicidade de cada sujeito. Gonzáles Rey (2005, p.205) reitera que “os processos de subjetivação individual estão sempre articulados com os sistemas de relações sociais, portanto, têm um momento de expressão no nível individual, e um outro no nível social, ambos gerando consequências diferentes”, as quais coadunam nas vertentes da subjetividade social e individual. Para Gatti (1996, p.86), a identidade docente envolve “interações sociais complexas nas sociedades contemporâneas e expressão sociopsicológica que interage nas aprendizagens, nas formas cognitivas, nas ações dos seres humanos’’. Neste artigo, o termo identidade assume um olhar dialógico sobre o sujeito que ensina e, consequentemente, aprende com o outro, pois compreendemos a identidade docente como um processo permanente entre o conhecimento de si, da formação e do trabalho docente. Esses diálogos provocam constantes transformações para o docente em face aos aspectos cognitivos, afetivos e linguísticos que implicam a tessitura de identidade da profissão. Algumas reflexões sobre a formação docente A formação de profissionais, como enfatiza Tardif (2002), deve ser voltada para a reflexão, discernimento e compreensão de situações problemáticas do contexto da prática profissional e para a definição de objetivos pertinentes à situação e a 2 II SEMINÁRIO SOBRE IDENTIDADE E DOCÊNCIA/Mesa Temática: Identidade e Trabalho Docente: algumas reflexões. 3 Pedagoga. Mestre em Educação pelo PPGEduc-UNEB. Doutoranda pelo PPGFamília na Sociedade Contemporânea-UCSAL.Professora da Fundação Visconde de Cairu e da Universidade do Estado da Bahia - Campus XI. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ identificação dos meios adequados para atingi-los. Tal formação pressupõe a compreensão da docência para educação básica como um espaço complexo de conexão de conhecimentos, subjetividades e culturas, exigindo uma formação de alto nível. A formação do professor da educação básica no Brasil ganha fôlego com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, pois, a partir dessa data, a legislação exige a formação em nível superior para atuação docente na educação básica, conforme reza os artigos a seguir: Art. 62 – A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, oferecida em nível médio, na modalidade Normal. Art. 63 – Os Institutos Superiores de Educação manterão: I. cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental; II. programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior que queiram se dedicar à educação básica; III. programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis. 25 Com efeito, em 2002, as Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores são promulgadas e, nos anos seguintes, ocorre a aprovação pelo Conselho Nacional de Educação das diretrizes curriculares para cada licenciatura. A LDB 9.394/96 estipula o prazo de dez anos para que os sistemas de ensino se regulem às novas exigências para o exercício do trabalho docente na educação básica. Importante salientar que nesse período histórico (década de 1990) a realidade brasileira era permeada por uma maioria de professores do ensino fundamental com a formação no magistério, em nível médio, e um número considerável de professores leigos, sem formação no ensino médio. É importante ressaltar que diferentes iniciativas de formação de professores são encampadas no Brasil, dentre as quais destacamos: a implementação de Institutos Superiores de Educação – ISE, o aumento de instituições de ensino superior particulares para atender a demandas de docentes em busca de formação em nível superior e a fixação do Decreto nº 6.755/ 2009, o qual institui uma política nacional para a formação de profissionais do magistério da educação básica, que é supervisionado e avaliado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Essas iniciativas são visíveis na atualidade, sobretudo no que concerne ao esforço de ações compartilhadas entre União, Estados e Municípios para dar conta das demandas de formação de professores. Contudo, é importante destacar que a formação de profissionais, na atualidade, tem sido alvo de forte pressão da lógica de mercado e empresarial. As instituições de ensino superior, orientadas por esse prisma, colocam a competição e o lucro como um Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário valor imprescindível para uma boa gestão e, consequentemente, para o exercício do futuro profissional por ela formado. Nesse sentido, a educação se transforma em um negócio, cujo investimento deve ser rentabilizado. Esse processo de mercantilização da educação superior é consequência da globalização do ideário neoliberal, a partir da década de 1980. Santos (2005) distingue dois níveis de mercadorização da universidade. O primeiro consiste em exigir da universidade pública a superação da crise financeira por meio da arrecadação de fundos através da venda de seus serviços ao capital, principalmente industrial. Como salienta Castanho (2000), a universidade deixa de se orientar pelas necessidades da nação e da sociedade e passa a atender as exigências do mercado. O segundo nível de mercantilização de que fala Santos (2005) caminha na direção de eliminar a distinção entre universidade pública e privada, transformando a primeira em entidade que, além de produzir para o mercado, “se produz a si mesma como mercado, como mercado de gestão universitária, de planos de estudos, de certificação, de formação de docentes, de avaliação de docentes e de estudantes” (SANTOS, 2005, p.19). Diante desses desafios, faz-se necessário que a reflexão sobre a formação de profissionais na educação superior oportunize a compreensão das relações pedagógicas para além da visão que fragmenta e mercantiliza o conhecimento. Professores e estudantes são, então, considerados como atores competentes e sujeitos do conhecimento. É a partir e através de suas próprias experiências, tanto pessoais como profissionais, que eles constroem seus saberes e competências, como o pensamento crítico, a capacidade de lidar de forma criativa, ética, solidária e autônoma com os problemas inusitados da prática profissional. Trabalho docente: Especificidades e tensões Entendendo que a docência, “docere”, em outros termos, o ensino, se completa com o discere, ou seja, com a aprendizagem (cognitiva, atitudinal e relacionada a valores), o professor precisa articular três vetores importantes: a) provocar, no sentido de colocar desafios, propor dilemas capazes de estimular a curiosidade e o desejo de aprender; b) oferecer as condições e insumos para que o estudante consiga elaborar suas respostas e propor ações relativas aos desafios apresentados pelo professor e pelos próprios estudantes; c) interagir com a representação do sujeito, o que implica estimular a sua expressão, ajudar na elaboração de suas sínteses no processo de construção do conhecimento (ENRICONE, 2007). Neste sentido, o professor é convidado a estabelecer desequilíbrios cognitivos constantes nos estudantes e a problematizar situações que possibilitam aprendizagens significativas e, consequentemente, oportunizam novas construções sobre o vivido, experienciado e construído. Dessa forma, o professor assume uma ação mediadora entre os conteúdos (cognitivos, atitudinais, de valores) e os estudantes com vistas a aprendizagens significativas. Carbonneau (2006) explicita que uma profissão se caracteriza por um conjunto de ações específicas e complexas baseadas no domínio aprofundado de um corpo de conhecimentos sistematizados, que se traduzem, na prática, na forma de serviço ao público voltado para o bem comum. Pressupõe uma longa formação universitária, em geral de natureza científica. Acrescenta que o exercício da profissão se desenvolve de maneira autônoma e responsável. Essa autonomia orienta-se por uma perspectiva ética, formalizada em um código deontológico, e tem como contrapartida a Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ obrigatoriedade de responder pelo mau uso dos conhecimentos profissionais e pelos danos causados a seus clientes. Essa autonomia implica, ainda, o compromisso com a autoformação e atualização continuada. O autor registra, ademais, que a inserção do profissional na sociedade se processa via uma associação (ordem ou corporação) de identidade forte, que possui o direito de supervisionar a formação, estabelecer a licença de atuação de seus membros, definir um código de ética e controlar a qualidade técnica da atuação de seus membros, garantindo, assim, o prestígio social da profissão. Quanto aos saberes do campo pedagógico, que configuram a especificidade da docência, Cunha (2006) enfatiza a importância do professor conhecer as condições culturais e sociais dos estudantes e as múltiplas possibilidades dos processos de ensino e aprendizagem, com vistas a atingir o desenvolvimento das capacidades que objetivem a autorregulação das aprendizagens formativas dos estudantes. Para tanto, faz-se necessário que os docentes tenham habilidade de definir objetivos e atividades sintonizados com a perspectiva da aprendizagem dos estudantes e tendo em conta o tempo disponível, as condições dos estudantes. E, ainda, que docentes evidenciem, na prática avaliativa, uma concepção diagnóstica e formativa, explicitada através de uma variação de estratégias e procedimentos adequados para atingir a aquisição de aprendizagens dos estudantes durante a sua trajetória. Conforme Pimenta e Anastasiou (2002, p. 13), esse repertório de conhecimentos e saberes envolve, entre outros, conteúdos das diversas áreas do saber e do ensino (ciências humanas e naturais, da cultura e das artes); conteúdos ligados a saberes pedagógicos mais amplos, do campo teórico da prática educacional; conteúdos didático-pedagógicos, diretamente relacionados ao campo da prática profissional. A docência como semiprofissão A concepção de proletarização do trabalho docente, em outros termos, a sua identificação com as subcondições do trabalho assalariado fabril, tem como pressuposto a crescente degradação e desqualificação, caracterizadas pela alienação do processo de concepção do trabalho e pela perda do controle sobre sua atividade. Essas subcondições decorrem da tentativa de transposição para as escolas dos princípios da administração empresarial, baseados na divisão do trabalho, na centralização do processo de tomada de decisões e em formas sofisticadas de controle do trabalho docente. Expressam-se em medidas como planejamento por objetivos, módulos instrucionais, formas padronizadas de diagnóstico e avaliação, ensino programado por computador que visam garantir a eficiência educacional (COSTA, 1995). A perspectiva da proletarização da categoria docente é explicada, ainda, em função das significativas transformações que essa vem sofrendo em relação à sua composição, a exemplo da ampliação quantitativa do seu contingente, da prevalência de pessoas do sexo feminino e da generalização do vínculo empregatício com o Estado. Em contraposição à tese da proletarização do trabalho docente, Jiménez (1991, apud COSTA, 1995) e Enguita (1991) argumentam que, em consequência da sua Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 27 natureza voltada para seres humanos, inevitavelmente, boa parte das decisões implicadas no seu fazer são de responsabilidade do professor. Assim, mesmo diante das tentativas de padronização e de controle externo, a alienação completa do professor em relação ao processo de concepção e planejamento do seu trabalho é impossível, impedindo uma identificação mais estreita com o trabalho fabril. Nessa mesma linha, Tardif e Lessard (2007, p.17) sustentam que “longe de ser uma ocupação secundária ou periférica em relação à hegemonia do trabalho material, o trabalho docente constitui uma das chaves para a compreensão das transformações atuais das sociedades do trabalho”, entre outras razões, pois, na sociedade da informação e do conhecimento são fundamentais os conhecimentos formais, as informações abstratas e as tecnologias. Ademais, as atividades ocupacionais cujo “objeto de trabalho” são seres humanos, e, por conseguinte, desenvolvem um trabalho interativo, passam por um processo de crescente elevação de seu status. Esses elementos parecem estar na base da discussão sobre a profissionalização da docência. Conforme Enguita (1991), o entendimento da docência como semiprofissão, decorre dela não possuir várias características das profissões clássicas, mas, tampouco, de não ser completamente identificada às características do trabalho operário, o que a situa numa posição ambivalente entre a profissionalização e a proletarização. Assim, apesar de ter sua “competência” reconhecida oficialmente, o prestígio social do professor é menor em relação às profissões clássicas decorrente da facilidade de acesso à docência sem levar em conta sua complexidade. A “vocação” para a docência, historicamente valorizada e traduzida na assunção da “profissão” por desejo e identificação, no contexto atual da sociedade capitalista, vê-se subsumida a interesses individuais e consumistas, assim como destacamos que a categoria de professores não possui um código de ética devidamente regulamentado. Ademais, a “independência”, em outros termos, a autonomia do trabalho docente, é parcial, considerando-se que os professores são assalariados e dependentes das instituições para a realização do seu trabalho. Montero (2001) registra que a autonomia profissional dos professores é um dos aspectos considerados mais importantes de sua condição ou não de profissionais ou, no dizer de Enguita, da sua condição de semiprofissionais. Essa autonomia é definida pela autora (MONTERO, 2001, p.104) como [...] la capacidad de control de las propias decisiones profesionales, a nível individual, como el autogobierno de una profesión. [...] solamente podrían ser considerados como profesionales quienes pueden determinar en qué consiste su proprio trabajo, lo cual se comprueba observando si tienen capacidad para autoregularse. Essa capacidade de autorregular-se, entretanto, muitas vezes, é assumida pelos docentes como o direito de fazer o que quiser no contexto da sala de aula, desconhecendo que a autonomia, nesse locus de atuação, “se constrói na dialética entre as convicções pedagógicas e as possibilidades de realizá-las, de transformá-las nos eixos reais do transcurso e da relação de ensino” (CONTRERAS, 2004, p.198). Envolve uma ação fundamentada, consistente e defensável publicamente. Sendo assim, como sugere o autor, “não é possível também desvincular a concepção de autonomia de todos os envolvidos, de cooperação (ou ao menos do entendimento Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ mútuo), como qualidades que se buscam nas formas da interação social e de intervenção profissional” (idem, 2004, p.199). Nesse sentido, o desenvolvimento da autonomia docente, na perspectiva de sua profissionalização, não ocorre pela capacidade de “se arranjar sozinho”, se verifica em um movimento de encontro e de diálogo com os pares, no qual se constroem as convicções e finalidades, os saberes e as práticas que configuram a profissionalidade docente. Essa construção coletiva, fruto do questionamento à concepção de ensino e de sociedade, concorre para o fortalecimento dos docentes como profissionais e para sua emancipação intelectual das “dependências ideológicas que impedem a tomada de consciência da função real do ensino, das limitações pelas quais nossa prática se vê submetida e da forma pela qual estas dependências são assimiladas como naturais” (CONTRERAS, 2004, p.203). Essa forma de agir e de pensar a atuação docente inaugura um campo semântico de novas possibilidades de lidar com as demandas e conflitos que permeiam o contexto da sala de aula e das relações nas instituições, instaurando uma conduta emancipatória e crítica na atuação docente. A reflexão sobre a autonomia e sobre a docência como semiprofissão remete à discussão sobre a relação entre o trabalho prescrito e o trabalho realizado. Sob esse aspecto, cabe destacar que o trabalho do professor, como registra Souza-e-Silva (2004), se desenvolve em um espaço previamente estruturado por uma organização que estabelece uma série de prescrições. Como enfatiza a autora, “tais prescrições, às vezes muito coercitivas, outras extremamente vagas, por vezes contraditórias, não podem ser ignoradas se se quer compreender o que é possível fazer, o que é autorizado, tolerado ou proibido” (idem, p.90) e, consequentemente, compreender o impacto dessas prescrições no agir dos professores. A incorporação das prescrições no trabalho docente realizado pressupõe um processo de metabolização através do qual os professores redefinem, individual e coletivamente, para si mesmos, as tarefas que lhes foram prescritas e, 29 a partir das prescrições e da redefinição que os professores fazem delas, cada professor efetua escolhas a partir das quais estabelece uma relação com os alunos através de um meio de trabalho, que lhes permitirá fazer, com a ajuda de ferramentas semióticas. [...] Dessa forma o professor é, ao mesmo tempo, um profissional que prescreve tarefas dirigidas aos alunos e a ele mesmo; um organizador do trabalho dos alunos, que ele deve regular ao mesmo tempo em que os mobiliza coletivamente para a própria organização da tarefa; um planejador, que deve reconceber as situações futuras em função da ação conjunta conduzida por ele e por seus alunos, em função dos avanços realizados e das prescrições (AMIGUES, 2004. p.4849). Os sentidos do fazer docente vão sendo elaborados num processo marcado, de um lado, por modelos, prescrições e coerções, por modos de organização das instituições, pelas tarefas que deve cumprir e, de outro, por sua própria história, por suas experiências, por seus projetos, anseios e angústias (SAUJAT, 2004). Esses sentidos emergem, portanto, das “múltiplas relações que o docente estabelece com a Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário comunidade, seus pares, com a organização e também com seus alunos, no interior da sala de aula e fora dela” (D’ÁVILA, 2008, p. 168). Considerações finais As reflexões efetivadas, no âmbito deste texto, sobre a identidade e trabalho docente oportunizam pensar sobre o exercício da docência e dos significados variados que estão imersos nesse processo, os quais levam a compreensão do professor como um profissional da educação. Assim, é importante que os cursos de formação de professores se apropriem do seu papel de formar profissionais que precisam atuar numa realidade complexa, mas que também considerem que trabalhar numa complexidade pressupõe ter o trabalho docente como princípio articulador dos seus currículos. A formação específica (inicial e continuada) dos docentes da educação básica, na perspectiva da sua profissionalização, imprimi um sentido de coletividade, de saberes comuns, que orientem práticas solidárias e capazes de engendrar a autonomia dos docentes. Autonomia, não como sinônimo de “fazer o que quer na sala de aula”, mas, de desenvolver um trabalho responsável, ético, comprometido com o desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes e com o seu próprio, no sentido da transformação da sociedade. Referências AMIGUES, René. Trabalho do professor e trabalho de ensino. In: MACHADO, Anna Maria Rachel. (Org.). O ensino como trabalho: uma abordagem discursiva. Londrina: Eduel, 2004. BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- 9.394/94. Brasília: MEC, 1996. CARBONNEAU, Michel. Modelos de formação e profissionalização do ensino: análise crítica de tendências norte-americanas. In: Revista da FAEEBA V.15, no. 26 – jul\dez 2006. CONTRERAS, José. A autonomia de professores. São Paulo. Cortez, 2004. COSTA, Marisa C. Vorraber. Trabalho docente e profissionalismo. Uma análise sobre gênero, classe e profissionalismo no trabalho de professoras e professores de classes populares. Porto Alegre: Sulina, 1995. CUNHA, Maria Isabel (org.). Formatos avaliativos e concepção de docência. Campinas: São Paulo. Autores Associados. 2006. D’ÁVILA, Cristina. Decifra-me ou te devorarei: o que pode o professor frente ao livro didático? Salvador: UNEB, EDUFBA, 2008. ENGUITA, Mariano Fernandez. A ambiguidade da docência: entre o profissionalismo e a proletarização. Teoria e Educação. Nº. 4, 1991, p. 41-61. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ ENRICONE, Délcia. A universidade e a aprendizagem da docência. In: CUNHA, Maria Isabel da (org.). Reflexões e práticas em pedagogia universitária. Campinas, SP: Papirus, 2007. GATTI, Bernadete Angelina. Os Professores e Suas Identidades: o desenvolvimento da heterogeneidade. Cadernos de Pesquisa, nº 98, Fundação Carlos Chagas, SP: Cortez, 1996. GONZÁLES REY, Fernando Luis. Sujeito e subjetividade: uma aproximação históricocultural. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005. MONTERO, Lourdes. La construcción del conocimiento profesional docente. Rosário Santa Fe. Argentina: Homosapiens, 2001. PIMENTA, Selma Garrido; ANASTASIOU, Léa das Graças. Camargos. Docência no ensino superior. São Paulo: Cortez, 2002. SANTOS, Boaventura de Sousa. A universidade no século XXI. Para uma reforma democrática e emancipatória da Universidade. 2ed. São Paulo: Cortez, 2005. SAUJAT, Frédéric. O trabalho do professor nas pesquisas em educação: um panorama. In: SOUZA-E-SILVA, Maria Cecília Perez de. O ensino como trabalho. In: MACHADO, Anna Rachel. O ensino como trabalho: uma abordagem discursiva. Londrina: Eduel, 2004. 31 TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 5ª edição. Petrópolis: Ed. Vozes, 2002. TARDIF, Maurice; LESSARD, Claude. O trabalho docente: elementos para uma teoria da docência como profissão de interações humanas. Petrópolis, RJ; vozes, 2007. SER PROFESSOR NA EDUCAÇÃO BÁSICA: DOCÊNCIA, IDENTIDADE E FORMAÇÃO Ana Carla Ramalho Evangelista Lima (UEFS/NEPPU) RESUMO: A docência na educação básica, no Brasil, tem sido objeto de atenção de muitos estudos que vem se intensificando nas últimas décadas. Adentrar essa discussão requer, em primeiro lugar, a alteração do modo como as questões pedagógicas são entendidas e tratadas no processo de formação dos professores. Esse artigo aborda a relação entre docência, identidade e formação, considerando que é preciso trazer para o centro dessa discussão reflexões com a compreensão de uma formação que supere a visão de algo que é meramente “técnica”. Essa relação é trabalhada no sentido de ampliar o debate neste campo, para a Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário compreensão da construção identitária do professor, da docência, e formação, como aspectos indissociáveis e indispensáveis a valorização da educação básica e de sua qualidade. Palavras-chave: Docência. Identidade docente. Formação. 1. Introdução O professor, em atividade de aula, dentro das quatro paredes que delimitam seu campo próximo de trabalho, é o principal responsável, junto aos alunos, pelas ações que desenvolve ou deixa de desenvolver. Sua autonomia para resolver os problemas que surgem neste ambiente de trabalho é, entretanto, relativa. Há fatores de conjuntura social, cultural e política que variam de escola para escola e interferem no desenvolvimento de suas ações em classe, os quais fogem, em grande parte, de sua alçada. Há, por outro lado, situações imprevisíveis que surgem durante seu trabalho pedagógico e dizem respeito mais diretamente à sua ação e competência profissional. Essas situações exigem decisões e soluções que deveriam estar ao alcance do professor. Digo “deveriam” porque dependem de sua formação e conhecimento profissional em saber lidar com situações imprevisíveis, como também exigem que o professor reflita “em ação”, mobilize saberes e tome, rapidamente, a decisão que, no momento, considerar a mais adequada. São essas múltiplas relações contextuais da ação docente e a imprevisibilidade do que acontece em sala de aula que configuram a prática pedagógica como complexa, exigindo dos profissionais que a exercem um alto nível de reflexão e autonomia profissional. É claro que essa autonomia depende, em grande parte, da formação inicial e continuada dos professores. 2. Docência: aprendendo “com” e “na” prática ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às quatro horas da tarde. Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma como educador, permanentemente, na prática e na reflexão sobre a prática. (FREIRE, 1991) O que Freire (1991) vem afirmar é que a aprendizagem da docência ocorre durante toda a vida devido à própria natureza do trabalho docente, por isso pensar a constituição dos saberes dos professores somente no período da formação inicial, independente da continuada, isto é, daquela que acontece no próprio processo de trabalho, é negar a história de vida do futuro professor... É negá-lo enquanto sujeito de possibilidades. Esta visão que separa a formação profissional em inicial e continuada parece fazer parte do pensamento simplificador presente no modelo da racionalidade técnica, já discutido em outros capítulos. Em suma, a formação de professores sofre uma intervenção direta do contexto social, o qual define quais as competências, habilidades e atitudes esperadas do futuro docente. Segundo Marcelo García (1999), a formação de professores “... não representa senão outra dimensão do ensino como atividade intencional, que se Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ desenvolve para contribuir para a profissionalização dos sujeitos encarregados de educar as novas gerações” (p. 22). Buscando construir uma outra visão de formação docente, Marcelo García (1999) desenvolve o conceito de formação contínua, a qual se realiza integrando teoria e prática em um movimento de reflexão-ação fundamentado nos saberes acadêmicos e nas crenças e concepções que os atuais e futuros professores adquirem a partir de suas experiências. Para fazer essa elaboração segundo Marcelo García (1999) respaldase no estudo de um autor chamado Lortie, ao afirmar que (...) os estudantes que iniciam um programa de formação já possuem algumas concepções, conhecimentos e crenças enraizados e interiorizados em relação ao que se espera de um professor, qual o papel de escola, o que é um bom aluno, como se ensina etc.” (p. 85). Dito de outra forma, os saberes adquiridos nas práticas escolares anteriores são incorporados em um processo incidental, isto é, não são intencionalmente transmitidos, mas são adquiridos de acordo com o contexto escolar e as necessidades e expectativas de cada sujeito. Essa lógica concebe a formação profissional como pronta e acabada, a qual parece negar o contexto dinâmico e complexo nos quais os profissionais da Educação irão desenvolver uma prática social, afetiva e intelectual. Do que foi exposto até aqui, temos o desafio de tentar partir para a ideia de uma formação que articule os saberes acadêmicos com os experienciais. Ou seja, é necessário pensar em uma “formação em formação”, considerando também as concepções, crenças e saberes que são mobilizados na produção do trabalho docente. Neste processo, o futuro professor se forma num movimento de ação reflexiva e de tomada de decisões cotidianas, o qual contribui para o seu desenvolvimento profissional. Acreditamos que a superação da ideia da “formação preparatória” só será possível quando assumirmos a perspectiva defendida por Freire (1998): (...) é fundamental que, na prática da formação docente, o aprendiz de educador assuma que o indispensável pensar certo não é presente dos deuses nem se acha nos guias de professores que iluminados intelectuais escrevem desde o centro do poder, mas, pelo contrário, o pensar certo que supera o ingênuo tem que ser produzido pelo próprio aprendiz em comunhão com o professor formador (p. 43). Tardif (2002) argumenta que o saber da experiência constitui para os professores “os fundamentos da prática e da competência profissional”. A experiência provoca assim um efeito de retorno crítico aos saberes adquiridos antes ou fora da prática profissional. Ela filtra e seleciona os outros saberes, e por isso mesmo ela permite aos (às) professores (as) retomar seus saberes, julgá-los e avaliá-los, e, então, objetivar um saber formado de todos os saberes retraduzidos e submetidos ao processo de validação constituído pela prática cotidiana. O conceito de experiência destes autores leva-nos a pensar que ela constitui-se, para o professor que inicia sua experiência na docência, em uma instância mediadora de ressignificação dos saberes adquiridos durante a formação pessoal e profissional. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 33 Concebo a ressignificação como um processo criativo de atribuir novos significados a partir do já conhecido, validando um novo olhar sobre o contexto em que o sujeito está imerso. Nesse sentido, há uma aproximação do conceito de ressignificação que vem sendo desenvolvido por Jiménez (2001): O termo re-significação vem sendo usado, nesse contexto de troca, partilha e de aprendizagem com outro, como um processo de produção de (novos) significados e (novas) interpretações sobre o que sabemos, fazemos e dizemos... O processo de re-significação atua, portanto, sobre as experiências e os saberes em ação que vêm sendo produzidos pelos sujeitos que se encontram para falar sobre eles. (p. 44) Desta forma, quando estamos imersos numa prática social, em especial na sala de aula, nossas reflexões e significações sobre o que sabemos, fazemos e dizemos podem constituir-se em algo formativo para cada um de nós. É nesse processo de produção de significados e de ressignificação de saberes e ações que nos constituímos professores; ou seja, aprendemos a ser professor e professora no trabalho. É no trabalho, portanto, que o professor renova e ressignifica os saberes adquiridos durante todo o processo de escolarização, passando, então, a desenvolver seu próprio repertório de saberes. Tardif (2002), nesse sentido, afirma que os professores são produtores de um saber que é social, por ser adquirido no contexto de uma “socialização profissional”. Nesse contexto, os saberes são incorporados, modificados, adaptados em função dos momentos e dos aspectos de uma carreira, ao longo de uma história profissional onde o professor também aprende a ensinar, fazendo o seu trabalho. Este saber é desenvolvido pelos professores no exercício de suas funções e na prática da sua profissão, baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio. É o saber produzido na e pela experiência profissional. Ghedin (2002) corrobora essa idéia, afirmando que “é o professor quem procura articular o saber pesquisado com a sua prática, interiorizando e avaliando as teorias de sua ação, na experiência cotidiana. Deste modo, a prática torna-se o núcleo vital da produção de um novo conhecimento, dentro da práxis” (p. 135). Guarnieri (2005) também acredita que a aprendizagem profissional não se finaliza no curso de formação. Segundo a pesquisadora, que também realizou uma investigação com professores iniciantes, é no exercício da profissão que se consolida o processo de tornar-se professor; ou seja, o aprendizado da profissão a partir de seu exercício possibilita configurar como vai sendo constituído o processo de aprender a ensinar. Tal construção ocorre à medida que o professor vai efetivando a articulação entre o conhecimento teórico-acadêmico e o contexto escolar com a prática docente (p. 5). Percebe-se, neste sentido, que o saber docente, como já se ressaltou, não se define somente no momento da formação acadêmica, ele vai se articulando com outros saberes adquiridos pelo professor durante sua trajetória de vida e, principalmente, com os saberes adquiridos durante a experiência profissional. Compreender o saber em construção é romper com o entendimento do saber pronto e acabado e admitir um contexto escolar complexo, dinâmico e plural, composto por sujeitos (docentes e discentes) em formação. E, ainda, “assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos,” (Freire, 1998, p.46). Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ A prática pedagógica neste domínio pode ser concebida como um processo dinâmico e diverso, da qual emergem saberes profissionais que vão se configurando num cenário de reflexão e ação; estes saberes não se formam num único espaço e tempo determinados, mas fazem parte da trajetória do ser. Deste modo, acreditar que a “formação” está centrada em um único momento do sujeito é negar o seu movimento social, histórico e cultural. De fato, esse movimento faz parte da vida, já que estamos imersos em práticas sociais e a prática educativa é uma delas. É nesse sentido que a prática educativa assume importância enquanto espaço e tempo de formação profissional, incidindo como mais um lugar de experiência de vida, no qual podemos negar a reprodução de uma única forma de aprender e ensinar. Ou seja, negar a formação que controla, prescreve, determina e reproduz uma ordem social. Negar significa correr risco... É abrir o mundo para outras possibilidades... É conhecer-me naquilo que estou experienciando! 3. Os saberes e a formação docente Para adentrar essa discussão que eleva a importância dos saberes docentes, seja no início da carreira ou no decorrer desta, é importante nos reportar às pesquisas atuais no campo da formação de professores que surgem com marca da produção intelectual internacional, utilizando uma abordagem teórico-metodológica, a partir de análises de trajetórias, histórias de vidas, entre outras. De acordo com Borges (1998) o acúmulo teórico sobre o tema dos saberes e conhecimentos dos professores acabou por gerar uma base suficiente de trabalhos que possibilitaram alguns autores a produzir sínteses, com o objetivo de captar as diversidades teóricas e metodológicas de pesquisa, a fim de estabelecer, segundo critérios específicos, determinados agrupamentos, classificações e tipologias. Nóvoa (1995), em seus estudos, aponta que essa nova abordagem veio em oposição às concepções que reduziam a profissão docente a um conjunto de competências e técnicas, dissociando o eu pessoal, do eu profissional. Autores diversos (NÓVOA, 1995; MARCELO GARCIA, 1999; etc), têm atribuído grande relevância à experiência pessoal e profissional dos docentes numa tentativa de ultrapassar a formação direcionada apenas para a visão imediatista e reformista do sistema educativo, fundamentando as suas convicções em três dimensões básicas - a pessoal, a profissional e a organizacional, a que Nóvoa (1995, p.19) chama "trilogia da formação contínua: produzir a vida, a profissão e a escola". Para Monteiro (2001), as pesquisas que têm investigado esse conhecimento tácito, elaborado e mobilizado durante a ação pelos professores e, também, por qualquer outro profissional prático (reconhecendo-se as especificidades de cada fazer), possibilitaram o desenvolvimento de uma epistemologia da prática que abre perspectivas muito promissora aos estudos do campo educacional. Esses estudos, segundo a autora, somam-se àqueles que têm como pressuposto a crítica à ideia de que uma das origens das dificuldades encontradas no campo educacional são a desqualificação e a incompetência dos professores. Volta-se, sendo assim, para a questão da profissionalização, buscando-se compreender sua especificidade e 35 Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário constituição através dos processos de socialização, identificando nos saberes, os aspectos que podem melhor definir e fortalecer a identidade e autonomia profissional. Com o desenvolvimento de uma investigação sobre os saberes docentes, Monteiro (2001, p.6) os define como “categoria que busca dar conta da complexidade e especificidade do saber constituído no, e para, o exercício da atividade docente” e esses saberes provêm de fontes diversas (formação inicial e contínua dos professores, currículo e socialização escolar, conhecimento das disciplinas a serem ensinados, experiência na profissão, cultura pessoal e profissional, aprendizagem com os pares etc.). É necessário reconhecer também que é atribuído à noção de “saber” um sentido amplo, que engloba os conhecimentos, as competências, as habilidades e as atitudes dos docentes, ou seja, aquilo que é muitas vezes chamado de saber, de saber-fazer e de saber-ser. Segundo d’Ávila (2001, p.79), a relação do educador com o saber é “duplamente mediatizada”, ou seja, tem natureza cognitiva e didática. A competência do educador, como ressalta a autora, vem do domínio do saber, do saber-fazer (saber didático), e do saber sensível, estes saberes compõem a ação do educador enquanto mediador. Este educador, por sua vez, constrói e reconstrói em sua trajetória seus conhecimentos conforme a necessidade de utilização dos mesmos, suas experiências, seus percursos formativos e profissionais e por isso é importante compreender a prática pedagógica como mobilizadora desses saberes. No entanto, Nunes (2001, p.3), ressalta que tanto a escola, como os professores mudaram a questão dos saberes docentes, que agora se apresenta com uma outra "roupagem”, ou seja, para ela, o professor é considerado como um profissional que adquire e desenvolve conhecimentos a partir da prática e no confronto com as condições da profissão. De certa forma, o que a autora propõe é o repensar a concepção da formação dos professores, que até a pouco tempo objetivava a “reciclagem” e “capacitação” destes, através da transmissão do conhecimento, a fim de que "aprendessem" a atuar eficazmente na sala de aula. Essa concepção vem sendo substituída pela abordagem de analisar a prática que este professor vem desenvolvendo, e assim, a temática do saber docente e a busca de uma base de conhecimento para os professores, considerando os saberes da experiência, ganha evidência nesse âmbito de discussão. Sob origens diversas, o que parece ser consenso é a valorização da prática cotidiana como lugar de construção de saberes. E é isso que discute Lelis (2001) num estudo sobre as tendências da produção intelectual sobre a formação de professores nos últimos vinte anos no Brasil. Segundo a autora, o saber docente, como já foi citado anteriormente, só muito recentemente passou a se constituir objeto de pesquisa no Brasil. Ao mesmo tempo, antigos temas da década de 1980 ressurgiram, sugerindo um retorno a questões que não foram resolvidas pelas políticas e práticas de formação de professores, por exemplo, o papel da teoria e da prática nos processos de formação de professores, os modos como os professores se relacionam com os saberes. Lelis (2001, p.1) reafirma que: Seja pela via da ênfase na relação entre dimensão pessoal, profissional e organizacional da profissão docente, seja pela via de que o saber docente provém de várias fontes e de que a prática cotidiana faz brotar um saber próprio da experiência, a fecundidade dessas concepções está, de um lado, na forte crítica à razão instrumental e, de outro lado, na valorização da Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ prática individual e coletiva como lugar de aprendizagem conhecimentos necessários à existência pessoal, social e profissional. dos Portanto, para compreender como os professores equacionam, em sua formação e em sua atuação, as dimensões entre saberes e práticas, é preciso considerar o conjunto de saberes que subsidiam suas ações e que constituem um saber sobre a profissão, construído por eles próprios. Como enfatiza Catani (1997), existem ambigüidades e mal-entendidos no entorno da relação entre teoria e prática que têm gerado nos professores algumas atitudes “contraproducentes”, ou seja, cria-se uma grande expectativa no que concerne à teoria, como se estas pudessem lhes favorecer um apoio metodológico, que não tem como ser correspondido, na mesma medida; há também, por outro lado, uma descrença em relação à teoria no que se refere à resolução dos conflitos, ou problemas práticos vividos no cotidiano escolar. Segundo a autora (CATANI, 1997), essa visão dicotomizada foi desenvolvida no âmbito da própria cultura escolar que insufla a circulação de valores que produzem as representações sobre as práticas docentes. Por isso se faz necessário considerar os conhecimentos que emanam da prática cotidiana desses professores para que se possa ampliar essa discussão. 4. Construção identitária docente: um processo histórico Não é necessário muito esforço para perceber indícios de que a escola de hoje não cumpre mais seu papel de educar com qualidade. E se, o que se deseja é algum tipo de mudança, talvez seja o momento de voltar a atenção ao processo formativo dos professores. Se a política de formação docente não for constante objeto de preocupação, pouco poderá ser feito para que haja mudanças substanciais na escola, o que se espera é que ao menos uma formação docente, qualificada, possa alterar determinados quadros do cenário com os quais nos deparamos na atualidade. Frequentemente apontados como responsáveis pela má qualidade do ensino, ao longo da história da educação, poucas foram as oportunidades dadas aos professores para que se manifestassem sobre suas práticas pedagógicas. Várias ações institucionais – propostas curriculares, planos educacionais, sistemas de avaliação, etc. – foram introduzidas no universo escolar sem que estes pudessem posicionar-se a respeito de todas essas “novidades”, como se fossem incapazes de expressarem-se sobre os aspectos que repercutem diretamente na sua prática. Por sua vez, os saberes que constituem a competência docente confundem-se e complementam-se num embate constante diante das concepções de docência, de teoria e prática. Essa composição de tensionamentos e abordagens diversas frente ao contexto profissional e à qualidade da formação continuada, somada aos conhecimentos necessários ao exercício da docência, são elementos essenciais da formação e prática pedagógica dos professores (TARDIF, 2002). Questões como estas não são novas, mas permanecem presentes na pauta dos pesquisadores da área educacional e se reflete tanto nas discussões ocorridas visando à elaboração de propostas curriculares para os cursos de formação de professores, Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 37 quanto nos estudos sobre o repertório de conhecimentos necessários ao desenvolvimento da profissão docente. Historicamente, as diferentes maneiras de se conceber a teoria e a prática dentro do pensamento pedagógico brasileiro determinaram a organização curricular dos cursos de formação de professores. O professor trabalha coletivamente nas escolas e colabora para o exercício e desenvolvimento da atividade docente, uma vez que “lecionar” não é uma (ou não deveria ser) atividade burocrática para a qual se adquirem conhecimentos e habilidades técnico-mecânicas. A natureza do trabalho docente é o de humanizar e produzir conhecimentos. A identidade é uma construção historicamente situada e se produz nos espaços de formação (universidade, escola, sociedade...). É por isso que a profissão de professor emerge em dado momento histórico, como resposta às demandas da sociedade. A identidade profissional é compreendida como a expressão da singularidade do sujeito em seu movimento de construção/ (des)construção/ (re)construção profissional. Ela expressa a trajetória pessoal, os valores, as atitudes e as crenças que permeiam sua visão de mundo, o olhar sobre si próprio, e a singularidade desse sujeito produzida na alteridade, que refletem na escolha e desenvolvimento da profissão, consequentemente na identidade profissional, como bem afirma Nóvoa (1998). A forma como cada um de nós constrói a sua identidade profissional define modos distintos de ser professor, marcados pela definição de ideais educativos próprios, pela adoção de métodos e práticas que colam melhor com nossa maneia de ser, pela escolha de estilos pessoais de reflexão sobre a ação [...] um processo único e complexo graças ao qual cada um de nós se apropria do sentido da sua história pessoal e profissional. (p.28) A identidade profissional do professor faz-se a partir da construção de seus saberes da experiência, que são oriundos da observação da e sobre a prática, à medida que se assume uma forma de registro e sistematização das próprias experiências refletidas. Esses saberes também se formam a partir do conhecimento, que não se reduz à informação. A informação é apenas um primeiro momento. Conhecer implica em um segundo momento: o de trabalhar com as informações classificando-as, analisando-as e contextualizando-as. O terceiro momento tem a ver com a inteligência, com a consciência, com a reflexão ou com a sabedoria. No contexto em que estamos não basta produzir conhecimento, mas é preciso produzir as condições de produção do conhecimento. Conhecer significa estar consciente do poder do conhecimento para a produção da vida material, social e existencial da humanidade e dos professores em contínuo processo de aprendizagem. 5. Considerações finais Repensar a ação docente é um constante desafio que se intensifica diante das rápidas e profundas transformações nos mais variados setores da vida contemporânea, acentuada pela produção e disseminação de novos saberes, de novas informações. Por isso, nos últimos anos, a formação docente tem ocupado boa parte das discussões sobre a educação e, por vezes, esses debates têm abandonado, progressivamente, os anseios de que a escola venha a produzir mudanças estruturais na nossa sociedade. Estes anseios têm dado lugar a outros, mais modestos. Se não é possível mudar a sociedade, talvez um espaço menor como a sala de aula seja mais viável. E nesse Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ aspecto, a formação docente volta ao centro da discussão. Novos professores para um novo contexto; demandam-se novos enfoques e discussões sobre a formação. A qualidade da educação, e da educação básica em especial, perpassa pela formação do professor. Por isso, é tão importante que a universidade invista em ações que possam solidificar a formação inicial e proporcionar a estes professores iniciantes uma formação ampla que possibilite um olhar especial sobre o sistema educativo. É este olhar que vai proporcionar o conhecimento da realidade, suas limitações e contradições. É este olhar que vai desvelar a problemática do contexto escolar, as especificidades do trabalho docente e que vai levá-los a refletir sobre os caminhos de sua profissão e da construção de sua identidade profissional. Referências BORGES, C.M.F. O professor de Educação Física e o saber docente. Campinas: Papirus, 1998. CATANI, D. B. (orgs) Docência, Memória e Gênero: Estudos sobre formação. São Paulo: Escrituras Editora, 1997. FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 29 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2001. _______. Educação e mudança. 5 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991. _______. Professora sim, tia não. 9ª Edição. São Paulo: Editora Olho d’Água. 1998. GUARNIERI, M. R (org.). Aprendendo a Ensinar: o caminho nada suave da docência. 2 ed. Campinas/SP: Autores Associados, 2005. GHEDIN, Evandro. Professor reflexivo: da alienação da técnica à autonomia da crítica. In: PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro (Orgs.). Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. São Paulo: Cortez, 2005. LELIS, Isabel Alice. Do ensino de conteúdos aos saberes do professor: mudança de idioma pedagógico? Educação e Sociedade, Campinas: CEDES, v. 22, n. 74, abr. 2001. Disponível em: www.scielo.br. Acesso em: 05/01/2004. D’ÁVILA, Cristina M. Decifra-me ou te devorarei: o que pode o professor frente ao manual escolar? Tese de Doutorado, Universidade Federal da Bahia, Salvador/BA, 2001. MARCELO GARCÍA, C. Estudio sobre estrategias de inserción profesional en Europa. Revista iberoamericana de educación, n.19 jan/abr 1999. Disponible em: www. campus-oei.org/oeivirt/rie19a03.htm. Acesso em: 20/12/2004. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 39 MONTEIRO, A. M. F. Professores entre saberes e práticas. Educação e Sociedade. v. 22, n. 74. Campinas: CEDES, abr. 2001.: Disponível em: www.scielo.br. Acesso em: 17/01/2004. NÓVOA, A. Os professores e as Histórias da sua vida. In. NÖVOA, A (org.). Vidas de professores. Porto: Porto Editora, 1998. _______. Formação de professores e profissão docente. In: Os professores e sua formação. Lisboa, Portugal: Dom Quixote, 1992. NUNES, C. M. F. Saberes docentes e formação de professores: um breve panorama da pesquisa brasileira. Educação e Sociedade, Campinas: CEDES, v. 22, n. 74, abr. 2001. Disponível em: www.scielo.br. Acesso em 17/01/2004. PIMENTA, Selma Garrido e GHEDIN, Evandro. Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. São Paulo: Cortez, 2005. SACRISTÁN, J. G. Consciência e acção sobre a prática como libertação profissional dos professores. In: NÓVOA, António (org.). Profissão Professor. Porto: Porto Editora, 1995. ________. Tendências investigativas na formação de professores. In: PIMENTA, S. G. e GHEDIN, E. Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. São Paulo: Cortez, 2002. TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ LETRAMENTO DIGITAL E SUAS IMPLICAÇÕES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES Robério Pereira Barreto (UNEB) Professores, se vocês conseguem ler e entender esse texto é porque são alfabetizados e possuem letramento suficiente e numa escala acadêmica tal que o gênero do discurso no qual está assentado escrito dispensa apresentação. Não obstante à provocação inicial, cumpre perguntar em tom provocativo: Mas você sabe o que é letramento? O que isso tem a ver com formação docente? E o que é mesmo letramento digital? Como sugestão inicial, deem uma olhadela ao seu redor, neste espaço acadêmico, perceberá que há vários computadores e equipamentos digitais em seus mais variados formatos e modelos. Então, professores estão preparados para o uso desses equipamentos, tendo-os como ferramentas potencializadoras de interação entre o mundo da escrita e a formação docente? Indubitavelmente essas interrogações engendram outras de igual valor, quais sejam: como pensar o ensino e a formação docente neste contexto tão tecnológico? As escolas e os professores já estão lidando com esses desafios impostos pela cultura escrita digital, cibercultura? Professores, acalmem-se! Para seu alívio essas e outras questões não serão respondidas nesta conversa, são muito mais profundas e requerem diálogos com bases ontológicas e epistemológicas que, infelizmente devido ao espaço e ao tempo serão apenas citadas. Todavia, é interessante advertir que são pontos importantes para a reflexão acerca do lugar que a informática e a internet vêm assumindo na formação docente. Então, professores, potenciais ouvintes caso fiquei até o final de minha conversa, ou, quiça indignados leitores se, depois de todas esses deslocamentos cognitivos feitos queira ir até o final da leitura; perceberá que a navegação pelas ondas do ciberespaço é fascinante e cheia de desafios para aqueles que estão no exercício docente e também aqueles que por algum motivo ingressaram num curso de licenciatura. O fim, neste texto, é discutir parte de proposta ora estudada na pesquisa de doutoramento, na qual o letramento digital constitui categoria central e visa aprofundar a discussão sobre os novos modos e as perspectivas permitidas pelo os usos das tecnologias de informação e comunicação – TIC – na formação continuada do professor. Por outro lado, em tal contexto, há também destaque para a relevância do uso da escrita na sociedade letrada digitalmente. Nesta senda, tomam-se os novos suportes tecnológicos ancorados pela internet e suas redes sociais e comunicativas, bem como as mudanças até então não autorizadas pelo sistema educacional centrado na educação bancária em que o letramento foi confundido como alfabetização por algum período da formação dos professores. Dessa forma, a formação profissional do docente está intimamente ligada com tendência à inclusão e à participação efetivas dos sujeitos no tecido social, educacional e tecnológico constituinte das demandas requeridas pela cultura da escrita digital. Assim, compreender essa dialética vai permitir a visualização do papel da Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 41 formação de professores que, direta ou indiretamente está vinculado ao desenvolvimento das práticas de escritas tanto no ambiente escolar quanto no ambiente digital, onde o “saber escrever” é condição sine quo non para a inserção e a interação verbal na cibercultura. Hoje, as tecnologias da informação e comunicação assumem a dialética interna da formação profissional docente, visto que o conhecimento das linguagens circundantes no ambiente digital constitui o novo momento histórico da formação do homem contemporâneo. Isto quer dizer que as ideias clássicas de letramento estão sendo reorganizadas para atender aos aspectos sociais e pedagógicos demandados pela cultura de digital; as informações são produzidas e socializadas por meio da capacidade criativa somente permitida pelo uso sociais das linguagens. Dessa forma, metodologias de ensino têm sugerido que a formação docente no contexto da sociedade informação e do conhecimento em rede cooperativa, precisa ser voltar para o reconhecimento de que os recursos tecnológicos conduzem as práticas de letramentos múltiplos. Por isso, atividades de escrita e de leitura que até então caracterizavam o ensino escolar instrumento de inserção social ao mundo do letramento ganham outra dimensão e assumem lugares de interação social em rede formativa para além da escola; é fundamental que o professor esteja letrado digitalmente para poder interagir social e linguisticamente com os seus estudantes e a comunidade escolar que, por sua vez, é considerada digital; ver-se, portanto, o a quantidade de laboratórios de informática implantados pelos programas governamentais. Na atualidade, educação vive uma relação de dependência com recursos tecnológicos e digitais, na qual o homem, a máquina e a tecnologia a complementam. Isto acontece em virtude de o mundo está centrado no ideal de inteligência artificial e, portanto, a educação antes pensada por meio de processos individualizados cede lugar para a construção de saberes formativos de sujeitos coletivos. Dessa forma, a educação contemporânea levará em conta questões de inclusão ao mundo do letramento, tendo inclusive, nas tecnologias da informação e comunicação – TIC – a instrumentalização de ensino e de aprendizagem de culturas escritas requerida pelo ciberespaço que, por meio de ideologia formativa para o mundo do trabalho permite a utilização das ferramentas digitais de aprendizagem. Deste ponto de vista, pode-se se afirmar que o conhecimento da internet como meio de acesso a cibercultura onde a produção do conhecimento é voltada para a formação profissional para o mundo do trabalho, e que sua criação é fruto de necessidades em que o ser humano, ser em constante formação demanda por processos intelectuais e tecnológicos que o insira em projeto de educação, no qual o letramento possibilite a transversalização de saberes; a visão holística permitindo a operacionalização de conhecimentos como processos integrados e em rede, exigindo ainda a flexibilidade, a plasticidade, interatividade, bem como cooperação e apoio integrados que, acima de tudo, considere as diferenças individuais e produção de conhecimento. Assim sendo, assume-se, hoje, o letramento digital como tecnologia educacional integrante de um momento histórico, levando em conta que as tecnologias da informação e comunicação – TIC – são parte da realidade atual e, por isso está interligada à formação e à construção do sujeito enquanto ser ontológico e epistemologicamente situando na cibercultura. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Neste contexto, “A tecnologia faz parte desse contexto não como algo fora, mas como parte de um todo em que o homem cria, recria e se beneficia da sua própria realização e das demais colocadas na sociedade” (GRINSPUN, 1999, p. 19). Importa ainda afirma que essa tomada de consciência permeia todas as ações dos professores e, principalmente daqueles sujeitos em formação, visto que os fatos e os problemas sociais, políticos e educacionais gravitam acerca de questões econômicas e tecnológicas ora surgidas na emergência de uma sociedade da informação e comunicação simultâneas articuladas por meio de escritas e signos desenvolvidos para a organização no ciberespaço e para a manutenção da cibercultura. Para Freire (1980) ao se tomar consciência dessa realidade é fundamental que seja exercida uma consciência crítica, na qual os sujeitos assumam o papel de seres ativos cuja práxis permita fazer e refaze o mundo com o material – tecnologias – que a vida e o momento histórico lhes consentem. Por outro lado, Freire (1980) ainda propôs que em face das searas abertas pelas tecnologias, o ato de construção e uso do conhecimento fosse tomado como um direito social, constituindo assim a dimensão ética da educação, da formação e da tecnologia em quanto recurso didático e pedagógico para a formação humana. Para Lévy (1996) o resultado da apropriação da informação e do conhecimento disponíveis no âmbito cibercultura tem caráter inclusivo e não exclusivo conforme feito até então pelo ensino centrado nos fundamentos da modernidade positivista, quando a formação do sujeito tinha como principio básico, a centralidade do conhecimento. A educação contemporânea tem eixo formativo ancorado na presença das linguagens e dos códigos das tecnologias digitais está a serviço da humanidade para sua emancipação e não para a sua destruição. Diante desta percepção a apropriação do largo leque de novas possibilidades que a técnica da escrita oferece, num movimento de inclusão de todos e não somente de um pequeno número selecionado ou percebido por alguns atores sociais. Lévy (1996) ao considera a presença das tecnologias de informação e comunicação no cotidiano das sociedades contemporâneas permite a reflexão profunda a respeito da função instrumental e pedagógica latente no universo virtual da prática de escrita na cibercultura; haja vista importância exercida pelo hipertexto disponível a qualquer momento na rede. Assim sendo, há que se reconhecer o progresso e as mudanças ocorridas no universo educacional e, em especial, na formação docente posto que, com as TIC ampliaram as possibilidades de acesso e de aquisição de culturas escritas difundidas no ciberespaço. A partir de então, as “novas” tecnologias criaram um cultura em que a informatização e digitalização permitiram novos modos intelectuais de produção e recepção, nos quais o conhecimento e manipulação de signos e de representações escritas intensificaram a discussão sobre letramento digital. Certamente, isto ocorre devido aos meios informáticos e digitais terem expandido a relação do homem com a linguagem e com a parafernália de equipamentos digitais nunca antes imaginados no contexto educacional e formativo; para além dos muros da escola e dos centros de formação profissional os Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 43 computadores ligados à internet vêm causando mudanças tanto na maneira de ensinar quanto no modo de aprender, devido os sujeitos sociais e educativos terem adquirido autonomia para o uso das tecnologias disponíveis. Por outro lado, esta questão pleiteia movimentações cujo caráter operacional é altamente especializado no que se refere ao domínio dos recursos tecnológicos a disposição de toda comunidade, visto que se vive na sociedade da informação e do conhecimento em rede digitais; cibercultura. A partir dessas premissas é que se toma o letramento digital como perspectiva sociocultural e formativa docente. O hipertexto existente na web tornou-se uma realidade e permiti que a leitura e a escrita de gêneros textuais diversos se misturem as linguagens iconográficas e audiovisuais veiculadas e aceitas sem interrupções no ciberespaço. Dir-se-ia, portanto, numa perspectiva apologética de que as tecnologias da informação e comunicação – TIC – possibilitam o letramento digital docente. Neste texto objetiva evidenciar a importância e as implicações do letramento digital no contexto da formação profissional, reconhecendo ainda que a internet enquanto suporte para o desenvolvimento e o acesso a cibercultura e, por sua vez, ao letramento digital ainda não esta disponível a todos, mantendo assim, o abismo entre incluídos e excluídos, graças às lacunas ainda existentes na formação de professores; por outro lado, essa mesma tecnologia vem promovendo novas formas de organização, leitura e inserção na sociedade letrada digitalmente, de jovens que de forma autônoma se apropriam de saberes ora veiculados na internet, tornando-se letrados sem a participação da escola e do professor. Considerando a sociedade um organismo marcado pelo digital, novas formas de leituras escrita (grifo meu) devem ser consideradas, a fim de que se detone um processo educativo e formativo docente e discente (grifo meu) de alfabetização e letramento significativo, que leve em conta a multiplicidade tecnológica que hoje se apresenta e que não pode ser negada. (RIBEIRO, 2011, p. 87). Nesse conjunto de argumentos está aquilo que Lévy considerou o princípio da dinamicidade, no qual o conhecimento é produzido de maneira instantânea e em rede a qual coloca os sujeitos, especialmente os sujeitos escolares, educacionais e formativos em contato com a cibercultura, onde todo lugar é ocupado por interações hipertextuais potencializadoras de novas e amplas educações linguísticas, culturais e digitais, tendo como elemento mediador de escrita e leituras digitais; o hipertexto. Ainda de acordo com o princípio dinamicidade levineana, a tecnologia quando empregada em processos formativos e educacionais leva interação entre humanos e sistemas informáticos promovendo uma dialética interna em que o virtual e o atual movimentam-se de tal modo que chegam a se confundir; então atual torna-se o possível, estático o já constituído. Enquanto o virtual é algo imanente e, portanto, provoca à atualização e a formação continuada assume e ao mesmo exige potência, pois há nesse processo latência constantemente. Sem dúvida essa dinâmica toda promove desarranjos e, certamente as velhas “certas competências” são colocadas à margem do processo formativas e educacionais, permitindo a emergência de outros modos de ação e aprendizagem. Isto não tem passado despercebido, ao contrário, tem provocado conflitos que por sinal, Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ tem contribuído muito para o reconhecimento de que o letramento digital constitui-se “numa nova dinâmica de colaboração entre o ensino e a aprendizagem em rede” (LÉVY, 1996, 17). Considerando que as bases para produção, ensino, aprendizagem e aquisição de cultura escrita variam consideravelmente e os sistemas digitais permeiam o cotidiano, O letramento digital é uma potência no campo da formação docente, haja vista que os estudantes do ensino básico ao superior transitam por esse espaço. No que diz respeito à produção e à distribuição de conteúdo online, sites de redes sociais, weblogs, entre tantos outros asseguram o reconhecimento da existência desses artefatos culturais digitais, cujos métodos de observação se tornaram possível devido aos estudos da internet terem avançado no campo da etnografia virtual; os métodos de coleta e análise de dados, neste estudo foi observação participante direcionada às análises do conteúdo, tendo destaque as questões linguísticas e arquitetônicas do texto. Com a presença dos recursos da informática associados às ferramentas da internet, a exemplo do weblog, que por sua vez são muitos sedutores e imprescindíveis para a formação de um aluno letrado digitalmente é acreditar que a escola pode através do uso sistemático e didatizado de tais ferramentas serem diferente, divertida, reconhecendo que seu lugar e função é o de construir, problematizar, pensar, enfim, colocar em prática ações de aprendizagem que estimulem a participação na cultura escrita ora disponível socialmente. As Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC – ampliaram o acesso ao mundo da cultura escrita e, com isso, surgiram novas necessidades de apreender os novos princípios da escrita recorrente no mundo digital. Daí decorre as discussões sobre as recentes compreensões do conceito de letramento, incluindo-se aí o letramento digital como nova proposta de ensino, aprendizagem e formação docente. Dessa maneira, letramento digital constitui na atualidade uma nova possibilidade de letrar, porque a instância digital permite a inserção de modos variados de se lidar com os novos usos da cultura escrita na sociedade contemporânea, a qual institui em suas relações sociais o uso da escrita em gêneros do discurso em suportes tecnológicos variados; cibercultura. Além disso, o letramento digital permite a apropriação de recursos tecnológicos e suas linguagens operacionais, bem como práticas escritas circulares no ambiente digital operacionalizado no ato enunciativo de comunicação. Por outro lado, isto remete ao pensamento bakhtineano de que as práticas sociais da escrita situam a natureza social do gênero discursivo produzido e publicado na web. Nessa perspectiva, a escrita está ligada à criação de uma nova de comunicação, cuja semiose permite a novas formas de discursos e o que faz pensar que a escrita digital possibilita a elaboração de modelos de conceituais de ensino em que os gêneros textuais envolvem os elementos linguísticos e as estruturais da escrita digital. No contexto da relação escrita e leitura, o letramento digital protagoniza momentos importantes para a formação do estudante, uma vez que lhes permite a interação com outras formas de linguagens, as quais levam à formação docente atenta ao letramento digital que, por sua vez se institui como possibilidade de práticas de Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 45 linguagens, na medida em que se reconhece o plano dialógico instituído na comunicação, no qual, A escrita e a leitura trocam seus papéis. Todo aquele que participa da estruturação do hipertexto, do traçado pontilhado das possíveis dobras do sentido, já é um leitor. Simetricamente, quem atualiza um percurso ou manifesta este ou aquele aspecto da reserva documental contribui para a redação, conclui momentaneamente uma escrita interminável. As costuras e remissões, os caminhos de sentido originais, que o leitor reinventa, podem ser incorporados à estrutura mesma do corpus. A partir do hipertexto, toda leitura tornou-se um ato de escrita. (LÉVY, 1993, p. 46). Além do mais, o leitor também tem o acesso instantâneo a outros textos, palavras, imagens, gráficos, dados, diagramas, podem dar continuidade a outros caminhos, conteúdos, permitindo o ingresso a várias categorias de textos. O leitor/autor passa a construir um texto coletivamente com pessoas de várias partes do mundo, onde cada um contribuiu com seus diferentes pontos de vista, escrevendo, reescrevendo e revendo conceitos. Ou ainda como corrobora Xavier (2004), O letramento digital é uma necessidade contemporânea, que só tende a aumentar, porque a nossa participação na nova era digital deve passar necessariamente pelo aprendizado da leitura e da escrita no contexto hipertextual, o qual deve mediar as nossas relações de sujeito. O autor se refere ao hipertexto como o caminho para um letramento digital, que vem a exigir conhecimentos prévios e que assim possibilita ao leitor uma visão mais ampla de mundo e de conhecimentos. “*...+ o hipertexto não traz um novo espaço para a escrita, mas um novo espaço para a textualização, ou seja, vem trazer um conjunto de indagações.” (MARCUSCHI, 2001, p.91). Nesse sentido, o hipertexto pode ser considerado além de um espaço para novas escritas também para novas leituras e interpretações, daí a construção de interações em weblogs e a contribuição na educação. De acordo com Barreto (2010) [...] se entende que o weblog além de sua posição como artefato tecnológico, constitui-se ainda como hipergênero, pois permite a prática de aquisição e ensino de gêneros outros. [...] essas questões poderão de fato inseri-lo, bem como seus estudantes a pratica de escrita e, por conseguinte, à aquisição de linguagem por meio do universo da escrita proporcionada pelo mundo digital. Até aqui se destacaram questões conceituais e teóricas a respeito do letramento digital. A seguir serão discutidas as mudanças que poderão sofrer a formação docente a partir do momento em que se tenha no processo de formativo o entendimento de que a cultura escrita digital é uma realidade a ser considerada por todos os envolvidos no ambiente educacional. Dito isto, cumpre então mostrar as implicações da apreensão do conceito de letramento digital, bem como tê-lo como categoria teórica-prática a ser aplicada para e na formação de profissionais capazes de lidar com as demandas sociais que a comunidade reclama. Para isso, toma-se como base a ideologia de que a tecnologia da Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ informação e comunicação – TIC – que por sua natureza é cooperativa e permite a construção de conhecimento em rede. Estes saberes, por sua vez, são edificados no princípio da dinamicidade que tem como meio para sua propagação as tecnologias digitais; o domínio da escrita enquanto técnica mantém a possibilidade de inserção do sujeito no campo da cibercultura, a qual é constituída por signos representados linguística e semioticamente e assim permitem a manutenção da categoria letramentos. O conhecimento linguístico atualiza de forma substancial o ideário de que o letramento digital provoca nos usuários da web ações e reações diferenciadas em face dos estímulos que o mundo hipertextual apresenta. Dessa forma, o entendimento de que a escrita é uma técnica que permite ao homem a nomeação e a criação de signos variados; enquanto tecnologia, o texto é um mecanismo para aumentar as possibilidades humanas de falar, mostrar, sentir, ver, ouvir e perceber; é a própria extensão da capacidade de comunicar e de entender do homem, ponderou McLuhan, (1964) em sua teoria da comunicação. Mediante todo o contexto social e tecnológico que as práticas de letramento proporcionaram ao longo de seu tempo, tendo inclusive centralizado o processo de formação dos professores, os quais aprenderam, ou melhor, não compreenderam a distinção entre as práticas sociais de escrita e leitura e em diferentes contextos, letramento; do ensino de escrita e o reconhecimento de letras em suas variações fonéticas e fonológicas, alfabetização. Todavia, agora são levados ao convívio e ao investimento nos processos de formação que reconheçam e constituam práticas pedagógicas voltadas para o uso das tecnologias digitais. Por outro lado, estes investimentos devem ser mediados por uma prática educativa mediada pela tecnologia, entendendo-a como instrumento que desenha uma pedagogia ativa e cooperativa, multidisciplinar e que tenha no universo digital o cerne da formação continuada, a qual por seu turno induz a uma educação tecnológica que, por sua vez prepara o profissional para o exercício de múltiplos letramentos reclamados pelas vivências no ciberespaço. Todas estas caracterizações têm como princípio a formação profissional que vise preparar para o futuro e leve o aluno, com os esforços dele, a resolver problemas e a tomar decisões por si próprio, desenvolvendo a autodisciplina, o autodomínio, a autonomia, a responsabilidade, a criatividade, a fluência verbal, a tomada de decisões e com isso, vivenciar o presente para, em seguida se projetar o futuro. (Grifo meu) (RIBEIRO, 2011, P. 91). A tecnologia e a educação devem garantir o acesso e a permanente formação do professor, objetivando assim, a técnica não se reduzida a um conjunto de ferramentas com as quais se escreve textos variados, buscando a comunicação em que a relação homem, computador e a internet sejam mais que um produto das novas perspectivas de formação continuada. As principais implicações que o letramento digital pode permite à formação docente estão relacionadas às novas metodologias que a internet possibilita: criação Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 47 de redes sociais e interacionais onde a escrita se institui como tecnologia secundária semioticamente fundada nos princípios da dinamicidade dos signos; o letramento digital desconstrói estratégias até então centradas na formação para a alfabetização; o letramento digital permite o aprendizado e a prática de linguagem por meio dos contextos socioculturais. Referências GRINSPUN, Mirian P.S. Zppin (org). Educação tecnológica: desafios e perspectiva. São Paulo:Cortez, 1999. LÈVY, P. O que é virtual? São Paulo:34, 1996. LÈVY, P. Cibercultura. São Paulo: 34, 2000 ______, As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1994. McLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. São Paulo: Cultrix, 1964 [d.p.]. RIBEIRO, José Otacílio. Educação e novas tecnologias: um olhar para além da técnica. In: CASCORELLI, Carla Viana; RIBEIRO, Ana Elisa (orgs.) Letramento digital:aspectos sociais e possibilidades pedagógicas. 3. ed. Belo Horizonte: Ceale; Autêntica, 2011. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ IDENTIDADE PROFISSIONAL E DOCÊNCIA: ALGUMAS REFLEXÕES Cenilza Pereira dos Santos (UNEB) RESUMO: A formação de professores se constitui em um dos aspectos mais discutidos no que diz respeito à promoção da qualidade da educação nos mais diversos segmentos. Um caminho possível para esse formação é a construção da identidade profissional a partir de elementos políticos, culturais e científicos que promovam a implicação do sujeito com a ação pedagógica, a qual vai além do desenvolvimento da práxis em si. É nessa perspectiva que autores como Giddens (2002); Dubar (2005) e outros passam a compreender a identidade como conceito que precisa ser discutido diante do contexto social e da complexidade em que se vive hoje. Essa reflexão permite repensar os cursos de formação de professores para além de conhecimentos teóricos ou metodológicos, mas formara professores para atuarem em uma sociedade complexa, em que os sujeitos precisam lidar com múltiplas questões que estão para além do ensinar e do aprender. PALAVRAS-CHAVES: Formação de professores. Identidade profissional. Docência Atualmente, a formação de professores se constitui no novo alvo de políticas públicas do Governo; exemplo dos programas de formação de professores em exercícios – PARFOR – voltados para o desenvolvimento da educação básica no país. Assim, pode-se pensar que este é o aspecto fundamental para a melhoria desse segmento de ensino, pois promove uma valorização profissional, porém prefiro pontuar que, apesar dos esforços, este ainda é um aspecto inicial do processo de valorização docente. Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal do Brasil (1988), a educação de qualidade é um direito da sociedade, entretanto, por um longo período da nossa história isto não foi bem assim; a educação era privilégio de poucos e com isso a formação dos profissionais para a docência seguia aos pressupostos da ideologia dominante e em vigor à época. Por outro lado, o descaso estava evidente na infraestrutura, na valorização econômica e política do profissional; uma herança que em pleno século XXI, com o avanço tecnológico ainda não conseguimos vencer. Neste contexto é impossível abordar as diversas dimensões educativas sem falar na formação inicial e continuada dos professores, na qual estão implicadas perspectivas políticas, sociais e culturais. As justificativas para isto estão na crise vivenciada nas diversas instituições de ensino onde se faz formação de professores. Estas por sua vez apresentam fragilidades severas quanto ao desenvolvimento e à estrutura das atividades que compõem o rol de programas educativos eficazes direcionados a preparação do professor para a educação básica. Um dos caminhos possíveis para reverter esse quadro é a valorização profissional em seus diversos aspectos. A construção da identidade profissional se faz Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 49 necessária porque é partir dela o sujeito que vai além do desenvolvimento teórico; ele entra em ação e constitui a si mesmo como profissional docente. Dessa forma já não se concebe mais a formação docente pautada apenas em elementos técnicos ou teóricos, mas sim na ação e reflexão no chão da escola. É fundamental a construção de um processo de implicação, principalmente nos cursos de licenciatura que ultrapassem o fazer pedagógico e que busque articular todo esse conhecimento teórico, técnico-profissional com uma reconstrução de si, isto é, do próprio sujeito que está em formação. Essa construção do sujeito possibilita o desenvolvimento de uma autonomia intelectual e profissional que passa pela constituição da identidade pessoal e coletiva ao longo de nossa vivência. É nessa perspectiva que autores como Bauman (2005), Dubar (2005) e Giddens (2002) passam a compreender a identidade como um conceito que precisa ser discutido diante da complexidade do contexto social em que vivemos. Trazer a questão da identidade profissional docente nos cursos de licenciatura, especificamente, permite compreender como os profissionais da Educação Superior estão formando os professores que irão atuar em uma realidade complexa e repleta de desafios; a escola básica. Com o objetivo de refletir como os profissionais da Educação Superior estão formando professores para atuarem em uma realidade complexa, em que precisam lidar com múltiplas questões que estão para além do ensinar e do aprender é que trago os conceitos de identidade e docência para a discussão. Num processo escolar de formação é fato que nem sempre o que se ensina é exatamente o que os estudantes aprendem, ou seja, o trabalho docente dos formadores nem sempre é parâmetro para determinar que se esteja construindo uma identidade profissional docente ou que os estudantes dos cursos de licenciatura estejam aprendendo a serem professores. A discussão em torno da identidade foi iniciada no campo dos estudos culturais o que nos possibilitou tomar a questão da identidade como a valorização das diferenças dentro de um mundo globalizado. Porém, essa diferença não pode ser compreendida em uma afirmação binária de valorização e exclusão (HALL, 2005), mas como um processo que favorecerá uma afirmação e reconhecimento social que venha a agregar elementos que enriqueça a própria sociedade. Essa construção identitária é realizada a partir de representações, práticas e sistemas simbólicos. A representação inclui as práticas de significação e os sistemas simbólicos por meio dos quais os significados são produzidos, posicionando-nos como sujeitos. É por meio dos significados produzidos pelas representações que damos sentido a nossa experiência e àquilo que somos. Podemos inclusive sugerir que esses sistemas simbólicos tornam possível àquilo que somos e aquilo no qual podemos nos tornar. (...) Os discursos e os sistemas de representação constroem os lugares a partir dos quais os indivíduos podem se posicionar e a partir dos quais podem falar. (WOODWARD, 2000, p. 17) Nesse sentido, a construção identitária é social e simbólica. Contudo, a complexidade da vida contemporânea exige que assumamos várias identidades, que nem sempre convivem em harmonia. Ainda de acordo com Woodward (2000) “as identidades são diversas e cambiantes, tanto nos contextos sociais nos quais elas são vividas quanto nos sistemas simbólicos por meio dos quais damos sentido as nossas próprias posições” (WOODWARD, 2000, p.33). Assim, é muito mais fácil falar de Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ identidades do que de vivenciá-las sem muitos conflitos ou mesmo reconhecer que a identidade é um processo subjetivo que está em constante alteração. Compreender esse processo é fundamental para entender a profissionalização como um aspecto que irá reconhecer a docência como uma atividade profissional das mais complexas. É nesse contexto que a construção da identidade docente passa pelas discussões acerca da construção social da identidade que para se fortalecer precisa de uma necessidade de afirmação. Essa conquista e necessidade de afirmação parte dos atos de pertencimento com os quais deparamo-nos diariamente na nossa vida social, a qual sofre mudanças cotidianamente. De acordo com Bauman (2005), Tornamo-nos conscientes de que o “pertencimento” e a “identidade” não têm a solidez de uma rocha, não são garantidos para toda a vida, são bastante negociáveis e revogáveis, e de que as decisões que o próprio indivíduo toma os caminhos que percorre, a maneira como age – e a determinação de se manter firme a tudo isso – são fatores cruciais tanto para o “pertencimento” quanto para a “identidade”. Em outras palavras, a ideia de “ter uma identidade” não vai ocorrer às pessoas enquanto o “pertencimento” continuar sendo o seu destino, uma condição sem alternativa. (BAUMAN, 2005, p. 17-18). Segundo o autor, o pertencimento a determinado segmento social e/ou profissional e esse reconhecimento provoca uma identidade que não permite alteração diante das demandas sociais atuais. É necessário que essa ideia fechada se torne maleável e garanta as mobilidades que a própria sociedade nos impõe para vivermos enquanto seres sociais que são individuais e, ao mesmo tempo, coletivos. Isto significa respeito às diferenças e a não segregação social e/ou profissional. Diante disso, a construção da identidade profissional torna-se um processo dialético que, ao mesmo tempo em que é determinante pode não ser mais, por considerar que nesse processo de construção existe a interferência de outros fatores igualmente importantes. O entendimento que, assim como a identidade cultural do sujeito, a construção da identidade profissional acontece a partir de um processo múltiplo, “ao longo dos discursos, práticas e posições que podem se cruzar ou ser antagônicos” (HALL, 2000, p. 108), que envolve uma relação de poder e de exclusão (BHABHA, 1994 apud HALL, 2000, p. 110-111), mas que estão em contínuo processo de construção, descentraliza a discussão da formação de professores baseada no racionalismo técnico em que sua base é a aplicação de estratégias de aprendizagem. Ao tratar aqui da necessidade de uma construção identitária profissional, procurar-se-á defender a necessidade de um reconhecimento do profissional, enfocando principalmente a valorização social, política e econômica, uma vez que impõe ao professor várias demandas sociais que vão além do ensino e da aprendizagem. Nessa esfera, deve-se compreender que, historicamente, a formação do professor sempre esteve voltada para a reprodução de saberes e, de repente, este se vê questionado a assumir novas posturas para a realização de seu trabalho. É assim Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 51 que a formação de professores tem concebido o processo formativo e de construção da identidade docente nas últimas décadas. Porém, a sociedade evoluiu para uma dimensão mais complexa e passa a cobrar mais ação do professor. Dentre estas vertentes, podemos citar a crescente necessidade de o professor assumir mais de perto uma participação na gestão administrativa e pedagógica da instituição, a exemplo de: lidar com a ausência das famílias; com o respeito a uma diversidade - que até bem pouco tempo não era considerada pauta de discussão; enfrentar a violência decorrente do aumento ao consumo de drogas lícitas e ilícitas que invadiram a sala de aula; o atendimento às crianças e aos jovens com necessidades especiais – que agora estão cada vez mais presentes nas salas de aula. Estes, entre tantos outros aspectos, têm feito o professor, enquanto profissional, desacreditar no seu próprio trabalho. Mas, diante dessas demandas como os cursos de licenciatura estão atendendo essas demandas? Há uma preocupação em como os estudantes irão se preparar para enfrentar essa nova realidade ou estão ainda preparando-os para a reprodução de saberes e práticas? E como estes estudantes em formação estão se preparando para enfrentar essa realidade? São questões como essas que nos fazem repensar a própria formação de professores e a necessidade da construção de uma identidade docente, com a intenção de uma afirmação do papel social e político deste profissional. A identidade é compreendida aqui como um processo de valorização que permitirá ao profissional da docência compreender melhor seu papel, mas também lhe dá subsídios para uma luta por reconhecimento econômico. Ao constatar que a grande maioria trabalha em diversas instituições para conseguir ter um padrão econômico com o mínimo de conforto, sem tempo para buscar uma qualificação com a intenção da atualização profissional. Com efeito, é preciso cada vez mais acirrar a luta política por melhores condições de trabalho com vistas a diminuir o fosso concernente a uma remuneração justa para com o profissional de educação. Olhar para a formação de professores hoje, sem perder de vista que, embora essa pareça ser uma “velha” discussão - superada diante de todo projeto político para a formação de professores -, o problema da formação e da construção do processo identitário profissional docente é muito presente e atual. Quando falamos em identidade profissional, buscamos apoio em Claude Dubar (2005) quando este defende que a construção da identidade está relacionada com a socialização como um processo que depende da trajetória individual e das relações sociais que vão sendo vivenciadas pelos sujeitos. Nesse sentido, existem duas formas identitárias: identidade para si e identidade para o outro. A identidade para o outro se constitui a partir dos atos de atribuição do que eu sou e quero mostrar para o outro; enquanto que, a identidade para si é constituída de atos de pertencimento, o que quero ser. (SANTOS, 2011, p. 6). Nesse ínterim, Lawn (2001), ao discutir a fabricação da identidade profissional dos professores, aponta que as posturas de desvalorização não são inocentes, mas constituem-se em um projeto social do Estado em manter o controle da categoria, minimizando, assim, suas demandas de profissionalização. Uma das formas do Estado inibir essa construção da identidade profissional docente é torná-los apenas consumidores de políticas públicas e práticas educativas que são veiculadas pelas Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ instituições estatais para este fim. Daí que as instituições públicas formadoras de professores poderiam desempenhar um papel contra-hegemônico na formação desses profissionais no sentido de ressignificar a seu papel profissional e construir uma autonomia profissional que refletirá na autonomia política. Um exemplo, é que ao tratar de políticas para a melhoria da educação básica, seus profissionais parecem ser invisíveis para o Estado e para as próprias instituições formadoras, uma vez que não são ouvidos, não são valorizados em seus saberes, portanto, desconsiderados enquanto sujeitos que pensam e elaboram seu trabalho, lidando com os imprevistos diários que a profissão requer. Nesse sentido, parecem-nos que as instituições formadoras de professores, principalmente as públicas, trabalham nas mesmas perspectivas do Estado, atendendo aquilo que Althusser (1985) chamou de aparelhos ideológicos do Estado. Apesar de toda a crítica feita no interior dessas instituições, estas ainda permanecem com o mesmo papel. Os professores podem aparecer invisíveis em descrições dos sistemas educativos, ou surgirem apenas como “elementos neutros”, uma massa imutável e indiferenciada que permanece constante ao longo do tempo e do espaço. (...) Aparecem em destaque quando existe, de alguma forma, um pânico moral acerca da sociedade e das suas crianças; nesses momentos, os professores estão em primeiro plano, escrutinados e reprovados. É então que a sua identidade aparece como inadequada e é sujeita a alteração, abruptamente, por vezes, no sentido da modernização, sempre. (...) A produção da identidade envolve o Estado, através dos seus regulamentos, serviços, encontros políticos, discursos públicos, programas de formação, intervenções nos media, etc. É uma componente essencial do sistema, fabricada para gerir problemas de ordem pública e de regulamentação. (LAWN, 2001, p. 118) A perspectiva da construção da identidade é simbólica e está presente no diálogo e nas políticas que determinam como este profissional deve se portar, o que a sociedade espera dele. É com a intenção e o desejo de reverter esse processo que se defende uma forma de organização profissional para os professores. Que esse processo seja pensado a partir desses sujeitos que construirão uma vivência social e política com objetivo de uma valorização profissional e reconhecimento social através de uma categoria. Tudo isso abre uma nova possibilidade de reflexão do processo de formação mais pautado na crítica e na reflexão, portanto, um processo mais emancipador (RAMALHO, et al, 2004). É nessa perspectiva que a construção identitária na formação docente se constitui como essencial à socialização profissional dos sujeitos tornandose fundamental para construção de saberes profissionais durante o processo de formação. Compreende-se sua importância para a autonomia profissional e intelectual dos trabalhadores da educação, especificamente, dos professores, uma vez que o trabalho docente é constituinte da identidade social dos sujeitos, implicando Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 53 “reconhecer, portanto, a relação de mútua determinação entre trabalho e identidade” (COUTINHO, 1999 apud COUTINHO, KRAWULSKI, SOARES, 2007, p. 34). Diante de tudo que foi proposto para a reflexão até este momento, caminha-se para a defesa de que a identidade profissional docente se constitui em uma possibilidade de construção de uma nova organização nos cursos de licenciatura. Isso quer dizer que o trabalho dos formadores de professores e dos estudantes de licenciaturas e futuros professores é fundamental para a construção de uma nova forma de compreender o trabalho docente. Já não se admite que a base da formação seja a reprodução de práticas e saberes, assim como não se pode negar o papel das instituições públicas de ensino superior que têm como princípio a formação de professores. É tarefa de essas instituições promoverem reflexões mais contundentes quanto à possibilidade de novas construções, no sentido de garantir uma formação de qualidade para que o trabalho docente possa refletir no outro extremo: em uma qualidade para a educação básica. Isso refletirá desde uma reorganização curricular, a uma qualificação dos formadores de professores que trabalham com as licenciaturas para o trabalho com a docência. Para tanto, é necessário compreender a docência em sua complexidade. Esse processo complexo baseia-se no seu caráter interativo, portanto, subjetivo, uma vez que é caracterizado pelo trabalho entre humanos, ou seja, a ação de um trabalhador sobre outro. A docência é, portanto, um trabalho flexível, pois é composto de diversas nuances e ambiguidades próprias da ação entre sujeitos sociais. Nesse sentido, Pimenta e Anastasiou (2002, p.14) afirmam que a docência é “uma prática social complexa carregada de conflitos de valor e que exige posturas éticas e políticas”. Assim, O caráter interativo da docência, e as consequências que dele advêm, remete, de certa forma a outra característica da profissão, qual seja, o exercício autônomo, responsável e ético da prática profissional, orientado por um código deontológico, um código que rege as especificidades da profissão. Entretanto, tal característica da profissão é considerada como aquela da qual os professores estão mais distantes. Um exemplo disso é que o professorado é uma das categorias profissionais que não é regulamentada por um conselho próprio que oriente, regulamente e defenda os direitos legais da profissão docente. Isso acontece por vários motivos, um desses é a regulamentação do Estado que dificulta a construção da identidade profissional, como foi mencionado por Lawn (2001); outro bastante significativo se reporta a inserção na docência de professores sem graduação em ensino superior. Essa condição provoca certa autonomia políticosocial quanto ao desempenho do papel docente, uma vez que esta formação habilita o profissional a sair de sala de aula e assumir uma coordenação pedagógica que terá como função principal a orientação aos demais professores. Essa perspectiva, muitas vezes, provoca uma relação de opressão de um profissional sobre o outro se estes não assumirem uma relação de profissionalização dentro da própria categoria profissional. É esse processo de profissionalização que pode fazer uma significativa diferença na organização do trabalho pedagógico quando há o reconhecimento profissional articulado com o desenvolvimento de um trabalho autônomo e significativo que provoque aquilo que se propõe: promover o desenvolvimento da aprendizagem e ajudar na construção de pessoas autônomas. Nesse sentido, é preciso esclarecer o que denominamos aqui de autonomia profissional. A autonomia deve ser entendida num sentido político, como uma Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ qualidade educativa do trabalho docente que está centrada na sua participação efetiva (CONTRERAS, 2002). A autonomia consiste, portanto, na autoridade com que o profissional realiza seu trabalho e no modo como se apropria do seu fazer para ir além do realizado, constituindo-se num processo de compreensão, reflexão e investigação da sua própria prática docente. Assim, a autonomia configura a docência como uma prática social libertadora. Portanto, Compreender a autonomia docente nessa perspectiva suscita o entendimento do conceito de profissionalismo, igualmente importante na reflexão acerca da perspectiva de profissionalização da docência. O termo profissionalismo significa o engajamento pessoal do profissional, com competência e ética, na implementação das práticas dos saberes definidos pelo coletivo dos profissionais, garantindo assim o prestígio social da profissão. (SANTOS, 2009, p. 34). Essa conscientização provocaria uma maior consciência do papel profissional da docência e do profissionalismo docente. De acordo com Imbernón (2004, p. 25), o profissionalismo docente pressupõe o domínio de uma série de capacidades e habilidades especializadas, reconhecidas como pertinentes “à organização do trabalho dentro do sistema educativo e à dinâmica externa do mercado de trabalho”, que assegura sua competência. Nessa mesma linha, Ramalho et. al (2004, p. 53) referem-se à busca de um reconhecimento social que implica um status da profissão, uma forma de prestígio social. De acordo com esses autores, profissionalismo é “um processo político que requer trabalho num espaço público para mostrar que a atividade docente exige um preparo específico que não se resume ao domínio da matéria” (RAMALHO et al, 2004, p. 53). Além disso, o professor precisa conhecer as teorias da aprendizagem, a epistemologia do conhecimento e como elas se relacionam com o conteúdo. Enfim, defender a importância da construção da identidade docente articulada com a docência como uma profissão que precisa ser reconhecida nos padrões estabelecidos pela Sociologia das Profissões, é entender que esse status social da profissão precisa ser reconhecido por seus próprios profissionais. Isso implica num processo de articulação da categoria em prol da valorização social, econômica e política da docência. Essa compreensão está articulada com o desenvolvimento dos cursos de formação de professores que devem iniciar essa construção durante a formação inicial. Essa discussão precisa ser levada para a graduação desde os primeiros semestres, momentos em que o estudante começará a compreender que seu papel vai além da transmissão de conhecimentos e que sua postura profissional está diretamente ligada à postura dos demais profissionais. Só assim podemos compreender o significado político do movimento de reconhecimento profissional que parte de três aspectos: uma ação implicada e eficiente quanto ao exercício profissional, valorização financeira do profissional e a organização dos profissionais em conselhos que regulamentem a profissão tirando do Estado esse papel de regulador. Em suma, a construção da identidade profissional docente requer que uma formação sólida, com princípios teóricos bem delimitados, autonomia intelectual e uma articulação da classe reconhecida socialmente. Tudo isso se constitui numa 55 Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário possível forma de qualificar profissionais para atuar na docência com ética, autonomia, compromisso e responsabilidade. Referências ALTHUSSER, Louis. Aparelhos ideológicos do Estado: Nota sobre os aparelhos ideológicos do Estado (AIE). 2. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1985. BAUMAN, Zygmunt. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. CONTRERAS, José. A autonomia de professores. São Paulo: Cortez, 2002. COUTINHO, Maria Chalfin; KRAWULSKI, Edite; SOARES, Dulce H. Identidade e trabalho na contemporaneidade: repensando articulações possíveis. Psicologia & Sociedade, Vol. 19, Porto Alegre, 2007. DUBAR, Claude. A socialização: construção das identidades sociais e profissionais. São Paulo: Martins Fontes, 2005. GIDDENS, Anthony. Modernidade e identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 10 ed. Rio de Janeiro: PD&A, 2005. _________. Quem precisa da identidade? In: SILVA, Tomaz Tadeu (Org.) Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. IMBERNÓN, Francisco. Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a incerteza. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2004. LAWN, Martin. Os Professores e a Fabricação de Identidades. In: Revista Currículo sem Fronteiras, v. 1, n. 2, p. 117-130, jul-dez, 2001. PIMENTA, Selma Garrido e ANASTASIOU, Léa. Docência no Ensino Superior. São Paulo: Cortez, 2002, v. 1. RAMALHO, Betania et al. Formar o professor, profissionalizar o ensino: perspectivas e desafios. Porto Alegre: Sulina, 2004. SANTOS, Cenilza Pereira dos. Trabalho Docente: uma construção necessária à formação de professores. Disponível em http://www.educonufs.com.br/vcoloquio/cdcoloquio/cdroom/eixo%203/PDF/Microso ft%20Word%20%20TRABALHO%20DOCENTE%20UMA%20CONSTRUcaO%20NECESSaRI A%20a%20FORMAcaO%20DE%20PROFESSORES.pdf. Acesso em 28, set, 2011. _________. As representações de estudantes de Pedagogia, professores em exercício, sobre a relação professor – estudante. Dissertação (Mestrado) – Universidade do Estado da Bahia. Faculdade de Educação. Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade. Salvador, 2009. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual. In.: SILVA, Tomaz Tadeu (Org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. 57 Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário A CONSTRUÇÃO DO TRABALHO DOCENTE NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: O QUE UM CURRÍCULO COMO NARRAÇÃO NOS DIZ? Denise Moura de Jesus Guerra FORMACCE/FACED/UFBA RESUMO: O texto elabora uma compreensão sobre a construção do trabalho docente nos cursos de formação de professores, considerando o currículo em atos para reintrodução/valorização da experiência dos sujeitos concretos no cotidiano formativo. Tratase da explicitação da emergência das narrativas sobre o trabalho docente como potencialidades para criar, recriar aprendizagens consideradas formativas, valoradas. PALAVRAS-CHAVES: Trabalho docente. Currículo. Formação de Professores. Nos tempos atuais, a diversidade de movimentos socioculturais tem influenciado, de forma tensiva, a reconfiguração da formação dos professores e, consequentemente, a conformação de novas identidades docentes no próprio campo de trabalho. Os sujeitos educadores ao se depararem, ao se intercruzarem com os segmentos étnicos, de gênero, de diversidade sexual e outros das diferentes culturas são impulsionados, do lugar institucional, e inspirados a incorporar/produzir/negociar novos saberes, conhecimentos, valores, práticas, culturas. Movimentos, lutas, disputas reconhecidos e travados pelo viés da formação no território do currículo, também da escola. Macedo (2010) enfatiza que o currículo e a ação formativa existem para alterar, via atos de currículo, mobilizações para a construção de identidades por uma constante luta por significantes. Nesse sentido, concebe a construção do processo identitário como um processo de formação. Conforme Macedo, pensar currículo implica de alguma maneira conceber, organizar a formação. Para Lopes e Macedo (2011, p.93), “o currículo não é um produto de uma luta fora da escola para significar o conhecimento legitimo, mas a própria luta pela produção de significado”. Cabe-nos então problematizar: quais conhecimentos, saberes práticos e teóricos são formativos levando em conta o trabalho docente? Qual o sentido dessa e não de outra formação? O nosso argumento se corporifica a partir das reflexões de Zygmum Bauman sobre o trabalho de Margaret Mead e Gregory Baterson evidenciado por Goodson (2008), no qual o ensino se insere em três contextos que, segundo o autor, embora conectados, são distintos. O primeiro ensino, do conteúdo, do currículo formal. Um outro, ensino secundário, pautado no aprender a aprender e um ensino terciário, significando “viver sem hábitos e sem aprendizado rotineiro, romper com as prescrições pré-digeridas do currículo e avançar para a definição e apropriação e a narração contínua de nosso próprio currículo” (GOODSON, 141), da nossa própria formação4. A convergência do discurso desses autores está no âmbito da superação de um currículo prescritivo para um currículo como narrativa, de uma formação prescritiva cognitiva para uma formação de gerenciamento da própria vida, sem cair na cilada da incompreensão do poder das políticas de regulamentação. Existe uma identidade docente oficial idealizada! Pensemos! 4 Inserção e grifo da autora Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ É desse lugar que tentarei esboçar um construto argumentativo sobre a construção do trabalho docente nos cursos de formação de professores que incorpore a possibilidade das brechas, da intercrítica, da multirreferencialidade densamente abordadas nas obras de Roberto Sidnei Macedo. Inicialmente serão evidenciadas características que distinguem e aproximam currículo e formação e posteriormente a explicitação de estratégias pedagógicas em sinergia com os conhecimentos acadêmicos, socialmente construídos e os saberes da experiência dos sujeitos docentes. 1 A pertinência de compreender currículo e formação docente Tem-se atribuído os dilemas do ensino à formação do professor. Opera-se, assim, na lógica racionalista de acúmulo dos conhecimentos científicos associado a práticas pedagógicas reprodutivistas do modelo que sustentou a ciência moderna, numa sociedade marcada pela ausência de políticas públicas e ações efetivas em prol de uma educação com ênfase na diversidade. Nesse contexto, a formação inicial e continuada de professores não tem dado conta de responder as demandas das sociedades contemporâneas permeadas por incertezas, complexidades, ambiguidades, nas quais criam ou se deparam com fenômenos difíceis de serem compreendidos, no sentido de interagir com, tendo no pensamento monorreferencial, fator determinante de explicações plausíveis e definitivas. Lidar com os processos de conhecimentos sejam eles, científicos, práticos, pedagógicos, experienciais, bem como com a construção contemporânea das formações significa mobilizar-se para compreender o campo do currículo, considerado por Macedo (2007) ainda, um dos artefatos educacionais mais iluminista, autoritário e excludente. Pois são as políticas e propostas curriculares, quase na sua totalidade construídas e orientadas pelos legisladores e reguladores, quem definem os processos formativos e suas concepções nas instituições educativas. Assim, na direção do pensamento de Macedo, É urgente, avaliamos, neste contexto da história das perspectivas e práticas curriculares que os educadores entrem no mérito do que se configura como currículo e saibam lidar com suas complexas e interessadas dinâmicas de ação, sob pena de deixarem que os burocratas da educação continuem tomando de assalto um âmbito das políticas e práticas educacionais que hoje define, em muito, a qualidade das opções formativas (2007). O currículo, como objeto de estudo, surge nos Estados Unidos relacionado à industrialização e aos movimentos migratórios. Franklin Bobbitt incorpora as ideias da administração científica de Frederik Taylor e estabelece em seu livro The Curriculum, publicado em 1918, como o currículo deveria ser planejado e utilizado. Para Bobbitt o sistema educacional deveria especificar precisamente os objetivos, procedimentos e métodos para obtenção de resultados que podiam ser mensurados, garantindo, assim, a eficiência da vida ocupacional adulta. Segundo Doll (1997), “a eficiência, então, é medida em termos de número de objetivos específicos atingidos e do tempo necessário para isso”. Perpassa por essa perspectiva uma visão instrumentalista, Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 59 funcionalista da natureza da educação na qual o importante era a atividade técnica para fazer o currículo (Doll 1997; Tomaz Tadeu 1999; Macedo 2007). Nessa visão, o currículo baseia-se na concepção de cultura fixa, estável, como produto acabado. Nesse viés, a cultura é processo de essencialização, reduzindo-se ao que é, e não como ela é feita e transformada. Essa visão desconsidera que o conhecimento e a cultura são produzidos nas relações sociais, nas relações de poder. Macedo, pautado num compromisso rigoroso com as pautas curriculares, nos alerta para uma compreensão de que as relações de poder configuram os processos de significação. Segundo o autor, lutar por significado é lutar por recursos de poder. “Um poder que [...] requer do educador a capacidade de nocionar bem, de explicitar bem, para saber lidar. Um compromisso sociopedagógico ineliminável da formação e dos formadores de educadores” (2007, p.28). Na década de 60, surgem vários movimentos – teorias críticas - que proporcionam uma total inversão no pensamento e na estrutura educacional. Essas teorizações objetivam questionar a forma social dominante, o sistema educacional existente, as formas hegemônicas de conhecimento. Concepções como ideologia, reprodução cultural e social, poder, classe social, capitalismo, relações sociais de produção, conscientização, emancipação, libertação, currículo oculto, resistência passam a compor o cenário discursivo no âmbito do currículo. Para as teorias críticas, o importante não é desenvolver técnicas de como elaborar propostas curriculares, mas desenvolver conceitos que permitam compreender o que o currículo faz com as pessoas e com as instituições (Tomaz Tadeu 1999; Macedo 2007). Na contemporaneidade, estamos experienciando um movimento educativo “crítico cultural” Macedo (2007), onde se instauram abordagens consideradas póscríticas, pós-estruturalistas, pós-formais, nas quais concepções articuladas a das teorias críticas e do multiculturalismo como identidade, alteridade, diferença, subjetividade, significação, discurso, saber-poder, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade engendram proposições que possibilitam maior participação nas reflexões do campo do currículo e da formação. No Brasil, a assimilação do modelo curricular estadunidense de base funcionalista foi imediata e acompanhou as estratégias de expansão capitalista via educação para o progresso. Segundo Moreira (1999), entre o final da década de 1970 e a primeira metade dos anos 1980, os artigos publicados sobre currículo e formação refletiam pouco a influência das teorias críticas. Conforme esse autor, os estudos dessa época centravam no esforço de criticar as diretrizes curriculares dos anos 1970. Os debates no campo do currículo e da didática se dirigiam a críticas da formação tecnicista, intensificada no regime militar. O clima político de redemocratização do país, na segunda metade dos anos 80, aliado a discussões relativas às consequências do neoliberalismo no mundo moderno, faz contrapor no campo curricular tanto as teorias funcionalistas quanto as críticas e pós-criticas de forte impacto às políticas de formação de professores. Um momento plural no que tange à irrupção e à convivência na educação brasileira com hibridismo, diferença, brecha, entrelugar, interculturalidade, intercrítica, alteridade, alteração. Depreendemos daí possibilidades em prol de currículos e processos formativos com a heterogeneidade na qual a diferença e a diversidade se constituem em elementos de outra lógica educativa. Implementar uma formação nesses termos implica em refletir como as pessoas nas suas diversas experiências culturais podem Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ problematizar, refletir e construir sua própria formação, ao mesmo tempo em que podem reorganizar conhecimentos, práticas e teorias. Essa perspectiva de amplas possibilidades democráticas de tratar a formação e os conhecimentos se traduz na emergência dos professores como sujeitos críticosreflexivos, que se autorizarem, a partir mesmo da compreensão de currículo, enquanto campo - lugar distinguível de uma epistemologia – a apropriarem-se de seus sentidos e significados e construírem concepções e ações no interior das propostas curriculares instituídas. Fato que modifica a cena do currículo e, em potência, a formação. Acompanhando o pensamento de Dominicé (1993), Josso (2006) e Délory (2007), Macedo, (2009), os professores podem tornar-se sujeitos da sua própria formação. Nos cursos de formação, no campo de trabalho, na docência a potência criativa, inventiva dos professores se evidencia. É nessa perspectiva que os estudos sobre os atos de currículo (MACEDO, 2009) vinculados à formação podem se constituir em lugar de construção de contra-hegemonias e (re)-existências por processos híbridos, por contextualizações e recontextualizações. Com base no pensamento de Macedo (2010) e Josso (2004), compreender a si, inicialmente, seu processo de formação, de profissionalização implicado e implicando-se numa construção de conhecimento politicamente crítica e ética para uma educação de pertencimentos que projete os seres humanos para além de um campo disciplinar, de um repertório de conteúdos padronizados com fins ao profissional reprodutor dessa mesma sociedade individualista, consumista, capitalista. Uma formação instituindo-se na própria docência. Como salienta Arroyo (2011), são os sujeitos educadores conformando autoidentidades profissionais nas complexas relações de poder com as identidades coletivas, também em formação, sem desconsiderar o dito de Stuart Hall (1999) e Lopes e Macedo (2011), no qual enfatizam que as identidades e o poder não são fixações absolutas, portanto deslocam-se, descentralizam-se. Arroyo nos alerta para a secundarização e expatriação da educação no seu território: as escolas, o currículo e a docência. As políticas neoliberais mobilizam a atividade docente em direção ao domínio de competências a serem evidenciadas nos padrões avaliativos de desempenho, paradoxalmente as questões do cotidiano educativo nos evocam para outro lugar. Ou seja, se por um lado os cursos de licenciatura conformam o profissional para ensinar conteúdos legitimados historicamente e para responder as avaliações de cunho nacional, por outro se evidenciam as (re) existências à lógica perversa da exclusão e da recompensa politicamente escamoteadora. Apesar de e com os discursos oficiais de concepção neoliberal, centrados na idealização do mercado e da competitividade. Qual o sentido, no contemporâneo, da emergência das experiências dos sujeitos, considerados atores, autores em formação? Tal provocação nos remete à necessidade de compreensão do lugar de que falamos sobre educação, ensino, currículo e formação. “Educação é a utilização de meios que permitem assegurar a formação e o desenvolvimento de um ser humano” (Morin 2001). Ainda em Morin, o argumento sobre ensino: “arte ou ação de transmitir conhecimentos de modo que exista compreensão e transmissão, assimilação de uma Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 61 cultura que permita compreender nossa condição e nos ajude a viver” Macedo (2012) concebe formação como experiência de sujeitos em processos de aprendizagem na relação estabelecida com os saberes, instituídos e organizados no currículo, sob o crivo da valoração de uma comunidade de práticas socialmente referenciadas. O que essas concepções têm em comum? Qual o mote dessas convergências? Todas têm em si o sentido da existencialidade, do humano. Reportam-se a vidas e à formação integral de sujeitos socialmente referenciados. 2 Formação docente: criação, autocriação, cocriação5 “Invenção de novas possibilidades de vida? Criação? Autocriação? Talvez” Esses são os últimos argumentos do Para não Concluir6 na obra de Jorge Larrosa acerca da relação entre o pensamento de Nietzsche e a educação. Ao trazer para o campo interpretativo da formação a frase Nietzscheniana Como se chega a ser o que é7, Larrosa (2002) argumenta que a arte de educar não seria senão a arte de fazer com que cada um torne-se em si mesmo, até sua própria altura, até o melhor de suas possibilidades, enfatizando que é impossível acontecer de modo técnico, nem de modo massificado, pois, conforme o autor, não há método que sirva para todos. Por outro lado, potencializa o que nós passamos – a experiência - e o modo como nos colocamos em jogo, nós mesmos, no que se passa conosco. Para Larrosa (2002, p. 67) A experiência é um passo, uma passagem. Contém o “ex” do exterior, do exílio, do estranho, do êxtase. Contém também o “per” de percurso, do “passar através”, da viagem, de uma viagem na qual o sujeito da experiência se prova e se ensaia a si mesmo. E não sem risco: No esperiri está o periri, o periculum, o perigo. Por isso, a trama do relato de formação é uma aventura que não está normatizada por nenhum objetivo predeterminado, por nenhuma meta. Esse sentido de experiência, enquanto possibilidade existencial, criadora e inventiva da formação em Larrosa vai ao encontro das experiências formadoras como processo de conhecimento no livro de Marie-Christine Josso Experiências de Vida e Formação. Josso nos fala de um caminhar para si como processo-projeto de conhecimento da existencialidade. Para Josso (2004), as experiências da formação em narrativas possibilitam ao ator social orientar, com lucidez, as próprias aprendizagens e o seu processo de formação, pois amplia a consciência, a criatividade, a autonomização, a responsabilidade a perspectiva de mudança. No mesmo veio, Roberto Sidnei Macedo (2010), na obra Compreender/Mediar a Formação: o fundante da educação, denuncia o desperdício arrogante das aquisições da experiência na formação em favor da lógica disciplinar e acadêmica e ressalta a importância das narrativas no processo formativo, compreendidas como experiência do ator social em formação. Nesse sentido, Macedo toma a reflexão como categoria fundante da formação. Segundo o autor, “a reflexão sobre a prática é, portanto, ela mesma uma prática. É uma prática de formação” (2010. p,193). Pois, 5 Demarcação da criação produzida em atos, na interação. 6 Grifo meu. 7 Frase que atravessa a obra de Nietzsche. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Compreender, reflexivamente, o conhecimento da formação e a formação do conhecimento, como ações formativas, por uma prática reflexiva valorizada, significa instrumentalizar-se com uma condição ímpar para definir situações e decidir através do ponto de vida em formação qualificada (2010, p. 195). Esses são argumentos plausíveis que justificam a construção do Diário Reflexivo como dispositivo pedagógico, potente e rigoroso na formação de professores. Tais argumentações se fundamentam na possibilidade do professor ampliar a compreensão sobre o processo formativo e inerente composição curricular que forjam as aprendizagens para o aperfeiçoamento da profissionalidade e da própria vida. 3 Diários reflexivos na construção de identidades narradas O diário reflexivo, como dispositivo pedagógico de aprendizagem, se constitui, então, em narrativas reflexivas das experiências subjetivas em relação a outrem no processo formativo do ator social, em potência, protagonista, autor da sua construção, da sua inventividade, da sua itinerância. A experiência de narrar sobre a própria vida, pessoal e profissional ou episódios delas de alguma maneira, simultaneamente, nos sensibiliza e nos empodera a inventar e disseminar uma “escrita instituidora” (Remi Hess, 2010, p.97), capaz de romper com os modelos instituídos de escrita e formação. Nóvoa8 ao prefaciar Josso (2004), realça como a utilização dos diários e registros escritos permitem a cada um caminhar para si e...tornar-se formador. Os diários reflexivos vêm sendo utilizados como dispositivo no campo da pesquisa ou empregado para fins pessoal e formativo. Seja em uma ou outra perspectiva, já que são complementares, a formação mediada pelos diários reflexivos tem tido impacto significativo nas aprendizagens. No campo pessoal, mas interferente, as narrativas reflexivas permitem ao ator/autor rememorar, ajustar dilemas ocultos a sua percepção pelas ações cotidianas do trabalho. Na dimensão da profissionalidade, possibilita a reflexão de teorias e práticas nos processos de trabalho. Zabalza (2004), ao potencializar os diários como recurso para o desenvolvimento profissional permanente, elenca cinco etapas para o processo de aprendizagem: 1. Os sujeitos se tornam cada vez mais conscientes dos seus atos. 2. Realiza-se uma aproximação analítica às práticas profissionais recolhidas nos diários. 3. Aprofunda-se no significado das ações. 4. Possibilitam-se as decisões e as iniciativas de melhoria introduzindo as mudanças que pareçam aconselháveis (a partir dos registros e do novo conhecimento em relação a eles). 5. Inicia-se um novo ciclo de atuação profissional (uma nova forma pessoal de realizar o trabalho profissional) uma vez que vão se consolidando as mudanças introduzidas. Ademais, a experiência das narrativas por meio dos diários reflexivos amplia o desejo, a iniciativa, o hábito, a habilidade, o rigor de escrever; provoca ressonâncias permanentes nas ações cotidianas do trabalho; proporciona o compartilhamento das experiências e mudanças mais 8 Antônio Nóvoa é professor da Universidade de Lisboa e autor de diversas obras relativas às perspectivas (auto)biográficas na formação de professores. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 63 cooperativas no trabalho; contribui para a perspectiva de avaliação pautada no acompanhamento e co-orientação na qual negociação, responsabilização, autonomização, intercompreensão concretizam a avaliação na formação9 e se compatibiliza com outras modalidades didáticas, a exemplo dos portfólios. Do ponto de vista metodológico, existem diversas formas de conceber e escrever um diário. Aqui assumiremos a configuração do diário de itinerância 10 forjado por René Barbier na obra A Pesquisa-Ação que explicita como transformar um documento de caráter sigiloso, pessoal em dispositivo de partilha, de formação. Barbier (2002) apresenta três fases para a elaboração do diário: diário-rascunho; diário elaborado e diário comentado. O diário-rascunho - trata-se de uma escrita livre sobre qualquer coisa ou pessoa. É um registro do que lhe parece importante sobre sua vida ou de outrem. Aqui estão incluídas também as experiências episódicas, os acontecimentos marcantes, as reflexões, as palavras ouvidas, os gestos, as reações afetivas (amor, ódio, angústias, medos, anseios), os desejos, lembranças que podem ressoar em função do que ocorre no presente, os conceitos científicos, os resultados de discussões, as aprendizagens. O diário elaborado – segundo Barbier (2002, p.138), esta fase da narrativa vai se constituindo a partir do diário-rascunho. È o momento marcado pela intencionalidade de demarcar, a partir do que se deseja ver expresso, do diário-rascunho em ressonância criadora com outras reflexões, análises que devem ser imediatamente registradas. Assumese, então, uma relação imaginária com um leitor virtual. Escreve-se para si e para outrem, considerando a cultura, as referências, os conhecimentos as expressões afetivas. As narrativas são agora elaboradas respeitando a qualidade do leitor, existe responsabilização com a tessitura do texto. O outro para qual também se escreve precisa ler os comentários científicos, filosóficos, poéticos que transversalizam a formação. Barbier (p.139) afirma, ainda, que “o texto deve tocá-lo no mais profundo do seu ser, interrogá-lo sobre suas ‘evidências’”, mas fundamentalmente precisa interessar. O texto comporta o paradoxo, a ordem, a desordem, o silêncio. Wittgenstein, citado por Barbier, afirma: “aquilo sobre o qual não se pode falar, é preciso calá-lo”. 9 Diário comentado – Esta é a fase da escolha, da escuta e da reelaboração. Nesse momento, oferece-se para leitura fragmentos ou a totalidade do diário, na compreensão de que o texto foi cuidadosamente elaborado e, por conseguinte, interessa ao também ator/autor em formação. O interesse pelo texto provoca reação na forma de críticas ou ressonâncias que devem ser escutadas para uma abertura reflexiva e construtiva da reelaboração do escrito no diário- Essa perspectiva de avaliação está explicitada na obra de Macedo (2010) 10 Segundo Barbier o diário de itinerância é um instrumento de investigação sobre si mesmo em relação ao grupo e em que se emprega a tríplice escuta/palavra – clínica, filosófica e poética – da abordagem transversal. Bloco de apontamentos no qual cada um anota o que sente, o que pensa, o que medita, o que poetiza, o que retém de uma teoria, de uma conversa, o que constrói para dar sentido à sua vida. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ rascunho. Então, o formando pode reiniciar outro diário elaborado que será de novo comentado e assim sucessivamente, permanentemente nos processos formativos da vida. Assim, nos contextos de formação esse dispositivo potencializa as narrativas dos sujeitos, suas itinerâncias, evidenciando conhecimentos, saberes práticos e teóricos, expectativas, medos, satisfação, atitudes de enfrentamento de desafios, criações, cocriações. Baseado na declaração de Barbier, ao se socializar o diário ele pode se tornar coletivo. O diário é dispositivo formativo! 4 Ideias conclusivas A formação do professor em situação de formação está relacionada às discussões contemporâneas do professor reflexivo que toma nas mãos a sua itinerância formativa, sem desconsiderar o poder, os engendramentos sociopolíticos e econômicos sobre a educação, o conhecimento transmitido, a formação inscrita num determinado currículo cultural. Encontra-se no âmbito da compreensão sobre currículo e formação, partindo da premissa do que os professores pensam sobre a prática e como agem para significá-la no campo do trabalho. A valorização das narrativas pelo veio do dispositivo do diário se constitui em estratégia potente para reintroduzir/tensionar a vida cotidiana na formação, considerando os sujeitos concretos da educação. Referências ARROYO, Miguel G. Currículo, território em disputa. Petrópolis. RJ: Vozes, 2011 BARBIER, René. A pesquisa-ação. Brasília: Editora LiberLivro, 2002. BARBOSA, Joaquim Gonçalves, Hess Remi. O diário de pesquisa: o estudante universitário e o seu diário de pesquisa. Brasília LiberLivro, 2010. DOLL JÚNIOR, William E. Currículo: uma perspectiva pós-moderna. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. GOODSON, Ivor F. As políticas de currículo e de escolarização: abordagens históricas. Petrópolis, RJ: Vozes. 2008. HALL, Stuart. A identidade na pós-modernidade. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva e Gaucira Lopes Louro. 3ed Rio de Janeiro: DP&A, 1999 JOSSO, Marie-Christine. Experiências de vida e formação. São Paulo: Cortez, 2004. LOPES, Alice Casimiro. MACEDO, Elizabeth. Teorias de Currículo. São Paulo: Cortez, 2011. LARROSA, Jorge. Nietzsche & a Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 65 MACEDO, Roberto Sidnei. Currículo: campo, conceito e pesquisa. Petropólis, RJ: Vozes, 2007. _______Compreender/mediar a formação: o fundante da educação. Brasília: LiberLivro, 2010. _______ Formação como experiências do sujeito em processos de aprendizagem na relação estabelecida com os saberes instituídos e organizados no currículo. Revista Teias Currículos: Problematização em Práticas e Políticas. V. 13. n 27, 67-74 Jan/abril. 2012. MOREIRA, Antônio Flávio Barbosa (Org.). Currículo: questões atuais. Campinas, SP: Papirus, 1997. MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar, reformar, transformar o pensamento. 5 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. NÓVOA, Antônio. Vida de professores. Porto-Portugal: Editora Porto, 1995. SILVA, Tomaz Tadeu. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte: Autentica, 1999. ZABALZA, Miguel A. Diários de aula: um instrumento de pesquisa e desenvolvimento profissional Porto Alegre: 2004. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ SABERES NECESSÁRIOS AO PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO IDENTITÁRIA DO PROFESSOR: O OLHAR DE LICENCIANDOS DA UEFS11 Jéssica Fernanda França SILVA (Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS) Amali de Angelis MUSSI (Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS) RESUMO: A formação de professores e os saberes que devem estar na base da profissão vêm ganhando cada vez mais destaque nas pesquisas, tanto no sentido de críticas às matizes de formação quanto ao valor desta formação no processo de profissionalização docente. Nessa perspectiva, este trabalho apresenta os resultados parciais de uma pesquisa realizada com estudantes de cursos de licenciatura da Universidade Estadual de Feira de Santana- BA, sobre os saberes necessários para o exercício de uma docência de qualidade e destaca qual a relação do corpus de saberes com a constituição de sua identidade profissional. PALAVRAS – CHAVES: Formação de professores. Saberes docentes. Identidade profissional. 1. Introdução Nas atuais tendências investigativas sobre a docência e o ensino, a constituição dos saberes que devem subsidiar a prática docente vem emergindo como uma temática relevante, que têm como referência os contextos e os processos envolvidos na construção identitária do ser professor. Essa identidade é entendida por Pimenta (2009) como um processo de construção do sujeito historicamente situado e que se constrói, pois, a partir da significação social da profissão, das transformações, demandas sociais e da reafirmação de práticas consagradas culturalmente que permanecem significativas, nos impulsiona na compreensão do processo de formação de professores como processo construído ao longo da vida, provisório, em mutação. Nessa perspectiva, a formação de professores requer a valorização de um conjunto de saberes necessários ao exercício profissional de qualidade, ou seja, saberes que permitam ao docente a intervenção intencional, qualificada, partilhada e planejada no processo educativo, com vistas à autonomia discente para a (re) construção de aprendizagens significativas. Indo além, o entendimento acerca dos saberes que devem subsidiar a prática profissional do professor sugere uma nova perspectiva na própria abordagem da profissão docente, propondo a superação de concepções normativas que a analisam a partir de modelos teóricos produzidos externamente ao exercício profissional, para compreendê-la em sua complexidade, como uma construção social. De acordo com Tardif (2002, p. 11), o saber docente não é algo que flutua no espaço: o saber dos professores é o saber deles e está relacionado com a pessoa e a 11 UEFS- Universidade Estadual de Feira de Santana Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 67 identidade deles, com a sua experiência de vida e com a sua história profissional, com as suas relações com os alunos em sala de aula e com os outros atores presente na escola, etc. Ainda segundo esse autor, o saber docente não é estático, é um saber plural possuindo diversos aspectos que se entrecruzam. Nesse sentido é possível afirmar que essa pluralidade de saberes possibilita o enriquecimento desse profissional, pois aborda aspectos que perpassam pelo campo do senso comum, experiencial, institucional, científico e específico. Corroborando, Pimenta (2009, p.07) chama atenção ao afirmar que “as transformações das práticas docentes só se efetivam na medida em que o professor amplia sua consciência sobre a própria prática, a de sala de aula e a da escola como um todo”. Nessa ótica, diferentes pesquisas (GATTI, 2009; PLACCO, 2006; TARDIF & LESSARD, 2005; TARDIF, 2000) apontam para a necessidade de transformações nas práticas formativas dos cursos de licenciatura, período em que o futuro professor pode construir uma imagem cristalizada do magistério, um modelo assistencial e voluntarista da docência ou em oposição, pode desenvolver o que Gauthier et al (1998) denomina de corpus de saberes, que são mobilizados para responder às exigências das situações concretas de ensino, e que possibilita ao professor o exercício de sua autonomia para deliberar, julgar, tomar decisões por ações intencionais, e exercer a profissão com a responsabilidade social e política que todo ato educativo implica (MUSSI, 2007; ALMEIDA, 2005). Fortalecendo a proposta de investigação em evidência, Tardif (2000) considera que os saberes docentes tornam-se uma possibilidade para a análise dos processos de formação e profissionalização do professor, uma vez que consideram, além de uma abordagem acadêmica, as dimensões pessoal, profissional e organizacional da profissão docente. Portanto, essa pesquisa se insere no contexto dos desafios que requer o exercício docente na atualidade e destaca o processo de formação de professores nos cursos de licenciatura da Universidade Estadual de Feira de Santana. Especificamente, a proposta de investigação em evidência tem por objetivo descrever, analisar e compreender as representações sociais dos estudantes de licenciatura quanto aos saberes necessários ao exercício docente, assim esse estudo parte dos seguintes questionamentos: O que os professores precisam saber para exercer a profissão docente? Ou seja, Quais as representações sociais os licenciandos possuem sobre os saberes docentes? Diante da natureza da investigação e de seus objetivos, decidiu-se pelo estudo da temática à luz da teoria das Representações Sociais (RS), sob a ótica de Moscovici (2003), Jodelet (2001) e Sá (1998), por esta possibilitar ao pesquisador interpretar e compreender os elementos e os fenômenos constituintes da prática social, oriundos da relação que os sujeitos estabelecem com os objetos. Portanto, a pesquisa em andamento busca contribuir para a compreensão dos processos formativos a que os licenciandos estão submetidos, e oferecer contribuições concretas ao fortalecimento da qualidade do ensino universitário. 2. Saberes docentes: diferentes tipologias Dentre diferentes e importantes estudos sobre saberes docentes, destacamos as pesquisas realizadas por Gauthier et al (1998), Tardif, Lessard e Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Lahaye (1991), Placco (2006) e Pimenta (2009), enquanto mediadores de sólidas discussões na busca do fortalecimento da qualidade do ensino brasileiro. São estudos que, embora apresentem diferentes enfoques nas formas de conceber a produção de saberes, intentam compreender a genealogia da profissão docente e, com isso, legitimar um corpus de saberes mobilizados pelo professor no exercício da profissão. Tais estudos buscam a valorização do professor como um profissional importante na mediação dos processos constitutivos da cidadania dos alunos, e que coopera na superação do fracasso e das desigualdades presentes na sociedade contemporânea. Em recente estudo sobre as dimensões que estão presentes na formação e no trabalho do professor, Placco (2006) apresenta um conjunto de saberes constituidores da formação docente, definidos como dimensões da formação: técnico-científica, que se refere ao conteúdo da formação específica necessário à sua área de atuação; humano–interacional, que se refere à valorização da relação pedagógica dialógica e interacional; da formação continuada, que se refere à necessidade de constante busca de novas informações referentes à sua área de formação; do trabalho coletivo, que focaliza a necessidade de formar o professor para valorizar a atuação coletiva, a cooperação, o trabalho em equipe, em contrapartida ao isolamento profissional; dos saberes para ensinar; implica o conhecimento que os professores constroem a respeito dos seus alunos, o conhecimento sobre as finalidades e utilização dos procedimentos didáticos que sejam os mais apropriados ao exercício da prática profissional e o conhecimento dos aspectos afetivo-emocionais, estreitamente integrados ao desenvolvimento cognitivo; crítico–reflexiva implica o desenvolvimento sobre a própria forma de pensar e sentir; avaliativa que se configura como a capacidade do professor avaliar aspectos específicos de sua prática pedagógica; estética e cultural, para o entendimento sobre a constituição de diferentes identidades culturais e da cidadania, bem como propiciar o desenvolvimento do senso estético, a capacidade de observar e identificar componentes importantes para o processo de sua constituição identitária, como pessoa e profissional. Todas essas dimensões elencadas se tornam inúteis se não forem interpenetradas pelas dimensões ética e política que implica o compromisso do educador com uma causa. Pimenta (2009) também aborda a temática dos saberes docentes. Segundo esta autora, a mobilização dos “saberes dos professores”, referidos por ela como “saberes da docência”, é condição fundamental para a mediação do processo de construção da identidade profissional dos professores. Sob este aspecto, Pimenta (2009) indica que esses saberes são constituídos por três categorias: os saberes da experiência, aqueles construídos por meio da experiência acumulada; os saberes específicos, que se referem ao conhecimento da sua área de atuação; e os saberes pedagógicos, relacionados ao conhecimento didático, ao saber ensinar. Os saberes necessários ao ensino são reelaborados e construídos pelos professores “em confronto com suas experiências práticas, cotidianamente vivenciadas nos contextos escolares” (PIMENTA, 2009, p. 29) e nesse confronto, há um processo coletivo de troca de experiências entre seus pares, o que permite que os Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 69 professores a partir de uma reflexão na prática e sobre a prática, possa constituir seus saberes necessários ao ensino. Gauthier et al (1998), Tardif, Lessard e Lahaye (1991) que vivenciam uma outra realidade educacional/escolar, têm apresentado uma significativa produção no campo dos saberes dos professores. Gauthier et al (1998) concebem o ensino como a mobilização de vários saberes que formam uma espécie de reservatório que é utilizado para responder às exigências das situações concretas de ensino. Do ponto de vista tipológico, o autor classifica os saberes em: disciplinar, referente ao conhecimento do conteúdo a ser ensinado; curricular, relativo à transformação da disciplina em programa de ensino; Ciências da Educação, relacionado ao saber profissional específico que não está diretamente relacionado com a ação pedagógica; tradição pedagógica, relativo ao saber de dar aulas que será adaptado e modificado pelo saber experiencial, podendo ser validado pelo saber da ação pedagógica; experiência, referente aos julgamentos privados responsáveis pela elaboração, ao longo do tempo, de uma jurisprudência particular; ação pedagógica, referente ao saber experiencial tornado público e testado. Tardif (2002) e sua equipe de trabalho (TARDIF, LESSARD & LAHAYE, 1991), mostram que os saberes têm origem social. Reconhecendo o caráter polissêmico que caracteriza o saber docente, Tardif (2002, p. 60) confere à noção de “saber” um sentido amplo “*...+ que engloba os conhecimentos, as competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes dos docentes, ou seja, aquilo que foi muitas vezes chamado de saber, de saber-fazer e de saber-ser”. O autor situa o saber docente como um saber plural, formado por saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais. Os saberes da formação profissional provêm da contribuição das ciências humanas e das ciências da educação destinados em transformar os conhecimentos dessas ciências para a formação científica ou erudita dos professores. Portanto, é compreendido como o conjunto de saberes profissionais ou pedagógicos transmitidos pelas instituições de formação de professores, os quais podem ser incorporados na prática profissional dos docentes. Os saberes disciplinares correspondem aos diversos campos do conhecimento difundidos sob a forma de disciplinas. Trata-se de saberes procedentes da tradição cultural e dos grupos sociais produtores de saberes. Os saberes curriculares são definidos por Tardif, Lessard & Lahaye (1991, p.220) como aqueles que se referem aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos, a partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais que ela definiu e selecionou como modelo da cultura e da formação erudita. Já os saberes experienciais, também definidos como saberes práticos, são aqueles desenvolvidos pelos professores no exercício e na prática da sua profissão. Com destaque especial, diante de sua própria natureza, são saberes que se originam da experiência e expressam um saber-ser e um saber-fazer pessoal e profissional, validado pelo cotidiano. As diferentes tipologias dos saberes docentes aqui destacados oferecem elementos fundamentais para problematizar os saberes docentes, em especial sob o olhar dos próprios professores em formação. 3. Metodologia Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Esta pesquisa está integrada a um projeto maior do NEPPU – Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Pedagogia Universitária, intitulado “Qualidade do ensino: representações de estudantes sobre a relação entre ensino, pesquisa e desenvolvimento profissional docente”. O grupo, do qual a pesquisadora faz parte, integra uma pesquisa em rede sobre a qualidade do ensino na educação superior, realizada por um conjunto de sete universidades: Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS); Universidade do Estado da Bahia (UNEB); Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS); Universidade Católica de Santos (UNISANTOS); Universidade Federal de Pelotas (UFPEL); Universidade Federal do Rio Grande do Sul (URGS) e Universidade Federal do Paraná (UFPR). Assim, a investigação aqui proposta tem foco nas Representações Sociais (RS) de 24 estudantes do penúltimo semestre dos cursos de licenciatura em Letras, Matemática, Pedagogia, Física, Educação Física, Geografia, História e Biologia da Universidade Estadual Feira de Santana sobre os saberes docentes. Com base na abordagem de pesquisa qualitativa, elegeu-se a entrevista semiestruturada como instrumento metodológico para a coleta de dados. Pelo fato da pesquisa estar em andamento o tratamento dos dados têm ocorrido mediante análise de conteúdo do tipo temática (BARDIN, 1977). Nesse processo, foi utilizada como procedimento uma leitura exploratória e sistemática de cada entrevista, uma leitura horizontal destacando-se, numa coluna ao lado das descrições, os aspectos relevantes e pertinentes ao problema de pesquisa. Após, realizou-se uma análise vertical de questão por questão, promovendo a construção de um quadro de análise, na qual tem sido possível identificar as seguintes categorias: Saberes técnico-científico ou saberes específicos Saberes humanos-interacionais Saberes pedagógicos Saberes éticos e políticos A próxima seção apresenta a análise e discussão dos dados apreendidos, a partir das categorias acima encontradas. 4. Discussão dos dados Esta pesquisa encontra-se em andamento, o que nos permite apresentar uma análise prévia dos dados apreendidos com a realização de entrevista semiestruturada com 24 estudantes de diferentes cursos de licenciatura. Os dados até aqui analisados revelam a importância de estudos que discutam os saberes docentes em articulação com o processo de constituição da identidade profissional com vistas à promoção de processos formativos e de desenvolvimento profissional pautados no fortalecimento da escola e consequente qualidade do ensino. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 71 Por meio da análise realizada, destacamos que, ao serem orientados a falar sobre a temática, os 24 sujeitos desta investigação revelam que os saberes docentes são constituídos por dimensões, das quais destacamos: Os saberes específicos, que se refere ao conhecimento da matéria (de sua área de atuação); Os saberes pedagógicos, que são os saberes didáticos, que possibilitam ao professor transformar conhecimentos em ensino; Os saberes humanos-interacionais, que fortalecem a relação professoraluno, valorizam a comunicação e a empatia; Os saberes éticos e políticos, referente ao posicionamento do professor por um determinado objetivo e visão de educação, a intencionalidade educativa e o comprometimento com uma causa; De modo cauteloso, podemos destacar que, a partir da análise parcial dos dados, é possível observar que seis dos entrevistados enfatizam a importância dos saberes específicos junto com os saberes pedagógicos, cinco apresentam os saberes humanos- interacionais, quatro apontam somente os saberes específicos, e quatro enfatizam os saberes éticos e políticos. Outros cinco sujeitos não souberam responder quais os saberes são necessários no exercício da docência na perspectiva de um ensino de qualidade. Os relatos abaixo exemplificam a presença dos saberes humanosinteracionais, enquanto componente dos saberes necessários ao professor para o exercício da profissão: (MJ) O professor precisa saber primeiramente como entender o outro, ir para uma sala de aula e enxergar todos os alunos como seres humanos [...] é tratar do ser humano como ser humano, acho que é fundamental essa sensibilidade, talvez seja muito subjetivo quando a gente fala, mas a gente precisa, ás vezes, utilizar a subjetividade, inclusive na nossa prática. (RCG) [...] saberes... eu acho que primeiro saber é como tocar, como estimular...trazer o aluno ao interesse em buscar até mais do que é dado em sala. Observando as falas dos sujeitos MJ e RCG é possível afirmar que estes, assim como outros sujeitos investigados enfatizam a importância do professor valorizar as relações interpessoais dos pares envolvidos no processo ensino- aprendizagem. De acordo com Placco (2006), essa dimensão dos saberes “inclui diversos aspectos da formação, desde a autonomia e parceria dos professores nesse processo, até o aprimoramento de relações pessoais, intra e intergrupais” (PLACCO, 2006, p. 257). As falas dos entrevistados nos sugerem que esse saber deve ser intrínseco ao trabalho docente, visto que o professor trabalha com seres humanos que possuem diferentes histórias de vida, e no contexto da sala de aula se faz mister tal interação, uma vez que esta coopera para o desenvolvimento cognitivo,afetivo e social dos educandos. Os depoentes também revelam que os saberes pedagógicos juntamente com saberes específicos são fundamentais para o exercício da docência. É possível destacar a presença deste tipo de saber nas falas a seguir: Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ (EC) Para exercer uma boa docência, eu acredito que o profissional deve estar imbuído de conhecimentos pedagógicos, e de conhecimentos da sua área específica. (MF) [...] tenho que estudar bastante minha área [...] e também a área de educação, na área de ensino [...]. De fato, consideramos como ponto de partida ao exercício profissional, o conhecimento sólido e profundo de sua área de atuação. Esses sujeitos parecem concordar com Tardif (2002), ao confirmarem a importância dos saberes específicos para o exercício profissional, uma vez que este corresponde aos diversos campos do conhecimento, que se encontram integrados nas universidades por meio das disciplinas cursadas na formação inicial e continuada. Sendo assim, subtende- se que todo professor que tenha passado pelo processo de profissionalização docente possui tal saber, imprescindível no exercício da docência. Os depoentes reconhecem que sem o domínio dos saberes específicos, dificilmente os docentes poderão ser considerados bons professores. Por meio das analises é possível perceber a junção que os depoentes fazem ao relacionar os saberes pedagógicos aos saberes específicos, sendo assim os sujeitos AC, e ROE afirmam: (AC) [...] acho interessante a questão dos saberes pedagógicos, acho que é um saber que todo professor tem que instrumentalizar bastante para lidar com sala de aula porque muitas vezes não basta você ter o conhecimento específico. (ROE) Além do conhecimento específico da minha área do conhecimento, eu tenho que dominar a questão da pedagogia do conhecimento [...]. Concernente aos saberes pedagógicos, Pimenta (2009, p.26) reitera que “os saberes sobre a educação e sobre a pedagogia não geram os saberes pedagógicos. Estes só se constituem a partir da prática, que os confronta e os reelabora”. E Tardif (2002, p.37) acrescenta que estes saberes apresentam-se como doutrinas ou concepções provenientes de reflexões sobre a prática educativa no sentido amplo do termo, reflexões racionais e normativas que conduzem a sistemas mais ou menos coerentes de representação e de orientação da atividade educativa. Assim, o saber pedagógico constitui-se a partir da prática docente, onde o professor é convidado a refletir e atuar no enfrentamento dos desafios e situações concretas e complexas de ensino para além do que está proposto na teoria didática. Sendo assim não basta ao docente apenas o “saber-fazer” é preciso ir além, instrumentalizando esse saber na sua prática. No que se refere à categoria da dimensão dos saberes éticos e políticos, destacamos: (RO) [...] o professor tem que saber qual é o objetivo da prática de ensino dele, saber qual o papel dele na sociedade, tem que saber qual o papel de Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 73 cada individuo que está ali na sala de aula, que está com seu processo de formação sob responsabilidade, sob a orientação desse professor [...] (ET) [...] eu acho que o primeiro saber que o professor deve ter é o saber político. Acho que acima de tudo ele tem que saber a posição política dele na sala de aula, [...] a posição política pra mim é primordial. Os entrevistados enfatizam a importância do professor saber sobre o seu papel na sociedade, que pode ser sujeito da transformação de si e da realidade que está ao seu entorno, o que ocorre principalmente pelas intencionalidades e concepções de homem, sociedade e educação que embasam esse profissional, ou seja, acontece principalmente no processo de construção da identidade desse profissional. Placco (2006) considera os saberes éticos e políticos o núcleo central dos saberes necessários ao exercício profissional. De forma enfática esclarece que de nada adianta o professor ter domínio da matéria, ter conhecimento didático e dos alunos, se não tiver intencionalidade educativa, comprometimento com uma causa educacional, postura frente aos objetivos e finalidades da educação. Sem dúvida, os saberes necessários ao exercício profissional exigem uma postura política do professor diante do contexto histórico e social da educação, se desejamos de fato, defender o ensino de qualidade para todos os estudantes indistintamente. 5. Considerações finais Não temos nenhuma dúvida da importância dos saberes docentes para o trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores, bem como acreditamos que somos capazes de construir novos saberes que nos possibilitem enfrentar as diversas situações que se manifestam no exercício profissional docente. E esta importância foi revelada pelos sujeitos desta investigação. De acordo com a análise apresentada, é possível afirmar que a maioria dos estudantes ressalta que um bom professor é aquele que possui saberes específicos, juntamente, com saberes pedagógicos. Também enfatizam o aspecto humano como um diferencial desse profissional docente de outros profissionais. Nesse sentido as Representações Sociais dos estudantes das licenciaturas da UEFS demonstram que o caráter técnico seguido do humano-afetivo são primordiais enquanto saberes que o professor deve possuir. Demonstrou também a importância da construção da identidade docente como aspecto capaz de cooperar significativamente na constituição dos saberes que o professor deve possuir na perspectiva de uma educação de qualidade. Referências ALMEIDA, Patrícia Cristina A. Os saberes necessários à docência no contexto das reformas para a formação de professores: o caso da Psicologia da Educação. 253p. Tese (Doutorado em Educação). Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2005. Orientação: Roberta Gurgel Azzi. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 34, 1977. GATTI, Bernardete; NUNES, Marina M. R. (orgs.). A. Formação de professores para o ensino fundamental: estudo de currículos das licenciaturas em pedagogia, língua portuguesa, matemática e ciências biológicas. São Paulo: FCC/DPE, 2009. (Coleção Textos FCC, volume 29). GAUTHIER, C., et al. Por uma Teoria da Pedagogia: pesquisas contemporâneas sobre o saber docente. Ijuí: Unijuí, 1998. JODELLET, D. Contribuições das representações sociais para a análise as relações entre educação e trabalho. In: JODELET, D. (Org.). As representações sociais. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2001. MOSCOVICI, S. Representações sociais: investigações em psicologia social. Petrópolis: Vozes, 2003. MUSSI, Amali de A. Docência no Ensino Superior: conhecimentos profissionais e processos de desenvolvimento profissional. 260p. Tese (Doutorado em Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação: Psicologia da Educação, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2007. Orientação: Vera Maria Nigro de Souza Placco. 75 PIMENTA, Selma G. (Org.). Saberes pedagógicos e atividade docente. São Paulo: Cortez, 2009. PLACCO, Vera M. N. S. Perspectivas e dimensões da formação e do trabalho do professor. In: Anais: XIII Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino (13:2006: Recife, PE).Educação formal e não formal, processos formativos e saberes pedagógicos: desafios para a inclusão social. Recife, PE, 2006. p. 251-262. SÁ, Celso Pereira de. Núcleo central das representações sociais. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. TARDIF, Maurice. Saberes profissionais dos professores e conhecimentos universitários: elementos para uma epistemologia da prática profissional de professores e suas consequências em relação à formação para o magistério. Revista brasileira de Educação. ANPED, Autores Associados, Campinas, n0 13, jan/abril 2000. p. 05-24. TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 325 p. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário TARDIF, M.; LESSARD, C.; LAHAYE, L. Esboço de uma problemática do saber docente. Teoria & Educação. v. 1, n. 4, p. 215-253, 1991. TARDIF, M. e LESSARD, C. O trabalho docente: elementos para uma teoria da docência como profissão. 3ª ed. Petrópolis/RJ: Vozes Ed., 2005. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ O PROFESSOR E A(S) IDENTIDADE(S) DOCENTE(S) NO CONTEXTO FORMAÇÃO INICIAL Maximiano Martins de MEIRELES (Universidade Estadual de Feira de Santana) Antonio Roberto Seixas da CRUZ (Universidade Estadual de Feira de Santana) RESUMO: Este trabalho é resultado de discussões realizadas na disciplina Formação de Professores e Diversidade Cultural, no Mestrado em Educação/UEFS, entrelaçadas ao nosso objeto de pesquisa. Duas questões orientaram a escrita desse trabalho: Que razões justificam a investigação de identidades docentes no contexto da formação inicial? Por que e como contemplar, no processo de formação inicial, a pessoa do professor e sua(s) identidade(s)? Assim, enunciamos questões que justificam nosso interesse em investigar as identidades docentes de estudantes de letras, ao tempo em que discutimos, em nossa perspectiva, o ‘lugar’ do professor e sua(s) identidade(s) docente(s) no contexto da formação inicial. PALAVRAS-CHAVES: Identidade(s) docente(s). Formação inicial. Professor. 77 1 Um gesto de leitura inicial A escrita deste trabalho constituiu-se, metaforicamente, no exercício da personagem do conto de Marina Colasanti: a ‘moça tecelã’. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite. E logo sentava-se ao tear. Linha clara, para começar o dia. Delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo hora a hora, em longo tapete que nunca acabava [...] Com capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. Assim como a ‘moça tecelã’, nossa perspectiva foi de tecer fios, cruzar e entrelaçar ideias no sentido de construir uma articulação entre ideias de Nóvoa e (1992) e Giroux (1997), discutidos na aula da disciplina Formação de Professores e Diversidade Cultural, no Mestrado em Educação/UEFS e algumas questões referentes ao nosso objeto de pesquisa: as identidades docentes de estudantes de letras, professores em trans-formação. Assim, duas questões orientaram a escrita desse trabalho: Que razões justificam a investigação de identidades docentes no contexto da formação inicial? Por que e como contemplar, no processo de formação inicial, a pessoa do professor e sua(s) identidade(s)? Desse modo, ao longo do texto, enunciamos questões que justificam nosso interesse em investigar as identidades docentes de estudantes de Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário letras, ao tempo em que discutimos o lugar do professor e sua(s) identidade(s) docente(s) no contexto da formação inicial. 2 Nosso objeto de investigação: o professor em formação e suas identidades Apresentamos, nesse subitem, algumas questões relacionadas à nossa pesquisa de mestrado em andamento – junto ao Programa de Pós-Graduação Mestrado em Educação da UEFS, cujo título provisório é Identidades em travessia: representações de estudantes de letras sobre ser professor de língua portuguesa. A investigação se insere no campo epistemológico que problematiza as identidades docentes no sentido de compreender o que é ser professor para o próprio professor em formação. Por acreditarmos que a construção da identidade do professor seja um processo que, necessariamente, transite pela formação acadêmica (LANDEIRA, 2006) e considerando, ainda, o pequeno número de pesquisas nesse sentido, optamos por investigar os movimentos identitários de estudantes de letras no contexto da formação inicial. O meu interesse em investigar a questão da construção da identidade docente do estudante de Licenciatura em Letras nasceu, a priori, de minhas inquietações: seja como docente, seja como coordenador pedagógico, ora na sala de aula, ora nos espaços de formação inicial e continuada, sempre estive em contato com outros professores (de língua portuguesa) e, junto com eles, vivenciei encantos e desencantos, as contradições, os desafios, os dilemas que permeiam a profissão e a constituição da identidade docente. Do ponto vista acadêmico e profissional, o que justifica é a questão de minha formação inicial em Letras Vernáculas e, também, o fato de me constituir professor de língua portuguesa, ‘parte’ significativa da minha identidade docente. Apropriando-me das palavras de Brito (2009), posso dizer que talvez tenha sido essa a razão, a despeito da justificativa ‘acadêmico-científica’, que motivou a elaboração deste trabalho: Entender meu próprio percurso de formação - visto que jamais será ‘finalizado’ *...+ como sujeito que já esteve na posição de nossos sujeitos de pesquisa. Trata-se simplesmente de nos contemplar no olhar do outro para tentar também contemplá-lo... de uma outra forma, por um novo gesto (BRITO, 2009, p.1). Dentre os vários caminhos para estudar o campo da formação inicial de professores, bem como os processos identitários dos sujeitos em formação, optamos por estudá-lo a partir do próprio discurso do professor, de suas representações. Nesse sentido, interessam-nos as possibilidades de compreender as representações de estudantes de letras sobre o ser/tornar-se professor de língua portuguesa para problematizar, de algum modo, a produção de suas identidades, entendendo como essas representações afetam a constituição subjetiva desses sujeitos. Dessa perspectiva, o sujeito professor coloca-se em cena e encena um lugar para se dizer, para falar de sua história de vida, para falar de sua formação, enfim, para construir sentidos sobre o que é ser/tornar de língua portuguesa, assumindo posições identitárias. Como nos diz Ghedin (2008, p. 60): O professor vem à cena. Sua pessoa, sua fala, sua interpretação do vivido, suas representações, seu olhar, a dimensão de suas necessidades e expectativas trazem novo panorama: o professor como pessoa, como Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ profissional, como construtor de inteligibilidade, como ser reflexivo, como alguém que pensa, decide, se angustia (GHEDIN, 2008, p.60). Nesse movimento de travessia epistemológica, o professor vai se configurando não apenas como objeto de pesquisa, mas também como sujeito. Dessa maneira, as pesquisas qualitativas passam a centrar “seu foco na descoberta desse sujeito, em sua compreensão” (GHEDIN, 2008, p.68), preocupando-se com suas histórias (de vida), formação e profissão. Nessa nova dimensão, É possível olhar a realidade na perspectiva do professor, e não a realidade sobre ele; ao conceber a subjetividade como um fator entre seres humanos em ação, passa a ser possível estabelecer contatos mais profundos, adentrar nas esferas do desejo, das emoções, das frustrações do sujeito, de suas representações, dos questionamentos de sua identidade (GHEDIN, 2008, p.61). Foi neste sentido que buscamos, de algum modo, engendrar nosso objeto/problema de pesquisa. Segundo Nóvoa (1992, p.15), a partir dos meados da década de 80, tomando como princípio ideia do “professor como pessoa”, a literatura pedagógica foi invadida por “diversos estudos sobre a vida dos professores, as carreiras e os percursos profissionais, as biografias e autobiografias docentes ou do desenvolvimento pessoal dos professores”. Este movimento possibilitou, de algum modo, recolocar os professores na centralidade dos debates educativos e das problemáticas de pesquisa em educação (NÓVOA, 1992). O estudo sobre a identidade docente e sobre as questões ligadas à formação de professores, não somente na formação do docente de língua portuguesa, vem ganhando espaços nas pesquisas acadêmicas, sobretudo a partir da década de 90. A partir do levantamento do ‘estado da arte’ realizado por Lemos (2009, p.32), Foi possível constatar que, para o período considerado, principalmente a partir da segunda metade dos anos 90, houve um considerável aumento da utilização do conceito de identidade profissional [...] A utilização do conceito de identidade profissional docente em meados dos anos 90 coincide com o crescimento de pesquisas sobre formação docente voltadas às questões relacionadas com histórias de vida, memória, representações, ciclos de vida e trabalho com autobiografia e narrativas docentes (GÁRCIA, 2005, p.54). Nessa perspectiva, delimitamos, nessa investigação, a questão norteadora da pesquisa: Que representações sobre o ser professor de língua portuguesa emergem no discurso de estudantes de letras e concorrem para a construção de suas identidades docentes? Tendo em vista a questão norteadora desta pesquisa, delimitamos o seguinte objetivo geral: investigar as representações sobre o ser professor de língua portuguesa que emergem no discurso de estudantes de letras da UEFS e concorrem para a construção de suas identidades docentes. É importante dizer que o estudo da construção da identidade docente do estudante de Licenciatura em Letras, a partir de suas representações/discursos, faz-se necessário e configura-se como relevante, na medida em que retoma a centralidade Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 79 do professor nos debates educativos e nas problemáticas de pesquisas nesta área (NÓVOA, 1992), pensando a construção da identidade docente numa perspectiva polifônica, demarcando, assim, as representações sociais e as vozes (acadêmicas) que concorrem para a posição identitária de um sujeito em trans- formação: discussão ainda ausente/pouco explorada nas pesquisas acadêmicas. Ademais, pensar essas questões, no âmbito da formação inicial, permite dar visibilidade a esta experiência formativa que se configura na primeira etapa da constituição identitária (NETO, 2007), ao fornecer um arcabouço ideológico e pedagógico sobre o qual o professor constrói sua identidade (ARROYO, 1996), sendo, portanto, desencadeadora do perfil profissional (PERRENOUD, 2001). É no seio da formação inicial que se encontra “o momento adequado para identificar essas representações, compreendê-las, e, também transformá-las” (D’ÁVILA, 2007, p.236). Nesta perspectiva, coloca-se uma necessidade: “a escuta das representações desses estudantes, dos seus saberes e quereres nas disciplinas do curso de licenciatura”. É neste movimento, portanto, que se inscreve nossa pesquisa. 3 O professor e as identidades docentes No presente trabalho, estamos concebendo a identidade como um processo que se define historicamente, uma vez que é no movimento da história que os sujeitos se formam e se transformam (HALL, 2006). Partimos da compreensão de Hall (2006), no sentido de entender que a(s) identidade(s) docente(s) não são como coisas com as quais nós nascemos, visto que elas são construídas socialmente e “são formadas e transformadas no interior da representação” (HALL, 2006, p.48). Sendo assim, ela é constituída tal como representada na cultura, nos discursos sociais, nos discursos científico-educacionais. O sujeito-professor tem, para além de uma identidadeessência, uma identidade docente constituída pelo social, pela linguagem e pelo outro, ou seja, pelas redes de significações, anterior e exterior ao sujeito, que o possibilita se instituir, se significar e construir sua(s) identidade(s). Neste campo semântico, A identidade profissional dos docentes é assim entendida como uma construção social marcada por múltiplos fatores que interagem entre si, resultando numa série de representações que os docentes fazem de si mesmos e de suas funções, estabelecendo, consciente e inconscientemente, negociações das quais certamente fazem parte suas histórias de vida [...] o imaginário recorrente acerca dessa profissão, certamente marcado pela gênese e desenvolvimento histórico da função docente, e os discursos que circulam no mundo social e cultural acerca dos docentes e da escola. Compartilhando com outros estudiosos a idéia de que a linguagem, as narrativas, os textos e os discursos não apenas falam sobre coisas, mas ao fazer isso as instituem, inventam identidades (CARDOSO, 2003), consideramos importante que os cursos de formação inicial problematizem os modelos ideais de profissionalidade (D’ÁVILA, 2007), as imagens e ideias que vêm instituindo nos estudantes (de letras) modos de se ver como professor (de língua materna), uma vez que “ é num curso específico e com respectivos professores que os alunos estão aprendendo a profissão e tem como referência para construírem a sua profissionalidade” (GUIMARÃES, 2004, p. 57). Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Dessa maneira, compreender os processos identitários do estudante de letras, professor em formação, implica, de algum modo, em capturar a historicidade do sujeito, as redes de significações sobre a docência que foram sendo construídas e reelaboradas em suas trajetórias pessoais e em seus percursos escolares/formativos, conhecendo assim, um sujeito social a partir de uma práxis individual (FONTANA, 2010). Isso não significa considerar o estudante como um sujeito isolado, mas sim como um sujeito que se constitui em um grupo, em diversos ambientes culturais, raciais, históricos, de classe e gênero, “juntamente com as particularidades de seus diversos problemas, esperanças e sonhos” (GIROUX, 1997, p.163). Desse modo, O processo em que alguém se torna professor(a) é histórico [...] Nas tramas das relações sociais de seu tempo, os indivíduos que se fazem professores vão se apropriando das vivências práticas e intelectuais, de valores éticos e de normas que regem o cotidiano educativo e as relações no interior e no exterior do corpo docente. Nesse processo, vão constituindo seu ‘ser profissional’ na adesão a um projeto histórico de escolarização (FONTANA, 2010, p.50). Isso nos leva a questionar a ideia de identidade docente pautada numa perspectiva essencialista: como se esse profissional nascesse com uma espécie de dom, de vocação para ser professor. Sobre isso, Nóvoa (1992, p.16) ressalta que o processo de tornar-se professor Não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um produto. A identidade é um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço de construção de maneiras de ser e de estar na profissão. Por isso, é mais adequado falar em processo identitário, realçando a mescla dinâmica que caracteriza a maneira como cada um sente e se diz professor. As pesquisas desenvolvidas no campo da História Oral, mais especificamente dos Estudos Autobiográficos, ao se debruçarem sobre as histórias de vida revelam que a constituição das identidades docentes são processos para além da formação inicial, incluindo experiências anteriores ao ingresso do estudante no curso de licenciatura. A tríade vida-formação-profissão tem um lugar de destaque nessa discussão visto que as histórias de vida incidem diretamente na prática pedagógica do professor, bem como nas representações sobre o ensino, a aprendizagem, o aluno e a profissão docente, ou seja, no modo como cada um vai tornando-se professor. É nesse sentido que muitas pesquisas assumindo a ideia da constituição recíproca entre o eu pessoal e o eu profissonal (NÓVOA, 1992) buscaram cartografar nas histórias de vida “as maneiras como cada um sente e se diz professora e como foi se construindo, entre modos distintos e conflitantes de encarar a profissão docente” (FONTANA, 2010, p.48). Os estudos (auto)biográficos sinalizam que os sujeitos são também fruto daquilo que vivenciaram no passado, da forma como interpretam este passado à luz do presente, na projeção de um futuro. São pessoas, sujeitos que pensam, sentem e Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 81 refletem seus sentimentos, seus atos e suas escolhas. É nesse sentido que as narrativas biográficas são percebidas como “biografias educativas” como elementos (auto)formativos (JOSSO, 2002), pois permitem refletir sobre o passado para propor novas ações tanto no tempo presente, quanto no tempo futuro. A narrativa de formação oferece, assim, Um terreno de implicações e compreensão dos modos como se concebe o passado, o presente e, de forma singular as dimensões experienciadas da memória da escolarização. Entender as afinidades entre as narrativas, o processo de formação e autoformação [...] a partir das trajetórias de escolarização, é fundamental para relacioná-las com os processos constituintes da aprendizagem docente. Desta forma, as implicações pessoais e as marcas construídas na trajetória individual [...] revelam aprendizagens na formação e sobre a profissão (SOUZA, 2006, p.101). Nesse sentido, a maneira como cada um se sente e se diz professor (NÓVOA, 1992) é perpassada pela experiência de vida, assim como pela memória que captura e articula fragmentos do passado “ressignificando uma imagem sobre o ‘ser’ professor/a, trazendo um sentimento de identidade” (BRAGANÇA, 2008, p.77). Nessa perspectiva, as narrativas de vida possibilitam a compreensão do processo identitário dos professores/as “de forma situada no contexto sócio-histórico, pela articulação entre dimensões pessoais, profissionais e sociais no curso do tempo” (BRAGANÇA, 2008, p.77). No processo de formação, é preciso considerar que os estudantes têm histórias diferentes e incorporam experiências diferentes (GIROUX, 1997). Sendo assim, concordamos com Nóvoa (1992) no sentido de pensar a formação como um lugar de desenvolvimento pessoal, onde se produz a vida do professor, por meio de uma perspectiva crítico-reflexiva. Segundo o autor, “estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projectos próprios, com vistas à construção de uma identidade, que é também uma identidade profissional” (NÓVOA, 1992, p.25). Nesse campo semântico, considerando que “o professor é a pessoa e uma parte da pessoa é o professor” (NÓVOA, 1992, p. 25) é necessário encontrar espaços de interação entre as dimensões pessoais e profissionais de modo que os professores possam apropriar-se de seus processos formativos, significando a sua formação e suas identidades docentes no quadro de suas histórias de vida. A formação docente se dá, portanto, na reflexividade e na (re)construção permanente de uma identidade pessoal (NÓVOA, 1992). Para Pimenta e Lucena (2004, p.64), os cursos de formação de professores se configuram como dispositivo no fortalecimento da identidade docente “à medida que possibilitam a reflexão e a análise críticas das diversas representações sociais historicamente construídas e praticadas na profissão”, constituindo formas de identificação com a profissão. Nesse sentido, em diálogo com Giroux (1997), ressaltamos a necessidade de uma abordagem mais crítica de formação de professores, que possibilite aos sujeitos compreender, avaliar e afirmar os significados socialmente construídos sobre a profissão e sobre as imagens acerca de si mesmo. Com efeito, queremos argumentar em favor da construção de uma pedagogia de política cultural em torno de uma linguagem criticamente Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ afirmativa que permita que professores potenciais compreendam como as subjetividades são produzidas dentro daquelas formas sociais nas quais as pessoas se deslocam, mas das quais muitas vezes têm consciência somente parcial. Esta pedagogia torna problemática a maneira como os professores e estudantes sustentam, resistem ou acomodam as linguagens, as ideologias, processos sociais e mitos que posicionam em meio às relações existentes de poder e dependência. Além disso, ela aponta para a necessidade de que os professores futuros e em exercício reconheçam o discurso como uma forma de produção cultural que sirva para organizar e legitimar modos específicos de denominar, organizar e experimentar a realidade social (GIROUX, 1997, p. 205). Dessa perspectiva, a formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos professores os meios de pensamento. Isso implica em investir (n)a pessoa do professor, concebê-lo como sujeito do seu próprio processo de formação, como sujeito histórico, que vai constituindo saberes experienciais, ao longo do seu percurso de vida. Assim, a formação pode estimular o desenvolvimento profissional dos professores, valorizando paradigmas de formação que promovam a preparação de professores reflexivos (NÓVOA, 1992). 4 Um gesto ‘finalizador’ Nesses tempos de crise e de mudança, é particularmente relevante pensar a formação docente centrada na pessoa do professor e na sua experiência (NÓVOA, 1992), mobilizando as dimensões pessoais nos espaços institucionais, no sentido de equacionar a profissão à luz da pessoa (e vice-versa). Nessa perspectiva, acreditamos, portanto, que contemplar as dimensões pessoais e profissionais podem contribuir na configuração de novas propostas de formação e sobre a profissão docente, entendendo, como diz Nóvoa (1992, p.29) que “os professores encontram-se numa encruzilhada: os tempos são para refazer as identidades”. Referências ARROYO, Miguel. Múltiplos olhares sobre educação e cultura. Belo Horizonte: UFMG, 1996. BRAGANÇA, Inês Ferreira de Souza. Histórias de vida e formação de professores/as: um olhar dirigido à literatura educacional. In: SOUZA; MIGNOT (orgs.). Histórias de vida e formação de professores. Rio de Janeiro: Quartet: FAPERJ, 2008. BRITO, Cristiane Carvalho de Paula. Vozes em embate no discurso do sujeito professor – de - língua(s) - em-formação. Tese de doutorado, Campinas, SP, 2009. CARDOSO, Lilian Maciel. Formação de professores: mapeando alguns modos de ser professor ensinados por meio do discurso científico-pedagógico. In: Pesquisando a formação de professores. PAIVA, Edil de (org.) Rio de Janeiro: DP&A, 2003. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 83 D’ÁVILA, Maria Cristina. Universidade e formação: qual o peso da formação inicial sobre a construção da identidade docente? In: Memória e formação de professores. NASCIMENTO, Antônio Dias; HETKOWSKI (orgs.). Salvador: EDUFBA, 2007. FONTANA, Roseli A. Cação. Como nos tornamos professoras? Belo Horizonte: Autentica Editora, 2010. GARCIA, Maria Manuela Alves; HYPOLITO, Álvaro Moreira, VIEIRA, Jarbas Santos. As identidades docentes como fabricação da docência. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 1, p. 45-56, jan./abr. 2005. GHEDIN, Evandro. Questões de método na construção da pesquisa em educação. São Paulo: Cortez, 2008. GUIMARÃES, Valter Soares. Formação de professores: saberes, identidade e profissão, Campinas, SP: Papirus, 2004. GIROUX, H. A; SIMON, R. Estudo Curricular e política cultural. HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. JOSSO, Marie Christine. Experiências de Vida e Formação. São Paulo: Cortez , 2002. LEMOS, José Carlos Galvão. Do encanto ao desencanto, da permanência ao abandono: trabalho docente e a construção da identidade profissional. Tese de doutorado. UNICAMP, São Paulo, 2009. LANDEIRA, José Luís Marques López. Reflexões práticas sobre a formação de professores de língua portuguesa: a construção do memorial. Dialogia. São Paulo, v.5, P.125-133, 2006. NETO, João Batista. Formação do professor, profissionalização e cultura docente: concepções alternativas ao profissional. In: Mercado, Luís Paulo Leopoldo; Cavalcante, Maria Auxiliadora da Silva (orgs). Formação do pesquisador em educação: profissionalização docente, políticas públicas, trabalho e pesquisa. Maceió: EDUFAL, 2007. NÓVOA, Antônio. Os professores e a sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992. NÓVOA, António. Vida de professores. Porto: Porto Editora, 1992. PERRENOUD, Philippe. O trabalho sobre o habitus na formação de professores: análise das práticas e tomada de consciência In: PERRENOUD, Philippe. Formando professores profissionais: quais estratégias? Quais competências? Porto Alegre: Artmed, 2001. PIMENTA, Selma Garrido e ANASTASIOU, Lea das Graças Camargo. Docência no ensino superior: problematização. In: PIMENTA, Selma Garrido. Docência no ensino superior. São Paulo: Cortez, 2002. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ SAVELI, Esméria de Lourdes. Narrativas autobiográficas de professores: um caminho para compreensão do processo de formação. Práxis Educativa. Ponta Grossa, PR, v.1, p.94-105, jan-jun 2006. SOUZA Elizeu Clementino de. A vida com as histórias de vida: apontamentos sobre pesquisa e formação. In: EGGERT, Edla, et al (Org.) Trajetórias e processos de ensinar e aprender: didática e formação de professores. Porto alegre: EDIPUCRS, 2008. _______. O conhecimento de si: estágio e narrativas de formação de professores. Rio de Janeiro: DP&A – Salvador, BA: UNEB, 2006. 85 Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário FORMAÇÃO DE EDUCADORES EM ECONOMIA SOLIDÁRIA: A EXPERIÊNCIA DO PROJOVEM - SABERES DA TERRA NA BAHIA Denise Nascimento de ARAÚJO (Universidade do Estado da Bahia) Tatiana Santos BORBA (Universidade do Estado da Bahia) Gilma Flávia Souza FERREIRA (Universidade do Estado da Bahia) RESUMO: Esse artigo consiste em uma análise do processo de formação de educadores populares no território do SISAL/Bahia, integrantes do Programa PROJOVEM Campo – Saberes da Terra, no Módulo Economia Solidária. O texto pretende, a partir de diferentes concepções de Economia Solidária, possibilitar reflexões acerca das relações existentes entre a proposta pedagógica do Programa, a organização do trabalho pedagógico da formação e as suas possíveis contribuições para os sujeitos (educandos) na produção de sua existência. As reflexões aqui propostas serão feitas essencialmente, e de forma sucinta, a luz de diálogos com FRIGOTTO(2001), GERMER (2010), GOHN(2010), MÉSZÁROS(2008), RAMOS(2001), SAVIANNI(1986) e SILVA(2003). PALAVRAS-CHAVES: Educação Popular. Formação de Educadores. Economia Solidária. Introdução A produção desse texto tem duas motivações fundamentais. A primeira, decorre da participação na formação de educadores populares em Economia Solidária - ECOSOL, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM, na modalidade Campo – Saberes da Terra. A segunda motivação, decorre de estudos e pesquisas sobre a Economia Solidária, realizados no Grupo de Pesquisa Educação Políticas Públicas e Tecnologias Sociais12 que subsidiam pesquisas de mestrado em andamento13. A partir da instituição da Medida Provisória 411/07 que destina o PROJOVEM Campo – Saberes da Terra à escolarização de jovens agricultores(as) em nível fundamental na Modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA, integrada à qualificação social e profissional e por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) e da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), o Programa objetiva dentre outros aspectos, potencializar a ação dos jovens agricultores (situados na faixa etária de 18 a 29 anos) para o desenvolvimento sustentável e solidário de seus núcleos familiares e suas comunidades. Nesse contexto, a partir da integração com a Secretaria Nacional de Economia Solidária - SENAES, a ECOSOL aparece como Eixo Temático da proposta, 12 http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=58427084ELVOY5 ARAUJO, Denise N. Economia solidária e educação de jovens e adultos: análise do processo de implantação da disciplina na rede municipal de ensino de salvador. BORBA, Tatiana S. Incubadoras universitárias: novos paradigmas da educação de jovens e adultos dentro do movimento social da economia solidária. 13 Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ com o intuito de “possibilitar o fortalecimento de redes solidárias alternativas à economia capitalista”14. O presente artigo pretende oferecer subsídios aos educadores e pesquisadores dessas áreas de concentração, a partir dos seguintes questionamentos: Que concepção de ECOSOL é assumida pelo PROJOVEM? Quais as características que norteiam essa outra economia? É possível consolidar uma alternativa à economia capitalista? Como é realizada essa reflexão com os educadores que farão a formação dos jovens e adultos participantes do Programa? Realidade do Capitalismo e considerações sobre a Economia Solidária Num mundo de desemprego crescente, onde a crise financeira mundial é um fato que a grande maioria dos trabalhadores é informal e os poucos formalizados, com registro em carteira, não controlam nem participam da gestão dos meios e recursos para produzir riquezas. Este contexto vem se reconfigurando há anos, mas, o resultado é reincidente, o desemprego e a exclusão dos que tem cada vez menos oportunidades. São muitos sujeitos fora do mercado formal de trabalho assalariado, que não conseguem vender a sua força de trabalho. Esse fato é decorrente de um sistema de produção que se configura pela busca incessante pela maximização do lucro, o consumo desenfreado e a competição acirrada das pessoas, em uma sociedade que se define pela financeirização do dinheiro. Sistema este que declarou homens e mulheres como figuras fundamentais para a transformação de matérias em mercadorias, explorando a função do trabalho de forma alienante e desvinculada do processo educacional de pensar, para não correr o risco de transgredir a ordem do determinismo neoliberal, pois a sociedade deve se sujeitar às exigências do mercado sem questionar os seus métodos (MÉSZÁROS, 2007). SINGER trata da relação empregatícia do modelo capitalista como: Na empresa capitalista, os empregados ganham salários desiguais, conforme uma escala que reproduz aproximadamente o valor de cada tipo de trabalho determinada pela oferta e demanda pelo mesmo no mercado de trabalho. Os trabalhadores são livres para mudar de emprego e portanto tendem a procurar as empresas que pagam melhor. E os empregadores são livres para demitir os empregados e assim tendem a procurar os que produzem melhor. Da interação entre oferta — os trabalhadores que vendem sua capacidade de produzir - e demanda - as empresas que a compram — resulta um escalonamento de salários que acaba por prevalecer, com variações, na maioria das empresas. Este mesmo escalonamento se estende a outras características do contrato de trabalho: expectativas de carreira, benefícios não-salariais etc (SINGER, 2002. pp, 02). Para Paul Singer a economia solidária é definida como: 14 Brasil. Ministério da Educação. SECAD. Cadernos Pedagógicos do PROJOVEM Campo-Saberes da Terra. Brasília: MEC/SECAD,2008. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 87 um modo de produção que se caracteriza pela igualdade. Pela igualdade de direitos, os meios de produção são de posse coletiva dos que trabalham com eles – essa é a característica central. [...] Ela basicamente demonstra que a alienação no trabalho, que é típica da empresa capitalista, não é indispensável (SINGER, 2008. pp. 289) e ainda De certa forma, podemos considerar a Economia Solidária como um movimento que se situa no contexto do trabalho associado, e também um movimento que promove, sobretudo, múltiplas combinações e possibilidades. Porém, é importante considerar que tal diversidade não é fortuita, mas sim resultado de reiteradas tentativas de desmercantilização do trabalho, por meio e dentro de novas relações de produção. Eis a essência de se buscar um tipo de organização econômica solidária baseada na autogestão (BENINI, 2011, p. 71). Para GAIGER (1999, p. 191), O fenômeno da economia solidária guarda semelhanças com a economia camponesa. Em primeiro lugar, porque as relações sociais de produção desenvolvidas nos empreendimentos econômicos solidários são distintas da forma assalariada [...] as práticas de autogestão e cooperação dão a esses empreendimentos uma natureza singular, pois modificam o princípio e a finalidade da extração do trabalho excedente. Assim, naquelas práticas: a) predomina a propriedade social dos meios de produção, vedada a sua apropriação individual ou sua alienação particular; b) o controle do empreendimento e o poder de decisão pertencem à sociedade de trabalhadores, em regime de paridade de direitos; c) a gestão do empreendimento está presa à comunidade de trabalho. As experiências de Economia Social - raízes da Economia Solidária - surgiram como alternativas, em termos de organização do trabalho, à proposta pela forma dominante de trabalho assalariado instituída pelo princípio econômico que começava a se tornar hegemônico na primeira metade do século XIX na Europa. Hoje, a economia solidária se expressa através de cooperativas, organizações mutualistas, fundações e formas de associação, desde pequenas iniciativas produtivas até iniciativas de grande porte, como é o caso das empresas recuperadas (BOCAYUVA, 2007). Nesse sentido, esta nova forma de organização econômica pode ser entendida como um movimento de renovação e atualização histórica da Economia Social. Ainda GAIGER (2004) afirma que, no Brasil, é visível a expansão das experiências ditas de economia solidária. Por um lado, seus protagonistas diretos encontram pressionados pela crise estrutural do mercado de trabalho; por outro, são motivados pela ação mobilizadora dos movimentos sociais. Ao mesmo tempo, estímulos adicionais decorrem do importante efeito demonstrativo das experiências já existentes, em particular daqueles segmentos populares dotado de substrato comunitário, ao caso das experiências das zonas rurais ou de identidade formada através do trabalho. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Princípios da ECOSOL no PROJOVEM A economia solidária é entendido pelo PROJOVEM como um ambiente fértil em experiências de organização coletiva, que se iniciam no âmbito das atividades laborais e se estendem, gradativamente, para outros ambientes da vida em sociedade. São iniciativas que surgem da necessidade das pessoas em garantir a sobrevivência diária, mas aos poucos exercem uma transformação cultural social, nas relações entre os trabalhadores que vivenciam estas experiências. É muito forte no movimento da economia solidária dos pequenos grupos de produção, muitos dos quais assumem o formato jurídico de cooperativas, associações ou tem origem na própria ação de grupos de pessoas informais, como saídas individuais contra o desemprego, trata-se ainda, de um universo de iniciativas bastante heterogêneas de base popular. Segundo SINGER: A empresa solidária nega a separação entre trabalho e posse dos meios de produção, que é reconhecidamente a base do capitalismo. A empresa capitalista pertence aos investidores, aos que forneceram o dinheiro para adquirir os meios de produção e é por isso que sua única finalidade é dar lucro a eles, o maior lucro possível em relação ao capital investido. O poder de mando, na empresa capitalista, está concentrado totalmente (ao menos em termos ideais) nas mãos dos capitalistas ou dos gerentes por eles contratados. [ ] O capital da empresa solidária é possuído pelos que nela trabalham e apenas por eles. Trabalho e capital estão fundidos porque todos os que trabalham são proprietários da empresa e não há proprietários que não trabalhem na empresa. E a propriedade da empresa é dividida por igual entre todos os trabalhadores, para que todos tenham o mesmo poder de decisão sobre ela. Empresas solidárias são, em geral, administradas por sócios eleitos para a função e que se pautam pelas diretrizes aprovadas em assembléias gerais ou, quando a empresa é grande demais, em conselhos de delegados eleitos por todos os trabalhadores. (SINGER, 2002, p. 01) Não obstante o conhecimento tácito que estes trabalhadores tenham do processo produtivo em si, a baixa escolaridade compromete o processo de formação gerencial, que tende a ser mais longo e penoso. O baixo domínio da língua e das operações básicas da matemática impõe que se utilizem também técnicas não letradas (comunicação oral, jogos, teatro, dinâmicas de grupo diversas, etc.) na formação. Esta baixa escolaridade implica em dificuldades para a realização do estudo de viabilidade econômica, de cálculo do ponto de equilíbrio e da gerência cotidiana do empreendimento, assim como se reflete na grande resistência dos cooperados em relação aos controles financeiros e administrativos que se busca implantar no processo de empoderamento dos empreendedores. Assim, é importante que se associe à Incubação a facilitação do acesso à escolaridade básica, através do retorno à escola ou de algum tipo de formação complementar. Apesar de ganhar expressiva força na atualidade, este modo de produção ainda não pode ser considerado uma força produtiva social e nem uma pequena potência econômica para disputar lugar num mercado capitalista e altamente competitivo em decorrência da própria debilidade social dos EES. Este fato caracteriza a extrema necessidade de regulação e incentivos fiscais, conhecido como “tratamento desigual Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 89 para os desiguais15”, das políticas públicas que permitam a estabilidade de uma nova modalidade da economia em escala nacional, estadual e local, tornando os atores deste movimento em sujeitos de direitos com direito a ações reparadoras dentro de uma política governamental. Estas dificuldades muitas vezes levam os EES a um estado de colapso ou de falência, fatores que devem ser considerar com bastante cautela e exigem uma intervenção do Estado como braço auxiliador e estruturador de políticas públicas, e não mais como simples amortecedor das pressões sociais, dessa outra economia, fragilizada, mas que fomenta um processo de inclusão dos cidadãos que ainda se encontra marginalizado do sistema convencional do capitalismo. O sociólogo Boaventura de Souza Santos (2002), afirma que o mercado promove um dos seus valores centrais, a autonomia das iniciativas coletivas e os objetivos de descentralização e eficiência econômica que não são acolhidos pelos sistemas econômicos centralizados. Face à comprovada inviabilidade e indesejabilidade das economias centralizadas, as cooperativas surgem como alternativas de produção factíveis e plausíveis, a partir de uma perspectiva progressista, porque estão organizadas de acordo com princípios e estruturas não capitalistas e, ao mesmo tempo, operam em uma economia de mercado. Para SINGER, (2008. pp. 290), As pessoas que não têm capital e nem poder têm tarefas, poucas tarefas, e podem passar a vida inteira cumprindo as mesmas tarefas, o que é profundamente alienante do ponto de vista do desenvolvimento humano. O trabalho é uma forma de aprender, de crescer, de amadurecer, e essas oportunidades a economia solidária oferece a todos, sem distinção. Trabalhadores educados no capitalismo têm cada vez mais oportunidade de passar à economia solidária – isso está acontecendo, por exemplo, com empreendimentos que falham, entram em crise e os trabalhadores coletivamente os assumem organizados em cooperativas. Esse tipo de mudança representa a passagem da absoluta irresponsabilidade e ignorância em relação ao que ocorria na antiga empresa a uma nova situação, em que eles têm a responsabilidade coletiva pela nova empresa: se ela por algum motivo não ganha, eles também não ganham. Eles não têm um salário assegurado no fim do mês que é uma das conquistas importantes dos trabalhadores no sistema capitalista, no qual eles não participam dos lucros e tampouco dos riscos. Agora, trabalhando em sua própria cooperativa, eles são proprietários de tudo o que é produzido, mas também os prejuízos são deles. Os trabalhadores no princípio estranham, e algumas vezes até reclamam, mas acabam por compreender que essa é uma experiência libertadora. Quando os trabalhadores passam alguns anos praticando autogestão, mesmo que algumas vezes o empreendimento vá mal, eles preferem continuar na economia solidária a procurar uma oportunidade de trabalhar numa empresa capitalista. 15 O termo trata do princípio da isonomia ou igualdade não afirma que todos os homens são iguais no intelecto, na capacidade de trabalho ou na condição econômica, mas sim, transmite a igualdade de tratamento perante a lei, devendo o aplicador desta levar em consideração de que méritos iguais devem ser tratados igualmente, mas situações desiguais devem ser tratadas desigualmente. Disponível em: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5962 Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ A exclusão dos EES não se dá apenas nas questões econômicas e emancipatórias, eles são excluídos do crédito oficial por falta de garantias reais exigidas pelo sistema financeiro convencional, excluídos do saneamento básico, do bem público também convencional e historicamente assistencialista, da formalidade jurídica dos seus empreendimentos por motivos de ignorar os trâmites burocráticos, das dificuldades gerenciais e de comercialização. Entendida desta forma, a sustentabilidade dos empreendimentos econômicos populares se constrói no cruzamento de diferentes vetores de transformação, externos e internos aos grupos. O que está em jogo não são ações pontuais e localizadas, mas intervenções públicas que, através do fortalecimento da cidadania, imponham direitos sociais como princípios reguladores da economia. Nestes termos, a sustentabilidade dos empreendimentos associativos não é um problema estritamente econômico nem se equaciona no curto prazo, mas pressupõe ações políticas comprometidas com um processo de transformação social. (KRAYCHETE, 2007, p. 09) O êxito que alguns EES vêm obtendo mostra que é possível exercer uma atividade produtiva sob uma nova concepção, a de deter e gerir coletivamente os meios de produção, para tanto, o empreendedor da economia solidária, que muitas vezes nunca teve antes um emprego formal, tem que aprender todos os processos, e os processos dos processos, do ambiente de trabalho. Além disto, tem compromissos outros que não precisam ser cumpridos pelo trabalhador comum: participar de assembléias e reuniões (muitas vezes fora do horário de trabalho), preocupar-se e comprometer-se enfim com a condução do empreendimento. Tudo isto sem ter garantia, pelo menos no início, os benefícios básicos dos outros trabalhadores, evidencia a capacitação para ações produtivas cooperadas. Economia Solidária, por uma crítica marxista GERMER no texto “ A ‘economia solidária’: uma crítica marxista”, afirma que a Economia Solidária não passa de uma política emergencial fundida com iniciativas espontâneas surgidas no movimento social, ou mesmo como um conjunto de iniciativas, também emergenciais, destinadas a amenizar os efeitos de problemas sociais, alternativo ao capitalismo, onde a partir de alguns elementos da teoria social marxista, intitula o movimento de novo modo de produção. O texto apresenta-se como uma crítica às concepções de SINGER, com enfoque em dois aspectos a saber: a concepção da história de luta dos trabalhadores e a concepção de cooperativa de produção como modo típico de produção solidária. Baseado em LENIN, afirma a impossibilidade de conversão da sociedade contemporânea em socialismo , sem levar em consideração, dentre outros elementos, problemas fundamentais como a luta de classes, a conquista do poder político pela classe trabalhadora. A adoção da ECOSOL como estratégia de transição para o socialismo é vista pelo autor como um abandono do terreno em que as condições de luta são mais favoráveis ao trabalhador, os mesmos deixam de concentrar sua ação Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 91 como classe social na arena política, para atuar de forma pulverizada em pequenos grupos, nas cooperativas, para serem lançados no terreno da concorrência econômica – onde encontram-se em esmagadora inferioridade em relação ao modo capitalista. Na medida em que a economia solidária, formulada por SINGER, se opõe a dois pilares do socialismo (projeto do proletariado em oposição ao capitalismo e na propriedade social e dos meios de produção também em oposição ao mercado capitalista), GERMER conclui que a ECOSOL não reflete os interesses do proletariado como classe, não é um projeto socialista (GERMER, 2006). Outro aspecto apontado como crítica na literatura de SINGER, refere-se à confusão teórica, ou mesmo omissão conceitual, em expressões chave na concepção de Economia Solidária por ele defendida, a exemplo “cooperativa de produção”, que coloca em pé de igualdade cooperativas de diferentes tipos e juntando a elas os pequenos produtores autônomos e pequenos capitalistas falidos, ao lado de iniciativas meramente assistenciais destinados a trabalhadores desempregados. GERMER cita Marx para reiterar sua crítica, Por melhor que seja em princípio, e por mais útil que seja a prática, o trabalho cooperativo, se mantido, dentro de um estreito círculo dos esforços casuais de operários isolados, jamais conseguirá deter o desenvolvimento em progressão geométrica do monopólio, libertar as massas, ou se quer aliviar de maneira perceptível o peso de sua miséria. (MARX, 1975) E ainda, Para converter a produção social em um sistema abrangente e harmonioso de trabalho livre e cooperativo, são necessárias mudanças sociais gerais, mudanças nas condições gerais da sociedade, que só poderão ser realizadas através da transferência do poder organizado da sociedade, isto é, do poder de estado, das mãos dos capitalistas e proprietários de terras aos próprios produtores. (MARX, 1975) Em linhas gerais, GERMER enuncia que a Economia Solidária não consiste em um processo de criação dos trabalhadores contra o capitalismo. Afirma que a produção dos trabalhadores em luta contra o capitalismo foi um rigoroso conceito de socialismo como objetivo, cuja essência é a abolição da propriedade privada dos meios de produção e a instituição da propriedade coletiva. No que se refere à cooperativa de produção, destaca que é incapaz de constituir uma via de superação do capitalismo. PROJOVEM Campo e a Formação de Educadores: a experiência no território do SISAL/Bahia O PROJOVEM Campo tem como objetivo principal o desenvolvimento de políticas públicas de Educação do Campo e Juventude que oportunizem a jovens agricultores(as) familiares a escolarização em Ensino Fundamental, na modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA16, integrado à qualificação social e profissional. Seu público é formado pelos jovens e adultos na faixa etária entre 18 e 29 anos que atuam na agricultura familiar, residentes no campo e que não concluíram o Ensino Fundamental. 16 LDBEN 9394/96, Seção V Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ A legislação brasileira apresenta vasta base legal para instituição de políticas públicas diferenciadas para o atendimento de pessoas jovens e adultas que vivem e trabalham no campo. A elaboração do Projeto Político Pedagógico - PPP do PROJOVEM Campo essencialmente baseou-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN (9394/96), Plano Nacional de Educação (Lei 10172/2001), nas Diretrizes Operacionais para Educação Básica nas Escolas do Campo, na Resolução 01/2002 do Conselho Nacional de Educação – CNE, além do Plano Nacional de Juventude (Projeto de Lei 4530/2004). No que se refere às bases conceituais que referenciam o Programa, cabe-nos destacar: a) campo, conjunto de possibilidades que dinamizam a ligação entre seres humanos com a sua produção da existência social e as realizações da humanidade; b) educação do campo, necessidade de recriação de vínculos de pertença dos sujeitos do campo, bem como a superação da dicotomia entre o rural e o urbano; c) EJA, contemplação de diferentes espaços de aprendizagem, por meio dos quais os sujeitos possam desenvolver aptidões, conhecimentos e qualificações; d) ECOSOL, resgate da luta histórica dos(as) trabalhadores(as) na defesa contra a exploração do trabalho humano e como alternativa ao modo capitalista de organizar as relações sociais dos seres humanos entre si e destes com a natureza; e) trabalho como princípio educativo, considerando o trabalho como produção de existência humana na relação com a natureza, num processo de humanização de homens e mulheres. As referidas bases conceituais subsidiam a organização do currículo, onde este, apresenta-se de maneira integrada, a partir de eixos temáticos (tratados como articuladores), que pretendem envolver as dimensões técnico-científica, sociopolítica, metodológica e éticocultural. A estrutura do currículo é fundamentada no eixo articulador Agricultura Familiar e Sustentabilidade que dialoga com os seguintes eixos temáticos: Agricultura Familiar, Etnia, Cultura, Identidade, Gênero e Geração; Desenvolvimento Sustentável e Solidário com Enfoque Territorial; Sistemas de Produção e Processos de Trabalho no Campo; Economia Solidária e Cidadania, Organização Social e Políticas Públicas . O Eixo temático Economia Solidária, pretende refletir sobre as formas de ECOSOL no Brasil: Cooperativismo, Associativismo, micro-crédito, Sistema CRESOL, Mercados Solidários, Comércio Justo; além de analisar conceitos de solidariedade, relações sociais e econômicas presentes na sociedade em geral, capital social enquanto possibilidade de desenvolvimento humano e solidário. E como se dá a formação dos educadores a respeito de temas tão complexos e tão pouco discutidos nos espaços formais de educação? A formação dos educadores no Território do SISAL em Economia Solidária, ocorreu em dezembro de 2011, no município de Conceição do Coité, contando com a participação de média de 70 educadores. A carga horária fora de 25horas/aula, distribuídas ao longo dos três turnos nos dois dias destinados à referida formação (os educadores estiveram por média de dez dias em formação com essa mesma Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 93 organização). As turmas eram bastante heterogêneas, formadas em sua maioria por mulheres17, como participantes oriundos e atuantes em diferentes municípios da região do SISAL18 e atuando em diferentes áreas19. A partir da análise dos dados levantados através de questionário20 aplicado com os participantes, identificamos que os mesmos apresentam como dificuldades no desenvolvimento do trabalho de formação sobre ECOSOL: a freqüente resistência dos educandos em estudar e trabalhar com a ECOSOL, o exíguo conhecimento sobre as bases teóricas que fundamentam a ECOSOL, bem como o desconhecimento sobre empreendimentos de sucesso na região que sirva de referencial, a ausência de material didático que subsidie as atividades com os educandos, falta de estrutura na operacionalização do Programa e ainda, a necessidade gritante de mudança de hábito de toda a comunidade para a implementação da filosofia solidária e sustentável proposta pela Economia Solidária. Em contrapartida, os participantes vêem como perspectiva de trabalho a partir da ECOSOL a melhoria produtiva e de qualidade de vida das comunidades envolvidas e que façam adesão à proposta, possibilidade de criação de grupos solidários e sustentáveis e em paralelo o aumento da renda familiar, aumento da qualidade da alimentação e perspectiva de vida. Algumas Considerações A economia solidária aposta em outra construção para a geração de trabalho que não passa pela tomada de poder. O trabalho na cooperativa ou associação, paralelo a um sistema capitalista impõe vários obstáculos aos sujeitos em formação que geram a necessidade de uma associação, estudo e aprofundamento teórico para entendimento das raízes reais dos problemas que nos dá possibilidade para fomentar o debate e estudo, já que as atividades de formação facilmente brotam das dificuldades próprias do trabalho associativo numa sociedade capitalista. A disseminação da economia solidária vem representando uma alternativa às camadas da população excluídas do mercado formal de trabalho e um passo dado ao enfrentamento às relações perversas, as mazelas do capitalismo, transformando assim em uma nova utopia para esses indivíduos. Sob diferentes formas organizativas de manifestações, constroem sobre princípios gerais e fundamentais a prática da autogestão, caracterizando por tomadas de decisão mais democráticas, relações sociais de cooperação entre pessoas e grupos e pela horizontalidade nas relações sociais em geral. Contudo, podemos pensar a economia solidária como uma possibilidade para o desenvolvimento local sustentável, pois, apesar de mínimas, ainda, há inclusão 17 Gráfico 1 18 Gráficos 2 e 3 19 Gráfico 4 20 Anexo II Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ econômica e social previstas nesta outra proposta de associação para o trabalho que muitas vezes não mais tão possíveis na proposta da heterogestão. Permite dentre outras condições, a melhoria da qualidade de vida e consequentemente da localidade o que reflete a transformação do espaço geográfico, através das redes sociais e solidárias articuladas a partir dos EES’s quem participam desta relação de alteridade. 95 Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário ANEXOS Gráfico 1 Sexo 71% Feminino Masculino 29% Gráfico 2 Município de Origem 6% 6% 6% 6% 19% 26% Água Fria Araci Feira de Santana Salvador São Domingos Serrinha Tucano Valente 6% 25% Gráfico 3 Município de Atuação 18% 17% Água Fria Araci Lamarão Retirolândia Serrinha Teofilândia Tucano Valente 6% 17% 6% 6% 18% 12% Gráfico 4 Área de Atuação 14% 36% Ciências Exatas e da Natureza Linguagens Ciências Agrárias Ciências Humanas 21% 29% Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ ANEXO II Questionário 1. Sexo: 2. Território de Origem: 3. Município de Origem: 4.Município de Atuação: 5. Área do Conhecimento: 6. Maiores dificuldades em trabalhar com ECOSOL: 7. Perspectivas de trabalho com a ECOSOL: 97 Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário Referências ADORNO, W. Theodor. Educação e Emancipação. SP: Paz e Terra, 2006. BENINI, É. A. Sistema Orgânico do Trabalho: uma perspectiva de trabalho associado a partir das práxis de Economia Solidária. In: Édi Benini et al. (organizadores). Gestão pública e sociedades: fundamentos e políticas de economia solidária. 1ª. ed. São Paulo: Outras Expressões, p. 71-90, 2011. BOCAYUVA, P. C. C. A metamorfose do trabalho e a cooperação produtiva: a economia popular e solidária na perspectiva da nova centralidade do trabalho. Rio de Janeiro: FASE, 2007. Brasil. Ministério da Educação. SECAD. Cadernos Pedagógicos do PROJOVEM CampoSaberes da Terra. Brasília: MEC/SECAD,2008 CHARLOT. Bernard. O professor na sociedade contemporânea: um trabalhador da contradição. Revista da FAEEBA – educação e contemporaneidade, Salvador, v 17, n 30, p. 17-31, jul-dez/2008 FRIGOTTO, Gaudêncio. A produtividade da escola improdutiva: um (re) exame das relações entre educação e estrutura econômico-social e capitalista. SP: Cortez, 2001. GAIGER, L. I. Significados e tendências da economia solidária. In: Sindicalismo e economia solidária. Central Única dos trabalhadores – CUT, 1999, p. 29-42. ________. A Economia Solidária e o Projeto de Outra Mundialização. Dados – Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 47, nº 4, p. 799-834, 2004. GAIVIZZO, S. B. Limites e possibilidades da economia solidária no contexto das transformações do mundo do trabalho: a experiência da incubadora de cooperativas populares da universidade católica de pelotas. 2006. Dissertação (Mestrado em Serviço Social - Programa de Pós-Graduação em Serviço Social) Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul Faculdade de Serviço Social. Porto Alegre, 2006. GERMER, Claus. A “Economia Solidária”: Uma crítica marxista . Revista Outubro. SP: n 14. 2006. Disponível em http://www.revistaoutubro.com.br/edicoes/14/out14_10.pdf. Acesso em 20 mar. 2012 GOMES, Carlos Minayo [ET AL.] Trabalho e Conhecimento: dilemas na educação do trabalhador. 3ed – SP: Cortez; 1995 KRAYCHETE, Gabriel. Economia dos setores populares: entre a realidade e a utopia. Petrópolis, Rio de janeiro, Ed. Vozes Capina, Salvador: CESE:UCSAL, 2000, 246. _____________Economia popular solidária: paisagens e miragens. In Cadernos do CEAS, n 228, 2007. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ( LDBEN 9394/96). MARX, K. (1866). Instruktionen für die Delegierten des Provisorischen Zentralrats zu den einzelnen Fragen. Extraído de: Karl Marx/Friedrich Engels - Werke, Dietz Verlag, Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Berlin. Band 16, 6. Auflage 1975, unveränderter Nachdruck der 1. Auflage 1962, Berlin/DDR. p. 190-199. [Instruções aos delegados do Conselho Geral Provisório da Associação Internacional dos Trabalhadores] (http://www.mlwerke.de/me/me16/me16_190.htm, 21/5/05) MÉSZÁROS, István. A Educação para além do capital. 2 ed. SP: Boitempo, 2008 SANTOS, B. S. (Org.). Produzir para viver: os caminhos da produção não capitalista. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. SAVIANNI, Dermeval. Escola e Democracia: teorias da educação, curvatura da vara, onze teses sobre educação e política. SP: Cortez: Autores Associados, 1986. _________. Trabalho e Educação: fundamentos ontológicos e históricos. Revista Brasileira de Educação v12, n 34, p. 152-180 jan/abr 2007. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v12n34/a12v1234.pdf. Acesso em 04 out. 2011 99 Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário CONSTRUCIONISMO E INOVAÇÃO PEDAGÓGICA Helga Porto Miranda – UNEB RESUMO: Esse artigo tem o propósito de discutir conceitos a respeito das abordagens: instrucionismo, construtivismo, construcionismo e suas implicações na implementação de uma prática pedagógica inovadora. Faz um passeio pelas questões históricas da educação e algumas abordagens pelas quais sofreu interferências ao longo da história. Uma questão que exige uma reflexão dessa natureza é a mudanças na economia e na política acabam por exigir sujeitos capazes de tomar decisões e ser autônomo, criativo, exigindo conhecimento e desenvoltura. Discutir o conceito de aprendizagem, o que significa o processo de ensinar e aprender de acordo com essas abordagens permite compreender sua relevância para a inovação da práxis docente. PALAVRAS-CHAVES: Construtivismo – Contrucionismo – Inovação pedagógica. Introdução O contexto educacional passa por grandes mudanças, quebras de paradigmas, passamos da produção fabril, em massa para a produção sem desperdício de tempo, material e energia, mudança no fornecimento de bens e serviços, nas exigências do mercado de trabalho que implica diretamente nas questões educacionais. Mudanças na economia e na política acabam por exigir sujeitos capazes de tomar decisões, de liderar, ser criativo, ativo, exigindo conhecimento e desenvoltura. Essas exigências exigem um novo paradigma social, mas, principalmente, educacional. No entanto, como formar esse sujeito autônomo, pensante, se ainda estamos em um momento de transição educacional, em que insistimos na transmissão de conhecimento, aprendizes são passivos, professores ativos no ato de ensinar, sendo a aprendizagem, ainda compreendida como memorização. Essa mudança implica em professores mais qualificados, que saibam transformar a informação em conhecimento, em mudança de postura no aprender a aprender, aprender pesquisando, professores e alunos ambos ativos de um mesmo processo, “aprendizagem”. Professores mediadores, facilitadores da ação de aprender, compreender, refletir, construir seus conceitos, da leitura da palavra, da leitura do mundo. Com o advento da revolução industrial, grandes transformações no mundo do trabalho refletiram e ainda refletem no contexto educacional. A sociedade industrial, baseada na exploração do trabalho, da mão de obra necessitava de um novo trabalhador, de uma nova reflexão e a escola modifica para atender essa nova demanda. Centra-se na produção do saber, na transmissão de conhecimento, sem questionar ou ao menos refletir. A educação no paradigma Fordista baseou-se na transmissão de conhecimento, o aluno é montado, produzido pelo professor, baseada em métodos, currículo, avaliação, planejamento, tudo para que o aluno saia exatamente do jeito que foi planejado. O currículo organizado pelos conteúdos fragmentados, hierarquizados do mais fácil para o mais difícil, do menos complexo para o mais complexo, ao professor cabe apenas a transmissão do conhecimento e ao aluno assimilar, memorizar esses Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ conteúdos passados pelo professor. No Taylorismo, não foi muito diferente, uma perspectiva da administração, do modo de produção em série, visando a economia de tempo e aumento da produção. Na educação vem a perspectiva tecnicista, onde o professor continua apenas um transmissor de conhecimento e cabe ao aluno a memorização, ambas trouxeram a concepção tecnicista a educação. No contexto educacional brasileiro, vivenciamos abordagens que valem a pena discorrer um pouco sobre elas. A abordagem comportamentalista tinha como principais características: cabe ao professor moldar e controlar o comportamento do aluno, o conhecimento é fruto da experiência, a educação ligada a transmissão cultural; deverá transmitir conhecimentos éticos, práticas sociais, habilidades para manipulação e controle do ambiente/mundo; tendo por finalidade promover mudanças nos indivíduos; quanto ao processo de ensino e aprendizagem é feito através do planejamento, planeja-se o comportamentos desejados, condicionantes e reforçadores; o ensino é condicionante para uma aprendizagem eficaz; ao professor cabe a estruturação que irá conduzir a uma aprendizagem eficaz; planeja e desenvolve o sistema de ensino; é engenheiro comportamental; aos alunos caberia ser moldado, controlado. Também identificada como Tecnicista, influenciada pelo taylorismo, fordismo, traz o professor enquanto transmissor de conhecimento que tem como função instruir seus alunos, memorizar as informações, formar o indivíduo institucionalizado, mecânico, especializado em uma área, para atender o mercado de trabalho. A escola é o espaço de apropriação de conhecimento, de cultura, de comportamento, dando ênfase aos cursos técnicos, é uma espécie de agente educacional, sofre um processo de burocratização. No contexto da abordagem humanista, a educação assume significado amplo; é de responsabilidade do próprio aprendiz, tem como finalidade criar condições que o aluno aprenda, que facilite a aprendizagem, prima por liberar a capacidade de autoaprendizagem buscando a autonomia, cada aluno é único, o relacionamento com eles também é único. O processo de ensino é baseados em técnicas de dirigir o sujeito a experiência, trabalha os potenciais para aprender, propõe a autoavaliação, criatividade e independência. O professor é personalidade única; facilitador e o educando responsável por seu conhecimento, autoconstrução do indivíduo. A abordagem tradicional pressupõe que a inteligência é o acúmulo e armazenamento de informações, vê a inteligência como inerente a mente humana. O passado é modelo a ser imitado e o conhecimento é cumulativo baseado na transmissão e considerado produto. Na educação a instrução caracterizada pela transmissão de conhecimento, considerada produto e baseada na transmissão de ideias organizadas logicamente. O processo de ensino e aprendizagem é um fim em si mesmo, segue o modelo de aquisição de informações e demonstrações transmitidas são caracterizadas pelo verbalismo do professor e memorização do aluno, as atividades são padronizadas e devem seguir uma rotina baseada na fixação de conhecimentos/conteúdos/informações. No contexto atual discute-se o construtivismo, alguns autores como Marta Kohl classificam também como sócio-interacionista ou como nos traz Valsiner (1995) “perspectiva co-construtivista’’ na educação. O professor é tão ativo neste processo 101 Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário quanto o aluno, aprendizagem é dialógica e dialética e construída nas relações, em qualquer espaço e não só no contexto da sala de aula, da escola, do espaço formal de educar. O enfoque é no aprendiz e na capacidade de construção individual de significados e suas habilidades e conhecimentos são desenvolvidos no contexto qual vai ser utilizado. A epistemologia construtivista, relaciona-se com a ideia de construção, onde o professor é mediador, responsável pela criação de ambientes de aprendizagem que propicia a construção de conceitos, oferecendo ferramentas de construção e interação com a realidade. Construtivismo e instrucionismo Passamos também pela revolução tecnológica e muito se fala em “era do conhecimento, conhecimento em rede, digital, sociedade do conhecimento”. Na sociedade do conhecimento, temos novos questionamentos: Como fica a educação? O que significa ensinar? O vem a ser aprender? Paulo Freire em seu Livro Pedagogia da Autonomia, já nos chamava atenção para a importância da leitura da palavra e da leitura do mundo, da relevância do professor pesquisador. Passamos então de uma educação baseada na transmissão de conhecimento, na memorização, na figura do professor ativo e do aluno passivo, onde o professor deposita seus conhecimentos e o aluno os memoriza, para uma educação em que professor e aluno são ativos neste processo de ensino e aprendizagem, onde ambos “constroem” conhecimento, passamos do paradigma da “ensinagem” para a criação de ambientes de aprendizagem. No entanto, como as mudanças que estão acontecendo na sociedade deverão afetar a Educação e quais serão suas implicações pedagógicas? Mas o que é aprendizagem? Segundo Piaget a aprendizagem é resultado da interação do sujeito com o objeto do conhecimento, sendo o papel mais importante do professor criar ambiente no qual a criança possa espontaneamente realizar experiências de construção de conhecimento em sala de aula. O aprendizado surge através do desenvolvimento de processos mentais (internamente adormecidos) necessários à construção deste conhecimento, os quais deve ter sentido no contexto onde a criança está inserida; é um processo ativo, social organizado de forma espontânea e de dentro para fora. Já em Vygotsky, aprendizagem é o resultado da interação com o objeto, mas também com a família, o social, o contexto cultural no qual está inserido, dentre outros, é realizado da sociedade para o indivíduo. Se no comportamentalismo ensinar seria apenas transferir o conhecimento; no construtivismo ensinar significa criar condições para que o sujeito se aproprie do conhecimento, aprender a aprender. A comunidade tem papel decisivo na construção do conhecimento e principalmente da forma como o sujeito vê o mundo. O aprendizado e desenvolvimento é uma atividade colaborativa e social que não pode ser "ensinada" o aprendiz deve construir e o professor atua como facilitador deste processo; as experiências de fora de sala de aula devem ser relacionadas com as experiências na escola. Na perspectiva construtivista o sujeito é capaz de construir o novo, construir o conhecimento, em um processo contínuo. Segundo Valniser (1995) os processos de desenvolvimento e aprendizagem, existem dois modelos: um unidirecional (que considera o sujeito recebedor de informações em processo de socialização e passivo) e um modelo bidirecional (que assume que todos os sujeitos no convívio diário fazem parte do processo de transmissão cultural, é ativo, nesta perspectiva não existe Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ mensagem pura). Nesta perspectiva aprendizagem não existe independente do professor ou do aluno, e o sentido da construção do conhecimento é dado na construção dialógica e dialética dos envolvidos no processo de aprender. Não podemos deixar de destacar Vygotsky com a zona de desenvolvimento proximal, e o papel do outro nesta construção de conhecimento. A ZPD é a distancia entre o nível atual, o conhecimento real de resolver situação problema individual e a resolução de problemas de forma coletiva. Decorre da dialética entre a aprendizagem e o desenvolvimento. Na abordagem instrucionista existe a informação, a pergunta e a resposta, no entanto o sujeito é preparado para utilizar o recurso do computador, ele apenas recebe a instrução, e não quer dizer que houve a aprendizagem, a questão é justamente essa, o que se faz com esta informação? Na perspectiva instrucionista o computador é uma ferramenta este, por sua vez, tem como tarefa transmitir as informações, transmissões essas feitas por software de forma tradicional, podendo haver ou não construção do conhecimento por parte do aprendiz, ele continua a absorver os conhecimentos de forma mecânica e repetitiva, não deixando claro o pensamento do sujeito aprendente. Quando há a reflexão esta é feita pelo professor. O conceito de conhecimento é o de produto acabado, com o objetivo apenas de instruir o aluno em determinado conhecimento. Nesta perspectiva, o uso da tecnologia, não propicia o processo de ensino e aprendizagem que desenvolva conhecimento e habilidades nos alunos, pois apenas disponibiliza informações. 103 Construcionismo e inovação pedagógica O construcionismo, tem suas raízes no trabalho desenvolvido por Papert (1994), dá atenção as habilidades emergentes, trabalha o máximo de aprendizagem com o mínimo de ensino. Aprendizagem baseada na resolução de problemas, contextualizada e significativa. Passamos por um ressignificar o processo de aprender e o processo de ensinar. Segundo Papert (1994), a pedagogia é a arte de ensinar, no entanto, não existe uma palavra para a “arte de aprender”, neste caso como explicar a aprendizagem? Para ensinar temos a pedagogia e para aprender? No construtivismo discute-se que o aprendiz construirá seu conhecimento a partir do objeto do conhecimento, com o outro, com a cultura no qual está inserido; o construcionismo vai além; aprender a partir da resolução de problemas. Para Valente (1993) o uso da informática na educação pode ser realizado de duas formas:uma quando o computador é concebido como um recurso a ser utilizado para transmitir conhecimento ao aprendiz, e outro quando o computador é concebido como uma ferramenta capaz de potencializar a aprendizagem. Confirma ainda que o computador é uma ferramenta a ser programada pelo aprendiz e não ao contrário, deve facilitar a descrição, reflexão e depuração de ideias. Nesta perspectiva o computador é utilizado como ferramenta educacional, como instrumento para o sujeito resolver problemas significativos, o sujeito que coloca o conhecimento na máquina e indica as operações que devem ser executadas. O computador é a ferramenta que permite buscar informações nas redes de comunicação, segundo seu interesse, sua curiosidade. A aprendizagem é vista como Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário uma construção, os erros tornam-se uma reflexão, aprendizes e professores são o centro da aprendizagem. Permite que o aprendiz receba informações, resolva problemas e construa seu conhecimento. Uma das características principais do construcionismo é a noção de concretude como fonte de ideias para elaboração de construção mental, o sujeito aprende a fazer, fazendo; o professor incentiva, orienta; o aluno cria, constrói, participa, e amplia seus conhecimentos prévios, provoca conflitos cognitivos, incentiva a criação, o desafio e a descoberta. Segundo Papert (1994), o aluno é o autor e construtor do processo, através da aprendizagem ativa, ocorre interação entre a ação do aluno e a resposta do computador fazendo com que o aluno participe ativamente do processo. Para Valente (2001, p. 39), “o computador é uma ferramenta onde o aluno escreve, pesquisa, resolve problemas, desenha, entre outros.” Cria condições para o aluno construir seus conhecimentos, em ambientes de aprendizagem,que incorporam o uso do computador... Carlos N. Fino (2004), em seu texto Construtivismo & Construcionismo escreve: “Em termos educacionais, este modelo contraria a ideia do estudante como tabula rasa e o professor como a autoridade que leva o estudante a aprender, vertendo-lhe o conhecimento.” Escreve ainda: ... O construtivismo argumenta que os professores devem compreender a natureza activa do processo de aprendizagem, no qual os estudantes já estão empenhados, de modo a estarem aptos a poderem facilitar e enriquecer esse processo, ao invés de tentarem impor-lhes experiências que não fazem sentido. (FINO, 2004) A visão de Valente (1999, p. 29) vem complementar com “a criação de ambientes de aprendizagem nos quais o aluno realiza atividades e constrói o seu conhecimento”. Essa mudança acaba repercutindo em alterações na escola como um todo: sua organização, na sala de aula, no papel do professor e dos alunos e na relação com o conhecimento e principalmente no currículo. Assim, atividades realizadas pela escola devem estar vinculadas a realidade dos aprendizes e integrados a todos componentes curriculares, para que os aprendizes sejam motivados na construção de sua aprendizagem. Papert (1993) traz que, “o máximo de aprendizagem com o mínimo de ensino”, isto significa dizer que o professor passa por uma mudança de postura, de atitude, que o aluno alcance meios de aprendizagem que valorize a construção mental. Sendo assim, na inovação pedagógica o professor cria ambientes, contextos de aprendizagem para seus alunos, inovação pedagógica vai além do uso das tecnologias, exige mudança e transformação. Transformação da escola, do professor, do aluno, em fim de todos envolvidos no contexto educacional. Para exemplificar minha fala trago a experiência da Escola Duque de Caxias, no município de Irecê no sertão da Bahia, que foi contemplada em 2010, com o Projeto UCA – um computador por aluno. Cerca de 250 alunos, receberam netbooks para utilizar em sala de aula e também em suas residências. Neste contexto, os aprendizes tem a ferramenta do computador e, no entanto, os professores resistem em utilizá-la, ou quando a utilizam não é para inovar sua práxis, compreendendo-a como ferramenta de construção de conhecimento; pois o fato do computador estar presente em sua sala de aula não é uma inovação, transformação, mudança nem do professor e muito menos da escola. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ A utilização dos computadores não garante a inovação pedagógica em nossas salas de aula, uma vez que ainda são inadequadas, ultrapassadas, desestimulantes aos olhos dos nossos alunos, distante do “mundo” lá fora. No entanto, a utilização dos computadores no ambiente da escola, permitirá mudar o espaço da escola, a forma de aprender, a forma de ensinar a qual estamos acostumados, não podemos colocar nas máquinas, a redentora, aquela que vai resolver todas as dificuldades da educação, como se fossem a resolução de nossos problemas e a substituição dos professores, mas a utilização de computadores permitirá sim modificar as formas de ensinar e principalmente de aprender dentro e fora do contexto educacional. Para Papert (1993), os computadores podem ser portadores de potencialidades, no entanto, não são os únicos, dentro do contexto educacional, deve ser utilizado para além de uma ferramenta, mas como um meio significativo e facilitador da aprendizagem. Para este autor, a aprendizagem requer alguns pressupostos: automotivação, estar conectado a cultura popular, ter em foco projetos de interesse pessoal, estar em comunidade que estimula a aprendizagem e que reúna pessoas de todas as idades, e onde todos são vistos como aprendizes, missão que pode nos parecer fácil, mas no entanto na prática ainda é um desafio a ser conquistado. Neste contexto o que significa inovação pedagógica, quais são os pressupostos para a inovação? Seria simplesmente o uso das novas tecnologias, dos computadores, ferramentas da computação no ato de obter informações. Segundo o Aurélio, inovação significa “ação ou efeito de inovar, introdução de alguma novidade na legislação, na cultura, na ciência“ Já inovar significa “fazer inovação, introduzir novidade”. A inovação pedagógica significa inovar a ação da prática pedagógica, trazer novidades, reconstruir a práxis. Sendo assim inovação pedagógica, vai muito além da simplificação do uso da tecnologia, inovar requer uma descontinuidade das práticas utilizadas, do paradigma atual educacional. Inovação pedagógica requer uma mudança da práxis docente, um pensamento crítico, reflexivo, uma prática baseada na ação-reflexão-ação, que os contextos de ensino da escola, abre espaço para contextos de ensino e de aprendizagem, desenvolver ambientes ricos e significativos de aprendizagem. Para Fino, Inovação pedagógica, implica mudanças qualitativas nas práticas pedagógicas e essa mudanças exigem sempre um posicionamento crítico explicito ou implícito, face as práticas pedagógicas tradicionais (FINO, 2004. III colóquio do DCE-UMA). Inovação pedagógica é uma ruptura, onde a escola não é o único local da aprendizagem, o professor deve mudar sua postura tradicional, para uma postura crítica e reflexiva da sua ação pedagógica, assim como o aluno também passa a ter autonomia sobre seu processo de aprender. Não existe inovação pedagógica, sem uma inovação da práxis pedagógica por parte de educador e aprendiz, sendo na práxis que podemos averiguar e implantar a inovação, podemos criar contextos e ambientes inovadores de aprendizagem. Para Papert (1993), uma mudança importante para a inovação pedagógica é sair da visão da educação tradicional que vê a inteligência inerente a mente humana, Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 105 utilizar a habilidade do aprendiz para resolver problemas, não só utilizando a regra,mas acima de tudo pensando sobre o problema que promove a aprendizagem, elaborando estratégias de aprendizagem. Neste contexto, o educador deverá sair da posição de transmissor de conhecimento para o de mediador, de propor problemas para que aprendizes pensem, elaborem estratégias para a resolução dos mesmos, de criar, proporcionar ambientes socioeducativo, ambientes de aprendizagem. A escola será o espaço do exercício do pensar. Conclusão O construcionismo é uma reconstrução teórica a partir da abordagem construtivista piagetiano, onde a criança é considerada um ser pensante e construtor de suas estruturas cognitivas, portanto de sua aprendizagem. O construcionismo busca alcançar meios de aprendizagem que valorize a construção mental e a construção de mundo, como já nos chamava a atenção Paulo Freire. Desta forma o professor, é o mediador, facilitador do processo de construção do conhecimento, sai do papel de mero transmissor, para também fazer parte da construção do conhecimento de forma dialógica e dialética. O professor enquanto facilitador, mediador, tem que mudar sua postura passando a ação-reflexão-ação, a refletir sobre sua práxis docente e propor uma mudança de postura, sair do conformismo de transmissor de conhecimento, para aquele que proporciona ambientes de aprendizagem. A inovação pedagógica, não é apenas utilizar o computador, as inovações tecnológicas como ferramenta do conhecimento, mas como um dos meios para modificar, inovar a sua prática docente, a elaboração de suas aulas, a proposição de atividades significativas e contextualizadas. Proporcionar um ambiente onde o aluno e professor elaborem estratégias de resolução de problemas. Não é apenas sair do instrucionismo para o construcionismo, vai muito além. No entanto, inovar requer o querer, a disposição para mudança de paradigma, a predisposição para o trabalho pedagógico diferenciado, que prime pela aprendizagem e não só pelo como ensinar, perpassa pelo ressignificar o processo de ensinar e principalmente o aprender de forma significativa. A inovação está diretamente ligada a prática pedagógica, a construção de um novo paradigma no lócus pedagógico. Percebemos que a escola ainda não está conseguindo realizar a inovação pedagógica e mesmo a que utilizam o advento das tecnologias, muitas ainda as utilizam apenas como ferramenta, não explorando o exercício do pensar, do aprender, do descobrir e construir sua aprendizagem. Os professores ainda estão despreparados para utilizar a tecnologia, ainda estão presos a abordagem tradicional, passando por um tempo de mudança, transformação de sua práxis, rompendo com o paradigma anteriores e buscando a inovação pedagógica, onde professor e alunos são aprendizes, focando mais nas formas de aprender e não só no ensinar. Ressaltamos que inovação tecnológica, não é o mesmo que inovação pedagógica; vai além, nasce no cotidiano escolar, na práxis do educador, reestruturando a forma de pensar o conhecimento, de pensar o aprender, de aprimorar as estruturas cognitivas e este passa a ser o autor de seu conhecimento. Referências Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ FINO, Carlos Nogueira. Inovação Pedagógica: Significado e Campo(de investigação). III colóquio DCE-UMA, 2004. FREIRE, Fernanda Maria Pereira; Valente, José Armando. Aprendendo Para a Vida: Os computadores na sala de aula. São Paulo: Cortez, 2001. PAPERT, Seymour. A Máquina das Crianças - Repensando a Escola na Era da informática. Trad. Sandra Costa – Porto Alegre:Artes Médicas,1994. ________. O Futuro da Escola. Seymour Papert e Paulo Freire: uma conversa sobre informática, ensino e aprendizagem. Vídeo tape produzido pela TV PUC, São Paulo, 1996. TOFFER, A. Choque do Futuro. Lisboa: Livros do Brasil. VALENTE, José A. (org). Computadores e conhecimento: repensando a educação. Campinas, SP: Unicamp, 1993. _________. O computador na sociedade do conhecimento. Campinas, SP: UNICAMP/NIED, 1999. VALSINER, Jean. Perspectiva Co-Construtivista na Psicologia e na educação. Porto Alegre: Artes Médicas,1995. 107 Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NA UNIVERSIDADE QUANDO OS ESTUDANTES VIVENCIAM A INDISSOCIABILIDADE ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO Monique Barreto Pereira (UNEB/DCHT/XVI)* RESUMO: O diferencial de uma formação universitária concretizada nos princípios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Tendo por objetivo argumentar dos benefícios para os estudantes quando na universidade tem a oportunidade de vivenciar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, esta discussão apresenta como referencial teórico, basicamente os documentos oficiais do Ministério da Educação sobre o ensino superior e no Estatuto e no Regimento Geral da UNEB. Conclui-se, afirmando, da importância da formação universitária que contemple os ideais da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão na universidade, por possibilitar várias experiências nos espaços de atuação. PALAVRAS-CHAVE: Indissociabilidade. Aprendizagem. Formação. Formação de professor. 1 Introdução A universidade é uma instituição que tem por finalidade desenvolver atividades que beneficiem a sociedade. No entanto, Para que isso aconteça é necessário uma parceria entre a comunidade e a instituição. Uma parceria, que possibilite a universidade intervir diretamente nos problemas sociais e educacionais. Partindo do princípio da cooperação entre universidade e comunidade, é importante que os estudantes universitários vivenciem situações reais transformadoras que possam contribuir com uma formação voltada para o campo profissional. A universidade é uma instituição, que em seu fazer acadêmico articula, ou deveria articular o ensino, a pesquisa e a extensão como elementos de construção e contextualização do conhecimento. Essa interligação destes saberes é proposta para que os estudantes de graduação saibam procurar caminhos, para diversas situações que podem ser encontradas na prática profissional, uma vez que essas dimensões se constituem na proposta de formação construída pela instituição para a formação no ensino superior. Diante desta discussão, o presente artigo visa argumentar sobre a importância da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão para uma formação universitária e a formação de professores que não contemple apenas a teoria. * Graduanda do curso de Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia/UNEB, Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias/DCHT/XVI. e-mail: [email protected]. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Esta não é uma temática muito discutida, mas, encontra-se fundamentada nos seguintes referenciais do Ministério da Educação (MEC), na LDB no Estatuto e Regulamento Geral da Universidade do Estado da Bahia. Cabe ressaltar, que o principio da indissociabilidade é contemplado no Estatuto e no Regimento Geral da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), em que esta se define em seu Art. 1º como “uma instituição autárquica de regime especial de ensino, pesquisa e extensão, de natureza multicampi, vinculada à Secretaria da Educação do Estado da Bahia” (UNEB, 2008, P.15). A UNEB é uma universidade multicampi, pois não se prende a um único espaço geográfico como afirma Fialho: A universidade multicampi traduz, no espaço, configurações: como uma instituição presente em diferentes regiões do Estado, convive com realidades diversas, e diversas não somente porque mulrifária, pois variados são também os graus de desenvolvimento de cada uma dessas regiões e centros urbanos onde se encontra instalada. Peculiar, tal configuração promove condições para lidar com o plural, com o comum, com o diferente, com o local, com o característico, com o diferente, com o local, com o característico, com o novo, com o desigual, com o secular. O contexto da multicampia, com configuração ou paisagem, parece oferecer-se, pleno, tanto à investigação científica como à ação da universidade. Forma multicampi recobre de sentido a missão universitária. Essa forma presencial, esse modo de, fisicamente, distribuir-se no espaço, conta uma história e é parte da história, uma vez que o espaço é produto de uma dada relação do homem com a natureza. (FIALHO, 2005, p.70) 109 E no Art. 52 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9.394/96, define a universidade como “instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e cultivo do saber humano” (BRASIL, 1996). 2 Universidade: espaço de reflexão e produção de conhecimento A finalidade da universidade depende do contexto histórico de cada época. Sendo assim, o tempo passa e as necessidades sociais vão se modificando, necessitando de novas demandas econômica, social e intelectual para a educação superior. Autores como Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro foram os precursores dos debates em torno da concepção de universidade. Para Anísio Teixeira a universidade é o núcleo dos debates livres de ideias, perspectiva essa que Darcy Ribeiro dá continuidade. Atualmente, Luckesi coloca a universidade como espaço de liberdade e crítica devendo ser, portanto, uma aliada na ânsia do mais alto nível do saber e da efetiva preocupação com os problemas nacionais (LUCKESI, 1998). Neste artigo a definição de universidade a ser contemplado é a de Luckesi. Segundo o qual, a universidade é um espaço para a construção e a aquisição do conhecimento científico, assim, o lócus para a concretização deste saber é a sociedade. Sendo a pesquisa, o principio fundamental e norteador da investigação crítica na Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário criação de novos procedimentos e intervenções para uma determinada realidade em que cada novo fato pressupõe novas descobertas (LUCKESI, 1998). A universidade é o local, que tem por finalidade produzir o conhecimento cientifico, esses podem ser utilizados para atender ao mercado de trabalho ou para as transformações sociais e educacionais de uma localidade. Considerando que: Uma universidade “consciência crítica da sociedade” ou seja, um corpo responsável por indagar, questionar, investigar, debater, discernir, propor caminhos de soluções, avaliar, na medida em exercita as funções de criação, conservação e transmissão da cultura. A universidade, entretanto, só poderá desempenhar tais funções quando for capaz de formar especialistas para os quadros dirigentes da própria universidade, do município, do Estado, da nação, com aguda consciência de nossa realidade social, política, econômica e cultural e equipada com adequado instrumental científico e técnico que, permitindo ampliar o poder do homem sobre a natureza, ponha a serviço da realização de cada pessoa as conquistas do saber humano. (Ibid, p. 42 a 43). Portanto, a universidade deve proporcionar a produção de conhecimento, assim os estudantes agem com certeza, segurança e previsão em suas futuras praticas profissionais. Pois, quando o estudante constrói o conhecimento científico baseado na realidade e na necessidade da localidade onde estão inseridos. Como ressalva Luckesi: O entendimento do mundo – como conhecimento – se faz tanto em situações simples do dia a dia quanto em situações complexas dos laboratórios científicos. Pode ser produzido em todas as situações em que nos encontramos: diante de desafio, diante de uma impossibilidade que nos obstaculize a ação. Estas oportunidades impeditivas da ação podem ocorrernos tanto na cozinha da nossa casa quanto na rua, no trabalho do campo quanto na indústria, nas brincadeiras das crianças quando na sisudez a ação. A pratica do conhecimento não é, pois, privilégio de ninguém. Mas um direito de todos os seres humanos, dotados de consciências. (Ibid, p.51) Assim, a formação universitária vai atender as necessidade da sociedade e fazer o seu papel social e transformado que é possível por meio de uma formação que faça os estudantes aprender a construir, reconstruir o conhecimento e não reproduzir o que já estar pronto. Têm algumas qualidades a ser adquirida pelos estudantes que devem ser incentivadas na universidade como a criatividade, a crítica, o debate, o estudo, a extensão, a pesquisa, a reflexão. Uns dos benefícios de uma formação que complete estes requisitos são quando profissionais tenham a capacidade de enfrentar desafios, de amenizar problemas sociais e educacionais ou até mesmo fazer transformações na localidade. Segundo Luckesi a “realidade no caso do conhecimento, é o fator que une todas as consciências no esforço de busca se sua compreensão”. (Ibid, p.54 ) sendo assim a realidade é um instrumento fundamental para que a formação universitária seja agente de transformações do estudante , da educação e da sociedade. E assim o conhecimento é libertador, pois segundo Luckesi: liberta o sujeito do temor do desconhecido, colocando-o como “o senhor da situação” e não como seu “objeto”. (...) o conhecimento liberta o sujeito porque lhe dá independência e autonomia. Desde que se saiba que se Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ conheça, pode-se agir sem estar dependendo da alienação de nossas necessidades a outros. (Ibid, p. 56 a 57). 3 Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão: uma nova proposta de se fazer a universidade A indissociabilidade não é uma ação fácil de perceber ou de se fazer na universidade, pois depende da concepção da instituição, dos seus profissionais: docentes, técnicos, gestores e discentes. Vale ressaltar, que a indissociabilidade entre ensino, pesquisa, extensão é uma nova forma de se fazer universidade, pois é pautada no princípio de aprender a fazer, a conhecer, a buscar, a intervir, a transformar e, só é possível quando os estudantes vivenciam estes três pilares ao mesmo tempo. Compreendo o ensino como o estudo teórico, ou seja, como o processo de aprendizagem sobre um determinado conhecimento que dá aporte à formação profissional do sujeito, e que pode ou não ser utilizado na sua prática profissional e pessoal. Wanderley ressalva que: “o ensino deve balancear as exigências profissionais de caráter mais pragmático e utilitarista com as exigências de uma formação geral humanista e que propicie valores éticos fundamentais” (WANDERLEY, 1986, p.41) Diferentemente da pesquisa, sendo essa possibilidade de inserção da universidade na comunidade, com o objetivo de conhecer problemas em determinada realidade. É também um ponto de partida para promover, através dos problemas detectados nessa realidade a transformação social e educacional. No estatuto da UNEB no Art. 49 “a pesquisa objetivará produzir conhecimento científico, tecnológico e artístico necessário à melhoria da qualidade de vida e ao desenvolvimento da sociedade” (UNEB, 2008, p.39) 111 Então o ensino e a pesquisa são pilares da formação universitária que uma depende da outra para a melhor compreensão e efetivação dos saberes na pratica como afirma Wanderle: O ensino enriquecido pela pesquisa, que lhe municiava novos temas, proposições, métodos etc; pesquisa que trazia do ensino problemas, hipóteses, interpretações etc. assim, as universidades de todo o mundo foram buscando articular o ensino com a pesquisa, e sem sombras de duvidas, naqueles onde recursos substanciais forma concedidos à pesquisa, houve crescimento seguro e o aprendizado científico avançou. Naqueles onde há carência de pesquisa ou ela é restrita, tende-se a copiar o que se produzir fora, tende-se a permanecer atrelado ao repetitivo, ao comodismo, à não-renovação.( WANDERLE, 1986, p.38) A extensão, por sua vez, é a ação da universidade na comunidade tendo por objetivo fazê-la presente em espaços sociais e educacionais, e assim, promover uma mudança. Cabe ressaltar que nas ações realizadas com o objetivo de discutir o contexto real dificilmente terá a mesma ação viabilizadora em todos os sujeitos, Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário porém, promoverá uma nova forma de olhar esta mesma realidade. No estatuto da UNEB: Art. 53. A extensão será entendida como: I – interação da Universidade com a sociedade; II – promoção e estímulo às atividades culturais nos departamentos; III – socialização do conhecimento acadêmico; IV – presença da universidade no contexto histórico da sociedade, propiciando o exercício permanente da cidadania. (UNEB, 2008, p.40) Os três pilares do saber acadêmico propõem uma nova concepção no desenvolvimento de aprendizagem que contempla a formação completa e ideal, contribuindo para as transformações dos problemas sociais e da educação, que pode ser resolvidos por meio de estudo, de pesquisa e de intervenção em situações reais. Essas três dimensões estão interrelacionadas, assim uma não deve se sobrepor à outra, uma vez que cada uma dessas funções contribui de forma diferente na formação universitária, fazendo-nos refletir sobre as questões da realidade. É preciso ter clareza que: Ensino, pesquisa e a extensão não devem ser vistos como objetivos ou funções da universidade, mas como atividades que, de forma indissociada, dão concretude ao é de fato o seu objetivo, sua missão: produzir e sistematizar o conhecimento e torná-lo acessível. (BRASIL, 2006, p. 65). A universidade deveria proporcionar aos seus estudantes a articulação do ensino, da pesquisa e da extensão na graduação, a fim de que em seu processo de formação, os estudantes possam vivenciar integralmente o saber acadêmico. Assim, estaria acontecendo na universidade a tão almejada “indissociabilidade”, sendo que cada uma destas funções contribui de forma diferente na formação dos estudantes, como considera as diretrizes do Ministério da Educação: A indissociabilidade entre as atividades de extensão, ensino e pesquisa é fundamental no fazer acadêmico. A relação entre ensino e extensão supõe transformações no processo pedagógico, pois professores e alunos constituem-se como sujeitos do ato de ensinar e aprender, levando à socialização do saber acadêmico. A relação entre extensão e pesquisa ocorre no momento em que a produção do conhecimento é capaz de contribuir para a melhoria das condições de vida da população (BRASIL, MEC/SESU, 2001, p. 24) Defende-se aqui, que os estudantes vivenciem de forma indissociável dos três saberes da formação universitária, ou seja, a construção e aquisição do conhecimento (ensino); a inserção da universidade nas diversas instituições escolares e não escolares (extensão) a observação, a investigação, a análise e a reflexão (pesquisa) e a aplicação do projeto de intervenção. Assim proporciona aos estudantes aprendizagens concretas como afirmar Antunes: Somente aprendemos de forma duradoura quando somos transformados em centros de produção da aprendizagem e que esta se constrói com interações entre as informações que chegam e as guardadas em nossos saberes, passando de uma visão sincrética para uma visão analítica e depois sintética, deixa de ser ponto de vista desse ou daquele educador, visão dessa ou daquela teoria, para se transformar em postulado científico que deve ser trabalhado pelo professor.(ANTUNES, 1999, p.17) Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Então, para que a formação de professores na universitária seja de qualidade possibilitando aos estudantes em suas futuras praticas profissionais criar estratégias para enfrentar os desafios da realidade social e educacional é necessário que os estudantes comece adquirir habilidade de produzir seus conhecimentos científicos na graduação sendo necessário que a formação universitária seja concretizada nos fundamentos da indissociabilidade entre ensino, pesquisa extensão. No Regimento da UNEB afirma: Art. 3°. Através de suas atividades indissociáveis de ensino de pesquisa e extensão, tem a UNEB, por objetivo, a formação do homem como ser integral e o desenvolvimento sócio-econômico, político e cultural da região e do país, visando, em sua área de competência à: I – produção e crítica do conhecimento científico, tecnológico e cultural, facilitando o seu acesso e difusão; II – participação e assessoramento na elaboração das políticas educacionais, científicas e tecnológicas em qualquer dos seus níveis; III – formação e capacitação de profissionais; IV – participação e contribuição no crescimento da comunidade em que se insere, e na resolução de seus problemas. (UNEB, 2008, p.56 a 57) No Estatuto da UNEB define: Art. 32. As atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade serão desenvolvidas com observância dos seguintes princípios básicos: I – indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão; II – adequação do desempenho da universidade às realidades regionais; III – integração da universidade com os demais sistemas de ensino; IV - integração da universidade com os demais sistemas produtivos ou de desenvolvimento comunitário; V – interdisplinaridade das áreas de conhecimento; VI – garantia do padrão de qualidade; VII – igualdade de condições para o acesso e permanência na instituição; VIII – avanço do conhecimento e a sua atualização em todos os campos do saber. (Ibid, p.35) 113 Enfim, o caminho para que a formação de professores contemple autoformação é a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão ainda pouco discutida pelos docentes, discente ou gestores dentro da própria Universidade. Sob essa ótica há um grande prejuízo para a formação universitária quando os estudantes fazem da graduação apenas meio para obter um diploma e perdem a oportunidade de terem uma aprendizagem significativa, que contribuiria na sua prática profissional. Uma formação universitária realizada nos princípios indissociáveis é: Um novo paradigma curricular no qual é inevitável a indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão enquanto eixo de formação do estudante, de uma perspectiva na qual a graduação vai além da mera transmissão para se transformar em espaço de construção do conhecimento, em que o Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário estudante passa a ser sujeito, crítico e participativo, para o qual a flexibilização aparece como um meio de viabilização. (BRASIL MEC/SESu, 2006, p.44). Considerando a formação na graduação realizada nos princípios indissociáveis há uma grande possibilidade de construção de conhecimentos, pois os estudantes vivenciam na universidade as fases que possibilitam um melhor desenvolvimento intelectual. Pois os estudantes estudam os diversos conhecimentos teóricos, pesquisa se tal teoria ainda pode ser aplicada na pratica, refletir se ao aplicá-la uma teoria aconteceu da mesma forma que o teórico escreveu, e em que etapa à aplicação uma teoria não obteve o resultado que o teórico. No entanto, é preciso realizar a formação universitária nos princípios de Luckesi para: Formar cientistas, profissionais do saber, a universidade ajuda a sociedade na busca de encontrar os instrumentos intelectuais que, dando ao homem consciência de suas necessidades, lhe possibilitam escolher meios de superação das estruturas que o oprimem. Podíamos sintetizar as funções da universidade no esforço para imprimir eficácia na ação transformadora do homem sobre si mesmo e sobre as instituições que historicamente criou. (LUCKESI, 1998, P.43) Portanto, no processo de formação universitária é preciso descobrir, enfrentar e repensar os novos caminhos que precisam ser enfrentados, assim os estudantes não serão apenas meros reprodutores de teoria ou de discursos vazios. Conforme Marques: A aprendizagem acontece à medida que ocorrem as trocas entre os sujeitos, o que se evidencia pela linguagem adotada pelo grupo. O saber sistematizado, que é transmitido pela cultura, é produto da atividade educacional, não adquirido espontaneamente. Então, a escola fica responsável por sistematizar o conhecimento cotidiano do aluno, auxiliando-o na elaboração e sistematização desse saber que, por hora, encontra-se fragmentado, necessitado de elaboração. (MARQUES, 1995 apud OLIVEIRA (Org.), 2004, p.64 a 65) 4 Conclusão Como foi visto até aqui, para que a aprendizagem seja realmente significativa, pressupõe-se uma articulação entre os diversos saberes e uma formação que contemple a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, ou seja, um processo de estudo, observação, investigação, reflexão e de transformação. Portanto, acredito que uma formação que contemple a indissociabilidade pode ser um elemento indispensável para a formação de futuros professores, para que em suas práticas possam transparecer a investigação como princípio para uma qualidade no desenvolvimento de seu trabalho, buscando transformar a realidade com ética e respeito ao outro. Referências: ANTUNES, Celso. Alfabetização Emocional: novas estratégias. 11° ed. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1999. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ BRASIL. Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão e a Flexibilização Curricular: Uma visão da extensão das universidades públicas. Porto Alegre: UFRGS; Brasília: MEC/SESU, 2006. _______. Avaliação Nacional da Extensão Universitária/Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras. Brasília: MEC/SESU; Paraná: UFRR; Ilhéus(BA): UESC,2001. _______. LDB Lei de Diretrizes e Bases Educação Lei 9.394/96. Disponível em: <www.mec.gov.br> Acesso em: 28 fev 2011. _______. Plano Nacional de extensão universitária/ Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras. Brasil, 2000/2001; SESM/MEC. FIALHO, Nadia Hage. Da dimensão espacial da configuração multicampi In: Universidade Multicampi. Brasília: Autores Associados: Plano Editora, 2005. LUCKESI, Cipriano Carlos (et.al). Fazer Universidade: uma proposta metodológica.10 ed. Cão Paulo: Cortez, 1998. PEREIRA, Monique Barreto; SANTOS, Cenilza Pereira dos. Estágio: espaço para a construção da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Seminário Sobre Identidade e Docência (1:2011, Irecê, BA). Irecê, f.6, 2011. 115 PEREIRA, Monique Barreto. Estágio: espaço para a construção da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Encontro Regional de Educação, Marxismo e Emancipação Humana (4: 2011: Irecê, BA) Irecê, f.10, 2011. OLIVEIRA, Valeska Fortes de (Org.). Imagens de Professor. 6° Ed. Rio Grande do Sul: Unijui, 2004. UNEB. Universidade do Estado da Bahia Estatuto e Regimento Geral. Salvador: ADUNEB, 2008. WANDERLEY, Luiz Eduardo W. O que é universidade. 6° ed. São Paulo: Brasiliense, Ed.6°, 1986. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário A ESCOLA NORMAL RURAL E SEUS ATORES NA MICRORREGIÃO DE JACOBINA À CIDADE DE MIGUEL CALMON: rituais de formação, mitos de identidade e vivências pedagógicas. Rúbia Mara de Sousa Lapa Cunha¹ Helga Porto Miranda ² RESUMO: Este trabalho tem como intenção inicial refletir sobre os percursos da docência, os rituais nos espaços e momentos da trajetória, presentes nas narrativas da história de vida de dez ex-normalistas oriundas do Colégio Sagrado Santíssimo Sacramento na cidade de Senhor do Bonfim à Escola Normal Rural. Assim, ao dar ênfase na atuação dessas nobres “mestras” em nossa cidade, ao mesmo tempo, em que aparecem de maneira quase silenciosa as marcas de suas rápidas aparições no cenário da Escola Normal Rural, configurando o processo formativo nos espaços que funcionavam enquanto “Escolas Isoladas” nos povoados de Pontilhão, Bagres e Lagoinhas, Olhos D’água e adjacências. PALAVRAS-CHAVES: Normalista – Vivências - História de vida - Escritas de si. Introdução Interessam-nos aqui as Narrativas Autobiográficas a partir da formação de identidade, situando o fato histórico da escolarização a partir da criação do Instituto Senhor do Bonfim de Jacobina sob a ótica de dez normalistas que executaram as suas atividades didáticas no ensino primário e já adentraram o espaço rural com propriedade para “ensinar”. Assim, ao focar as diversidades e as representações identitárias desse sujeito como princípio fundante de sua formação e profissionalização no sentido de refletir a respeito das histórias de vida e formação de professores. Esse trabalho foi fundamentado na pesquisa autobiográfica, tomando como referência a História Oral em que a memória e a identidade são fatores essenciais. Daí se justifica a busca de testemunhas da história oriundas do povo, como as que se encontram na presente pesquisa, são dez ex-normalistas, ex-professoras e exdiretoras que se reportam as experiências dentro da Escola Normal Rural de Jacobina, durante os anos de 1936 a 1958. Os materiais da memória, nesse caso, se apresentam como monumentos e documentos, entendendo monumento como “tudo aquilo que pode evocar o passado, perpetuar a recordação”, conforme assinala Le Goff (2003, p. 526). Os primeiros espaços da Instituto Senhor do Bonfim e do Santíssimo Sagrado Sacramento das Sacramentinas, que hoje infelizmente foram descaracterizados e estão a serviço de outros órgãos públicos, são monumentos que evocam um passado quase distante do cotidiano. Porém, evocam-no para aqueles que neles transitaram, que neles passaram momentos de suas vidas, demarcando as figuras de professoras desde o Pontilhão da Canavieira até o Povoado do Bagres em suas itinerâncias em salas de aula mesmo em escolas isoladas que eram fiscalizadas pelo Professor Joel Lopes Americano que muito se destacou na microrregião no espaço educacional de Jacobina, Morro do Chapéu à cidade de Irecê que, mesmo com suas observações pontuais e “arrogantes”, já sinalizava um compromisso com o bem público. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Esse processo de Escolarização em massa da população brasileira, nas décadas de 1930 a 1950 respectivamente, implementado por intelectuais de destaque na Política Baiana como: Isaías Alves, Anísio Teixeira e Góes Calmon, no contexto escolanovista, foi parte do Projeto de Construção de uma Nação Brasileira sobreposto ao País real, que esses agentes consideravam atrasado e ultrapassado, em contraste com os países da Europa Ocidental e o emergente e pujante Estados Unidos da América do Norte. Um pouco da história: cenário pedagógico e entorno Para compreendermos melhor esse processo histórico, é necessário fazer um recorte e retornar ao período anterior à implantação da Escola Normal, para registrar a sua instalação em Jacobina e Miguel Calmon – espaço que funcionou enquanto laboratório das Normalistas do Instituto Senhor do Bonfim. Contudo, ao conhecer um pouco sobre a sociedade da época, as classes sociais e as elites dominantes de ferroviários e comerciantes de minérios que influenciaram de forma expressiva as decisões em “buscar” a permuta do Instituto para a cidade de Jacobina e como receberam as concepções desse povo em torno da educação , da professora normalista que já se manifestava em todo país como um elemento transformador de ideias de moças de família. Nesta condição, vislumbra-se a presença de Escolas em cidades onde a Ferrovia da Leste Federal era instalada sendo formadora de opinião e influenciando o progresso da cidade. Tiveram na sua criação a função de resolver o problema da improvisação da “formação inicial” para o aceleramento da urbanização desses espaços, promovendo um desenvolvimento social e econômico referendados pela presença de ferroviários, os quais contribuíram com as suas influências para a fundação desses Institutos de educação. Nesse sentido, utilizando a metáfora da jaula para fazer analogia ao ensino no espaço das escolas confessionais em conventos e escolas laicas ditas “isoladas” na microrregião de Jacobina e Miguel Calmon e, na tentativa de elencar as verdadeiras pessoas que são as “testemunhas” da história da educação em nosso município e que podem através de seus depoimentos levantarem juízo de valor pelo pleito da encampação das escolas normais. Ao investigar o acesso ao Instituto é importante mencionar a “prova de admissão” - considerada um “bicho papão” da educação, pois era muito “difícil” e funcionava como um seletivo excludente que em outros momentos deixava lacunas expressas para as indicações dos famosos pistolões da atualidade para beneficiar “aquelas” filhas de famílias abastadas que tinham “privilégio” de contar com a ajuda de professores particulares para tal empreendimento. Em relação à formação acadêmica e profissional da mulher, nos idos de 1940, o fato de ingressar no Instituto alcançava o estatuto de cumprimento de um rito de passagem. “Rito” esse dos mais significativos na vida das meninas, pois o sucesso obtido pela distinção em ser uma normalista do Instituto de Educação, já representava para muitas moças, principalmente aquelas oriundas das classes média baixas, a 117 Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário certeza do ingresso no magistério público, viabilizando uma carreira bem vista pela sociedade e um futuro promissor. Nesse viés de uma história que não se encontra registrada nos arquivos da escola, mas registrada na memória e na vida de normalistas que figuraram nas escolas com olhar de um retrato mais amadurecido pelo tempo, acredita-se que é a vida cotidiana sendo resgatada, analisada e registrada, como pretende a História Cultural, interessada por toda a atividade humana e, por isso, acabou por ampliar o campo do documento histórico, numa verdadeira revolução documental. Para Le Goff (2003, p.531): Essa revolução é, ao mesmo tempo, quantitativa e qualitativa. O interesse da memória coletiva e da história já não se cristaliza exclusivamente sobre os grandes homens, os acontecimentos, a história que avança depressa, a história política, diplomática, militar. Interessa-se por todos os homens, suscita uma nova hierarquia mais ou menos implícita dos documentos. (LE GOFF, 2003, p. 531). Parte-se do pressuposto de que, a escolha de uma profissão é baseada na vocação, no orgulho próprio, no desejo de “ser” alguém na vida, uma possível garantia de ascensão social, mas depende de condicionamentos sociais mais profundos. Nesse processo de escolha, o orgulho leva ao esquecimento de outras influências possíveis. O intuito desse trabalho é sistematizar as experiências/vivências das exnormalistas: Alzira Inocência, Iolanda Dias Rocha, Irene Cardoso, Carmen Lima e Lolita Vieira Bello, Maria de Lourdes Magalhães, Helena Magalhães. Estas duas últimas são calmonenses, dentre outras que, em seus espaços de docência, traziam as marcas de sua Identidade, assim as mesmas encontram-se gozando de saúde e se dispuseram a relatar passagens de suas histórias de vida no magistério no contexto da Formação e do movimento biográfico no campo de narrativas orais com dimensões voltadas para a socialização de saberes constituídos na relação do sujeito e sua vida na Escola Normal Rural. Ratifica se, assim, a afirmação dada anteriormente de que os espaços em que o Instituto Senhor do Bonfim funcionou inicialmente possuem uma significação para os que nele transitaram enquanto alunos, professores, funcionários e direção, especialmente o segundo espaço que veio caracterizar um espaço rural de qualidade e de oportunidade às mocas de famílias de menor poder aquisitivo. Tal assertiva enquanto verdadeira tem no movimento da escola normal uma enorme profusão de abordagens que necessitam ser registradas como histórias de vida, pois pelo olhar destinado a vida e a pessoa do professor vem ser objeto de investigação e ressignificação de seus caminhos pedagógicos. Histórias das normalistas no contexto da educação Neste contexto, tanto para os professores no exercício da docência, quanto para os alunos envolvidos no processo de ensino e de aprendizagem, o espaço rural pode ser considerado como um “lugar aprendente”. Embora, há um tempo atrás, o discurso fosse o da educação como veículo de aprimoramento na mulher de seus atributos supostamente “naturais”, o acesso efetivo que começou durante a Idade Moderna e atingiu seu ápice no final do século XX, representou o primeiro passo de um processo de emancipação. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Segundo Aires, “a ausência da educação feminina pode ser explicada pela exclusão da mulher do processo educativo pelo menos até o final do século XVII, quase dois séculos de diferença em relação aos homens” (AIRES, 1981, p.190). Contudo, não podemos nos esquecer de que “na realidade, o fim último da educação era o de preparar a mulher para elevar seu nível de atuação no espaço doméstico, no cuidado do marido e filhos, não se cogitando que pudesse desempenhar, efetivamente, uma profissão assalariada” (ALMEIDA, 1998, p. 19). Nas considerações de Souza (2010, p. 26-27), a noção de “lugar aprendente” compreende [...] um lugar, através da rede de ações que ele favorece, através da atualização das redes de atores que o atravessam é “aprendente” porque permite produzir marcas do conjunto de relações que nele se estabelecem e, sobretudo, dos processos de passagem recíprocos entre saberes formalizados e saberes da experiência. A noção de “lugar aprendente” remete também às capacidades de ação coletiva dos atores e às ações de transformação desses mesmos atores. Ao passo que Gondar (2006), mostra que essa análise deve tentar sempre esclarecer outros fatores: Não basta supor que a memória dá forma e conteúdo à identidade de um “eu”, de um grupo, sociedade ou nação. Admitir a relação de forças entre memória e esquecimento implica admitir o quanto essa grande abstração chamada “identidade” é ficcional, o quanto ela implica numa escolha política — ou “orgulhosa” —, o quanto ela se deve aos nossos interesses práticos. Não podemos falar de memória, articulando-a a identidade, sem inseri-la num afrontamento de forças/estranhamento e sem levarmos em conta que a memória é, antes de mais nada, um instrumento de poder (2000, p. 37). A afirmação de Simone de Beauvoir (1975, p. 9): “ninguém nasce mulher, torna-se mulher”, é precisa para a compreensão do significado de gênero. Mesmo sendo um termo polissêmico, os “estudos de gênero” apontam para uma perspectiva relacional entre mulher e homem, uma construção sociocultural e política das identidades feminina e masculina. E a escola ao longo da história, através de múltiplos mecanismos, vem inscrevendo marcas distintivas sobre os sujeitos, tornando-os “dóceis e úteis” a um determinado propósito. Ao investigar o acesso ao Instituto pelas normalistas, observamos que era cenário que abordou a condição da mulher numa perspectiva de dependência e submissão feminina. Ao nos reportarmos a essa época, observamos a clara associação entre o discurso cívico-militar que propaga a idéia de ordem e disciplina às imagens religiosas, contribuindo para forjar uma representação da educadora identificada como uma criatura abnegada e imbuída da nobre e árdua tarefa de educar os futuros cidadãos e assim contribuir para o progresso da Pátria. Além de falhas no sistema avaliativo que perduraram por muito tempo como o velho Matatias, que obtendo no fim do ano o primeiro lugar “por saber”, o título lhe foi negado por motivo de cor, sendo o seu colega branco, agraciado, ou seja, premiado e recebendo todas as vantagens e as promoções que foram negadas ao estudante negro”. Apesar disso, é importante mencionar que, a escola funcionava das 08 as 12 e 119 Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário das 13 às 16 horas. Já funcionava em horário integral e fazia uso de certos instrumentos como: o uso da palmatória - na fala de Maria de Lourdes percebe-se esse rigor – turma 1947 - justificava-se: era o ensino à base de “a letra com sangue entra”!”. Era a maneira de ensinar a aprender batendo nas mãos ou como se dizia, dando “bolo” em quem não respondia certo, até sangrar as mãos; porque não só existiam alunos inteligentes ou estudiosos, mas também outros “rudes” ou desprovidos de inteligência. No discurso da ex-normalista, percebemos a validade do regime disciplinar como uma honra um mérito a ser conquistado, desta forma, correspondia à aplicação do chicote ou férula pelos romanos. Na escola o regime disciplinar fazia analogia ao militarismo e as artimanhas dos docentes no que tange ao modelar comportamentos. Há um enfoque que vislumbra a divisão de salas por sexo, pois nas escolas destinadas as meninas, das professoras Maria Umbelina e sua prima Rosa Alves de Araújo, Berta Brasília Torres de Castro, Maria Lavina Correia de Vasconcelos de Messias Moreira. Assim, na fala de Alzira Inocência - turma de 1946 - observamos: Cada família tinha uma professora para suas filhas demarcando um privilégio de assistência individual. Em relação ao ensino de língua há referências até ao Francês. Desta forma, as classes eram separadas, meninas de um lado, meninos de outro. Na hora da “sabatina” – técnica de ensino da época – havia o debate entre alunos de ambos os sexos, só a junção nessa etapa. Na entrevista da professora Carmen Lima, ela se reporta ao aos dias letivos e faz menção aos sábados: As sabatinas eram exercícios escolares passados ordinariamente para o Sábado (daí o seu nome) e constavam de recapitulação das matérias dadas num certo período de tempo... Nas construções a respeito das teorias e sobre as práticas educativas desenvolvidas no Colégio Sagrado Sacramento , dirigido pelas Religiosas do Santíssimo Sacramento – Irmãs Sacramentinas - instalado na cidade de Senhor do Bonfim, no Estado da Bahia, no período de 1936 e de sua transição para a cidade de Jacobina sob a inspeção do Professor Deocleciano Barbosa de Castro, que ao instalar uma escola particular naquela cidade não obteve êxito e por iniciativa de uma comissão constituída por Dr. Amarílio Benjamin, Amado Barberino (comerciante), Profº Adonel Moreira, Francisco Brito, Inemésio Lima na Sociedade dos Artistas Jacobinense, localizada na rua dos Humildes veio ser implementada na cidade de Jacobina para atender a microrregião e por esta cidade ter um potencial aurífero em destaque naquela época. Contribuição da Formação para a prática docente Nos depoimentos de Ex-normalistas Maria de Lourdes, Carmem Lima e da Professora Lolita Vieira Bello, nota-se que a educação não mudou tanto assim: Quanto mais conhecimento, mais qualidade era fator de distinção entre as normalistas se destacaram pela sua inteligência na comunidade “eram detentoras do saber.Enquanto hoje os alunos não possuem os estudos com Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ os conteúdos de antigamente e nem ampliam nossa visão e vão e não levam a escola nenhum sonho ou anseios. (Entrevistada A – turma 1943). Eu queria estar inserida, para ajudar este tipo de educando, em que a maioria são excluídos dessa sociedade de oportunidades, e a educação é um campo de direito que a gente tem. Eu queria ter conhecimento das políticas, das formas de trabalho, para poder aplicar em minhas aulas, fazendo um trabalho mais consistente. (...). Eu gostava muito de ir até a lousa ... era motivo de orgulho mas os meus alunos já se apresentavam com vergonha e receio em ir dizer o que sabiam... (Entrevistada da turma de 1958). Observamos uma rápida lógica ao realizar uma breve analogia, percebemos que, os conhecimentos e a concepção de aprendizagem pelas normalistas estavam centrados em normas disciplinares. Assim, no decorrer de sua entrevista, mesmo com seus 84 anos,a ex- normalista se apresentava de forma lúcida e preocupada com os meus registros, pude ver que era e é uma mulher especial pois a sua paixão pela formação não se esgotara com o tempo e possui uma visão divergente de seus pares da época, mesmo estando em um período de 12 anos sem poder se locomover. Neste estudo sobre a encampação do Instituto Senhor do Bonfim de Jacobina pelo Estado da Bahia no período 1938-40, há uma inserção da História das Irmãs Sacramentinas no contexto de uma época em que a sociedade brasileira e baiana, de modo geral, via como destino natural da mulher o ser mãe, esposa e dona de casa. O desenvolvimento da pesquisa e a interação com estudos que tratam da educação feminina fizeram emergir a questão de gênero. A educação formal, por meio de regras, atitudes trabalhadas, valores passados, torna-se um espaço privilegiado no processo de estabelecimento da identidade de gênero. Nesse sentido, fazemos referência a análise de Roger Chartier (1990, p.73) que valoriza o modo como a cultura se faz constituída na visão cultura da mestra, a cidade que se apresentava nesse momento era constituída de umas poucas ruas e travessas. Do até hoje existente essa organização geográfica permitiu que as normalistas atravessassem a cidade com seus trajes característicos para vislumbrar todos os passantes e moradores que ficavam encantados, pois eram uma clientela “de boas referências” garantia de moças de boa índole e bem preparadas para a vida e para viver um matrimônio. Tais normalistas tinham a obrigação e a “nobre função” de garantir a instrução de futuras gerações; eram consideradas grandes depositárias de sonhos e o progresso a esperança estavam embutidos nesse percurso de controle social. Algumas prerrogativas atestam que as professoras formadas pelo Instituto em sua maioria acabavam destinando-se as cadeiras de escolas do município e região, com a incumbência de desenvolver uma ação pedagógica docente imbuída dos princípios/discutidos na sua formação. Em se tratando do trabalho educativo, percebemos que, o “fazer pedagógico” das normalistas pode ser verificado na sua formação teórica e em suas práticas pedagógicas considerando o significado do trabalho do professor e também pela finalidade da ação de ensinar, para tanto é preciso considerar o conteúdo concreto efetivado através de uma prática pedagógica consciente. Busca-se com o trabalho Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 121 didático-pedagógico previsto na prática das normalistas que fica claro na anotação/registro no texto da professora que estudou no mesmo Instituto ingressando na turma de 1950, enquanto professora do Instituto, portanto dona de uma “cadeira”, o que significava ascensão social legitimada. Ao focalizarmos as práticas educativas das docentes da década, elencando as possíveis contribuições dos trabalhos de autodidaxia rememorativas frente á formação identitária desse sujeito que outrora se apresentava enquanto leitor com identidade social definida e com base nas histórias e ou narrativas autobiográficas das mesmas. Visto que, na sociedade disciplinar, o mestre era considerado o portador de saberes, que são passados aos alunos, através da sua prática pedagógica. Mas também é reverenciado como aquele através de quem se pode obter o maior número possível de informação sobre o aluno. Quem é capaz de extrair do aluno o saber que ele possui, para em cima desse saber, poder trabalhar, poder adestrá-lo. Vale lembrar que, para Foucault (1987, p.160): O exame está no centro dos processos que constituem o indivíduo como efeito e objeto do poder, como efeito e objeto do saber. No entanto, as estudantes da Escola Normal eram consideradas como moças de moral e reputação autorizadas e estavam vinculados a moças de cujos atributos eram específicos das alunas da escola normal. E quando essas moças de família tiveram que adentrar o espaço da Roça no intuito de fortalecer e “ajudar” o homem da roça a se “civilizar” ou ficar culto/letrado no sentido de se ousar, indo ensinar nos espaços ou embrenhados no sertão ou nas “roças” no interior da Bahia, enfrentando as dificuldades de acesso, as distâncias, pois às vezes tinham que residir nas casas de pessoas de “poder” ou influentes na política local, além de serem consideradas pelas pessoas nesses espaços como detentoras de poder. No tocante a presença masculina, passou a trabalhar no Instituto Senhor do Bonfim de Jacobina e isso em virtude da especificidade de certas disciplinas do núcleo comum do seu currículo. Segundo a ex-normalista Maria de Lourdes: na época, aqui em Jacobina, era difícil visualizar um professor homem dando aula, porque existia uma questão dos próprios pais que não queriam que as filhas estudassem com professores homens.Inclusive, os homens que lecionavam para nós, a exigência era que tivessem vínculos com a cidade e “compromisso com o outro “ uma moral –conduta elevada ou eram padres ou médicos ou mesmos os advogados. Tomou-se a Escola Normal Rural de Jacobina como uma instituição disciplinar, em virtude da forma de condução da mesma, do tipo de professor que ali se gestou e das formas de relações de forças e de resistência que nela se estabelecera, pois o público de alunos era restrito a moças de família ou de pessoas que já tinham consciência do valor da educação na vida do homem. Em uma das passagens de seus escritos a ex-normalista Alcira Pereira em seu Livro Jacobina (2000), descreve assim os exames de admissão realizados no Instituto Senhor do Bonfim: Os exames eram feitos por pessoas da cidade, juiz, promotor... Esses é que eram os examinadores. Eu tinha um medo danado dos meus não aprenderem porque o exame era feito por inspetores como Joel Americano – que representava o Governo e faziam várias perguntas que hoje sei que não eram adequadas ao que era trabalhado por nós na classe. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ É pertinente reafirmar que as normalistas já tinham uma ideia de como se projetava o ensino no futuro, pois não aceitavam caladas as rápidas invasões em salas de aula que eram feitas pelos inspetores que faziam um trabalho de fiscais de aula, sem considerar a validade do processo. Creio ser de grande valia comentar que, nessa linha de pensamentos, buscamos nos aproximar das lembranças/memórias de como as professoras/normalistas construíram seu processo identitário no período de 1940 -1950 em Jacobina com base em três pontos principais: narrativas biográficas, processo formativo e memórias de ex-normalistas sempre observando as marcas e as ressignificações das ações. Ao considerarmos que essa análise das forças que se afrontam na formação da escolha e da memória das normalistas com relação à sua escolha profissional, as memórias e ao seu processo formativo focalizando as práticas instituídas e a identidade desse sujeito formado no espaço da escola normal. Acreditamos ser pertinente nessa investigação que, a memória será utilizada como forma de ressignificar as ações do presente, com vistas ao passado, na busca de compreender as Histórias de vida e juízo de valor sobre a identidade das normalistas na instituição, a profissão docente, o discurso, as práticas pedagógicas que ficam vinculadas á sua vida como forma de prestigiar as responsáveis. Referências BORDIEU, Pierre. A dominação masculina. Educação e Realidade. Porto Alegre, n. 20, ano 2, p. 133-134, jul/dez, 2000. 123 BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembranças de velhos. 3. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9394, Brasília, 1996. CATANI, Denice; BUENO, Belmira; SOUSA, Cynthia; SOUZA, M. Docência, Memória e Gênero estudos sobre formação. 4ª ed. São Paulo: Escrituras Editora, 2003. HALBWACHS, M. A Memória coletiva. Trad. de Laurent Léon Schaffter. São Paulo, Vértice/Revista dos Tribunais, 1990. JOSSO, Marie-Christine. Experiências de Vida e Formação. Tradução José Cláudino e Júlia Ferreira. São Paulo: Cortez, 2004. LOPES, Alice Ribeiro Casimiro. Organização do conhecimento escolar: analisando a disciplinaridade e a integração. In.: MAZZOTTI, A. J. et al. Linguagens, espaços e tempos no ensinar e aprender. 2 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário MENEZES, Jaci Maria Ferraz de. Educação na Bahia: tecendo memórias. Cadernos IAT, Salvador, v.1, n.1, pp. 49/68, dez. 2007. MENEZES, Jaci Maria Ferraz de (Org.) Educação na Bahia - Coletânea de textos. Projeto memória da educação na Bahia. Salvador: Ed. da UNEB, 2001. MOITA, Maria da Conceição. Percursos de formação e de trans-formação. In: NÓVOA, António (Org.). Vidas de professores. Lisboa: Porto. 2000, pp. 111-139. MONTAGNER, Rosângela. “Lá encontrei pela primeira vez a professora... era uma dedicação incansável”. In: OLIVEIRA, Vânia Fortes de. Magistério: profissão feminina? In: OLIVEIRA, Valeska Fortes de (Org). Imagens de Professor: significações do trabalho docente. Ijuí: Ed UNIJUÍ, 2000, pp. 197/216. NASCIMENTO, Maria José de Carvalho. O (des) prestígio da normalista e as relações de gênero no cotidiano do Instituto de Educação do Rio de Janeiro. 1994. 272f. Dissertação (Mestrado em História), Universidade Federal Fluminense, Niterói. NEVES, F. M. História da Educação no Brasil – considerações historiográficas sobre a sua constituição. In: NEVES, F.M; RODRIGUES, E; ROSSI, E. (Org). NOSELLA, Paolo; BUFFA, Ester. História e Filosofia de Instituições Escolares: avaliação de uma linha de pesquisa. In: _______. Cultura Escolar e História das Práticas Pedagógicas. Paraná: Universidade Tuiuti, 2008, pp. 13/31. NORA, Pierre. “Entre Memória e História: a problemática dos lugares”, In: Projeto História. São Paulo: PUC, n. 10, pp. 07-28, dezembro de 1993. NÓVOA, António. Vidas de professores. Porto: Porto Editora, 2000. _______. A formação tem que passar por aqui: as histórias de vida no projeto Prosalus. In: Nóvoa, António e FINGER, Mathias. O método (auto) biográfico e a formação. Lisboa. 1988. SOUZA, Elizeu Clementino de – História de vida e prática docente: desenvolvimento pessoal e profissional. In.: Revista da FAEEBA. Salvador, n.º 16, pp. 169/178, jul./dez., 2001. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ REPRESENTAÇÕES DE ESTUDANTES DE LICENCIATURA DA UEFS SOBRE SABERES NECESSÁRIOS À DOCÊNCIA Taiara de Lima Silva Brandão SANTOS (Universidade Estadual de Feira de Santana); Adriana de Oliveira SOUZA (Universidade Estadual de Feira de Santana); Aline dos Santos SOUZA (Universidade Estadual de Feira de Santana); Antonio Roberto Seixas da CRUZ (Universidade Estadual de Feira de Santana) RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre as representações de estudantes de licenciaturas da UEFS sobre os saberes necessários à docência. Visto que a formação de professore é um tema que tem se destacado nos debates acadêmicos, isto porque é visível as constantes mudanças do papel desses profissionais no processo de ensino-aprendizagem. Como metodologia utilizou-se a entrevista semi-estruturada, a análise de conteúdo do tipo temática (BARDIN, 1977). O estudo evidenciou que os estudantes representam importante a aquisição dos saberes próprios à docência, entre eles a possibilidade do professor adotar a pesquisa na sua prática cotidiana. PALAVRAS-CHAVES: Formação de professores. Saberes Docentes. Representações Sociais. 125 1 Introdução Atualmente, tendo em vista as inúmeras expectativas sociais em torno da escola, busca-se redesenhar o formato educacional, principalmente no que se refere ao saber fazer docente. Nesse sentido, as discussões sobre a formação de professores emergem numa visão renovada, que questiona a racionalidade técnica e considera a identidade profissional do professor e os saberes que esse necessita dominar para desenvolver seu trabalho. Nessa perspectiva, as novas exigências para o profissional da educação são de ordem de formação qualitativa. O professor anteriormente era visto como um detentor do conhecimento. Sua função básica era ministrar aulas numa perspectiva de mera reprodução de saberes, sendo os alunos receptores de conhecimentos cristalizados. Nesse sentido, bastava ao docente dominar os conteúdos específicos da disciplina ministrada por ele. Porém, mediante às teorias educacionais emergentes, exige-se desse profissional diversos tipos de saberes para que atenda às demandas da complexidade do ensino. Veiga (2008) considera que a docência de qualidade requer uma formação pela qual o professor adquira os conhecimentos específicos e habilidades para a sua prática. Além disso, a autora elenca outros aspectos concernentes à profissão docente, como pode ser visto a seguir: Outra característica da docência está ligada a inovação quando rompe com a forma conservadora de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar; reconfigura saberes, procurando superar as dicotomias entre conhecimento cientifico e senso comum, ciência e cultura, educação e trabalho, teoria e prática etc.; Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário explora novas alternativas teórico-metodológicas em busca de outras possibilidades de escolha; procura renovação da sensibilidade ao alicerçarse na dimensão estética, no novo, no criativo, na inventividade; ganha significado quando é exercida com ética (VEIGA, 2008, p. 14). Conforme pode ser visto no excerto, um dos pontos que Veiga (2008) destaca trata-se da questão da inovação, com vistas à superação da prática docente conservadora. Desta maneira, a pesquisa emerge como um dos elementos primordiais no processo ensino-aprendizagem. Segundo Demo (2007), neste processo é importante uma formação permanente para este profissional, que o ajude na realização de um trabalho de qualidade. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é compreender, a partir das representações de estudantes da UEFS, a importância da formação inicial na construção da identidade docente. Para fundamentar nossas discussões, tomamos alguns conceitos como fundamentais: saberes na construção da identidade profissional, formação de professores, representações sociais e sua influência na educação. Este texto é resultante de uma pesquisa já finalizada pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa em Pedagogia Universitária (NEPPU), do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) formado por professores pesquisadores, mestres e doutores na área de educação e por bolsistas de Iniciação Científica, que apresentam contribuições às pesquisas, por meio dos seus respectivos planos de trabalhos, e teve como sujeitos 25 estudantes das licenciaturas da UEFS (Matemática, Biologia, Pedagogia, Letras, Fisíca, Educação Fisíca, História e Geografia), matriculados no penúltimo semestre, que, voluntariamente, aceitaram participar da investigação. Os dados foram coletados e produzidos, utilizando-se como instrumento a entrevista semi-estruturada. Segundo Lüdke e André (1986, p.34), “tal instrumento permite correções, esclarecimentos, e adaptações que a tornam sobremaneira eficaz na obtenção de informações desejadas”. Para o tratamento dos dados, utilizamos a análise de conteúdo de tipo temática (BARDIN, 1977), visto que essa análise possibilita uma melhor compreensão das representações sociais dos estudantes sobre o objeto estudado. Essa técnica é bastante utilizada nas pesquisas sobre representações sociais, principalmente aquelas cuja perspectiva está centrada na identificação dos seus conteúdos. No que diz respeito às representações sociais no campo da educação, é interessante afirmar que são elementos imprescindíveis para análise e discussão de elementos que interferem na qualidade e eficácia do processo educacional por suas relações com o imaginário social, com a linguagem, valores e por sua função de orientadora de condutas e práticas sociais. Nesse sentido, a Teoria das Representações Sociais pode contribuir significativamente, uma vez que as representações podem possibilitar o conhecimento visando à compreensão de uma realidade que seja comum a um grupo. De acordo com Gilly (1989 apud MAZZOTTI, 2008), por meio das representações, podemos compreender os fenômenos macroscópicos como posturas e relações de pertencimento social na escola, a forma como os educadores compreendem seu papel. Além disso, através das representações podemos entender os fenômenos microscópicos que dizem respeito às relações e processos estabelecidos na sala de aula, entre outros. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Portanto, entender as representações sociais é de fundamental relevância, pois por serem meios específicos de se compreender e comunicar o que o sujeito sabe sobre um objeto e uma maneira de abstrair sentido do mesmo (MOSCOVICI, 2003). Assim, é possível analisar, compreender e discutir sobre os fenômenos, mecanismos que fazem parte e interferem numa dada realidade como, por exemplo, no contexto educacional e, além disso, mediante o estudo sobre as representações sociais pode-se compreender as condutas e práticas sociais de um determinado grupo. 2 Importância dos saberes docentes na construção da identidade profissional No processo de formação, o docente depara-se com demandas e necessidades de aquisição de saberes diversos para o desenvolvimento de sua prática profissional, bem como o entendimento sobre quais são os conhecimentos que devem servir de base para o desenvolvimento da sua profissão (TARDIF, 2002). Desta maneira, os docentes, frente a todas essas demandas constantes por construção de novos saberes acabam por não estar suficientemente “preparados para acompanhar a vertiginosa explosão dos conhecimentos em todos os campos, tanto no que diz respeito à produção quanto ao ensino” (SOBRINHO, 2009, p. 19). Tais elementos alteram visivelmente o campo da docência, bem como o processo de construção da identidade dos professores. Neste sentido, é preciso que este “domine saberes próprios da docência, a citar os saberes da disciplina, saberes curriculares e saberes da experiência, sempre tendo em mente que estes saberes variam no tempo e no espaço” (CUNHA, 2009, p. 175), pois, “os saberes profissionais são plurais, compostos e heterogêneos... bastante diversificados, provenientes de fontes variadas, provavelmente de natureza diferente (TARDIF, apud CUNHA, 2009, p. 178). No que se refere à identidade, esta é entendida aqui não como algo estático e que não sofre alteração ao longo do tempo, mas, como algo que acontece durante um processo que levará a construção do sujeito historicamente contextualizado, algo que é formado ao longo do tempo como podemos observar na fala de Hall (2005, p. 38) 127 Assim, a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no momento do nascimento. Existe sempre algo “imaginário” ou fantasiado sobre sua unidade. Ela permanece sempre incompleta, está sempre “em processo”, sempre “sendo formada”. Neste sentido a partir do excerto podemos observar que a identidade docente também passa por um processo constante de amadurecimento, a qual está o tempo todo também sendo formada, neste sentido conforme afirma Pimenta (2009, p. 43): A profissão de professor exige de quem a exerce alteração, flexibilidade, imprevisibilidade. Não há modelos ou experiências modelares a serem aplicadas. A experiência acumulada serve apenas de referência, nunca de padrão de ações com segurança de sucesso. Assim, o processo de reflexão, tanto individual como coletivo, é a base de sistematização de princípios norteadores de possíveis ações e nunca modelos (PIMNTA, 2009, p. 43) Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário Podemos inferir, assim, que no processo de construção da identidade docente há uma necessidade constante de reflexão, bem como consciência crítica sobre o trabalho docente, este por sua vez, para que se desenvolva de maneira satisfatória requer que aqueles que atuam no processo dominem os saberes necessários. Além disso, a que se levar em consideração que o saber docente “*...+ não é algo que flutua no espaço: o saber dos professores é o saber deles, e está relacionado com a pessoa e a identidade profissional, com as suas relações com os alunos em sala de aula e com os outros atores *...+” (TARDIF, 2002, p. 11). Faz-se necessário ainda que o professor tenha consciência sobre a importância da compreensão de sua identidade. De acordo com Soares (2009), [...] O desenvolvimento profissional implica uma disposição interna e uma postura do professor, de busca permanente de crescimento pessoal e profissional, disposição de refletir coletivamente sobre as práticas, atitudes e crenças individuais e coletivas, abertura para mudança (p.92). Neste sentido, qualquer mudança que se proponha é importante que haja reflexão por parte dos sujeitos sobre seu processo identitário. E é nesse processo que se faz necessária, aos futuros professores, a construção de saberes próprios da docência para o desenvolvimento de uma prática pedagógica respaldada em explicações teóricas bem como com fins esclarecidos. Para Tardif (apud Rios, 2009, p. 122), o professor [...] É alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências da educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em sua experiência cotidiana com os alunos (p. 122). Os saberes nesse sentido atuarão como fonte da teoria, pois, “A teoria como cultura objetivada é importante na formação docente, uma vez que, além de seu poder formativo, dota os sujeitos de pontos de vistas variados para uma ação contextualizada” (PIMENTA, p.26, 2010). 3 Formação de professores Atualmente, há muitas expectativas em torno da escola, pois, acredita-se que o progresso das sociedades está diretamente vinculado à qualidade da educação no âmbito desta instituição, e por isso também à formação inicial e continuada de professores, uma vez que eles são concebidos como elementos imprescindíveis no processo de educação formal. Para que ocorra a tão propalada qualidade do ensino, é importante que haja a busca pela profissionalização docente, que passa pela formação inicial dos professores. Atualmente, há muitos discursos sobre a questão da profissionalização docente, que estão centrados na necessidade do educador desenvolver competências profissionais embasadas nos saberes acadêmicos e disciplinares. De acordo com Ramalho, Nuñhez, Gauthier (2004) esse seria um “modelo formativo” que traz aspectos do racionalismo técnico e da formação acadêmica tradicional. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Nessa concepção de formação, o professor seria mero receptor dos saberes produzidos por especialistas. Haveria o exercício para aquisição de habilidades, conteúdos fragmentados que não atendem à realidade do educador. Além disso, o ensino estaria distante do trabalho na escola básica, o que denota a cisão entre teoria e prática. É importante destacar que esse modelo formativo vai de encontro à proposição feita no Decreto Nacional de Formação de Profissionais do Magistério e da Educação Básica que no seu Art. 2°, inciso V ressalta a necessidade da articulação entre a teoria e a prática no processo de formação docente contemplando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (BRASIL, 1999). O modelo hegemônico de formação desvaloriza o educador, uma vez que este é tido como alguém que não é capaz de refletir e produzir conhecimento. Sobre esse aspecto Pimenta (1999) afirma que há uma desvalorização do profissional docente visto que existem concepções que o considera um técnico, reprodutor de conhecimentos e/ou executor de programas pré-elaborados. Conforme Imbernón (2010) salienta, o professor precisa mudar sua concepção de mero transmissor de conhecimentos, para uma concepção de educação que vise a formação de cidadãos conscientes na nova sociedade. Nessa lógica, as instituições de formação de professores, além de serem espaços onde o educador aprende aspectos relacionados aos saberes pedagógicos, devem passar a ser, também, um local em que haja a manifestação da vida em toda sua complexidade. Nóvoa (1999) destaca a necessidade de se pensar e construir um novo modelo teórico de formação docente que abarque o desenvolvimento pessoal e profissional dos professores. A formação iria valorizar a experiência do educador como estudante, como estagiário, como professor iniciante, titular e reformado. Sobre essa questão da valorização docente, o Decreto Nacional de Formação de Profissionais do Magistério e da Educação Básica coloca em seu Art. 3°, inciso V que na formação inicial e continuada deve haver a valorização do educador estimulando-o para o ingresso, a permanência e a progressão na carreira (BRASIL, 1999). Para Ramalho, Nuñuz, Gauthier (2004), esse seria o “modelo emergente de formação” que considera o professor como um profissional que mobiliza saberes, valores, resolve situações problemas e tem a capacidade de argumentar e refletir. Nesse sentido, a formação estimularia no educador a prática do pensar críticoreflexivo. No que se refere à prática do professor reflexivo, Schön (1997) afirma que: [...] um professor reflexivo permite-se ser surpreendido pelo que o aluno faz [...] reflete sobre esse fato, ou seja, pensa sobre aquilo que o aluno disse ou fez e [...] procura compreender a razão por que foi surpreendido [...] reformula o problema suscitado pela situação [...] efetua numa experiência para testar a sua nova hipótese [...]. Este processo de reflexão-na-ação não exige palavras (p. 83). É importante salientar que essa reflexão do professor sobre sua ação só será significativa se o educador avançar no sentido de uma nova prática, na qual a teoria, a reflexão e a crítica estejam articuladas. Portanto, é nesse sentido, principalmente, que está a necessidade de refletir sobre um modelo de formação docente que promova o Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 129 desenvolvimento do educador para que este possa contribuir para a transformação da sociedade. 4 Análise e discussão dos dados O estudo evidenciou que os estudantes representam que ao exercício da docência é necessário que o profissional da educação veja a pesquisa como importante alicerce para o seu desenvolvimento, bem como a construção dos saberes faz-se se necessário para o desenvolvimento de uma boa prática profissional. A partir das falas dos estudantes organizamos duas categorias de análise: saberes docente e pesquisa, que serão explicitadas a seguir. Demo (1995) considera a pesquisa como princípio educativo. Para o autor é a partir da pesquisa que a prática de ensino nas universidades dará lugar ao questionamento construtivo. Assim, a formação qualitativa é aquela que possibilita a construção da capacidade de questionar para agir criticamente: “O cerne desse processo educativo está no questionamento crítico e criativo, ou seja, na proposta emancipatória, por meio do qual se oportuniza o desdobramento do sujeito histórico competente” (DEMO, 1995, p.62). A primeira categoria pesquisa, os depoimentos dos estudantes entrevistados revelam que a pesquisa é considerada um aspecto que contribui para a formação e construção da identidade docente. Nesse sentido, alguns depoentes destacam que o contato com a pesquisa ajuda ao futuro professor a buscar e construir conhecimentos. Tal afirmação pode ser comprovada no seguinte depoimento: A pesquisa faz diferença no sentido de você está sempre buscando mais conhecimento, não estagnar, tá sempre pesquisando e buscando reforços para certas perguntas ou indicações, que você vai aperfeiçoando no que você faz. A pesquisa, de certa forma proporciona isso. (MR5- Estudante de Licenciatura em Letras Vernáculas) O estudante em questão destaca a importância da pesquisa ressaltando que através dela podem surgir questionamentos, indagações e busca de novos conhecimentos. Nessa perspectiva, Demo (1995) salienta que a pesquisa, é um elemento importante para os futuros professores, a importância de buscar conhecimentos, pois é preciso ser inovador, criativo para o desenvolvimento de uma prática pedagógica significativa. Em relação à pesquisa um dos estudantes revela que: [...] É através da pesquisa que a gente vai relacionar, fazer uma interação entre sujeito e objeto, desvendar muitas vezes aquilo que a gente tem dúvida, aquilo que não foi conhecido e produzir o conhecimento em cima dessas questões, dessas hipóteses. (MA13- Estudante de Licenciatura em Pedagogia). Para o depoente em questão, é através da pesquisa que o licenciando pode discutir e sanar suas inquietações, perceber a relação entre sujeito e objeto para que a partir disso possa haver a construção do conhecimento. Nessa lógica, Moreira e Caleffe (2008) destacam a relevância da pesquisa na ação educativa afirmando que o professor pesquisador pode conduzir, no contexto de sua prática profissional, a pesquisa, a qual pode ajudar a melhorar sua ação pedagógica, possibilitando o Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ desenvolvimento de novas estratégias de ensino. Além disso, o professor que pesquisa busca soluções para os problemas que afetam a aprendizagem do aluno. Outro elemento que aparece nos depoimentos dos entrevistados diz respeito à importância da pesquisa para o desenvolvimento da autonomia do educador em formação. Tal afirmação pode ser percebida na fala a seguir: Quando a gente se torna pesquisador à gente se torna mais autônomo no nosso aprendizado, quando a gente vai pesquisar a gente deixa de estar preso só ao que nos é orientado, só o que é passado em sala e aquilo aí pode dar margem para que a gente vá ler, pesquisa mais, busque mais de acordo com as nossas necessidades. Além de que, a pesquisa é o diferencial, a nossa capacidade de questionar e buscar as respostas para os nossos questionamentos podem ser um diferencial para a gente ter uma formação superior, mais embasada. MJ17- Estudante de Licenciatura em Educação Física O estudante em questão aborda que a pesquisa nos cursos de formação de professores possibilita a tais sujeitos o desenvolvimento da autonomia para questionar o que está posto, e a criticidade para buscar e construir conhecimento para além da sala de aula. Nesse sentido, Demo (1995) destaca que a pesquisa é princípio educativo no sentido da construção e participação. Assim, mediante a pesquisa deve existir o contato pedagógico com face política e educativa da escola e da universidade em que o sujeito deve ter autonomia para gerir o conhecimento e questionar a realidade. No que se refere ao primeiro aspecto os estudantes ressaltam que essa relação entre ensino e pesquisa é importante porque abre espaço para o pensamento que perpassa pelo construir e reconstruir, constante, proporcionando ao sujeito descobrir coisas novas, inovar e a transformar essas descobertas em novos saberes podendo levar esses conhecimentos e reflexões para sua própria prática pedagógica, pois assim o mesmo não a reduzirá a mera transmissão de conhecimentos acumulados, mas sim lançará mão dessa relação como um recurso para subsidiar uma prática pautada na inovação, mediação, e na troca do conhecimento com seus alunos. Tal concepção fica visível nos seguinte depoimento: [...] Eu tenho professores que me trazem a todo o momento na sala a realidade da pesquisa deles. A gente vê que ela traz aquela experiência da pesquisa dela para aula e essa relação de pesquisa e ensino a gente vê, como eu disse antes, em alguns professores daqui [...] (MW9-Estudante de Licenciatura em Pedagogia). Corroborando com essa idéia Lüdke (1994) destaca que seria muito importante que os futuros educadores tivessem em sua formação oportunidades de contatos com pesquisas e pesquisadores, que não fossem apenas repetidores de um saber acumulado e cristalizado, mas sim testemunhas vivas e participantes de um saber que se elabora e reelabora a cada momento, e em qualquer contexto. Para Demo (1996), a pesquisa tem um caráter diferencial que é o questionamento reconstrutivo o qual engloba relação teoria e prática, qualidade formal e política inovação e ética. Assim, o referido autor ressalta que o processo Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 131 educativo no âmbito acadêmico deve assumir como um dos elementos primordiais a pesquisa, como princípio científico e educativo, encarando-a como atitude cotidiana. Ainda referente ao primeiro aspecto outro elemento sinalizado pelos discentes em torno da relação ensino pesquisa diz respeito à qualidade que essa articulação vai está proporcionando ao processo de ensino na instituição superior, uma vez que a mesma possibilita ao sujeito uma formação mais crítica, tirando-o da condição de mero reprodutor de conceitos e teorias, tornando-o sujeito com pensamento independente. Isso pode ser ratificado no seguinte depoimento: Eu acredito que se houver uma interação entre ensino e pesquisa com uma colaboração, um incremento mútuo de conhecimento, eu acho que pode colaborar muito sim para a qualidade do ensino, eu acho que pode colaborar muito, eu não sei se seria apenas isso mas é um ponto imprescindível para o ensino superior (MM12- Estudante de Licenciatura em Matemática). Na perspectiva de Demo (1996), a pesquisa tem o poder de emancipação, pois tira o indivíduo da condição de objeto para a de sujeito. Assim, ao pesquisar, o estudante se defronta com novas realidades e situações que dão margem para diferentes posicionamentos com formulações de novas ideias, o que contribuirá, significativamente, para a elevação intelectual do indivíduo. No que diz respeito ao segundo aspecto há depoentes que acreditam que a relação entre ensino e pesquisa não é o suficiente para caracterizar a instituição universitária como superior, destacando que esta só assim seria caracterizada se houvesse de fato a indissociabilidade entre os três componentes da universidade (ensino, pesquisa e extensão). Na perspectiva dos estudantes, essa articulação pode estar proporcionando um retorno social, que se configura a partir do estabelecimento de uma estreita relação entre a universidade e a comunidade, de modo que a primeira traga contribuições para a transformação da segunda. Isso pode ser verificado nos seguintes depoimentos: Eu acho que teria que está ligado também a extensão. Porque eu acho que a pesquisa sem extensão não tem muito sentido. Desenvolvimento assim de Projetos... para levar esse resultado para fora da universidade. Você pode ver quando você elabora um Projeto de Pesquisa ou coisa do gênero é importante botar como isso vai ter um retorno, justificar só arquivado em relatórios de pesquisa acho que não vai ter muito sentido (RCG-1Licenciatura em Biologia). Não, porque tem que ter a extensão, né? Eu acho que é caracterizado como uma unidade superior quando tem como eu já falei o tripé, ou seja, o ensino, a pesquisa e a extensão porque a gente tem que tá tendo retribuições pra comunidade através de, como já falei, de palestras, de simpósios aonde estejam esclarecendo algumas dúvidas relacionadas ao diadia etc. (RCS3- Licenciatura em Biologia). Essa relação de ensino e pesquisa... sim, mais no meu pensamento falta um tripé que é a extensão, essas três palavras, ensino, pesquisa e extensão elas realmente devem ser vistas como ensino superior, é aquilo que eu falei anteriormente, a universidade precisa dar uma satisfação, e a extensão é que dá esse caráter do que se pesquisa na universidade, o que é que a universidade faz (ROE2-Estudante de Licenciatura em Geografia). Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Corroborando com essa idéia, Martins (2009, p.08) destaca que “a universidade deve retornar à sociedade o saber que dela se origina, mas numa busca incessante pela profunda compreensão da realidade que a comporta [...] viabilizando a relação transformadora entre a universidade e a sociedade”. E, de acordo com Tubino (1997), a universidade, para cumprir a sua função social, deve ultrapassar seu próprio território, buscando atender às necessidades culturais e sociais das comunidades próximas e distantes, por meio das suas atividades de extensão. Em relação à construção dos saberes necessários para exercer a docência, segundo um dos entrevistados faz-se necessário que o professor tenha conhecimento e domínio sobre a disciplina que leciona, pois segundo o mesmo isso facilita o processo de aprendizagem do aluno. Como pode ser visto na fala do estudante ML8, Estudante do Curso de: [...] A gente tem que ter o conhecimento, a gente não deve chegar e ensinar aquilo que a gente não tem segurança [...] mas a principio pra mim a regra principal é essa, é saber ensinar, ter segurança daquilo que você vai ensinar (ML8, Licenciatura em Letras com Francês). Outro depoente compartilha com essa mesma perspectiva do professor ter domínio do conteúdo. Segundo ele, é necessário o professor “*...+ ter o domínio dos conteúdos, ter boa comunicação com os alunos” (MA14, Estudante do Curso de Licenciatura em Letras Vernáculas), ainda colaborando com esta ideia outro estudante assevera: No que diz respeito à exigência da aquisição do saber docente enquanto reflexão do seu papel na promoção de uma aprendizagem de qualidade, a partir da consciência da valorização do conhecimento específico da sua disciplina, Abreu e Masetto (1997) discorrem: O papel do professor desponta como sendo o de facilitador da aprendizagem de seus alunos. Seu papel não é ensinar, mas ajudar o aluno a aprender; não é transmitir informações; não é fazer brilhantes preleções para divulgar a cultura, mas organizar estratégias para que o aluno conheça a cultura existente e criar cultura (ABREU; MASETTO, 1997, p.11). Neste sentido, os professores universitários precisam ter em mente que uma das suas principais preocupações é com a aprendizagem do discente, pois é necessário “sobretudo”, em ensinar seus estudantes a aprender e a tomar iniciativas, ao invés de serem unicamente fontes de conhecimento” (MASETTO, 2003, p.16). Outros elementos essenciais para o desenvolvimento da atividade docente são “*...+ os saberes pedagógicos” (RA2, Licenciatura em Matemática). Esses saberes que englobam a base teórica para o desenvolvimento da prática rotineira dos professores [...] Acho interessante a questão dos saberes pedagógicos principalmente da psicologia aplicada à Pedagogia. Acho que é um saber que todo professor tem que instrumentalizar bastante pra lidar com sala de aula porque muitas vezes não basta você ter o conhecimento específico da história, você chega na sala de aula e não tem condições de aplicar. Porque trabalhar com Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 133 alunos... você tem que criar uma motivação que não, que acho que ultrapassa o saber específico. Aí você precisa instrumentalizar com esses outros saberes (AC2, Licenciatura em História). A partir da fala do depoente podemos inferir que há uma necessidade do professor dominar não somente os saberes específicos da sua área de atuação, mas também outros tipos de saberes, mas de acordo com Barros (2008, p. 03), O saber pedagógico contribui para o desenvolvimento dos aspectos pessoal e político de professores e alunos, favorece a formação global do individuo contribuindo assim, de forma significativa para a construção de uma prática docente eficiente. Dessa forma o professor formador precisa ter consciência da importância do seu papel na construção desse saber. Entretanto, outro depoente aponta para a necessidade dos professores terem também domínio de outros saberes, não só os ligados à sua área de atuação, “Além do conhecimento específico da minha área [...] então eu tenho que ter saberes, além dos saberes específicos do meu conhecimento, saberes de outras áreas da educação (ROE2, Licenciatura em Geografia)”. Com o advento da globalização e a expansão das Tecnologias da Comunicação e da Informação (TIC), cada vez mais se cobra dos professores conhecimentos não só da sua área de atuação, mas um leque de conhecimentos que abrange muitas vezes outras áreas, conforme afirmam Pimenta e Anastasiou (2005, p. 16): “Para ensinar, o professor necessita de conhecimentos e práticas que ultrapassem o campo da sua especialidade”. 5 Considerações Finais Ao final das reflexões aqui realizadas, evidenciou-se a necessidade do profissional da educação ter uma formação crítica que venha atender as exigências do processo de ensino e aprendizagem, que esteja sempre inovando sua prática pedagógica, reconstruindo seus saberes, com o intuito de desenvolver uma prática educativa de fato com qualidade. A formação inicial se constitui como um espaço de construção de saberes, quando permite aos professores assumir uma atitude reflexiva em relação à sua prática pedagógica, bem como se posicionar frente ao seu processo formativo. Diante disso, a adoção da pesquisa como “carro chefe” da sua docência, vai permitir enxergar sua sala de aula como um espaço de construção de conhecimento, no qual tanto o professor quanto o estudante aprendem e ensinem constantemente. Neste sentido, os cursos de formação de professores devem proporcionar um espaço de construção de saberes que ajudem os professores na sua prática cotidiana, uma vez que estes a todo tempo se deparam com situações que exigem o domínio de saberes próprios da docência. Referências ABREU, Maria Celia; MASETTO, Marcos Tarciso. O professor universitário em aula. São Paulo: Mg editores associados, 1997. BARDIN, Laurence.Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ BARROS, Lucia Violeta Prata de Oliveira. A importância do saber pedagógico para uma Pratica docente eficiente. Disponível em: <http://linux.alfamaweb.com.br/sgw/downloads/141_113245_SABERESPEGAGOGIC OS.pdf>. Acesso em: 31 de março de 2012. BRASIL. Decreto Nacional de Formação de Profissionais do Magistério e da Educação Básica n° 6.755, de 29 de Janeiro de 2009. CUNHA, Maira Isabel da. Inovações Pedagógicas na Universidade. In: CUNHA Maria Isabel da; SOARES, Sandra Regina; RIBEIRO, Marinalva Lopes. Docência universitária: profissionalização e práticas educativas. Feira de Santana: UEFS Editora, 2009. DEMO. Pedro. Educar pela Pesquisa. Campinas: Autores Associados 1996. HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. IMBERNÓN, Francisco. Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a incerteza. São Paulo: Cortez, 2010. LÜDKE. Menga. A pesquisa na formação do professor. In: A pesquisa em educação e as transformações do conhecimento. Campinas: Papirus 1994. MARTINS, L. M. Ensino-pesquisa-extensão como fundamento metodológico da construção do conhecimento na universidade. Disponível em: <http://www.franca.unesp.br>. Acesso em: 10 jul. 2011. MAZZOTTI, Alda Judith Alves. Representações Sociais: aspectos teóricos e aplicações à Educação. Revista Múltiplas Leituras, v.1, n.1, p.18-43, Brasília, jan./jun. 2008. MOSCOVICI, Serge. Representações Sociais: investigações em psicologia social. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. NÓVOA, António. Os Professores na Virada do Milênio: do excesso dos discursos à pobreza das práticas. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 25, n. 1, p. 11-20, jan./jun. 1999. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ep/v25n1/v25n1a02.pdf Acesso em: 15/04/2011. PIMENTA, Selma Garrido. A profissão professor universitário: processos de construção da identidade docente. In: CUNHA Maria Isabel da; SOARES, Sandra Regina; RIBEIRO, Marinalva Lopes. Docência universitária: profissionalização e práticas educativas. Feira de Santana: UEFS Editora, 2009. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 135 PIMENTA, Selma Garrido. Professor reflexivo: construindo uma crítica. In: PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro. Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. São Paulo: Cortez, 2010. PIMENTA, Selma Garrido. Campos, Edson Nascimento Campos... [et al.];. Saberes pedagógicos e atividade docente. In: Saberes pedagógicos e atividade docente. São Paulo: Cortez, 1999. PIMENTA, Selma Garrido; ANASTASIOU, Léa das Graças Camargo. Docência no ensino superior. São Paulo: Cortez, 2005. RAMALHO, Betânia Leite; NUÑHEZ, Isauro Beltrán; GAUTHIER, Clermont. Formar o professor profissionalizar o ensino: perspectivas e desafios. Porto Alegre: 2. ed. Sulina, 2004. RIOS, Terezinha Azerêdo. Ética na Docência Universitária: apontamentos para um diálogo. In: CUNHA Maria Isabel da; SOARES, Sandra Regina; RIBEIRO, Marinalva Lopes. Docência universitária: profissionalização e práticas educativas. Feira de Santana: UEFS Editora, 2009. SÁ, Celso Pereira de. Sobre o núcleo central das representações sociais. Petrópolis, RJ: Vozes, 1996. SCHON, Donald A. Formar Professores como Profissionais Reflexivos. In: Os Professores e a Sua Formação. 3. ed. Lisboa: Dom Quixote; Instituto de Inovação Educacional, 1997. SOARES, Sandra Regina. A profissão professor universitário: Reflexões acerca da sua formação. In: CUNHA Maria Isabel da; SOARES, Sandra Regina; RIBEIRO, Marinalva Lopes. Docência universitária: profissionalização e práticas educativas. Feira de Santana: UEFS Editora, 2009. SOBRINHO, José Dias. Professor universitário: contextos, problemas e oportunidades. In: CUNHA Maria Isabel da; SOARES, Sandra Regina; RIBEIRO, Marinalva Lopes. Docência universitária: profissionalização e práticas educativas. Feira de Santana: UEFS Editora, 2009 TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. TUBINO, M. J. G. Universidade, Qualidade e Avaliação. Rio de Janeiro: Dunya, 1997. Universidade Federal da Bahia. Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. Política de reestruturação dos currículos dos cursos de graduação da UFBA: proposta aprovada pela Câmara de Ensino de Graduação em 07/10/99 e pelo CONSEP em 27/04/2000. Salvador: PROGRAD, 2000. 50 p. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ EDUCAÇÃO, TRABALHO E PRÁTICA PEDAGÓGICA: PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS. Denise Nascimento de Araújo 21 Tatiana Santos Borba22 Macio Nunes Machado23 RESUMO: Esse artigo pretende possibilitar reflexões acerca da organização do trabalho pedagógico no ambiente formal de educação, a escola, em que medida essa organização auxilia os sujeitos na produção de sua existência e se essa produção encontra-se subordinada ao desenvolvimento econômico e suas relações de exploração. As reflexões aqui propostas serão feitas essencialmente, e de forma sucinta, a luz de diálogos com (FRIGOTTO, 2001), (GOHN, 2010), (MÉSZÁROS, 2008), (RAMOS, 2001), (SAVIANNI, 1986) e (SILVA, 2003). PALAVRAS-CHAVES: Educação. Trabalho. Políticas Educacionais. Introdução As indagações feitas ao longo do texto centram-se em torno da problemática da organização do trabalho pedagógico em espaços formais de educação, a escola, e em que medida essa organização auxilia os sujeitos na produção de sua existência e se essa produção encontra-se subordinada ao desenvolvimento econômico e suas relações de exploração. O problema teórico ora apresentado, é evidenciado a partir da premissa de que a escola na sociedade capitalista, e contemporânea, defende fundamentalmente uma questão da luta pelo saber e da articulação desse saber com os interesses de classe. Ao longo da história, sobretudo da história da sociedade capitalista, a organização do trabalho pedagógico fora subordinado à lógica do capital, onde foi oferecida uma escola de elite para a classe dirigente e uma multiplicidade de escolas – no geral desqualificadas e despolitizadas, para a classe trabalhadora. Nesse contexto, percebe-se o afastamento do processo educativo do trabalho24 e a aproximação 137 21 Pedagoga, Especialista em Metodologia do Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação, Mestranda em Educação, pelo Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade – PPGEduC, integrante da Linha de Pesquisa 3 – Educação, Gestão e Desenvolvimento Local Sustentável, sob a orientação da Professora Dra. Ronalda Barreto Silva. 22 Administradora de Empresas, Especialista em Gestão, Mestranda em Educação, pelo Programa de PósGraduação em Educação e Contemporaneidade – PPGEduC, integrante da Linha de Pesquisa 3 – Educação, Gestão e Desenvolvimento Local Sustentável, sob a orientação da Professora Dra. Ronalda Barreto Silva. 23 Pedagogo, Mestrando em Educação, pelo Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade – PPGEduC, integrante da Linha de Pesquisa 3 – Educação, Gestão e Desenvolvimento Local Sustentável, sob a orientação da Professora Dra. Ronalda Barreto Silva. 24 Elemento histórico que define as relações sociais de produção da existência e que perpassa e articula a prática escolar e as práticas superestruturais, no seu conjunto, com a prática social fundamental. Trabalho Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário desses com o modo de produção vigente, onde segundo (FRIGOTTO, 2001) o processo educativo, escolar ou não, é reduzido à função de produzir um conjunto de habilidades intelectuais, desenvolvimento de determinadas atitudes, transmissão de um determinado volume de conhecimentos que funcionam como geradores de capacidade de trabalho e, conseqüentemente, de produção. Inicialmente o texto apresenta algumas reflexões sobre trabalho como princípio educativo, caracterizando o homem como concreto e como produtor de sua própria existência. Em seguida uma breve explanação sobre processos de organização do trabalho pedagógico em ambiente formal, a escola, com vistas a refletir sobre a apresentação, ou não, dessa educação de maneira produtiva. E por fim, análise das implicações desses dois processos, diretamente imbricados, no sistema educacional brasileiro. Trabalho como princípio educativo Se pensarmos o trabalho25 enquanto relação social fundamental, manifestação da vida, atividade do homem na apropriação e transformação do mundo, entenderemos o trabalho como princípio educativo. Se a existência humana não é garantida pela natureza, não é uma dádiva natural, mas tem de ser produzida pelos próprios homens, sendo, pois, um produto do trabalho, isso significa que o homem não nasce homem. Ele forma-se homem. Ele não nasce sabendo produzir-se como homem. Ele necessita aprender a ser homem, precisa aprender a produzir sua própria existência. Portanto, a produção do homem é, ao mesmo tempo, a formação do homem, isto é, um processo educativo. A origem da educação coincide, então, com a origem do homem mesmo. (SAVIANNI, 2007. pp. 154) – [grifos nossos]. As relações sociais estabelecidas em diferentes espaços formativos e de trabalho constituem-se como os principais espaços educativos e a relação entre trabalho e educação como uma relação de identidade. Porém, essa relação na modernidade é constituída por um arcabouço reducionista e empobrecedor (educação para o trabalho), onde há uma perda coletiva da consciência das possibilidades educativas para existência do ser humano em detrimento a um processo massivo de desumanização para o aumento da produção (cultura capitalista). A concepção burguesa de trabalho vai se construindo, historicamente, mediante um processo que o reduz a uma coisa, a um objeto, a uma mercadoria que aparece como trabalho abstrato em geral, força de trabalho. Essa interiorização vai estruturando uma percepção ou representação de trabalho que se iguala à ocupação, emprego, função, tarefa, dentro de um mercado (de trabalho). Dessa forma, perde-se a compreensão, de um lado, de que o trabalho é uma relação social e que esta relação, na sociedade capitalista, é uma relação de força, de poder, de não enquanto categoria geral, abstrata, mas enquanto produção concreta da existência do homem em circunstâncias históricas dadas. (FRIGOTTO, 2011. pp.185) 25 A concepção de trabalho nesse artigo, baseia-se em (SAVIANNI, 2007. pp. 154) quando define o trabalho como o ato de agir sobre a natureza transformando-a em função das necessidades humanas. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ violência; e, de outro, de que o trabalho é a relação social fundamental que define o modo humano de existência, e que, enquanto tal, não se reduz à atividade de produção material para responder à reprodução físico-biológica (mundo da necessidade), mas envolve as dimensões sociais, estéticas, culturais, artísticas de lazer, etc (mundo da liberdade) (GOMES, 1995, p. 14) . Na medida em que os sujeitos aprendem a ser homem, a partir da aprendizagem dos meios de produção para assegurar as condições materiais objetivas para sua existência, na medida em que os sujeitos se percebem autores dos seus instrumentos e da sua produção o homem se torna homem, a partir dos seus processos educativos. É preciso, no entanto, compreender as influências que os processos produtivos exercem sobre a organização escolar, bem como a complexidade inerente à educação das classes trabalhadoras. A partir do escravismo antigo passaremos a ter duas modalidades distintas e separadas de educação: uma para a classe proprietária, identificada como a educação dos homens livres, e outra para a classe não proprietária, identificada como a educação dos escravos e serviçais. A primeira, centrada nas atividades intelectuais, na arte da palavra e nos exercícios físicos de caráter lúdico ou militar. E a segunda, assimilada ao próprio processo de trabalho. A primeira modalidade de educação deu origem à escola. A palavra escola deriva do grego e significa, etimologicamente, o lugar do ócio, tempo livre. Era, pois, o lugar para onde iam os que dispunham de tempo livre. Desenvolveu-se, a partir daí, uma forma específica de educação, em contraposição àquela inerente ao processo produtivo. Pela sua especificidade, essa nova forma de educação passou a ser identificada com a educação propriamente dita, perpetrando-se a separação entre educação e trabalho (SAVIANNI, 2007. pp. 155). Nessa perspectiva, da constituição/fortificação da sociedade de classes e contextualizando com a educação moderna26, evidenciamos a separação entre educação e trabalho, ao tempo que continuamos a ter, no caso do trabalho manual, uma educação instrumental para negros, mulheres e adultos pouco escolarizados, que se realiza concomitantemente ao próprio processo de trabalho e de outro lado, continuamos a ter uma educação de tipo escolar destinada à educação para o trabalho intelectual (para homens, brancos e que se encontram no processo cronológico de aprendizagem socialmente aceito), educação essa muito distante da necessidade de constituição de uma ação de superação dessa história, marcada por desigualdades e que clama pelo compromisso de formar o trabalhador como pessoa capaz de pensar, estudar, dirigir ou controlar quem dirige. 26 Circunscrita no tempo, a modernidade pode ser associada a um período histórico e como tal, difícil de ser analisado, pois é ao mesmo tempo - passado e presente (mesmo considerando a dificuldade de se distanciar do que se pertence para analisar, reflexivamente, os rumos do hoje e do porvir, esse movimento é extremamente importante para que possamos compreender os fenômenos sociais do nosso tempo) (Leitão, 1997. pp. 01). Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 139 A sociedade burguesa organizou os homens em dois grandes blocos: os que desempenhavam ações manuais e que deveriam receber uma educação prática para a execução de tarefas; e os intelectuais, que requeriam aprofundamento teórico para formação das elites e representantes da classe dirigente – é nessa lógica que ainda hoje se perpetuam as diferentes mediações pedagógicas que promovem nas instituições educativas padrões de organização que reproduzem a formação para a conformação da força de trabalho, com especialização em um único tipo de trabalho, via de regra pouco qualificado. (ADORNO, 2006), afirma que a indústria cultural expressa à forma repressiva da formação da identidade da subjetividade social contemporânea e ainda que, Marx já assinalara como pela educação os trabalhadores "aceitam" ser classe proletária, interiorizando a dominação, por exemplo, nos seus hábitos. Na lógica vigente e dominante do trabalho como relação de força poder, desde o final do século XX vivenciamos a demanda pela elevação da escolaridade no sentido de assegurar a empregabilidade, desenvolver atitudes empreendedoras, comportamento flexível, polivalente competente. Os sistemas educacionais passam a ser regidos pela lógica produtiva hegemônica, convocados a formar um novo tipo de trabalhador, desta vez desespecializado, polivalente, plurifuncional, sem nenhum controle do processo produtivo, frágil e solitário quanto aos seus direitos e condições de trabalho, com maior racionalidade dos seus processos, porém sem nenhum encantamento pelo mesmo, sem vislumbrar a utopia27 na sua própria condição de existência. A educação não necessariamente é um fator de emancipação, “assim como o desenvolvimento científico não conduz necessariamente a emancipação, por encontrar-se vinculado a uma determinada formação social, também acontece com o desenvolvimento no plano educacional” (ADORNO, 2006, p. 15), a indústria cultural e educacional reflete diariamente a irracionalidade objetiva da sociedade capitalista, como racionalidade da manipulação das massas e a apropriação do trabalho social. Os bens culturais que alimentam as massas tornam hegemônico o momento de formação, enquadrando-se numa sociedade adaptada/formatada, e rompem da memória o que seria autonomia. Os sujeitos assim, perdem a capacidade de se relacionar com o outro, com algo efetivamente exterior, permanecendo apenas a capacidade de se referir a representação que eles próprios fazem isolados do seu contexto social. Faz-se necessária então, exaustiva e urgente discussão da organização do trabalho pedagógico como prática social, com destaque para as relações que estabelece com o modo de produção econômica, com a luta de poder, com a história de vida dos sujeitos, sua classe social, discussão da educação na perspectiva da luta emancipatória, restabelecendo os vínculos - tão esquecidos – entre educação e trabalho. Organização do trabalho pedagógico: uma prática social 27 A noção de contemporaneidade aqui assumida, portanto, identifica-se com a idéia de utopia proposta por (BLOCH, 2000), para quem a utopia não é o irrealizável, mas o delineamento de horizontes a serem buscados. (NASCIMENTO, 2006). Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ No reino do capital, a educação é, ela mesma, uma mercadoria. Daí a crise do sistema público de ensino, pressionado pelas demandas do capital e pelo esmagamento dos cortes de recursos do orçamento público. Talvez nada exemplifique melhor o universo instaurado pelo neoliberalismo em que “tudo se vende, tudo se compra”, “tudo tem preço”, do que a mercantilização da educação. Uma sociedade que impede a emancipação só pode transformar os espaços educacionais em shoppings centers, funcionais à sua lógica do consumo e do lucro (MÉSZÁROS, 2008. pp.16). A dura afirmação do autor, acima citado, nos obriga a refletir acerca da relação direta entre educação e desenvolvimento econômico. Relação essa que associa os processos educativos e de organização pedagógica às redes e políticas de financiamento, nacionais vinculadas aos mecanismos internacionais que no geral ditam e definem os processos de aprendizagem em cada sistema educacional por elas financiado. Tem-se constatado que, a política educacional contemporânea prioriza a formação de sujeitos “competentes”, capazes de atuar de maneira eficaz no mercado de trabalho, onde (RAMOS, 2001) afirma que cada indivíduo terá de adquirir um pacote de competências desejadas pelos homens de negócio do mercado empresarial, permanentemente renováveis, cuja certificação lhe promete empregabilidade. A escola tornou-se subordinada ao desenvolvimento econômico, funcional ao sistema capitalista, visto que está a serviço da classe dominante, qualificando a cada dia a força de trabalho, formando um exército de reserva, produzindo diariamente um quantitativo cada vez maior de mais-valia. Os sujeitos são submersos em um verdadeiro manancial de “competências e habilidades” a serem desenvolvidas em um período determinado (tempo letivo/tempo pedagógico), onde a política em questão inculca nesses mesmos sujeitos que a sua não inserção no mercado de trabalho (finalidade principal da educação capitalista), consiste em uma deficiência pessoal28, visto que a escola oferece todos os elementos exigidos por esse mercado. Em outras palavras, O processo educativo, escolar ou não, é reduzido à função de produzir um conjunto de habilidades intelectuais, desenvolvimento de determinadas atitudes, transmissão de um determinado volume de conhecimentos que funcionam como geradores de capacidade de trabalho e, conseqüentemente, de produção. De acordo com a especificidade e 28 Vemos aqui uma releitura e aplicação da teoria do capital humano. Esta “ postulava explicar, ao mesmo tempo as desigualdades de desenvolvimento entre as nações e as desigualdades individuais. Para essa teoria a vergonhosa e crescente desigualdade que o capitalismo monopolista explicitava e se tornava cada vez mais difícil de esconder, devia-se, fundamentalmente, ao fraco investimento em educação, esta tida como o gérmem gerador do capital humano ou maior e melhor capacidade de trabalho e de produtividade. A fórmula seria simples: maior investimento social ou individual em educação significaria maior produtividade e, conseqüentemente, maior crescimento econômico e desenvolvimento em termos globais e ascensão social do ponto de vista individual” (FRIGOTTO, 2001. pp.7). Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 141 complexidade da ocupação, a natureza e o volume dessas habilidades deverão variar (FRIGOTTO, 2001. pp. 40). Vemos então uma retirada da condição originária do homem enquanto produtor de sua própria existência, do seu poder de através do trabalho apropriar-se, relacionar-se e aprender com as relações que estabelece com a natureza e outros homens – eliminação das condições de existência do homem29. A educação ainda é reduzida ao domínio de competências30, onde a “improdutividade da escola”(FRIGOTTO, 2001) parece constituir, dentro desse processo, uma mediação necessária e produtiva para as relações capitalistas de produção. Falar em organização do trabalho pedagógico nos moldes educacionais atuais é falar em currículo. (ARROYO, 2011) afirma que esse campo do conhecimento sempre foi tenso, dinâmico, aberto à dúvida, à revisão e superação de concepções e teorias contestadas por novos conhecimentos. Os currículos escolares mantém conhecimentos superados, fora da validade e resistem à incorporação de indagações e conhecimentos vivos , que vem da dinâmica social e da própria dinâmica do conhecimento. Em que momento da prática educativa discutiu a organização da prática pedagógica (o currículo)? Onde está à dificuldade para compreendê-la e defini-la como prática social? Que contradições batem à porta das classes dos(as) educadores(as) que diariamente vêem-se submersos em planos, objetivos, metas, conteúdos, que muitas vezes não fazem sentido nem para si mesmos? Seria um erro considerar que as contradições enfrentadas pela professora, no cotidiano, são um simples reflexo das contradições sociais. A situação é mais complexa. Existem tensões inerentes ao próprio ato de educar e ensinar. Quando são mal geridas, essas tensões viram contradições, sofridas pelos docentes e pelos alunos. Os modos como se gerem as tensões e as formas que tomam as contradições dependem da prática da professora e, também, da organização da escola (...). Portanto, as contradições são ao mesmo tempo, estruturais, isto é, ligadas à própria atividade docente, e sócio-históricas, uma vez que são moldadas pelas condições sociais do ensino em certa época (CHARLOT, 2008). Implicações no sistema educacional brasileiro: questões legais Em uma breve análise da legislação maior que orienta o sistema educacional brasileiro, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 9394/96, percebemos a fragilidade que a mesma trata a educação, os equívocos conceituais no 29 O modo de produção da existência engloba as relações sociais de produção que os homens estabelecem, mediatizados ou não pela técnica, para produzirem produtos úteis para seu sustento e reprodução; as leis de acesso, apropriação dos bens produzidos; as idéias, as instituições, ideologias que buscam legitimar o modo de os homens se relacionarem na produção da sua existência (FRIGOTTO, 2001, p.74). 30 (FERRETI, 1997. pp. 258) considera que a noção de competência “representa a atualização do conceito de qualificação, segundo as perspectivas do capital, tendo em vista adequá-lo às novas formas pelas quais este se organiza para obter maior e mais rápida valorização. (FRIGOTTO, 1995), conclui que elas se configuram como um rejuvenescimento da teoria do capital. apud (RAMOS, 2001. pp. 40) Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ que se refere a trabalho e por fim a inexistência de relação entre essas categorias, desconsiderando assim o caráter educativo do trabalho. No Titulo I da referida legislação, há uma breve sinalização da existência de processos formativos no trabalho e a determinação da vinculação da prática escolar ao mundo do trabalho. Contraditoriamente, neste mesmo título a Lei reduz a sua atuação predominantemente por meio de ensino e em instituições próprias – evidencia-se aqui o não reconhecimento do conhecimento produzido em espaços não-formais e informais de educação e em seguida uma determinação da formação do educando para qualificação para o mundo do trabalho31. A preparação para o trabalho e para o exercício de profissões técnicas, bem como a compreensão dos processos produtivos, denota o caráter mercadológico impresso na legislação no que se refere à categoria trabalho, destacando a manutenção de uma característica moderna em detrimento à contemporaneidade já pulsante na vida cotidiana fora da escola. Algumas considerações O desafio contemporâneo do conhecimento está em pensar a realidade dentro dela mesma, no seu devir, pensar os processos existenciais da vida, dentro desses processos, aprendendo com eles e neles. É fundamental a compreensão da prática pedagógica a partir do ponto de vista epistemológico, a compreensão de que a sua construção trata-se de uma construção sócio-histórica, relacionada com o modo de produção econômica, com os interesses e ideologias existentes nas relações sociais de classes vigentes, nas histórias de vida dos sujeitos e sua compreensão, relação e utilização dos conhecimentos produzidos pela humanidade, ou seja, o processo de acumulação do conhecimento. Acumulação esta, que trará ao trabalhador novas possibilidades e desafios às relações de trabalho. Importante destacar que os traços da modernidade continuam impregnados na prática pedagógica brasileira, obrigando-nos assim a uma prática maniqueísta, a um modelo formal, linear e fragmentário, modelo já percebido e negado ideologicamente, porém difícil de superar na prática. O modelo hegemônico, difundido e imposto pela sociedade capitalista, nos impõe diariamente uma práxis pedagógica que atende, somente, às demandas do capital: trabalhadores treinados e mercado de trabalho alimentado. Para o currículo moderno, tem valor o que é relativo à prática laboral, a um modo de ser formal, científico, ignorando e excluindo outras formas de conhecimento, sobretudo no que se refere aos conhecimentos relativos aos saberes produzidos ao longo da vida, o currículo é pensado e praticado como uma estrutura externa, independente daqueles que o vivenciam, mas que modela seus comportamentos, numa única direção (LIMA JÚNIOR, 2005). Cumpre o destaque à necessidade de um pensar educativo - processo cujos produtos são realimentados de novos processos, e não somente pedagógicos 31 143 Trabalho como sinônimo de emprego Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário instrumentos utilizados no processo, (GOHN, 2009, p. 19) de forma a assegurar a construção de um trabalho pedagógico com perspectiva emancipatória, de formação do homem para a vida e não apenas condicionamento do homem para atuação no mercado de trabalho. Analisar a organização para o trabalho, a luz do desenvolvimento econômico, da economia da educação é fazer uma imersão em um contexto afastado do pedagogês e que considere elementos indispensáveis na formação do mosaico que tornou-se a Educação no Brasil. Questões legais e de financiamento educacional (nacional e internacional) nos oferecem subsídios importantes na compreensão da (im)produtividade da escola, com seus currículos distantes da realidade dos sujeitos, com seu arsenal de conteúdos muitas vezes inúteis em suas vidas e metodologias importadas e que pouco contribuem na formação da população beneficiária dos sistemas públicos de educação – as classes populares do campo e da cidade. Refletir é preciso e necessário. Porém uma mudança imediata da prática diária é condição sine qua non para a passagem de uma formação conteudista moderna e preparatória ao mercado de trabalho, para uma educação emancipatória, de preparação do homem na vida como produtor da sua própria existência. Referências ADORNO, W. Theodor. Educação e Emancipação. SP: Paz e Terra, 2006. CHARLOT. Bernard. O professor na sociedade contemporânea: um trabalhador da contradição. Revista da FAEEBA – educação e contemporaneidade, Salvador, v 17, n 30, p. 17-31, jul-dez/2008 DEMO, Pedro. A nova LDB: Ranços e Avanços. SP: Papirus, 1997. FRIGOTTO, Gaudêncio. A produtividade da escola improdutiva: um (re) exame das relações entre educação e estrutura econômico-social e capitalista. SP: Cortez, 2001. GOMES, Carlos Minayo [ET AL.] Trabalho e Conhecimento: dilemas na educação do trabalhador. 3ed – SP: Cortez; 1995 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ( LDBEN 9394/96). LIMA JÚNIOR, Arnould Soares de. Tecnologias Inteligentes e educação: currículo hipertextual. RJ: Quartet; FUNDESF, 2005. MÉSZÁROS, István. A Educação para além do capital. 2 ed. SP: Boitempo, 2008 RAMOS, Marise Nogueira. A pedagogia das competências: autonomia ou adaptação? SP: Cortez, 2001. SAVIANNI, Dermeval. Escola e Democracia: teorias da educação, curvatura da vara, onze teses sobre educação e política. SP: Cortez: Autores Associados, 1986. _____. Trabalho e Educação: fundamentos ontológicos e históricos. Revista Brasileira de Educação v12, n 34, p. 152-180 jan/abr 2007. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v12n34/a12v1234.pdf. Acesso em 04 out. 2011 Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ NASCIMENTO, Antonio Dias. Contemporaneidade: Educação, Etnocentrismo e Diversidade. In LIMA JR, Arnaud Soares e HETKOWSKI(orgs.) Educação e Contemporaneidade: desafios para a pesquisa e a pós-graduação. RJ: Quartet, 2006 145 Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário ELEMENTOS DE QUALIDADE: REPRESENTAÇÕES DOS ESTUDANTES DE LICENCIATURA DA UEFS Ana Maria Fontes dos Santos (Universidade Estadual de Feira de Santana) Izabel Pires da Conceição (Universidade Estadual de Feira de Santana) RESUMO: Por meio da análise de entrevistas realizadas com estudantes do penúltimo semestre de licenciatura da UEFS, o presente artigo pretende discutir de modo comparativo como os mesmos percebem a universidade de acordo com o nível de inserção nas atividades de pesquisa, compreendidas enquanto um dos fatores principais de qualidade da formação. Elementos que fornecem pistas para aprofundar a discussão sobre ensino superior e universidade no âmbito de surgimento do paradigma emergente de ensino. A base teórica fundamenta-se no conceito de representações sociais, conforme Moscovici (2003), além de situar a questão da universidade sustentada em conhecimentos históricos, entre outras fontes. PALAVRAS-CHAVES: Universidade. Qualidade. Pesquisa. Representações sociais. 1 Introdução As primeiras universidades implantadas no Brasil, na década de trinta do século passado, incorporavam a crítica comum ao ensino superior, até então ofertado, como sendo utilitário e voltado exclusivamente para a formação profissional, baseado na aula como o espaço exclusivo do aprendizado. Assim, aquelas primeiras instituições (a Universidade de São Paulo, criada em 1934, a Universidade do Brasil, em 1937 e a Universidade do Distrito Federal32, de 1935), já traziam no seu escopo organizativo a ideia de universidade como lócus da educação superior e baseada na pesquisa como fundamento e elemento identificador desse nível de ensino (SANTOS, 2011). O acúmulo das discussões das décadas posteriores, que aprofundariam a importância da “universitarização” da educação superior, que englobariam o ensino, a pesquisa e a extensão, aparece de forma mais acabada na legislação que instituiu a chamada lei da Reforma Universitária, em 1968, a Lei 5540/68. Lá aparece de modo explícito a “indissociabilidade” entre o ensino e a pesquisa como função primordial da educação superior, que deveria ser “ministrado em universidades” (art. 2º), enquanto espaço privilegiado “e, excepcionalmente, em estabelecimentos isolados, organizados como instituições de direito público ou privado” (idem). Nessa mesma lei também aparece explicitado a ordem de objetivos para esse nível de ensino: primeiro, “a pesquisa”, segundo, “o desenvolvimento das ciências, letras e artes” e, por último, “a formação de profissionais de nível universitário” (art. 1º). Embora essa tentativa de inverter a histórica equação do ensino superior brasileiro, que privilegiava a profissionalização, a lei referida traz consigo o formato do modelo americano de 32 A Universidade do Distrito Federal foi um projeto implantado por Anísio Teixeira, no Rio de Janeiro, antiga capital federal. Com o advento do Estado Novo, após ser implantada, a mesma foi extinta e incorporada à Universidade do Brasil, atual UFRJ (Cf. FÁVERO 1998). Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ universidade baseado no “departamento”, vista como uma dimensão que facilitaria a institucionalização da pesquisa na universidade brasileira. Pois, significava o rompimento da estrutura arcaica sustentada pela cátedra vitalícia e baseada no modelo clássico de ensinar e aprender. Contudo a realidade social e econômica, que caracterizou o período da ditadura militar levaria à criação de um sistema cindido e invertido em relação ao preconizado no art. 2º da lei 5540/68. Senão vejamos: a necessidade de crescimento científico e tecnológico foi o mote principal para fortalecer, do ponto de vista da qualidade, as universidades existentes, e mais algumas criadas naquele período, a maioria pública, que viriam atender o proposto na citada lei, com a criação da pós-graduação articulada aos órgãos públicos de fomento, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Junto ao primeiro destes órgãos criou-se um programa específico de formação de profissionais para o ensino superior, o Programa Institucional de Capacitação Docente e Técnica, PICDT/CAPES. Ou seja, tratava-se de um modelo que já se apresentava demasiado dispendioso aos cofres públicos. Compreendendo-se a definição de qualidade enquanto um conceito histórico, que se modifica no tempo e em cada lugar, e, nesse sentido, vinculado às demandas sociais de cada processo histórico (DOURADO E OLIVEIRA 2007), naquele período da reforma universitária de 1968, a ideia de qualidade do ensino superior sustentava-se na proposta de modernização da instituição universitária. A ideia dominante era a de romper com as estruturas arcaicas baseadas na cátedra e na restrita oferta de vagas, que tornava o acesso excessivamente elitista. Por outro lado, a ampliação das demandas sociais por ensino superior, naquele período, que não poderiam ser atendidas por tais universidades, (mesmo modernizadas com referida reforma), posto que, no âmbito das políticas para o setor, assumiriam características específicas de dispendiosas universidades de pesquisa, a saída foi o favorecimento da oferta privada em instituições isoladas. Estas passariam a englobar a maioria do alunado do nível superior de ensino no país, e o que era previsto na lei como “exceção” virou regra. Conforme Morosini (1998) tratava-se de um sistema único de ensino superior articulado em duas partes distintas e complementares. Uma que atendia a grande massa de estudantes, quase sempre de origem social nas camadas trabalhadoras (abrangendo a maioria das instituições privadas, isoladas), complementava o funcionamento da outra (a educação universitária, pública, geralmente voltada ao atendimento dos segmentos sociais da elite). Nesse cenário, ao longo das décadas de setenta e oitenta do século passado, a indissociabilidade entre o ensino e a pesquisa, que, supostamente, deveria figurar como o principal objetivo para o ensino superior, não se realizava na quase totalidade das instituições isoladas, que oferecia cursos profissionalizantes, sendo a maioria licenciaturas. O ensino privado, de oferta isolada, passaria a formar, a partir daquele momento, grande parte dos professores para o sistema público de ensino de primeiro e segundo graus que se expandiam de forma quantitativa. Além do caráter 147 Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário mercantilista, a crítica sobre essas instituições decorria, principalmente, sobre a qualidade das mesmas, na qual estava implicada a ausência de pesquisa. Salienta-se que, enquanto função acadêmica, a pesquisa seria consolidada, sobretudo, nos programas de pós-graduação strictu-sensu das universidades públicas. Porém, a articulação com o ensino não se verificou conforme o esperado, embora a qualidade dessas instituições fosse reconhecida pelos maciços investimentos em pesquisa e prestígio de seus pesquisadores. No contexto dessas contradições que delineavam o sistema de ensino superior brasileiro, foi implantada a rede baiana de universidades enquanto parte do ensino superior de massa que se expandia, sobretudo, a partir dos anos setenta do século passado, e, no caso da Bahia, assumida pela gestão estadual. Segundo Santos (2011), as pressões sociais advindas de segmentos intelectuais e políticos do interior baiano, principalmente de Feira de Santana, exigiam a interiorização da então Universidade da Bahia. Ao ponto de tais segmentos agirem de forma organizada desde antes do golpe militar de 1964, sustentando pressões sobre a instituição universitária baiana e, sobretudo, perante o governo estadual. Assim, no contexto das políticas de desenvolvimento econômico do regime militar, o governo da Bahia assume a interiorização do ensino superior como parte de um projeto auxiliar a União, de formação de professores de primeiro ciclo (antigo ginásio). Transformado já na origem em projeto universitário a partir das reivindicações sociais da cidade de Feira de Santana, onde foi implantada a primeira faculdade estadual de formação de professores, em 1968 e no ano seguinte obteve-se a criação de comissão para implantar a Fundação Universidade de Feira de Santana. Esta foi instituída através de lei estadual nº 2.784/1970 e posta em funcionamento no ano de 1976. Portanto, a primeira universidade estadual baiana nasceu sob o signo de atendimento às crescentes demandas por ensino superior e com objetivos centrados na formação de professores. Desde o final dos anos oitenta do século passado, as macro alterações do modo capitalista de produção têm imposto mudanças na abordagem da questão educacional. O novo patamar do capitalismo mundial, globalizado, advindo, sobretudo, com as mudanças tecnológicas, passaria a impor padrões mundiais de qualidade. No caso do Brasil, visualizado, principalmente, na exigência legal (cf. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 9394/96) de formação de professores da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, em instituições de nível superior. A partir de quando foram implantados modelos institucionalizados de avaliação educacional em todos os níveis, estabelecendo padrões de qualidade para todos eles, em particular, impondo maiores exigências a educação superior. Aspecto relevante à perspectiva deste trabalho, presente na referida legislação, diz respeito às questões que definem padrões de qualidade para o ensino superior. Essa Lei de Diretrizes e Bases introduz no Brasil o processo regular e sistemático da avaliação dos cursos e das instituições de ensino superior, ficando o credenciamento ou recredenciamento das mesmas na dependência do desempenho dessa avaliação. Algo que remete à classificação das instituições de ensino superior. Por exemplo, para que uma instituição seja considerada universidade, exercendo a sua autonomia de abrir e fechar cursos, definir a oferta de vagas, entre outras ações independentes, a legislação exige a necessária a titulação de seu corpo docente: o mínimo de um terço precisa ter titulação de mestre ou de doutor e um Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ terço deve ser contratado em tempo integral. Assim, além de outras exigências sobre a universidade, que estão relacionadas aos modelos de qualificação docente e produtividade acadêmica, amplia-se o controle sobre as condições de oferta da pósgraduação, juntam-se ao conjunto de fatores que levariam à ênfase atual na ampliação da institucionalização da pesquisa. Assim, no momento atual, as mudanças nos processos de desenvolvimento do capitalismo operadas no país têm provocado alterações nas relações entre a universidade e a sociedade na qual esta inserida, em razão mesmo da ampliação do atendimento às demandas sociais, agora necessárias às exigências econômicas. O crescimento do acesso à universidade vem acompanhado de mudanças nas políticas públicas para o nível superior de ensino que têm implicações no aumento das exigências sobre o mesmo. Neste sentido, a discussão das práticas pedagógicas universitárias desponta como um dos elementos necessários perante a constituição atual da universidade, que estabelece a articulação ensino, pesquisa e extensão como critério norteador de suas finalidades, relação que, em última instância, definiriam os critérios de qualidade almejados por essa instituição. Por outro lado, na mediação dos indicadores de qualidade da universidade situa-se o exercício docente, o desenvolvimento de suas práticas nas dimensões postas, sobretudo, na indissociabilidade entre o ensino e a pesquisa, bem como nas respostas dadas à sociedade, através da extensão. A partir desse patamar abrangente e inicial de contextualização de aspectos da questão da universidade foram considerados os seguintes questionamentos de pesquisa: Como os estudantes percebem as diferentes dimensões que qualificariam a universidade? O que compreendem como prática de ensino de qualidade no ensino superior? Haveria diferenças na percepção dos estudantes das licenciaturas sobre a universidade entre aqueles que participam de atividades de pesquisa na instituição e aqueles que não participam? A problemática aqui trabalhada contempla como os estudantes das licenciaturas da UEFS que fazem pesquisa em relação com aqueles que apenas participam das atividades de ensino representam uma prática de ensino de qualidade. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é discutir de modo comparativo as representações dos estudantes, de acordo com suas inserções nas práticas universitárias de pesquisa, das licenciaturas da Universidade Estadual de Feira de Santana. 2 Metodologia Este trabalho está articulado ao Projeto de Pesquisa intitulado “Qualidade do ensino: representações de estudantes sobre a relação entre ensino, pesquisa e desenvolvimento profissional docente”, desenvolvido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Pedagogia Universitária (NEPPU). Trata-se de uma pesquisa em rede, realizada pelas universidades UEFS, UNEB, UNISINOS, UNESC, UFPEL, URGS, UFPR. Para efetivação do levantamento de dados, na Universidade de Feira de Santana foram entrevistados estudantes da graduação (bacharelados e licenciaturas) e da pósgraduação (totalizando trinta e oito sujeitos). Para elaboração deste artigo foram Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 149 utilizadas algumas das vinte e quatro entrevistas realizadas com estudantes das licenciaturas. Para o entendimento da complexidade do objeto estudado e melhor percebê-lo na dinamicidade do contexto sociocultural em que esta inscrito, recorreu-se à abordagem de pesquisa qualitativa. Pois a intenção que permeou a pesquisa foi a de retratar a realidade dos sujeitos envolvidos na pesquisa de forma mais completa e profunda possível. Neste sentido, a preocupação foi a de destacar o significado e a intencionalidade inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais dos seres humanos (MINAYO, 2007; LÜDKE e ANDRÉ, 1986), mediante diferentes e conflitantes pontos de vista sobre o assunto em questão. Para dar sentido à abordagem qualitativa, o método de coleta de dados utilizado foi a entrevista semi-estruturada, que se caracteriza a partir da combinação de perguntas abertas e fechadas, em que o entrevistado tem possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. Na perspectiva de compreender as representações dos estudantes sobre o objeto estudado, foi utilizada a análise de conteúdo de tipo temática segundo Bardin (1977), enquanto instrumento que permite uma melhor abordagem sobre representações sociais, principalmente aquelas cuja perspectiva está centrada na identificação dos seus conteúdos, conforme esta pesquisa. A amostra é composta por 24 sujeitos que estavam no penúltimo semestre da graduação dos cursos de licenciatura em Letras, Pedagogia, História, Geografia, Matemática, Biologia, Física e Educação Física da Universidade Estadual de Feira de Santana. Essa amostra foi assim definida, porque os estudantes nesse período de curso apresentam uma trajetória acadêmica que permite contribuir com a esta pesquisa, pois estão na fase de finalização do curso de graduação. O recorte aqui efetuado na utilização dos dados levantados teve a intenção de analisar as entrevistas dos estudantes de licenciatura da Universidade Estadual de Feira de Santana, separando-os por curso e identificando em qual meio acadêmico os mesmos estavam inseridos. Ou seja, se tiveram durante o processo formativo, contato com pesquisa ou não, identificando também, entre os que tinham/tiveram experiência com pesquisa, a condição de bolsista de iniciação científica. Assim, entre os entrevistados das licenciaturas, dezesseis (16) deles responderam que tiveram experiência com pesquisa, sendo que seis (6) estudantes foram bolsistas de iniciação científica e os demais, dez (10) estudantes tiveram apenas o contato com a pesquisa; oito (8) estudantes relataram que não tiveram experiência com pesquisa. Totalizando vinte e quatro (24) estudantes pesquisados. Já na organização dos dados da amostra aqui utilizada percebe-se que a maioria dos estudantes que não teve contato com pesquisa, na instituição pesquisada, faz parte de cursos de licenciatura aos quais não havia oferta correlata de cursos de pósgraduações strictu sensu na época em que foi realizada a pesquisa (Geografia, Matemática, Pedagogia, exceto o curso de Letras que já oferecia uma pós-graduação), conforme pode ser melhor visualizado na tabela abaixo: TABELA 1- Número de estudantes entrevistados por curso e inserção nas atividades de pesquisa – UEFS Fonte: Pesquisa direta realizada em 2010, dados produzidos pelos autores. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ (A) Dados de Identificação Curso Nº (B) Teve contato com pesquisa Em geral Bolsista I.C.* (C) Não teve contato com pesquisa N º. Entrevistados BIOLOGIA 03 __ 03 __ ED. FÍSICA 03 03 __ __ FÍSICA 03 03 __ __ GEOGRAFIA 03 01 __ 02 HISTÓRIA 03 02 01 __ LETRAS 03 __ 01 02 MATEMÁTICA 03 01 __ 02 PEDAGOGIA 03 __ 01 02 TOTAIS 24 10 06 08 *Estudantes que participam de programas institucionais de Iniciação Científica Antes de prosseguirmos com a análise dos dados, serão apresentados os contornos do conceito de representações sociais em Moscovici (2003), articulado ao de paradigma do ensino Pozo(2002), ensino com pesquisa Ribeiro (2009) e sobre a universidade em Santos (2004), Morosini (2006), Saviani(1985), dentre outros. 3 Sobre as representações sociais As representações sociais expressam saberes construídos a partir do senso comum onde as representações coletivas influenciam no indivíduo. A teoria das representações sociais é a forma como um indivíduo, em um grupo social, representa um determinado objeto. O objeto pode ser uma pessoa física, um evento material, um fenômeno natural, uma ideia etc. Segundo (MOSCOVICI, 2003, p.70) o objetivo de classificar um objeto “é facilitar a interpretação de características, a compreensão de intenções e motivos subjacentes às ações das pessoas, na realidade, formar opiniões”. Moscovici sugeriu que “as representações sociais são a forma de criação coletiva, em condições de modernidade, uma formulação implicando que, sob outras condições de vida social, a forma de criação coletiva pode também ser diferente.” (MOSCOVICI, 2003, p.16) A representação social seria o consenso de vários indivíduos sobre um objeto, saberes populares diante de um contexto, é constituída historicamente e repassada através da memória por narrativas, portanto, estabelecidos pela comunicação, que vão interferir no comportamento e no pensamento dos indivíduos, de modo não consciente e assimilado das práticas sociais. Podemos entender que: A representação que temos de algo não está diretamente relacionada a nossa maneira de pensar e, contraditoriamente, porque nossa maneira de Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 151 pensar e o que pensamos depende de tais representações, isto é, no fato de que nós temos, ou não temos, dada representação. Eu quero dizer que elas são impostas sobre nós, transmitidas e são o produto de uma sequência completa de elaborações e mudanças que ocorrem no decurso do tempo e são resultado de sucessivas gerações. Todos os sistemas de classificação, todas as imagens e todas as descrições que circulam dentro de uma sociedade, mesmo as descrições científicas, implicam um elo de prévios sistemas e imagens, uma estratificação na memória coletiva e uma reprodução na linguagem que, invariavelmente, reflete um conhecimento anterior e que quebra as amarras da informação presente (MOSCOVICI, 2003, p.37). Assim, a representação varia de acordo com o grupo social em que o indivíduo está inserido, a sua percepção sobre uma determinada temática é diferenciada podendo ter respostas sobre um objeto completamente oposta devido à realidade do grupo. Aspecto considerado neste artigo, pois o mesmo trata das representações de diferentes grupos de estudantes, conforme o tipo de participação destes nas atividades de ensino e pesquisa na universidade. 4 Análise parcial dos dados 4.1 Como os entrevistados representam o ensino tradicional Sabe-se que ainda hoje a concepção de ensino conhecida como tradicional pautada no modelo conservador, que privilegia o método indutivo, faz-se ainda presente na prática docente da maioria das instituições de nível superior. A valorização quantitativa de noções, conceitos, informações, a repetição dos conteúdos e a memorização são aspectos inerentes a essa concepção de ensino. Trata-se de uma abordagem centrada no professor como o detentor único do saber, tanto a exposição quanto a análise são feitas por ele, dificultando a participação do estudante, em que as questões inovadoras e da pesquisa passam ao largo. A observação da postura conservadora de ensinar surge de modo evidente na representação dos estudantes entrevistados. De modo acentuado entre aqueles que declaram que não tiveram experiência com pesquisa nas suas experiências acadêmicas, como o caso de um dos estudantes do curso de Matemática. Ao mencionar sobre as aprendizagens significativas que construiu com os seus professores, que os admira como pesquisadores, o referido estudante relatou o seguinte: [...] Assim, por ser um curso de Licenciatura, se prega tanto em você mudar a forma de ensino, não ser tão tradicionalista e eles são professores tradicionalistas. Passam uma coisa, é.... diz que não trabalhem dessa forma e, por exemplo, as maneiras de avaliação, então assim: como avaliar o aluno? Dizem que existe várias formas, que a avaliação tem que ser processual, tem que avaliar desde o início como ele vai construindo o conhecimento e aqui dentro da sala te avalia com um pedaço de papel, você tem que provar ali na hora que você realmente sabe. Muitas vezes, tem alunos meus que sabem o conteúdo, mas não sabem como se expressar, mas acredito que existe uma outra forma de avaliar aquele aluno, mas aqui se fala tanto nisso e várias formas de avaliação e a principal forma de avaliação é a prova escrita. (Estudante ME15) O estudante percebe e critica a postura de ensino tradicional, reconhecendo a existência de uma prática mais eficaz a ser trabalhada, pautada no modelo emergente Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ de ensino alicerçado no diálogo e na construção gradativa do conhecimento, que tem como enfoque a aplicação de projetos criativos e transformadores que propiciem a aprendizagem significativa. Mediante o reconhecimento desse entrevistado, baseado em sua própria experiência também como docente, explicita abaixo a procedência de sua argumentação: [...] E você pode ensinar, tem várias maneiras de você, principalmente na Matemática, acho que você tem vários outros caminhos para ensinar a mesma coisa. E levando o que os alunos gostam, os computadores para a sala de aula e mostrando que aquilo serve não somente para os alunos acessarem o Orkut ou o MSN, mas também para estudar Matemática, eu acho que aquilo vai prender e fazer com que eles passem a gostar da disciplina e também veja que o computador tem uma outra utilidade, não é só para acessar o Orkut e o MSN (Estudante ME15) Já o estudante EC1, de Geografia, confirma a impregnação do ensino dito tradicional nas práticas da universidade, e o mesmo menciona a dificuldade dos professores universitários em superá-las, mesmo, de modo contraditório, sendo aí o espaço de crítica dessas práticas. Vejamos o que diz: [...] Eu considero que o ensino tem ainda seus resquícios de uma educação tradicional, né e existe uma estrutura bastante forte, eu considero forte porque as novas discussões não têm mudado significativamente este estilo de educação, né, uma educação tradicional. Então, eu vejo assim, que tem possibilidades, tem discussões, os temas a respeito da educação está [sic] aí, está latente, mas ainda tem esse ensino tradicional (Estudante EC1). O estudante acima observa sobre o que Pozo (2002) denomina, como a crise dessa concepção de “aprendizagem baseada na apropriação ‘memorística’ dos conhecimentos e hábitos culturais”, enquanto parte do “desajuste crescente entre o que a sociedade pretende que seus cidadãos aprendam e os processos que põem em marcha para consegui-lo” (POZO, 2002, p.30). 4.2 Representações dos estudantes sobre a relação ensino e pesquisa Conforme vimos, a pesquisa é algo inerente à instituição universitária. E o fato de os professores serem pesquisadores, em tese, significa maior capacidade de reflexão, de levantar dúvidas, de compreender a realidade de vários ângulos, e essas são importantes qualidades para a docência. Mas é questionável que o ensino seja decorrência das práticas de pesquisa realizadas pelos professores, embora não seja fácil duvidar da importância da produção do conhecimento, gerado pela pesquisa, enquanto condição que qualifica a instância universitária como “superior”. Em tese, a pesquisa faz melhores os professores porque os ajuda a pensar, a duvidar, a compreender e essas são qualidades importantes na docência. Pode-se questionar se o bom ensino decorre da pesquisa, mas é pouco sustentável afirmar que o adjetivo “superior” com o que se qualifica a educação de terceiro grau, não esteja intrinsecamente ligada à condição intelectual de produção do conhecimento, portanto às atividades investigativas. (RIBEIRO, 2009, p. 9 ;10) Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 153 Ao ser questionado se a condição de pesquisador dos seus professores, estimulariam as atividades de pesquisa, o estudante MA14, de Letras, que declara ter experiência com pesquisa e iniciação científica, responde o seguinte: Nem sempre, pelo menos no curso de Letras a gente não vê isso, geralmente os alunos que estão interessados na pesquisa... Eles têm uma boa vantagem de procurar, não que isso seja equivocado né, isso deve partir dos alunos também. Mais, eu não vejo os professores chegarem na sala e estimular os alunos, muitos deles são pesquisadores em Letras, eu to falando do curso de Letras, porque é a realidade que eu estou vivendo aqui, e que eu creio que é muito diferente da realidade dos outros cursos. O curso de Letras tem um contexto muito peculiar, mais eu não vejo essa conexão no dia a dia. (Estudante MA14). A resposta acima confirma a dificuldade da maioria dos professores pesquisadores, que muitas vezes lhes faltam a formação pedagógica. Perguntado a esse mesmo estudante se os alunos da UEFS estariam dispostos a aceitarem um ensino com pesquisa, o estudante declara: Penso que sim, só que muitos nem tomam conhecimento... O edital da PROBIC, por exemplo, ta ai eu duvido que cinco pessoas da minha turma saibam do edital da PROBIC. Penso que muitas idéias podem surgir muitas delimitações em termo de pesquisa, mais as pessoas acabam deixando por isso mesmo porque não tem uma articulação, um estímulo. (Estudante MA14) 5 Considerações Finais: Ensino superior ou universidade? A título de considerações finais elencamos abaixo, algumas respostas dos estudantes entrevistados quando perguntados sobre o que diferencia uma instituição de ensino superior de uma universidade. Vejamos. O estudante EC1, de Geografia que declara não ter experiência com pesquisa, fez a seguinte declaração: *...+ “Superior” porque eu acredito que foge da tradição, não é tradição muito bem o que eu quero colocar. “Superior” porque foge das normas antigas da educação. [...] a gente ainda vem bater na mesma tecla de que o ensino superior deve estar pautados nesses três pilares, não por ser superior, mas por ter quesitos necessários que é ensino, extensão e pesquisas, que é quesito necessário para tal.[...] (Estudante EC1) Esse estudante, portanto, associa o ensino superior com o método tradicional e acrescenta também que o ensino é considerado superior por não ser relacionado com as normas antigas da educação, ou seja, o ensino não pode ser tradicionalista e acrescenta que é necessária a articulação entre o ensino a pesquisa e a extensão para tal condição. Por outro lado o estudante de Matemática RA2, que declara ter experiência com pesquisa, afirma que: [...] uma universidade é caracterizada quando nós temos ensino, pesquisa e extensão, são as características de uma universidade. Então vamos ver; o ensino superior de qualidade e aquele que não tem qualidade; que apenas dá um diploma para o profissional, mas ele sai dali com o diploma, mas não Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ qualificado para trabalhar na área para a qual ele foi formado [...] (Estudante RA2) Este estudante retoma o tripé universitário, acrescenta dizendo que o ensino sem qualidade é o que apenas emite um diploma, mostrando que o indivíduo estando em outra instituição de ensino, sem ser a universitária, não tem, supostamente, qualificação para exercer a profissão. Estudante RCS3 de Biologia, que declara ter experiência com pesquisa e iniciação científica, argumenta: Eu acho que é caracterizado como uma unidade superior quando tem o ensino, a pesquisa e a extensão porque a gente tem que tá tendo retribuições pra comunidade através de, como já falei, de palestras, de simpósios aonde estejam esclarecendo algumas dúvidas relacionadas ao diadia etc.(Estudante RCS3) O estudante de Biologia também retoma o discurso do tripé universitário, mas acrescenta falando das contribuições que a universidade precisa dar a comunidade externa, no sentido de mostrar os resultados dos trabalhos realizados dentro da academia. Segundo SAVIANI (1985) o ensino centra-se, basicamente, na transmissão do saber, a pesquisa se destina à produção de novos conhecimentos, onde é ampliado o saber, abrangendo outros âmbitos além do ensino. No caso, da extensão, que é a articulação da universidade com a sociedade sugere que tudo que é produzido no espaço acadêmico seja difundido na comunidade, o que facilitaria para a elevação do nível cultural da mesma. Percebe-se através dos relatos que os estudantes não mencionam a pósgraduação que também é condição para que exista a universidade. Santos (2004) defende a importância da luta pela universidade e considera necessário além da graduação, a pós-graduação, bem como a pesquisa e a extensão. Pois sem esses requisitos não existe universidade, mas sim, apenas ensino superior e denuncia que, “em muitos países, a esmagadora maioria das universidades privadas e mesmo parte das universidades públicas não são universidades porque lhes falta a pesquisa ou a pós-graduação” (SANTOS, 2004, p.65). Segundo MOROSINI (2006) é preciso criar estratégias para aumentar o número de bolsas, desenvolver pesquisas de qualidade, criar novos serviços no campus, buscar e valorizar colaborações de ex-alunos. A universidade tem que ser inovadora e incentivar os seus alunos, dessa forma o ensino se torna efetivo, a pesquisa é de qualidade e poderá ser socializada através da extensão. 6 Referências BARDIN, L. L’analyse de contenu. Paris : Presses Universitaires de la France, 1977. DOURADO, Luiz Fernando; OLIVEIRA, João Ferreira de. A qualidade da educação: Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 155 perspectivas e desafios. Cad. Cedes, Campinas, SP. Vol. 29, n. 78, p. 201-215, maio/ago. 2007. Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br>, acesso em 30 de março de 2012. LÜDKE, M.; ANDRÉ, M.E.D.A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo, EPU, 1986 MOROSINI, Marília Costa (org.). A Universidade no Brasil: concepções e modelos. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2006. MOROSINI, Marília Costa. Universidade e integração no Mercosul: condicionantes e desafios. In MOROSINI, Marília Costa (org.) Universidade no Mercosul. 2ª Ed. São Paulo: Cortez/CNPq/FAPERGS, 1998. MOSCOVICI, Serge. Representações sociais: investigações em psicologia social. Petrópolis: Vozes, 2003. MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo: Hucitec, 10 ed., 2007 POZO, Juan Ignacio. Aprendizes e Mestres: a nova cultura da aprendizagem; trad. Ernani Rosa. - Porto Alegre:Artmed,2002. RIBEIRO, Lopes Marinalva e outros. Qualidade do ensino: Representações de estudantes sobre a relação entre ensino, pesquisa e desenvolvimento profissional docente. Projeto de pesquisa, FAPESB. Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Pedagogia Universitária, Universidade Estadual de Feira de Santana, 2009. SANTOS, Ana Maria Fontes dos. Uma aventura universitária no sertão baiano: da Faculdade de Educação à Universidade de Feira de Santana. Tese de doutorado em Educação. UFBA, 2011. SANTOS, Boaventura de Sousa. A Universidade do Século XXI: por uma reforma democrática da universidade. São Paulo. Cortez, 2004. SAVIANI, Demerval. Ensino público e algumas falas sobre universidade. 2.Ed. São Paulo. Cortez, 1985. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ O CENÁRIO PEDAGÓGICO DE UMA ESCOLA NORMAL NA MICRORREGIÃO DE JACOBINA: CURRÍCULO, FORMAÇÃO E MEMÓRIA. Frederico Brasileiro dos Santos (SEC-BA/DIREC16) Rúbia Mara de Sousa Lapa Cunha (UNEB/CAMPUS IV) RESUMO: Este artigo tem por objetivo nomear o processo de construção e encampação de uma escola normalista rural, remetendo aos aspectos referentes às itinerâncias, à memória e às narrativas das normalistas sobre as suas Histórias de Vida e a percepção da escolarização dos professores na microrregião: das Sacramentinas ao Instituto Senhor do Bonfim. Nesse sentido, traço a partir de uma reflexão sobre os percursos de vida na escola e para a escola normal focalizando as possíveis formas de constituição identitária desse sujeito no âmbito singular das aprendizagens. PALAVRAS-CHAVES: Formação. Currículo. Identidade. Itinerância. Memória. 1 Introdução Pretende-se, aqui, levantar alguns elementos que irão focalizar as identidades dos professores normalistas e as suas possíveis resistências mesmo que, quase silenciosa, nos momentos de reflexão e rememoração de suas práticas em uma época de repressão e, é inevitavelmente a essa tendência, mas ao mesmo tempo são necessariamente desafiadas por um contexto social e cultural que, independentemente dessa nova prescrição identitária, apela a mudanças profundas na actividade docente, no que respeita à relação pedagógica e ao (acesso ao) conhecimento. Por tal viés, se o conhecimento (e os saberes profissionais) são a principal fonte de reconhecimento ou de não reconhecimento das identidades profissionais (Dubar, 1995), interessa aprofundar o lugar por ele ocupado na construção da identidade além de como esses sujeitos “compreendem” a sua passagem pelas salas de aula nos espaços públicos, uma vez que as suas histórias de vida são e marcam “movimentos” de aceitação e também de negação desta formalização de saberes. Porém foi perceptível no centro de formação normal em 1954 teve que mudar o nome em detrimento do falecimento de seu fundador para Deocleciano Barbosa de Castro e teve na sua gênese no projeto de urbanização de um espaço rural com base na Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 157 concepção de políticas públicas, apresentando-se como ponto de referência – os ferroviários – grupo de poder local. As mulheres brasileiras, durante os séculos XVI e XVII, padeciam de tal estado de indulgência cultural que, em certas regiões, não sabiam nem falar a língua portuguesa. Apenas nos conventos podiam receber alguma instrução. No contexto do capitalismo industrial, o ensino normal se revestiu de um caráter elitista, atendendo principalmente às mulheres burguesas, que aí encontravam a oportunidade “permitida” pela sociedade para prosseguir seus estudos e para se preparar para serem “mães e esposas” (PIMENTA; GONÇALVES, 1992). “Formar a professora significava referendá-la como dama do lar, com o sentido do ser ligado à subserviência”. Para Roger Chartier (1988, p.1617), “a história cultural *…+ tem por principal objeto identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler”. Não podemos mais pensar em um professor abstrato, genérico, não podemos mais acreditar, de maneira ingênua, que a formação dos professores acontece que a formação dos professores acontece somente nos espaços destinados a esse fim. Cada vez fica mais claro que as professoras e os professores, mulheres e homens inacabados, contraditórios e multifacetados – com histórias pessoais forjadas nas relações que estabelece com o outro, a cultura, a natureza e consigo mesmos - fazem escolhas criam-se e recriam-se encontrando formas de crescer e de se exercer profissionalmente. (FURLANETTO, 2003, p.14). Nesse processo de Escolarização em massa da população brasileira, nas décadas de 1930 a 1950 respectivamente, implementado por Intelectuais de destaque da Política Baiana como: Isaías Alves, Anísio Teixeira e Góes Calmon, no contexto escolanovista, foi parte do Projeto de Construção de uma Nação Brasileira sobreposto ao País real, que esses agentes consideravam atrasado e ultrapassado, em contraste com os países da Europa Ocidental e o emergente e pujante Estados Unidos da América do Norte. Em contrapartida, a educação brasileira durante o período colonial ficou restrita aos Conventos, em alguns casos a professor particular alocados em residências e/ou fixos em espaços das grandes casas dos proprietários de terras e de escravos que detinham poderes na metrópole, demarcando as imagens e molduras de uma educação pautada em valores “certos” para as moças de família na condução de garantir um casamento adequado aos modelos da época. 2 Objeto de estudo Nesse trabalho, há uma intenção de focalizar as ideias de Candau, Pimenta, Giroux, Cortella, Saviani no intuito de mapear as itinerâncias de educadores que marcaram uma época e pessoas, sem desmerecer ou omitir a força dessa modalidade de ensino em uma época cheia de conturbações e desintegração de ideais de pessoas frente à escuta sensível como instrumento frente à formação do educador. Evidentemente, ao observar a influência das reflexões deflagradas e as reelaborações e as ressignificações dos professores sobre seus percursos como sujeitos na Microrregião de Jacobina buscando fortalecer a imagem do sujeito formado Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ neste espaço educacional, bem como eram constituídos os saberes e as formas de agir nas situações de sala de aprendizagens. Nesta perspectiva, iremos buscar indícios, indicativos e as nuances do processo de formação das normalistas com o intuito de perceber como eram constituídos os sujeitos e de que forma a sua Identidade era construída cuja representem um espaço marcado pelas ideias da Escola Nova e a sua ação simbólica, pois ainda hoje se faz presente na história da comunidade jacobinense há cerca de cinquenta anos. Dessa forma, partimos do pressuposto de que, na rememoração o processo de reconstituição dos fatos são ressignificados e as exigências do contexto em que os sujeitos estão inseridos e quais as consequências de tais mudanças na formação destes indivíduos no decorrer do tempo. Nesta situação, procuraremos verificar a constituição desse sujeito “normalista” e a construção de sua identidade frente ás questões pedagógicas em um período marcado pelas ideias da escola nova que deixa marcas substanciais no processo de uma época com problemas de ordem política e social. Segundo o autor, a identidade é um lugar de lutas, de conflitos aonde se constrói maneiras diversas de ser e estar na profissão. “Por isso, é mais adequado falar em processo indenitário, realçando a mescla dinâmica que caracteriza a maneira como cada um se sente e se diz professor”. (NÓVOA, 1992, p.1) Portanto, focalizaremos as práticas pedagógicas dos docentes da década, elencando as contribuições dos trabalhos rememorativos frente á formação docente as quais são compartilhadas em grupo, tornam-se perceptíveis as expressões discursivas dos normalistas, frente ás questões educativas e as primeiras tentativas de um fazer pedagógico marcado nos textos, nos currículos da época vem pontuar o impacto sofrido pela permuta de nome da instituição de Instituto Senhor do Bonfim a Ginásio Deocleciano Barbosa que vem exercer influência nas ideias do normalista. 3 Referencial teórico-metodológico No mundo globalizado, onde o contexto de aprendizagem se manifesta de formas variadas em que vivemos está a provocar mudanças profundas nas vivências profissionais e na profissionalidade dos/as professores/as, ligadas com a organização do trabalho docente, mas também com os seus objetivos (formação e acesso ao saber), com implicações no trabalho pedagógico e nos conteúdos a partilhar com seus pares nos espaços instituídos e também em ambiente autorizado do tipo Institutos de formação. Na compreensão de Nóvoa (1999, p. 16), a formação de professoras em escolas normais portuguesas contribuiu para a criação da natureza do saber pedagógico que, como percebemos, sempre esteve atrelado a relações “*...+ externas ao mundo dos professores *...+”. Dessa feita, a formação docente necessita ser compreendida com base na dinâmica contextual na qual historicamente se vê envolvida, considerando também os aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais que são constitutivos da profissão professor. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 159 Neste contexto, surgiu a Escola Normalista Instituto Senhor do Bonfim que fora concebida para ser a nova sede da Escola Normal que funcionava antes na cidade de Senhor do Bonfim, nesta configuração tornou-se um estabelecimento de ensino secundário, em um momento de grandes adversidades no circuito Educacional na Bahia, as primeiras aparições e “movimentos” em busca de uma escola de formação para professores a começar pelo interior de origem de seu precursor de Caetité até a cidade de Jacobina. Portanto, no dia 14 de Março de 1936 passou a funcionar o Instituto no prédio cedido a rua e abrigava na sua gênese de sua história o cruzamento das mudanças políticas decorrentes do movimento que o instituiu e autorizou a encampação do Instituto para as cidades circunvizinhas. Assim, ser professora era uma maneira aceitável de sobrevivência, que esvaziava a conotação negativa do trabalho remunerado feminino, sob a máscara da nobreza da vocação e do papel missionário da função. Segundo Demartini e Antunes (1993, p.8) essa “era a única profissão respeitável e única forma institucional de emprego para as mulheres de classe média até o final da década de 30”. Mas também era uma profissão de alto prestígio social para a mulher numa sociedade com baixos índices de escolarização, além de lhe permitir dignidade no seu modo de vida, como afirma Maria Valéria Pena (1981). Consequentemente, o processo de feminização do magistério veio acompanhado de desigualdades, tais como a ascensão na carreira que beneficiava mais aos homens que às mulheres e maior dificuldade de acesso aos estudos posteriores. Bicudo (2003) instiga o olhar para proposição de uma análise conceitual empreendida sobre a formação dos docentes apontando as asperezas – ideologias, objetivo, entre outros - dos modelos educacionais a partir de um duplo viés que diz respeito à forma/ação. Essa compreensão é importante, pois faz nos repensar como em sua construção histórica e concepção do termo formação e a própria figura da normalista sempre carregou, e ainda carrega, em si, em cada momento, em múltiplos sentidos, os quais foram e são corporificados nas práxis educacionais vividas com uma gama de significados que ainda traz a simbologia de “ordens”. Convém afirmar que, essa representação do papel social da Normalista, como mulher, nesse processo de desvelamento do processo identitário, na tentativa de encontrar as experiências relativas ao “ser mulher” e ser normalista, especificamente na microrregião de Jacobina, sertão da Bahia ou na possibilidade de ser dona de casa ou para o ambiente escolar no desenvolvimento de um “ato” de ensinar na condição de transmissor pelas vias da memorização. Existia, ainda, a determinação para que os conteúdos ministrados nas escolas de meninas deveriam, além dos regulares do primeiro grau, abarcar aulas de ortografia, prosódia, noções gerais de deveres morais, religiosos e domésticos na simples idéia de abarcar uma totalidade sem garantias expressas só pela questão quantitativa. Uma estratégia para a diferenciação salarial era a vinculação do salário às disciplinas ensinadas. Os homens deveriam ensinar leitura, escrita, aritmética, geometria, princípios da moral cristã, leitura da Constituição e História do Brasil. Já as mulheres, lecionariam prendas que servissem à economia doméstica, apenas as quatro operações fundamentais, excluindo a geometria, que era uma das mais valorizadas. Como somente aos homens era permitido ensinar tal conteúdo, o salário recebido por eles acabava sendo maior que o das mulheres. A questão salarial do Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ magistério estava ainda vinculada ao papel social do trabalho feminino e, consequentemente, à visão de complementaridade do salário da mulher na família. Exemplo disso é a proposta apresentada em 1914, pelo diretor da Escola Normal de São Paulo, o Prof. Oscar Thompson, ao sugerir o estabelecimento de novos critérios para o escalonamento salarial das/os professoras/es, conforme os seguintes aspectos: “1. a localização da escola; 2. a categoria da escola; 3. a série em que o professor lecionava; 4. o sexo do professor” (DEMARTINI e ANTUNES, 1993, p. 7). A fim de justificar a inclusão deste último item, o Prof. Thompson afirmava as diferentes responsabilidades de professor e de professora: É sabido que o professor tem maiores responsabilidades civis que a professora. O professor é sempre o chefe da família. Pesam exclusivamente sobre seus ombros as obrigações do lar. A professora é em regra casada e com o esposo divide o peso dos encargos de família. Raras vezes a professora é, entre nós, a responsável pelas despesas domésticas. Não é justo, pois, que ambos, em posições diversas, percebam os mesmos vencimentos. Não pretendemos com isto a discriminação dos honorários das professoras, mas desejamos que se algum aumento for possível ele seja em benefício dos professores. (DEMARTINI e ANTUNES, 1993, p. 7). Essa concepção do salário da mulher como complementar ao do homem, e que o trabalho realizado pelas mulheres é visto como menos importante socialmente, contribui para a percepção do magistério, infantil e primário, como inerente à “natureza” feminina, pois a obrigação de garantir os espaços de reprodução da espécie humana cabe somente às mulheres, e esse trabalho deve ser realizado de forma gratuita, com carinho e dedicação, não sendo visto, portanto, como uma tarefa social e de responsabilidade de homens e mulheres. Sendo à natureza feminina, não é um trabalho qualificado. Nesse território ou campo de formação da normalista, há um espaço priveligiado para a construção de uma identidade docente atrelada á professora protagonista de inúmeras histórias que vivenciamos na infância de cada sujeito que referendada na visão de que a escola é uma instituição de ensino que guarda valores e ideias educacionais (BUFFA, 2002) e nela existem elementos que justifiquem o recorte temporal, esta apresentação delimita-se aos anos de 1934-1935, período em que o esses materiais foram apresentados pelas Normalistas, ao final do Curso Normal na Instituição. De acordo com o pensamento de Léa Paixão (1992) que demonstrou que a presença e a permanência das mulheres no magistério estavam associadas a uma multiplicidade de fatores tais como, a possibilidade de romperem com padrões femininos dentro dos limites sociais estabelecidos, exercendo um trabalho de importância social e tendo independência financeira. Para Nilma Lino Gomes (1994) o magistério possibilitava o acesso a um espaço social de detenção/transmissão do conhecimento, no qual as mulheres, em especial as negras, vêm ocupando uma profissão de domínio do saber, papel negado durante anos à sua raça. Nesta situação, percebe-se que, na constituição desse sujeito “normalista” e a construção de sua identidade frente ás questões pedagógicas em um período marcado pelas ideias da Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 161 escola nova que deixa marcas substanciais no processo de uma época com problemas de ordem política e social. A respeito do envolvimento escolar na produção da profissão docente Nóvoa (1999, p.18) assevera que: As instituições de formação ocupam um lugar central na produção e reprodução do corpo de saberes e do sistema de normas da profissão docente, desempenhando um papel crucial na elaboração dos conhecimentos pedagógicos e de uma ideologia comum. Mais do que formar professores (a título individual), as escolas normais produzem a profissão docente (a nível coletivo), contribuindo para a socialização dos seus membros e para gênese de uma cultura profissional. Ao longo do século XIX consolida-se uma imagem do professor, que cruza as referências ao magistério docente, ao apostolado e ao sacerdócio com humildade e obediência devidas aos funcionários públicos, tudo isto envolto numa auréola algo mística de valorização das qualidades de relação e de compreensão da pessoa humana (NÓVOA, 1995, p. 16). Em cenário nacional, ao evidenciar o papel das escolas normais no desenvolvimento profissional de professores, Brzezinski (1996, p. 19) ressalta que “*...+ a escola normal foi, por quase um século, locus formal e obrigatório como escola de formação de professores para atuar na escola fundamental, na escola complementar e na própria escola normal”. Conforme este ângulo de análise, Nóvoa, ao referir-se sobre a realidade portuguesa, também destaca o papel trilhado pelas escolas normais na escolarização dos docentes: [...] a formação de professores passou a ocupar um lugar de primeiro plano desde meados do século XIX e o ensino normal constitui um dos lugares privilegiados de configuração da profissão docente. Em torno da produção de um saber socialmente legitimado, relativo às questões do ensino e da delimitação de um poder regulador sobre o professorado, afrontam-se visões distintas da profissão docente nas décadas de viragem do século XIX para o século XX. (NÓVOA,1995, p. 16). Nesse contexto, Furlanetto (2003), denomina de subsolos de docência, isto é do real entendimento de como as identidades são constituídas e construídas nos percursos de suas itinerâncias em tempos e espaços de formação conjugando os elementos em dimensões pessoais e coletivas. Nietzsche (in NEUKAMP, 2007) pensou em sua época a educação moderna como nefasta ppressupor métodos antinaturais de ensino com a redução da cultura através da ampliação da especialização. Pensava essa tendência como uma visão utilitária da cultura dominada por critérios quantitativos de especializar o maior número possível de pessoas para o mercado de trabalho. Todavia, o professor que atuou sob a corrente de Formação da Escola Nova a partir das incursões de Anísio Teixeira no mundo educacional veio favorecer o surgimento de um espaço específico no qual representa o papel da Escola Nova na formação do professor e com características peculiares às moças de famílias que, mesmo de conduta e valores apreciados, ainda manifestavam rebeldia mesmo nos espaços religiosos ou nas suas breves aparições em lugares públicos temos na literatura uma rápida informação no livro “As Normalistas de Adolpho Caminha” que Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ coloca inicialmente a figura da normalista como um ser puro que é corrompido a partir das investidas do padrasto em torná-la mulher. Ainda fazendo parte dessa realidade, Contreras (2002) discute uma das ideias vivenciadas pela comunidade educacional que é a falta de autonomia do professor profissional. O professor deve superar as limitações e as posições precedentes que são reveladas e demarcam toda a progressiva da educação. O professor deve adquirir certas “capacidades” para trabalhar com eficiência e qualidade no campo educacional Segundo Contreras há três dimensões de profissionalidade de professores; o especialista técnico que considera sua autonomia como status ou atributo tem dependência técnica, insensibilidade para os dilemas, incapacidade de resposta criativa diante da incerteza. Pode-se considerar o perfil profissional das normalistas enquanto um profissional reflexivo aquele que tem responsabilidade moral individual, equilíbrio, capacidade para resolver criativamente as situações-problema porque na época as escolas eram consideradas “isoladas” tanto no referente ao espaço como no que diz respeito ao “poder” de decisão do professor, pois o intelectual crítico tem a autonomia como emancipação, liberação profissional e social das opressões, consciência crítica dirigida à transformação das condições institucionais e sociais do ensino. Desses modelos de professores profissionais deve ficar claro que Contreras não leva a descrição, ou seja, não subordina a ideologia do profissionalismo, mas defende algumas qualidades necessárias ao ato de ensinar, “ao passo que elege o professor intelectual crítico como o melhor modelo” que a educação precisa para concretizar um ensino de qualidade fomentado pela autonomia docente e profissionalismo. Tal corrente de Formação da Escola Nova, a partir das incursões de Anísio Teixeira no mundo educacional veio favorecer o surgimento de um espaço específico e com características peculiares ás moças de famílias que, mesmo de conduta e valores apreciados, ainda manifestavam rebeldia mesmo nos espaços de religioso ou nas suas breves aparições em lugares públicos. Ao tentar fazer analogias a respeito do e como o conhecimento (e os saberes profissionais) se tornam essenciais e ou são a principal fonte de reconhecimento ou de não reconhecimento das identidades profissionais (Dubar, 1995), interessa aprofundar o lugar por ele ocupado na construção da identidade além de como esses sujeitos “compreendem” a sua passagem pelas salas de aula nos espaços públicos, uma vez que as suas histórias de vida são e marcam “movimentos” de aceitação e também de negação desta formalização de saberes. Ao passo que, ao considerar o movimento da formação e seu processo em si, vimos que, a concepção das histórias de vidas e a própria constituição de sua identidade docente vão corroborar para que seus caminhos e itinerâncias sejam ressignificados a partir do local de onde se fala e como esse sujeito se localiza nesse processo de alocação de identidade. Ao tentar fazer uma conexão e compreender através das falas de algumas ex-normalistas percebemos que, mesmo de forma restrita há indicativos de visão de que a educação no país sofreu modificações, mas que chegaram de forma sorateira nos espaços e que os sujeitos não se incomodam muito Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 163 pela não aprendizagem. Segundo Pimenta, ao relatar sobre a identidade profissional afirma que: [...] constrói-se também pelo significado que cada professor enquanto autor e ator confere á atividade docente no seu cotidiano a partir de seus valores, se seu modo de se situar no mundo, de sua história de vida, de suas representações, de seus saberes, de suas angústias e de seus anseios, do sentido que tem em sua vida ser professor [.....] (PIMENTA, 2005 p.19). Por outro aspecto, a atividade do professor é cada vez mais questionada frente tais mudanças que acabam por exigir desse profissional, outros conhecimentos para desempenhar sua função em uma sociedade cada vez mais globalizada, que projetam determinados tipos de aspirações e características como condição da melhoria da qualidade da educação que está longe de ser “alcançada” se trilhar e encaminhar com essas proposições de Caixinha pronta de conhecimentos no intuito de “moldar” sujeitos para viverem em comunidade. Em outro momento, deparo-me com a visão de Nóvoa (2000), ser professor é um misto de vontades, acasos e rotinas de comportamentos que eram conduzidos de forma prazerosa e tão desprazerosas em outros momentos para a categoria de ser professor esses são indícios da constituição e construção de um docente ou professor em formação. Entende-se que, os fios entrelaçados tentam estabelecer uma ligação de duas dimensões: narrar, lembrar e ressignificar os fatos vividos para uma projeção que estava nos “moldes” e “modelos” previstos na época da repressão principalmente para as mulheres trabalhadoras. Entretanto, o uso das narrativas autobiográficas na pesquisa em Educação se constitui em estratégia metodológica cada vez mais comum por permitir compreender o espaço escolar pelo olhar dos sujeitos que o vivenciaram tais circunstâncias nas condições imposta pela sociedade. Diante de tais situações e entrelaçamentos e da “movimentação” desses profissionais para demarcar a sua autonomia e identidade docente de maneira muito peculiar vai adentrando o sertão da Bahia para consagrar a vida de uns e “agradar” a vivência de outros. Enquanto Buffa (2002), afirma-nos que a escola é uma instituição que “guarda” valores e ideias educacionais, assim pretendemos desvelar a construção da identidade do docente e a funcionalidade de seus saberes no Instituto e a validade dos mesmos nas circunstâncias de vida em que seus conhecimentos se projetavam na própria movimentação dessas normalistas em suas respectivas “cadeiras” nos espaços considerados rurais, pois esse era um determinante na primeira designação. Ao repensar a formação docente, Pimenta (2005) vem de forma pretensiosa falar da não mutabilidade da identidade e nos apresenta o poder que a sociedade exerce sobre o sujeito em um contexto, pois as demandas sociais irão por evidência a sua funcionalidade e validade. No contexto de época autoritário do Estado Novo, quando nos reportarmos a década de 1940, observa-se fortemente presente o discurso cívico-militar, propagando a ideia de ordem e disciplina e as imagens religiosas. Entretanto, ideias que se expressam no trecho abaixo, por ocasião do lançamento da revista, em artigo intitulado “Palavras de Apresentação e de Fé”: Uma chama sagrada nos acende o Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ peito, neste momento de efervescência nacional. “Numa época em que todos se organizam em que todos ocupam na sociedade o posto devido nessa cruzada em prol do progresso do país, a mocidade do Instituto Normal não pode ficar inerte, sem tomar parte neste concerto patriótico.” Nesta situação, procuraremos verificar a constituição desse sujeito “normalista” e a construção de sua identidade frente ás questões pedagógicas em um período marcado pelas ideias da escola nova que deixa marcas substanciais no processo de uma época com problemas de ordem política e social. Assumir como possível para a compreensão da construção de uma realidade social por meio das representações implica em romper com o “conceito de sujeito universal e abstrato” 26 (CHARTIER, 1988, p. 25). Por isso, procuramos apreender a construção desses sujeitos, formando um grupo cultural específico, que iria lecionar nos grupos escolares definidos pela legislação escolar, ou seja, como um grupo produzido no interior das relações sociais, mediadas também pela escola. Nesta perspectiva, ao introduzir a história de vida de professores como possibilidade de constituição e construção do trabalho docente a partir de seus saberes vamos nos ancorar nas ideias de Pimenta (2005) que vem refutar toda e qualquer iniciativa que impeça a voz e atitudes desse docente que ao entender o seu processo e condição da reflexibilidade na contemporaneidade vai nos demonstrar uma possível ressignificação de suas memórias contidas nos depoimentos ou nas narrativas de si presentes em seus escritos memoriais. Em contrapartida, pretende-se elencar as categorias de formação e de (de)formação dos sujeitos normalistas no campo da Formação de Professores, que é ainda ferramenta para a reflexão sobre a prática, formação e as experiências docentes. Seguindo essas premissas, torna-se necessário entender quais arcabouços e conceitos teóricos, as memórias, extraídas de narrativas, têm sido analisadas e de que forma as professoras normalistas se constituíram enquanto docente e suas possíveis singularidades nesses percursos pedagógicos. Grande parte dos estudos que versam sobre as escolas normais geralmente destaca uma formação desprovida de embasamento político, ressaltando a supervalorização das dimensões técnicas do ensino. Neste momento, uma reflexão que não merece ser silenciada sobre o papel formativo, consiste em reconhecê-las como um dos primeiros espaços de abertura à escolarização e profissionalização feminina. Ainda que na contramão da história, por mais que a abertura à escolarização das mulheres inicialmente não tenha se constituído na fomentação de uma conscientização política, não podemos desconsiderar o caráter autônomo que envolve a profissão docente. Portanto, a encampação pelo Estado do Instituto veio fortalecer as iniciativas desses comerciantes em “garantir estudos para as moças de família da comunidade, pois aquelas que não tinham pais abonados ou eram de famílias tradicionais eram impedidas de estudar”. Conquanto, outros privilégios ou artifícios eram criados para garantir um acesso pela via da religiosidade em contextos de “indicação” por autoridades como: párocos, comerciantes e políticos. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 165 Ao rememorar suas vidas e vivências de base experiencial, as normalistas do sertão rural baiano tinham também ideais que não eram diferentes das da capital porque apresentavam um perfil singular e na “rebeldia” peculiar de moças de famílias já direcionavam seu olhar para o mundo fora da escola como uma das estrofes da música sinaliza “minha normalista linda não pode casar ainda só depois de se “formar”... Nesta estrofe a sexualidade e a própria significação do termo formar vem estabelecer a ideia de um inacabado que por muito tempo perdurou na sociedade como se na escola fosse garantida a formação integral desse sujeito, dessa forma, partimos do pressuposto de que, na rememoração o processo de reconstituição dos fatos são ressignificados e as exigências do contexto em que os sujeitos estão inseridos e ou quais as consequências de tais mudanças na formação destes indivíduos no decurso do tempo. Ao propor, inicialmente, um diálogo entre Arfuch (2004), e Nóvoa (2000), no intuito de colocar em relevo a abordagem Identitária do sujeito e sua condição na e de formação docente no que diz respeito ao que podem oferecer, pois são os elementos essenciais para a compreensão dos dilemas do território e dos contextos de aprendências nos espaços da escola normal desde o ambiente da Sacramentinas até o C.E.D.B.C.. Desafios impostos pela sociedade atual assinalam para as pesquisas em educação e as outras matrizes teórico-metodológicas, reconfigurando o palco produtivo no que tange a formação docente. É desse lugar que visualizo trabalhos que se aproximam dos elementos considerados por muito tempo e, ainda hoje, pela tradição científica como marginais, dentre as quais cito pesquisas como as de Nóvoa (2000), Josso (2004) e Souza (2006) que focam as histórias de vida e formação dos sujeitos. Finalmente em 1939, fora instalado no prédio localizado à Rua do Convento das Irmãs e as primeiras normalistas do Instituto Senhor do Bonfim, oriundas do Educandário Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, colégio até aquele momento responsável pela formação de professoras que, tinham na projeção da imagem nas praças e avenidas com as marcas de uniforme azul e branco com saias pinçadas e bempassadas para fazer a diferença no trajeto e puderam atravessar a cidade do ouro com distinção marcada pela simbologia e metáfora de seus trajes eram nossas “pepitas” que representavam a riqueza de saberes em um local autorizado. Nesse sentido, as escolas normais: [...] constituíam um espaço de formação socialmente aceito, responsável pela profissionalização de um grande número de mulheres. A possibilidade de exercer uma profissão socialmente permitida garantia às mulheres a oportunidade de transcender o âmbito doméstico na busca da realização e independência social e econômica (FREITAS, 2003, p. 37). A reflexão de Freitas evidencia a imagem social atribuída ao magistério, principalmente das séries iniciais e 1ª a 4ª série como espaço de atuação feminina, caracterizando-se como um dos primeiros espaços de atividade profissional, mesmo que carregada posteriormente de pré-conceitos e desvalorizações relacionadas a classes e categorias profissionais. Desta forma, é interessante cintilar como a docência é um dos primeiros locais em que as mulheres tiveram a oportunidade, ainda que de forma sutil, de transpor os espaços fundamentalmente domésticos, e se inserirem na dinâmica social. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Também é possível que, na abertura do ensino nas escolas normais destinadas às mulheres se deu a partir da “necessidade” portuguesa de não confinar as filhas e mulheres no espaço familiar. É neste contexto histórico que essas instituições passaram também a admitir mulheres, porém mesmo assim, não se misturariam aos homens. Em palco brasileiro, essa situação não foi tão diferente, visto que as primeiras escolas normais atenderiam rigorosamente ou apenas mulheres ou somente homens, fato este que persistirá durante muito tempo. Na análise de Oliveira (2003), a entrada da mulher no magistério brasileiro criou no imaginário social masculino uma perspectiva de desqualificação profissional. Isto fez com que os homens, de certa forma, se afastassem do exercício da docência, principalmente na educação infantil e nas séries iniciais, evidenciando-se a partir daí o desprestígio no magistério, com pagamento de baixos salários. Em âmbito nacional, Freitas (2003) menciona que o estado do Bahia se insere no cenário educacional como o segundo Estado brasileiro a criar uma escola normal, em 1836. É possível dizer que o Instituto Senhor do Bonfim se instalou em Jacobina em um momento histórico em que a cidade vivia o início da sua criação e encontrava-se em uma época marcada pelas descobertas de minas de ouro nas serras que revestem a região da chapada diamantina, coincidindo com o desenvolvimento econômico e político da microrregião. Nesse ínterim é implementado o projeto de criação da escola normal rural da cidade para atender a educação de seus munícipes e torna-se real os ideais de um jovem intelectual baiano de uma cidade do interior que tenta sacudir o espaço pedagógico e trazer á tona tudo aquilo que aprendeu e suas próprias desconstruções de ambientes religiosos e de suas caminhas na Europa. Inicialmente, tal processo de formação era garantido apenas aos homens. É somente depois de algum tempo que as mulheres passam a ser aceitas. Segundo a historiografia oficial, é a partir de 1871 que os homens passaram a usufruir do mesmo espaço (prédio e não salas) que as mulheres, pois, no que diz respeito ao ensino normal no Pará a instrução destinada às professoras acontecia em prédio diferenciado. As aulas destinadas aos alunos realizavam-se na casa dos Padres (localizada na Rua do Convento), enquanto que para as alunas se realizavam no Colégio Nossa Senhora Santíssimo Sacramento. (SOUZA, 1972). Nessa direção, Nóvoa (1995, p. 16) vislumbra uma dupla dimensão constituinte na formação de professores (as) normalistas, pois: As escolas normais são instituições criadas pelo Estado para controlar um corpo profissional que conquista uma importância acrescida nos quadros de projetos de escolarização de massas; mas são também espaço de afirmação profissional, de onde emerge um espírito de corpo solidário. As escolas normais legitimam um saber produzido no exterior da profissão docente que veicula uma concepção de professores centrada na difusão e na transmissão de conhecimentos; mas são também lugar de reflexão sobre as práticas. O que permite vislumbrar uma perspectiva dos professores como profissionais produtores de saber e de saber-fazer. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário o 167 Tomando por princípio as trajetórias formativas de professores(as) podem nos auxiliar na compreensão dos elementos históricos, sociais, culturais e pedagógicos em que a formação inicial e a escola normal estavam alicerçadas, favorecendo a compreensão dos componentes identitários enfatizados na formação das professoras pesquisadas. E é por isso que não podemos suprimir da história da escolarização/formação de professores as contribuições e os saberes oriundos das escolas normais. Sendo assim, o movimento de rememorar os caminhos percorridos na busca de perceber os estilhaços lançados à profissão docente a partir da criação das escolas normais, é interessante, pois, permite-nos analisar a gênese dos processos históricos, os impasses e os avanços na constituição da identidade docente, de rupturas e de desvalorizações. Diante esse quadro, o surgimento das professoras normalistas na microrregião veio oportunizar e favorecer o ingresso de jovens que desejavam “aumentar” a instrução e “formar” boas mães, porém com todas as Sumário limitações, desempenhou papel relevante na participação cultural das mulheres, portanto foi a escola normal/magistério um prolongamento das ocupações femininas de base legalizada. Na tentativa de se estabelecer um recorte temporal 1930/1960 apontando as marcas do processo formativo e sua vivência no que tal espaço educacional produziu e instituiu aquele modelo de professor cujas representações e juízos de valor eram de “senhoras” de conhecimentos, consideradas hábeis educadoras “donas” de saberes que eram virtudes específicas de quem vivia e convivia nos espaços educativos. No âmbito desse movimento singular de diversas aprendizagens, acredita-se que assim, ao observar a influência das reflexões deflagradas, as reelaborações das narrativas de professores sobre seus percursos como sujeitos e o fortalecimento das imagens do sujeito formado, bem como, eram constituídos os saberes davam garantias de que esse sujeito cumpria a sua tarefa de ensinar e na disseminação do conhecimento. 4 Conclusão Ao considerarmos que essa análise das forças que se afrontam na formação da escolha e da memória das normalistas que pretendo investigar está direcionada ás Histórias de vida que serão abordadas nas narrativas das ex-normalistas do Instituto Senhor do Bonfim a partir do recorte temporal 40/50 com relação à sua escolha profissional, as memórias e ao seu processo formativo focalizando as práticas instituídas e a identidade desse sujeito formado no espaço da escola normal rural. Nessa investigação a memória foi utilizada como forma de ressignificar as ações do presente com vistas ao passado, na busca de compreender o sentido da formação identitária do sujeito frente as histórias de vida e juízo de valor sobre a identidade das normalistas na instituição, a profissão docente e a relevância dessas práticas pedagógicas que ficam vinculadas á sua vida. No mês de fevereiro de ano 1936, período que registra a inserção da professora, ou seja, a matrícula na escola primária. Havia nessa ocasião uma escola estadual com algumas professoras regentes: Alice Barros de Figueiredo, Deraldina Ferreira da Silva Teixeira, Maria de Lourdes Mutti Almeida Grassi, Judith Lima e Ismênia Dantas, funcionando em regime de classes reunidas no grande salão da residência da Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ professora Alice, hoje, residência da Sra. Eunice Mesquita Maia. Como aluna do 4º ano primário, fui matriculada com a professora Deraldina. Ferreira da Silva e diante de sua curiosidade que tudo pretendia saber, assim “Perguntava então às minhas professoras: sendo elas as primeiras regentes formadas, quem havia ensinado antes”? E vieram as explicações na voz do aluno do professor Matatias. Logo, cogitou-se o problema da Instrução Pública com as consequências e a dificuldade de encontrar mestres abalizados, o governo brasileiro acolheu com entusiasmo o método lancasteriano ou de ensino-mútuo. Lancaster havia declarado ao rei da Inglaterra que sozinho poderia ministrar o ensino a 500 alunos. Os exercícios nessas escolas eram cadenciados, cada aluno, menos ignorante do que o outro comandava a um grupo de dez (decúria) e lhes ministrava toda sua ciência. (Peeters; Cooman, 1936). Na Escola, ocorria a presença de ações discriminatórias que eram reforçadas pela escola na figura do professor e a separação de “cores”, os brancos de um lado e os moreninhos e pretos de outro (!). Além de falhas no sistema avaliativo que perduraram por muito tempo como o velho Matatias, que obtendo no fim do ano o primeiro lugar “por saber”, o mesmo lhe foi negado por motivo de cor, sendo o seu colega branco, agraciado, ou seja, premiado e recebendo todas as vantagens e as promoções que foram negadas ao estudante negro. A escola funcionava das 08 as 12 e das 13 às 16 horas, já funcionava em horário integral e fazia uso de certos instrumentos como: o uso da palmatória- justificava-se: era o ensino à base de “a letra com sangue entra!”. Era a maneira de ensinar a aprender batendo nas mãos ou como se dizia, dando “bolo” em quem não respondia certo, até sangrar as mãos; porque não só existiam alunos inteligentes ou estudiosos, mas também outros “rudes” ou desprovidos de inteligência. Correspondia à aplicação do chicote ou férula pelos romanos. Na escola o regime disciplinar fazia analogia ao militarismo e as artimanhas dos docentes no que tange ao modelar comportamentos. Há um enfoque nas escolas destinado ás meninas que, em sua época funcionavam as escolas para meninas, das professoras Maria Umbelina e sua prima Rosa Alves de Araújo, Berta Brasília Torres de Castro, Maria Lavina Correia de Vasconcelos de Messias Moreira. Cada família tinha uma professora para suas filhas... De acordo com Souza (2000), torna-se necessário também tentar compreender a maneira com que professores e alunos reconstruíram sua experiência, como construíam relações, estratégias, significações por meio das quais construíram a si próprios como sujeitos históricos... “Das Sacramentinas só tenho palavras de louvor e agradecimento por minha formação cultural e espiritual, já alicerçada por minha família, tradicionalmente religiosa”. Aprendi muito com aquelas Irmãs... apesar de aluna interna, fiz grandes amizades naquela cidade, destacando-se as famílias Sena Gomes, de Ceciliano Carvalho e de Oclenídia Oliveira. Consta em registro, num livro do arquivo das Escolas Reunidas Luís Anselmo da Fonseca, a primeira visita inspecional de uma autoridade do Estado, datada de 9 de março de 1931, pelo então Inspetor de Ensino o Dr. José de Souza Dantas. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 169 É sob esse prisma que depois de vencidos os obstáculos, na fala de Professora Alcira Silva “estava eu Professora! O Jornal “O Lidador” ainda circulava com todo o vigor de suas máquinas e no registro da jornalista frisava que “ toda semana saía o perfil de um professorando. O meu, feito pelo colega Floro Maia em novembro, dizia: Eis a nossa colega Alcira, uma das que integra a turma de professorandos deste ano. Cirinha, como a chamamos na intimidade e cujos traços anátomo-psicológicos serão mencionados aqui em ligeiro bosquejo; é de físico franzino embora dotado de um grande espírito pela lei da compensação, morena pela ação do sol ardente deste sertão baiano, cabelos castanhos levemente jogados atrás da orelha em “ondulação permanente”, os seus olhos também castanhos e sonhadores deixam transparecer toda a candura de sua alma jovem e cheia de ideal. Como vimos, a nossa perfilada possui todas as qualidades para vencer na carreira escolhida: idealista, entusiasta, inteligente e possuidora de um belo caráter e imenso coração, estando mesmo talhada para ser a professora do futuro. De acordo com as informações do Biógrafo Afonso Costa, que ouviu as narrativas da escritora já septuagenária Ana Autran que, ao escrever em Jornais baianos com espírito aguerrido e de agitadora, posicionou-se de forma republicana e abolicionista para defender a mulher na luta pelos direitos sociais. Em torno de ideias em que a mulher possuía capacidades intelectuais iguais ás dos homens; que a razão, e não só a emoção, era atributo do seu sexo; e que o direito á educação deveria ser algo assegurado no meio em que vivia. Não via incompatibilidade alguma entre o exercício da profissão e a dedicação aos estudos com o projeto da família. Vislumbrava, ao contrário, um resultado positivo para o lar doméstico. O seu testemunho não deixava dúvidas: [...] e como negar-se á mulher o direito de ilustrar-se para cultivar igualmente a sua inteligência, e poder educar melhor a sua família? Se encararmo-la pelo lado da maternidade, quem melhor do que ele poderá ser mestra de seus filhos?[...] Em vários de seus escritos, a autora portuguesa afirmava e reafirmava a liberdade de escolha feminina e o respeito as suas pretensões e capacidades, fazendo da denúncia à bandeira de sua luta; Querereis saber por que a mulher vos parece menos inteligente do que o homem, e mais fraca ainda do que ele? É porque a sociedade condenou-a á ignorância e ao esquecimento. É por isso que não podendo Ella defender-se por outra forma, só encontre a defesa nas lagrimas [...]. Coracini (2007), afirma-nos sobre a essência, da estabilidade, da verdade e da identidade que carregam poder no espaço da escola, portanto é de grande valia enfatizar que as identidades são construídas e (dês)construídas e legitimadas a partir das relações sociais que são travadas na escola. Nesse movimento do Processo de formação da identidade da professora normalista, vamos perceber que tais concepções são e estão marcadas pelo discurso da “ordem” e do “progresso” que foram instaurados nos Institutos de Educação que se propagaram por todas as escolas normais para “garantir” um certo padrão ou modelo de comportamento. No que tange á lógica da formação indenitária há um alerta sobre a complexidade existente entre os aspectos teóricos metodológicos e as matizes políticas e epistemológicas de constituição do ser humano, de mundo e de sociedade. Enfim, durante muito tempo, a profissão docente foi a única em que as mulheres puderam ser “apresentadas” enquanto ser e viver se na profissão pois ao saírem da Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ esfera doméstica , passaram a ter maior liberdade e autonomia num mundo em que o homem era o ser dominante, conforme Almeida ( 1998, p. 23). Finalmente, no dia 16 de Dezembro 1942, aconteceu a formatura da normalista Alcira Carvalho, em uma fase que ela denominou como maravilhosa, pois seus sonhos estavam sendo concretizados. Sendo assim, o Cenário Educacional da cidade de Jacobina começou a sofrer mudanças positivas em Janeiro de 1944, período que marca o momento em que a professora Alcira Carvalho adentra no Instituto Senhor do Bonfim (novo nome do Colégio), Centro Educacional Deocleciano Barbosa de Castro sendo a mesma convidada para ocupar a “cadeira” de Psicologia e, ainda tinha outro desafio iria lecionar na primeira turma que era constituída de alunas, que foram suas contemporâneas, como: Irene Cardoso, Lolita Vieira, Nilza Cerqueira, Edi Oliveira... todas hoje professoras realizadas pelo trabalho e são e estão satisfeitas pela formação conquistada. Assim, temos em seu depoimento a seguinte indagação: “Para mim foi uma empolgação e ao mesmo tempo, um “sufoco”, pois substitui um dos meus professores mais queridos, Dr. Agnaldo Caldas, na cadeira de Psicologia. Passei a lecionar também as cadeiras de Pedagogia, Metodologia e História da Educação para as quais me foi concedido, mais tarde, um Registro pelo Departamento de Educação do Estado (1º de setembro de 1947)”. No ano de 1947, em abril, por solicitação do Instituto Senhor do Bonfim, foi organizada e funcionar o 1º Jardim da Infância de Jacobina, anexo ao referido Educandário. Foi instalado na Rua da Aurora onde funcionava o internato masculino do Instituto Senhor do Bonfim coordenado pelo Professor. Valdomiro Barbosa de Castro (o Professor Vavá), este filho do saudoso Professor Deocleciano Barbosa de Castro. Foram alunos na época: Láusia e Ubirajara Carvalho Silva (estes enteados), Antonio e Eliana Mesquita, Durval e Verbena Mesquita Maia, Maria e Lícia Figueiredo, Nely Castro, Dailva Souza, Clélia Silva, Celso Brito, Maria Barberino Mendes, Hamilton Teixeira de Freitas e Amélia Nunes. “Para que este curso funcionasse, tive que ir à Salvador onde fiz curso e estágio de observação no “Colégio Osvaldo Cruz” no bairro do Rio Vermelho”. Torna-se importante mencionar que o grande idealizador das escolas normais no interior da Bahia, foi o baiano Anísio Spínola Teixeira em um dos seus discursos após chegar da Europa de forma bastante politizada em defender ideais de mulheres em “formação" para a vida. É importante salientar que, na tentativa de fazer uso das palavras de Lozano (2006, p 17), “fazer história oral significa, portanto, produzir conhecimentos científicos e, não simplesmente um relato ordenado da vida e da experiência dos outros”. Sendo assim, a nossa pretensão em registrar as narrativas de ex-normalistas como um ”falar” autorizado de suas falas contemplando as histórias de vida de maneira não linear, pois as circunstâncias e as situações em que ocorrem no dia a dia não são de forma linear. 5 Referências: ALMEIDA, Dóris Bittencourt. A educação rural como processo civilizador. In: Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 171 BUFFA, Ester. História e filosofia das instituições escolares. In: ARAUJO, José Carlos Souza; GATTI JR, Décio. Novos temas em história da educação brasileira: instituições escolares e educação na imprensa. Campina (SP): Autores Associados, 2002. p. 25-38. CHARTIER, Roger. A História Cultural entre práticas e representações. Lisboa: DIFEL. 1988. CONTRERAS, José. A autonomia de professores. São Paulo: Cortez, 2002. DUBAR, Claude. La socialisation: professionnalles. Paris: A. Colin, 1995. construction des identites sociales et FREITAS, Anamaria Gonçalves Bueno de. Vestidas de azul e branco: um estudo sobre reresntações de ex-normalistas (1920-1950). São Cristóvão: Grupo de estudos e pesquisas em História da Educação/NPGED. 2003. FURLANETTO, Ecleide Cunico. Como nasce um professor? Uma reflexão sobre o processo de individualização e formação. São Paulo:Paulus, 2003. GIROUX, Henry. Os professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. JOSSO, Marie Christine. Experiências de Vida e Formação. São Paulo: Cortez, 2002. NÓVOA, António. Formação de professor e profissão docente. In: NÓVOA, António. (Org.). O professor e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992. OLIVEIRA. Valeska Fortes de. Implicar-se... Implicando com professores: Tentando produzir sentidos na investigação/formação. In: SOUZA, Elizeu Clementino de. Autobiografias, histórias de vida e formação. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2006. SAVIANI, Demerval. Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações. 6 ed – Campinas, SP: Autores Associados. 1997. SOUZA Elizeu Clementino de. A vida com as histórias de vida: apontamentos sobre pesquisa e formação. In: EGGERT, Edla, et al (Org.) Trajetórias e processos de ensinar e aprender: didática e formação de professores. Porto alegre: EDIPUCRS, 2008. ______. Relatório Técnico de Pesquisa – Projeto Ruralidades diversas-diversas ruralidades: sujeitos, instituições e práticas pedagógicas nas escolas do campo, Bahia-Brasil. Salvador, 2010. PIMENTA, Selma Garrido e GHEDIN, Evandro (Orgs.). Professor reflexivo no Brasil: Gênese e crítica de um conceito. São Paulo: Cortez, 2002. p. 81-87. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ O CONSTRUCIONISMO E INOVAÇÃO PEDAGÓGICA: a ordem é inovar! Cinara Barbosa de Oliveira Morais UNEB – DCHT – Campus XVI) RESUMO: O artigo tem como proposta discutir o ensino e aprendizagem dentro da perspectiva construcionista com o foco na inovação pedagógica. Para tanto, partiu-se do processo histórico da educação para definir o percurso paradigmático do estudo, que traz a discussão apoiada metodologicamente em Papert (1994) e o construcionismo, bem como a inovação pedagógica em Fino (2007). A inovação pedagógica aqui defendida tem seus pressupostos fincados na ação pedagógica intencional, de ruptura com o modelo vigente, pois coloca a aprendizagem como elemento central, como contexto de ação, colaboração e interação para a construção do conhecimento em uma sociedade em transformação. PALAVRAS-CHAVES: Construcionismo; Inovação Pedagógica; Aprendizagem. 1-Introdução A discussão da temática abordada nesse texto traz a trajetória da educação antes da escola e a partir do seu nascimento como percurso histórico para compreendermos postulados que interferem nos processos de ensino e aprendizagem e o encaminhamento para mudanças através da construção de práticas pedagógicas inovadoras. Apresenta-se o construcionismo como paradigma possível para efetivar as mudanças necessárias à educação. Expõem conceitos de inovação construídos a partir do ideal tecnológico e do parâmetro da prática pedagógica inovadora para aprender, no confronto da “visão incrementadora” para a “visão disruptiva” do uso do computador na escola com base na proposta teórica de Seymour Papert construcionismo, Jean Piaget - Construtivismo Paulo Freire- problematização e Vygotsky - ZDP. 173 Um dos grandes desafios da escola é garantir a aprendizagem dos alunos. Assim, como é desafio da escola sempre foi também da sociedade ter maior controle sobre a aprendizagem (FINO, 2007). Na busca de ter os maiores rankings educativos, os sistemas de ensino buscam políticas educacionais, que sustentem os altos índices e proclamam a qualidade da educação oferecida pelas vias da escola. A crise da escola e de seus pressupostos paradigmáticos coloca em desconfiança o processo de formação dos sujeitos que nela adentra. As críticas que a escola tem sofrido é resultado de uma trajetória histórica dos processos da educação sistematizada, desde o seu surgimento até os nossos tempos. Estamos diante de uma escola que não mudou. Uma escola que enfrentou revoluções, guerras, crises mundiais, reformas curriculares, propostas pedagógicas Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário incrementadoras a chegada das tecnologias como inovação no ensino e aprendizagem. Uma escola que viu grandes transformações acontecerem das mais diversas formas e forças pela religião e pela ciência e ainda assim, resiste através de mecanismos e pretextos de controle do processo de aquisição do conhecimento por meio do currículo. Estamos frente à contestação do papel da escola na sociedade, e de como ela pode atender as expectativas da sociedade contemporânea diante de suas demandas. Antes que a escola existisse, a relação homem e educação eram compreendidas entre si para produzir a própria existência, as relações de trabalho, as de cultura e de humanização. É mister a percepção de que, a relação do homem com o trabalho marca o processo de transformação de suas relações com a natureza para a construção cultural e de poder. A essa transformação consciente da ação humana chamamos de trabalho. Dessa forma, entendemos que esse processo não é solitário, mas social, o mesmo envolve as necessidades de grupo através da socialização e assimilação, que se inicia entre os homens construindo o conhecimento. Ao criar a cultura para resolver os problemas e suas necessidades, o homem transforma o meio pelo trabalho e isso implica em ter comportamentos e saberes, que nesse momento, antes da escola, eram transmitidos pelos valores, condutas e ações da própria experiência empírica, familiar e coletiva dos povos. Através desses modelos, a educação se manteve viva nos grupos sociais e deu condições de existir sem se restringir a continuidade da tradição, porque a mesma possibilita rupturas e quebras de paradigmas, que se renova através da história, que é criada e recriada pelo próprio homem, (ARANHA, 2000). Todo esse movimento nos permite reafirmar com Brandão, (2006, p.7), de que “ninguém escapa da educação”, embora escapemos da escola pelo processo político, social e sistêmico a que estamos submetidos socialmente. Então, quando surge a escola, e com ela o ensino sistematizado, formal, rompe-se com a concepção educativa de experiência social primitiva. No momento que a educação escolar aparece como forma de condução e de controle do ensinar e do aprender, as rupturas com a educação primitiva se organizam nesse período, pois se estabelece tempo e espaço para a condução do ato de ensinar e de aprender. E de que tempo estamos nos reportando para compreender tais processos de mudança, a Modernidade (14531789). Por milhões de anos a humanidade não precisou da escola, isso nos permite colocar, que a humanidade não deixou de ser menos criativa e produtiva por não haver escola, (FINO, 2003). A escola nunca foi capaz de garantir o pleno desenvolvimento do sujeito em todas as dimensões. Ela é um espaço de trabalho, que oferece seus serviços à coletividade. O seu nascimento é marcado pelo processo de industrialização. Na Sociedade Industrial, o homem desenvolve suas práticas sociais por meio do pensamento, ideias, teorias, que dividem as relações de trabalho em material para a produção de bens e consumo e não material, o trabalho intelectual. Essa hierarquia na relação homem, trabalho e produção, implicam no modelo educativo de uma sociedade sistematizado de racionalização do trabalho. Uma educação escolar fabril, Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ com base empirista, onde o homem é fruto do meio e a escola é a antecipação do mundo do trabalho, pois mantém a mesma estrutura e organização do paradigma fabril. É no cenário fabril, de nova ordem industrial descrito por Toffler, que a escola se sustenta descreve como reprodutor trabalho “repetitivo, portas adentro, a um mundo de fumo, barulho, máquinas, vida em ambientes superpovoados e disciplina colectiva, a um mundo em que o tempo, em vez de regulado pelo ciclo sol lua, [fosse] regido pelo apito da fábrica e pelo relógio” (A. TOFFLER, s/d). Do pensamento pedagógico moderno para o pensamento Pedagógico Iluminista um novo paradigma começa a ser definido, quando a elite cultural da França no séc. XVII coloca em questão o direito divino e todos os privilégios de uma aristocracia iluminista com uma crise que acaba por definir a Revolução Francesa, que tinha como decisão política formar cidadãos capazes de atuar na sociedade, assim como a garantia da educação pública para todos. As mudanças históricas provocadas por essa Revolução marcam a escola ao inaugurar um marco que divide a velha com a nova escola através de Rousseau, seu percussor, (1712-1778), que resgata primordialmente a relação escola e política e centraliza o tema infância na educação e realiza a transição da escola da Igreja para o Estado, Gadotti, (2000). Num período marcado por tantas mudanças, o ensino francês estava nos orfanatos. O modelo de ensino proibido na França pós Revolução era ensino “mútuo” ou monitorial (VXIII), deu um caráter mais sistematizado a velha prática escolar. Um sistema escolar de instrução, que se revelara mais eficiente. Um método de ensino, onde o aluno era monitor num sistema racionalizado de organização escolar, envolvendo técnicas didáticas e arranjos da sala de aula com dimensões adequadas ao maior número de alunos possível, a graduação cuidadosa dos conteúdos a serem aprendidos com o uso de materiais adequados, (SILVA, 1977; LARROYO, 1970). Esse foi um modelo de inovação pedagógica, um sistema de instrução simultânea, que rompe com a forma tradicional do ensino instrucionista da aula, onde o professor transmite o conhecimento e o aluno recebe e deposita o conhecimento. O ensino instrucionista é duramente criticado por Paulo Freire (2004), que o denomina como “educação bancária”. Freire coloca ainda que, a escola enfatiza a memorização do conhecimento. A educação bancária aqui citada tem seus pressupostos teóricos no modelo Taylorista de organização, que influenciou fortemente a escola com seu currículo preestabelecido, a padronização do conhecimento através de atos técnicos na relação de ensinar e aprender assim como, na postura do professor. O foco desse processo de ensino não está no aluno, mas na aula, no planejamento, portanto, no professor como aquele que ensina. 175 No entanto, ainda somos influenciados pela escola tecnicista, uma vez que os processos de ensino aprendizagens emergem da transmissão do conhecimento conteudístico do currículo escolar. Embora as mudanças e quebras de paradigmas interfiram na escola, ela continua sendo espaço de resistência às mudanças. Papert, (1994) coloca em seu livro a Máquina das Crianças, as resistências da escola às Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário “megamudanças” e questiona por que não houve mudanças na Educação diante do aparato tecnológico disponível à humanidade, a saber, o computador, e o que ele representa para a sociedade contemporânea. Para ele encontrar os mecanismos que defendem a escola das mudanças, é também encontrar os mecanismos que contribuem com a promoção da mudança. O próprio Papert aponta nessa discussão que a tecnologia esteve no processo oposto às mudanças na educação. Essas mudanças tão enfatizadas estão relacionadas com o processo de aprendizagem, que Papert (1994), propõem. Seu argumento está em colocar, que a escola é diferente das demais áreas induzidas pela tecnologia, porém a educação escolar é essencialmente técnica e não natural. 2- Construcionismo e aprendizagem A partir do entendimento de que a escola está atrasada em relação às necessidades que ela deveria atender há um desequilíbrio entre aprendizagem e ensino. O ensino é o foco da escola e a aprendizagem ainda está menos valorizada. Aprender vem antes de ensinar, é o que coloca Papert. Ele ainda traz o entendimento do que é aprendizagem, quando discute a forma que a escola dá a arte de ensinar e aprender como tratamento de diferença. Nessa diferença de tratamento traz a crítica de que o professor, que ensina é o sujeito da ação, portanto sujeito ativo, aquele que dá o comando e que controla a ação. E a criança que aprende sujeito passivo, que obedece às instruções recebidas do professor. A hierarquia dessa relação desfavorece ao processo de aprendizagem, pois quem está no comando da ação é o professor e, portanto, é um processo unilateral. Essa relação colocada por Papert (1994) nos encaminha para compreender como a escola organiza a construção do conhecimento. Ele coloca que essa forma de organizar o conhecimento pelo comando do professor está tão enraizada e difundida, que até mesmo os críticos da escola tradicional, escolanovistas ou construtivistas não conseguiram superar essa forma. “Existem orientações para a condução da aula construtivista e como organizar as situações de construção de conhecimento, a arte do ensino” (p. 78), mas não existe a arte que de fato oriente como o sujeito vai construir o conhecimento. Assim sendo, Papert, propôs uma palavra que sustenta a sua teoria para a construção da aprendizagem, “Matética”, “a arte de aprender” (p. 79). É uma palavra que está a favor da aprendizagem e se coloca como apoio a corrente construcionista. O construcionismo tem como foco a idéia da construção do conhecimento com base na realização da ação concreta. Papert toma o pensamento concreto da teoria dos estágios de Piaget como a fase que marca a passagem da criança pela escola. O pensamento construcionista traz uma reconstrução da teoria construtivista de Piaget, quando concorda que a criança é um ser pensante e que constrói o conhecimento mesmo sem ser ensinada. Todavia, o construcionismo de Papert vai além, porque propõe entender sobre as condições da construção do conhecimento. Defende que a aprendizagem deve ser aperfeiçoada num mecanismo para além da instrução. O processo de ensinar deve se de tal forma que produza a maior aprendizagem. Isso não quer dizer que se aumente o ensino, ao contrário, a maior aprendizagem deve partir Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ da menor quantidade de ensino. Aqui Papert, traz a analogia através de um provérbio africano: “se um homem tiver fome, você pode dar-lhe um peixe, mas, melhor seria dar-lhe uma vara e ensiná-lo pescar”, (p. 125). O mesmo coloca Papert, ocorre na perspectiva construcionista. “O Construcionismo é gerado sobre a suposição de que as crianças farão melhor descobrindo, “pescando” por si mesmas o conhecimento específico de que precisam”. Para tanto, Papert, propõe uma abordagem transformadora na concepção de ensino-aprendizagem inserindo o uso do computador como ferramenta, que oferece condições para o aprendiz explorar de forma concreta seu potencial intelectual nas diferentes áreas do conhecimento através da “Linguagem de Programação Logo”. Uma aprendizagem autônoma e mediada pelo professor baseada num processo de ciclo “descrição-execução-reflexão-depuração”. A propósito, Vygotsky coloca a construção do conhecimento como atividade mediada. Coloca ainda que, as funções cognitivas aparecem duas vezes no desenvolvimento cultural da criança. Primeiro a “nível socialInter psicologicamente” e depois a nível “individual-intrapsicologicamente”. Na cultura estão todos os elementos para o desenvolvimento da aprendizagem e a construção do conhecimento se dá pela mediação de sistemas simbólicos, aprendizagem e desenvolvimento que ocorrem simultaneamente, (CRAYDI; KAERCHER, 2001). Papert se apoia em Vygotsky para relacionar a ZDP (Zona de Desenvolvimento Potencial) como construção de conhecimento novo, onde o professor deve ser o promotor e mediador desse processo de construção de conhecimento, que é construído através da mediação entre o sujeito e o objeto nos diversos espaços informais. É na ZDP que ocorre um fenômeno pedagógico. Dessa forma, o papel que o outro exerce no controle metacognitivo sobre o pensamento e interfere na construção de conhecimento mediado. Para que a “matética” aconteça, é necessário inovar a prática pedagógica rompendo com o velho modelo de ensino e apostando na aprendizagem mediada que dê condições para o desenvolvimento da autonomia, estímulo à descoberta, à curiosidade, à indagação, a problematização impulsionadora da pesquisa e de suas habilidades, conforme a visão freiriana. A construção do sujeito cognoscente autônomo e consciente. 3- Mudanças e práticas inovadoras Para falar de práticas inovadoras se faz necessário colocar o campo conceitual de inovação. O que significa no contexto da prática pedagógica, uma vez que a inovação não tem lugar certo para acontecer e não é exclusividade da escola. Assim, tomamos como espaço para argumentá-la, o espaço da escola como ambiente de ensino e de aprendizagem. Segundo Carlos Fino (2008), inovação pedagógica pode ser considerada como espaço de interação social, incluindo ambientes formais e não formais. A partir daí seja onde for que ocorra, é um espaço de privilégio pedagógico, por promover mudanças intencionais. Uma ruptura com situações e com práticas anteriores. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 177 Vale colocar que nem toda mudança é intencional e por isso mesmo, não corresponde à inovação. Assim, como a inovação ao longo dos anos está no discurso pedagógico como o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) na educação, a presença do computador na escola como proposta inovadora essa não diz respeito à inovação pedagógica que estamos tratando. Ao contrário, a inovação incorpora consigo a mudança intencional com estabelecimento de objetivos claros que aumentam a sua eficácia. Essa é a característica da inovação de caráter educativo, se origina na escola, conforme Miles, (1971, apud, FERNANDES, 2000). A inovação precisa trazer inspiração para aprender. Ela corresponde o poder de aprender e por isso, no cenário atual da escola, para se ter práticas inovadoras é necessário romper com a trajetória histórica da educação até aqui. Romper com o currículo, pois ele não traz a inovação ao contrário ele é um problema para os processos de inovação. Assim, Fino coloca que o currículo não define o que se deve aprender e, a forma da escola inovar seria operar contra esse currículo. Inovar para transformar a sala de aula de uma visão tradicional para uma visão vigotskiana. Uma inovação, conforme Fino (2007), “disruptiva”, que desfaz a aparência de uma solidez vigente, o descontinuar da escola para olhar os contextos de aprendizagem com ação, colaboração e interação entre as pessoas. E o rompimento das paredes da sala de aula, antes fronteiras para as descobertas globais agora o descortinar. Uma educação com práticas pedagógicas inovadoras é aquela onde a escola não é necessariamente o lócus da aprendizagem. Porém, para se ter uma escola com práticas inovadoras, conforme Fino, convergindo com Papert, é preciso que se criem contextos de aprendizagem com visão de futuro a visão incrementadora, onde se possibilita o uso do computador na escola de acordo com a proposta construcionista descrita no (item 2). Pois, nessa compreensão, não existe inovação pedagógica sem prática pedagógica. É o reposicionamento do papel do professor na mediação, sua atuação de forma periférica e não mais central. 4- Conclusão Estamos numa sociedade pós-industrial de transição paradigmática, sem certezas e verdades absolutas, onde a mudança entra velozmente nos nossos cenários, porém no que diz respeito ao cenário educativo, ainda vivemos a escola originalmente modelada pela fábrica. Nem mesmo toda a velocidades das transformações e mudanças ocorridas até aqui, impactaram a educação escolar. Desde a Revolução Francesa, que se anseia pelas mudanças prometidas pela escola. Mudanças que não ocorreram. Diante dessa realidade, estamos em crise com a escola que temos e a questionamos, pois ela não responde às necessidades e demandas dessa sociedade global - “sociedade do conhecimento”. A sociedade do conhecimento exige uma escola que acompanhe as transformações provocadas pela Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs) ainda em ebulição, e dos processos políticos de globalização. Não a educação dos rankings e dos índices, mas a educação que corresponda aos vários cenários, inclusive ao do futuro. Cenário do futuro pede mudança, pede inovação pedagógica na construção do conhecimento nos vários espaços educativos. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Não o conhecimento transmitido ou depositado para atender ao mundo do trabalho, que a escola se prestou a fazer, mas o conhecimento construído com rompimento das paredes da sala de aula, antes fronteiras para as descobertas de novos saberes e agora possibilidade para a mudança. Nesse sentido o professor é o agente da mudança. Para pensar uma educação de transformação, é necessário repensar os locus e contextos dos processos de ensinar e de aprender. Para tal, apresenta-se como possibilidade para a inovação pedagógica como proposta intencionada, cujo foco é a arte do aprender a “Matética” contrucionista. Construindo o nosso próprio conhecimento, porém mediado pelo objeto. Aqui se postula que o professor seja agente de mudança e que ao aprendiz se ofereça todos os mecanismos para uma aprendizagem autônoma, dinâmica e contextualizada com o mundo em que vive. Nessa perspectiva o apoio das novas tecnologias faz parte desse cenário de inovação pedagógica onde, o computador funciona como um mecanismo para aprendizagem. Nessa relação de interação com o computador se constrói estruturas cognitivas para um sujeito intelectualmente desenvolvido, autor do seu próprio conhecimento. Assim, o Construcionismo de Papert é o paradigma, que agrega a inovação pedagógica como imperativo para o cenário educativo. 5- Referências ARANHA, M. L. de Arruda. Filosofia da Educação. 2 ed. São Paulo: Moderna, 1996. BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. 33 ed. São Paulo: Brasiliense, 1999. CRAYDI, C. KAERCHER, G. E. (orgs.) Educação Infantil: pra que te quero? Porto Alegre: Artemed, 2001. FERNANDES, M. R. Mudança e Inovação na Pós-Modernidade: perspectivas curriculares. Porto: Porto Editora, 2000. FINO, Carlos Nogueira. Investigação e Inovação em educação. V Colóquio CIE/UMA – Pesquisar para mudar (educação), Funchal: Universidade da Madeira, 2010. Disponível em: http://www3.uma.pt /carlosfino/publicacoes/Investigacao_e_inovacao.pdf acesso em 10 de outubro de 2011. ______. O futuro da escola do passado. In: ______. ; SOUSA, Jesus Maria. A Escola Sob Suspeita. Porto: ASA, 2007. Disponível em http://www3.uma.pt/carlosfino/publicacoes/21.pdf acesso em 20 de outubro de 2011. ______. Um software educativo que suporte uma construção de conhecimento em interação (com pares e professor). Departamento de Ciências da Educação da Universidade da Madeira. In Actas do 3º Simpósio de Investigação e Desenvolvimento de Software Educativo (edição em cd-rom). Évora: Universidade de Évora. 1998. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 179 Disponível em http://www3.uma.pt/ carlosfino/publicacoes /softedu.pdf acesso em 30 de Setembro de 2011. ______. SOUSA, Jesus Maria. As tic abrindo caminho a um novo paradigma educacional. Departamento de Ciências da Educação da Universidade da Madeira. Funchal, Portugal. In Actas do VI Congresso galaico-português de Psicopedagogia, I Volume (pp 371 – 381). Braga: Universidade do Minho, 2001. Disponível em http://www3.uma.pt/carlosfino/publicacoes/9.pdf acesso em 06 de outubro de 2011. GADOTTI, Moacir. História das Ideias Pedagógicas. 8 ed. São Paulo: Ática, (Série Educação),2002. LIBÂNEO, J. Carlos. Democratização da Escola Pública: a pedagogia crítico-social dos conteúdos. 20 ed. São Paulo: Loyola, 2005. LARROYO, Francisco. História geral da pedagogia. São Paulo: Mestre Jou, v. 2, 1970. PAPERT, Seymour. A Máquina das Crianças: repensando a escola na era da informática. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994. PIAGET, J. Epistemologia genética. São Paulo: Martins Fontes, 1990. SILVA, Geraldo Bastos. A educação secundária: perspectiva histórica e teoria. São Paulo: Nacional, 1969. ______. A ideia de uma educação brasileira e a Lei de 15 de outubro de 1827. Educação. Brasília, v. 6, n. 24, p. 8-17, abr.-set. 1977. SOUSA, J. M. FINO, C. N. As TICs abrindo caminho para um novo paradigma educacional. In: Revista Educação & Cultura Contemporânea, 2008, p.48- 49. TOFFLER, A. Choque do futuro. Lisboa: Livros do Brasil, 1970. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ A CULTURA DE PAZ NA EDUCAÇÃO BASEADA NA CONSCIÊNCIA CRÍTICA DE PAULO FREIRE Guilhermina da Silva Souza (UNEB) RESUMO: Este artigo se constitui numa breve reflexão sobre a paz na educação, aspecto colocado em evidência a partir da crise na sociedade em que vivemos. A paz na educação é um componente necessário para o reconhecimento e vivência dos valores humanos, caminho para a emancipação dos sujeitos e valorização das múltiplas aprendizagens; a paz é ligada ao ato de aprender e pode ser gerenciada através da troca. Este trabalho se constitui numa reflexão teórica, para tanto, nos apoiaremos nos discursos de Paulo Freire quando acreditam nos espaços escolares como cenários de ação e transformação do homem em busca de uma sociedade igualitária e justa. PALAVRAS-CHAVES: Cultura de paz. Transformação. Pensamento crítico. Introdução Este artigo tem como premissa discutir a paz na educação, numa perspectiva freireana; é fruto das inquietações de muitos educadores, da busca incessante de ver incorporada à escola a cultura de paz, sendo esta trabalhada de maneira que reflita as potencialidades existentes nos seres que a compõem. A busca pela paz, que seria entendida como um estado de superação das dificuldades que permeiam a educação, e valorização das especificidades humanas capazes de transformar realidades sociais adversas. 181 Tomamos como base para essa discussão algumas definições de paz encontradas nos dicionários mais usados nas escolas, o Aurélio, o Michaelis e o Houaiss. O Aurélio, entre outras coisas traz a definição de paz como: 1. Ausências de lutas, violências ou perturbações sociais; 2. Ausências de conflitos entre pessoas, bom entendimento; 3. Ausência de conflitos íntimos, tranquilidade da alma, sossego; 4. Ausência de agitação ou ruído, repouso, silêncio, sossego. O Michaelis traz: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tranquilidade Pública; Tratado que mantem ou restabelece esse estado; Repouso, silêncio; Tranquilidade da alma; União, concórdia nas famílias; Sossego. 1. 2. Relação entre pessoas que não estão em conflito, acordo, concórdia; Relação tranquila entre cidadãos, ausência de problemas, de violência; O Houaiss diz que: Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 3. Estado de espírito de uma pessoa que não é perturbada por conflitos ou inquietações, calma, quietude, tranquilidade. Diante dessas referências, a paz descrita não é a paz relacionada aos processos de mudança sociais necessárias ao nosso crescimento, paz que luta para a transformação de um processo histórico e cultural da humanidade; é uma forma de tornar o sujeito quieto, despretensioso, acomodado, dependente, condescendente, um indivíduo que aceita tudo que lhe é imposto sem questionar, sem refletir, sem procurar saber as reais intenções por trás de tudo o que lhe acontece, sem capacidade de entender de forma coerente o processo perverso que a classe dominante lhe impõe. Mediante leituras, em especial da pedagogia Freireana, que nos permite discutir e até discordar das descrições acima, considerando a paz uma relação de estado de espírito que não é perturbada por conflitos, temos a tranquilidade de dizer que a paz é uma aprendizagem inquietante, como tal pode ser conflituosa. É uma busca perene, autorizada pela necessidade de mudança, é a procura da liberdade, que se afirma na busca e é amadurecida através de confrontos, que é idealizada por diversas formas de busca, que se constitui na tomada de decisão, refletindo sempre a luta. A paz é ausência de medo, é uma forma responsável de transformar as realidades, às vezes por caminhos tortuosos, mas com consciência de uma prática coerente e necessária. Não podemos e nem devemos enxergar a paz na educação como um completo estado de graça, isso faria de nós indivíduos inertes. A paz é aprendida, tem a ver com as expressões produzidas e criadas pela humanidade, precisamos reconhecer a paz como um componente provocador de ações, idealizador e identificador de possibilidades. Além disso, nos direciona para uma vida melhor, para o reconhecimento de que é preciso lutar para contribuir com as mudanças que a sociedade necessita, é preciso estar em paz para reconhecermos que necessitamos de cuidados bem como reconhecer a necessidade do cuidado com o outro. Esse estado de paz nos possibilita formar eixos integradores nos quais as escolas possam se transformar em espaços prazerosos, nos quais existam harmonia e solidariedade e as gentes que a formam vivam em comunhão. Um ambiente em que haja trocas de experiências, nas quais, se promovam conhecimentos, habilidades, atitudes que provoquem mudanças de comportamentos, e, que um aprenda com o outro, que exista cultivo de valores e que estes sejam provocadores de um processo de promoção de autoconhecimento. Para Freire (1983) a consciência crítica contrapõe a consciência ingênua. O individuo em seu estado crítico não se satisfaz com as aparências, reconhece que a realidade é mutável, é autêntico, está sempre disposto a revisar os seus atos, procura sempre se livrar de preconceitos, é inquieto, é responsável, indaga, investiga e dialoga. Interessante se faz incluir nesse diálogo a definição, mesmo que não fundamentada, de consciência e de crítica, para assim termos uma liberdade maior de tecermos comentários à luz de Paulo Freire. A consciência é uma capacidade humana, de prever e planejar previamente as próprias atividades, de refletir sobre elas no decorrer da ação, sendo esta capacidade baseada no conhecimento. A crítica, por sua vez, é a superação dos acontecimentos que geram e alimentam uma ideologia, ou o que dela resultam. Assim, a consciência Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ crítica nasce com a capacidade de se questionar os próprios pressupostos. A raiz da consciência é o confronto, o fundamento da crítica é a humildade. De anônimas gentes, sofridas gentes, exploradas gentes aprendi, sobretudo que a Paz é fundamental, indispensável, mas que a Paz implica lutar por ela. A Paz se cria, se constrói na e pela superação de realidades sociais perversas. A Paz se cria, se constrói na construção incessante da justiça social. Por isso, não creio em nenhum esforço chamado de educação para a Paz que, em lugar de desvelar o mundo das injustiças o torna opaco e tenta miopizar as suas vitimas. (FREIRE, Paulo. Discurso ao receber o Premio Educação para a Paz da UNESCO, Paris, 1986) O pensamento crítico e o materialismo dialético de Paulo Freire A consciência crítica possibilita aos homens e as mulheres a condição da reflexão, da libertação e da transformação da realidade. Ingrediente necessário à nossa condição humana, quando nos revestimos de consciência, ou seja, do conhecimento de parte do que nos rodeia, do que nos fazem vivenciar, principalmente dos seres que tem uma condição humana sem privilégios, nos imbuímos de uma condição de conhecedores dos processos, às vezes, muito perversos e os administramos de forma cautelosa de modo que praticamos as intervenções necessárias. Isso se dá pelo fato que enxergamos tudo isso de forma crítica, ou seja, sabemos as intencionalidades que isso nos está sendo imposto, e essa compreensão nos motiva a elaborar forma de conviver com essas situações. 183 Freire (1983) nos alerta para a necessidade de lutarmos para uma vida melhor, nos alerta sobre a necessidade de vivermos em constante troca, em especial na educação. A consciência crítica deve ser uma constante no espaço educativo, necessário se faz que os alunos tenham conhecimento do processo, que sejam sujeitos de ação, conheçam as verdadeiras intenções de tudo o que está sendo oferecido a ele na escola e, para que isso aconteça é essencial que a consciência crítica esteja presente, seja uma constante na vida da escola. É preciso que os alunos tenham a capacidade de questionar, de avaliar, de fazer opções, de rejeitar, de modificar, e, acima de tudo de fazer intervenções, tornando tudo o que for imposto possível e realizável. É preciso consciência crítica para transgredir algumas regras, transformando-as em boas possibilidades e em ganhos palpáveis. A luta tem que ser constante e a criatividade deve fazer parte da nossa existência. Paulo Freire (1983) enfatiza a necessidade de uma reflexão crítica sobre a prática educativa, sem a qual a teoria pode se tornar apenas discurso e a prática uma reprodução alienada, sem questionamentos. Defende ainda que a teoria deve ser adequada à prática cotidiana do professor, que passa a ser um modelo influenciador de seus educandos, ressaltando que na verdadeira formação docente devem estar presentes a prática da criticidade ao lado da valorização das emoções. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário A construção do diálogo como forma de promoção da paz na escola A base da pedagogia freireana é a dialogicidade, esse diálogo acontece quando o sujeito administra seus conflitos. Para Freire (1983) o diálogo nasce na prática da liberdade e acontece efetivamente quando há o respeito entre os seres de forma humana e solidária. É uma relação de confiança existente entre os homens e as mulheres que os sustenta. O diálogo acontece quando há troca entre as pessoas dos seus saberes, da sua cultura, dos seus ideais, mediatizados pelo contexto social, político, econômico e cultural. É preciso acontecer a escuta e a administração dela nas relações entre as pessoas, é nessa troca de informações que acontece a dialogicidade, é nessa troca que se forma e acontecem as mudanças sociais importantes para o crescimento, o que resulta na legitimação da autonomia social. O dialogo é uma força capaz de auxiliar o indivíduo na superação de obstáculos, na quebra de barreiras que impedem a convivência harmoniosa entre os seres. Funciona como um dispositivo na busca pela Paz, em especial, Paz na Educação, pois contribui para uma construção coletiva de vivência humana, possibilitando aos seres mecanismos de superação das problemáticas existentes entre eles, tais como: as injustiças e as desigualdades sociais. É um elemento de uma importância extraordinária, que elucida compromissos, constrói e divulga conhecimentos, transformando a natureza crítica e a consciência coletiva. Articula entre os seres o conhecimento e construção da realidade social. O diálogo é um encontro que se realiza na ação transformadora dos seres, compreendendo assim que o sujeito está no mundo, com o mundo e para o mundo, compartilhando entre si a busca pela garantia de direitos e dignidade humana. Nesse sentido, é possivel observar o diálogo como forma de concepção de responsbilidade e partilha, sempre preocupado em integrar os sujeitos com as vivências dos problemas que o cercam, deflagrando ações que desafiam-os à reflexão para o bem estar coletivo. Além disso, proporciona aos indivíduos um exercício de troca no qual pode-se por em prática a capacidade de indagar o outro, de comparar os saberes, de aferir resultados, de vivenciar práticas sociais importantes para o crescimento e engrandecimento socio-cultural. Para construir uma cultura de paz, necessitamos colocar em prática uma relação dialógica, na qual os sujeitos lutem pelo respeito ao outro, criando laços de amor , respeito e união. É preciso haver uma relação dialógica entre os sujeitos, uma aceitação do outro; o ser humano é para ousar, avançar, progredir, crescer, ser feliz, e, isso não se consegue individualmente, é preciso partilhar sentimentos, trocar saberes. É preciso e até urgente que a escola vá se tornando um espaço acolhedor e multiplicador de certos gostos democráticos como o de ouvir os outros, não por puro favor, mas por dever, o de respeitá-los, o da tolerância, o do acatamento às decisões tomadas pela maioria a que não falte, contudo, o direito de quem diverge de exprimir sua contrariedade. O gosto da pergunta, da crítica, do debate. (FREIRE, 1993, p.89) O espaço escolar possibilita a construção da cultura de paz, pois nele se articulam diversas outras culturas, possibilitando a construção das relações Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ interpessoais e afetivas. A paz na educação é um componente necessário para o reconhecimento e vivência dos valores humanos, caminho para a emancipação dos sujeitos e valorização das múltiplas aprendizagens, a paz é ligada ao ato de aprender e pode ser gerenciada através da troca. A escola precisa ser um espaço acolhedor, solidário emancipador, ela não deve servir para oprimir os sujeitos, mas fornecer aos mesmos mecanismos potentes e dinâmicos que os possibilitem pensar mudanças no contexto social, de diversas formas de olhar, ouvir, caminhar e sentir o mundo. A escola é um ambiente que propicia a vivência da paz, pois nesse espaço existem múltiplas possibilidades de diálogo, no qual a troca pode ser evidenciada e os sujeitos têm a possibilidade de viver a busca da dignidade também de espaços múltiplos. Não é só na escola que acontece a troca de experiências, mas existem inúmeras possibilidades, dos sujeitos transformarem os seus ambientes de pertencimentos, através das aprendizagens variadas adquiridas no espaço escolar. É no espaço educativo que o sujeito tem liberdade para refletir sobre todas as coisas, pois é nele que estão todas as informações e também todas as possibilidades de criação, de transformação; na escola se recebe as informações e a depender do grau de importância, essas informações servem para a transformação da realidade. É nesse espaço que o sujeito aprende de forma consistente a ler o mundo e a transformá-lo, tornando-se sujeito do mesmo. A luta pela paz na educação é complexa e gera a necessidade da integração dos vários saberes, das várias culturas existentes no ambiente educacional, passando por uma re-visão ampla e crítica das potencialidades e estimulando nos sujeitos movimentos capazes de edificá-la. 185 Do materialismo dominante de Marx à dialogicidade humanística de Freire O sujeito crítico reconhece sua história e luta para a transformação social, pela igualdade, pelo respeito à dignidade humana e promoção da justiça social. Para Freire é preciso refletir sobre nossas práticas de forma consciente e atenta. A cultura de paz na educação e, consequentemente, na escola deve acontecer mediante observação cuidadosa de todos que a compõem; as mudanças devem acontecer através do enxergar criterioso de todos os problemas existentes. Assistimos a certo esforço de implementação de uma cultura de paz baseada na calmaria, na aceitação de fatos perversos: a paz tem uma cor, a paz tem um símbolo, reina sempre em completa tranquilidade, a paz está sempre num lugar em que o sujeito encobre ou é encoberto por um estatuto que nega as injustiças sociais, ou melhor, que as aceita de forma inocente e ingênua sem questionar. Fazemos parte de um emaranhado de discursos sobre a paz que nos são transmitidos pelo estabelecimento de uma cultura a nós imposta pela classe dominante, sempre interessada em manter-se no poder, nos tirando a possibilidade de estabelecer e formular discussões e romper com esse processo construído intencionalmente. Porém, a paz não tem uma única cor, ela é multicolorida, por isso devemos saber que para construir a paz é preciso zelar por tudo que nos rodeia , tem que existir Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário o zelo pelas pessoas, pela natureza, pela vida na sua essência, para tanto, a paz só se constrói coletivamente e só pode ser aprendida em comum-união. A paz, diferente da calmaria, é o estabelecimento e reconhecimento do conflito, das relações, das atitudes; é a ausência da posse individual, é o compromisso coletivo para o estabelecimento de um estado solidário e digno que valorize a pessoa humana num processo de construção dinâmica e ética, comprometida com uma intervenção crítica e emancipatória. Ao contrário do que dizem os dicionaristas, a paz não é ausência do conflito, mas a consciência da existência dele, como também da administração criteriosa do mesmo, administrar conflitos internos e externos nos favorece na busca por sermos responsáveis pelo bem estar individual e coletivo. Estar em paz é também estar consciente de tudo o que acontece ao seu redor, estabelecendo relações de confiança e afeto para a obtenção da interrelação humana. Trabalhar a paz, para a paz e em paz é ter a liberdade de criar, falar, fazer e modificar o que nos é imposto por uma camada dominante. Receber pacotes prontos, absorver e reproduzir pode ser prático, os dominantes se utilizam desse meio para nos moldar, nos impedindo de refletir, questionar e de modificar a realidade. Paz é sinônimo de inquietação, de busca e de mediação de conflitos. É uma construção feita no dia-a-dia e necessita da participação de todos no sentido de reconhecer que cada um é proveniente de uma comunidade e deve respeitar os valores existentes nela, bem como suas vivências, de forma que esse pertencimento torne os sujeitos responsáveis pelo engrandecimento do espaço que vivem, ignorando a intencionalidade da camada dominante, que nos quer submissos, tomando consciência sobre as potencialidades para ultrapassar as barreiras que nos impõem a essas forças. A paz é o desafio da busca por um mundo digno e justo. Para Paulo Freire a educação é vista como forma de transformação social por meio do diálogo e da escuta, pela luta contra as injustiças sociais e o fim da opressão gerada pelo capitalismo da burguesia, além do compromisso permanente com a utopia e a história. Segundo Freire (1983), utopia é o compromisso político e histórico para a construção de uma sociedade plenamente humanizada, de cooperação e paz entre os povos que não suportam a competitividade e a agressividade inconsequente que o mundo liberal produz. Freire, pensador dialógico e dialético busca, em sua caminhada o compromisso com a humanização do mundo e com a dimensão política e educacional desse problema. Segundo sua teoria, para o homem viver em liberdade, é imprescindível o exercício contínuo da dialogicidade frente aos conflitos existentes na sociedade para que, de forma crítica e reflexiva, possa buscar no confronto de idéias a transformação necessária à constituição de uma sociedade de seres livres e autônomos. O humanismo dialógico de Freire, assim como Karl Marx, nega a miséria e a violência e aponta a “conscientização como práxis da ação”. A práxis genuína e libertadora não cessa mesmo com o ato revolucionário de autolibertação. É importante perceber que para Freire a luta de classe não constitui a vitória do oprimido e a derrota do opressor, mas uma práxis com significado universal, ou melhor, ganho universal, uma vez que as elites dominantes, como opressoras de seus companheiros humanos, perdem sua humanidade e já não poderão representar a Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ vontade de todos. O ganho estaria em que não haveria vencidos ou vencedores, mas homens em comunhão. Paralelo a isso, Marx vislumbra e propõe a Educação como mola propulsora de uma sociedade formada por homens livres e humanizada. Nesse momento, faz-se necessário uma postura ética e política frente às imposições do mundo capitalista por parte dos educadores, principalmente no que diz respeito à formação crítica e libertária dos seus educandos na busca incessante por uma sociedade mais justa e fraterna. Considerações Finais Considerando a necessidade de fazer funcionar, verdadeiramente a Cultura da Paz na Educação, com base nos ensinamentos de Paulo Freire, pensamos ser o espaço educativo um espaço de debate, não de discursos fáceis e simplistas, nos quais a paz tem cor e símbolos únicos, mas na construção incessante da justiça social. A educação para a paz é um sonho possível, no qual os sujeitos possam pensar, descobrir, inventar, construir, compartilhar e vivenciar idéias e sentimentos para a construção coletiva do bem. Nesse sentido, tivemos a grandiosa contribuição de Paulo Freire, no que diz respeito à conduta do homem com relação a seu compromisso consigo mesmo e com a sociedade; na inserção de uma cultura de reflexão, de crítica e de amor diante das contradições existentes no mundo contemporâneo. É urgente e necessário o desenvolvimento de uma cultura de paz na educação, ambiente este propício para a disseminação de uma ação transformadora e libertaria, na qual os sujeitos que a integram sejam capazes de transformá-la em um espaço de convivência e transformação com valores éticos capazes de intervir e mudar todos os processos existentes em maneiras agradáveis de vida e de comprometimento humano, tornando a convivência dialógica e comprometida com a valorização humana. Acreditamos que a cultura de paz seja um instrumento de reflexão nos espaços educativos, capaz de contribuir com a transformação social e que o envolvimento dos atores desses espaços garanta essa mudança baseados numa conscientização cidadã e participativa. Resta a nós, educadores, investirmos em uma relação de troca horizontal que permita a esses atores lutar por uma mudança real e trans-formadora da sociedade a qual pertencem. Esse é o modelo de educação proposto por Paulo Freire que muito se diferencia da educação tradicional, uma vez que repudia toda e qualquer relação de dominação, principalmente entre educador e educando. 187 Referências FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 2ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 1986. FREIRE, Paulo. Pedagogia da Esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1997. _______. Educação e mudança. Tradução de Moacir Gadotti e Lillian Lopes Martin. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário _______. Educação como prática da liberdade. 17. ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra. 1979. _______. Pedagogia do Oprimido. 13.ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra. (Coleção O Mundo, Hoje, v.21). 1983. _______. Ação cultural para a liberdade. Rio de Janeiro, paz e Terra. 2010. GADOTTI, Moacir. (Org.). Paulo Freire: uma biobibliografia. São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire; Brasília, DF: UNESCO. 1986. HOUAISS, Antonio. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. São Paulo: Editora Objetiva, 2001. MACLAREN, Peter; LEONARD, Peter; GADOTTI, Moacyr et al. Paulo Freire: Poder, desejo e memórias da libertação. Tradução Marcia Moraes. Porto Alegre: ArtMed, 1998. MATOS, Kelma Socorro Alves de; NONATO JUNIOR, Raimundo.(Org.) Cultura de Paz, Ética e Espiritualidade. Fortaleza: Edições UFC, 2010. MICHAELIS: moderno dicionário da língua portuguesa. São Paulo: Companhia Melhoramentos, 1998. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ PRÁTICAS DA ORALIDADE QUE ELUCIDAM A COMUNICAÇÃO ENTRE PROFESSOR E ALUNO. Fabrício Oliveira da SILVA (UNEB – DCHT Campus XVI) RESUMO: Neste artigo a comunicação oral é abordada como sendo um processo de interação importante para o desenvolvimento da competência comunicativa. Objetiva-se discutir a importância da oralidade na escola, como forma de suscitar ao professor o interesse em avaliar as relevâncias do ato comunicativo e suas implicações no ensino e aprendizagem. Constitui-se num estudo de cunho bibliográfico e para tal foi feita uma análise sobre a importância da oralidade, através de leituras de textos e obras de Fávero (2003), Câmara Junior (1986), Davis (1979), Fávero (2007), Koch (1993), Marcuschi (2008), Orlandi (2007), dentre outros. Atualmente a oralidade representa um lugar propício ao desenvolvimento da competência comunicativa, através dos diálogos. PALAVRAS-CHAVES: Oralidade, Competência comunicativa, Estratégia pedagógica 1. Introdução Muito se tem debatido nos fóruns e congressos de prática pedagógica o tema comunicação em sala de aula. Parece haver uma necessidade de estudiosos e educadores de encontrarem uma fórmula mágica, que em pleno século XXI potencialize a comunicação entre professores e alunos, na perspectiva de se garantir uma aprendizagem significativa. Se por um lado os professores se angustiam pela falta de interesse dos alunos por suas aulas, em muitos casos por estes alegarem desmotivação, por outro os professores se extasiam com aulas em que a motivação do aluno é extremamente significativa, a ponto de gerar aprendizagem e desejo por constantes repetições de uma mesma metodologia . Neste sentido é preciso que os professores tentem encontrar o ponto de equilíbrio entre a sua prática pedagógica e a real necessidade de aprendizagem do aluno, tendo em vista as mudanças estruturais de uma sociedade que requer a agilidade do processo de comunicação, que hoje está na escola assessorada pelos recursos tecnológicos das salas de informática, que em muitos casos dispõem de excelentes softwares educativos e da própria internet, sob o pretexto principal dinamizar o processo de informação, processando-o em diferentes maneiras e linguagens. Entretanto cabe ressaltar que o professor em sua sala de aula ainda é o grande agente do processo de comunicação do aluno, cabendo a ele desenvolver estratégias pedagógicas que chamem a atenção para além do conteúdo ou da necessidade de atribuir tarefas ao estudante. Comecemos por analisar os próprios conceitos atribuídos pela pedagogia clássica ao papel do aluno em sala de aula. Geralmente o que se diz ao aluno é que ele deve fazer um trabalho, uma tarefa, uma atividade, e ainda como não se bastasse atribuímos a estes termos a carga pejorativa disseminada pela ideia de labor, de uma obrigação, ressaltando, por outro lado, o peso de uma quantificação extremamente negativa pela não execução dos exercícios escolares. É claro que não se pretende esvaziar semanticamente os termos dentro da concepção pedagógica, mesmo porque 189 Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário a escola prepara o aluno para a vida em sociedade, e assim é papel da escola capacitar o sujeito para o trabalho, para as tarefas e atividades que a sociedade vai exigir dele quando profissional. No entanto é preciso que os professores percebam que a comunicação que se efetiva neste momento com os alunos pauta-se na perspecitva do que aqui denomino de castigo de aprendizagem. Aprende-se para realizar o trabalho, a tarefa, a atividade, o exercício, que em muitos casos cansam e não produzem resultados significativos de aprendizagem. Daí a necessidade de os professores atentarem para seus alunos, buscando estabelecer um processo de comunicação eficaz, que permita tanto ao professor como ao aluno compreenderem os reais sentidos que em uma aula se pretende estabelecer. Assim desejo neste artigo realizar algumas considerações a respeito da comunicação entre educadores e educandos que favoreçam a percepção dos educadores para as reais necessidades do aluno em sala. Estas ideias sugerem, portanto, que o professor precisa estar atento às diversas manifestações dos seus alunos em sala de aula, inclusive atentando para as posturas e modos como os mesmos se posicionam em relação às aulas, relacionam-se com os colegas e com os próprios professores. A busca pelo processo ideal que favoreça uma ampla comunicação entre professores e alunos é algo incessante em ambientes escolares. Parece haver uma necessidade de que a sala de aula se transforme cada vez mais em placo onde a aprendizagem só se desenvolve pela garantia da comunicação dos professores com seus alunos. Neste sentido, o estudo sobre as formas de se garantir e efetivar a comunicação nas escolas de educação básica vem sendo cada vez mais uma realidade. São inúmeros os cursos, recursos e até mesmo documentos produzidos pelas escolas, secretarias municipais e estaduais de educação que têm como objetivo potencializar a comunicação entre os diversos segmentos da escola. Um destes documentos é o próprio PDE (Plano de Desenvolvimento Educacional) estruturado a partir dos diálogos que se processam entre os segmentos da escola: alunos, professores, funcionários, pais e demais representantes da comunidade local. Assim o PDE precisa garantir que a identidade da escola esteja marcada em suas ações e metas, que não se efetivam a não ser pelo amplo processo de comunicação entre os pares, realizado durante a elaboração do documento. Durante o tempo em que o sujeito está inserido no ambiente escolar, assim como em toda a sua vida em sociedade, aprende-se que a comunicação é necessária e que ocorre de diversas maneiras. Esta ideia é, portanto, produto de uma concepção histórica e irrefutável ao ser humano. Os modos de se estabelecer a comunicação, paulatinamente, passaram a agregar valores e a manter a evolução durante os tempos, deixando de ser mais que uma necessidade, para se constituir como uma forma cultural de interação entre os sujeitos sociais, sendo esse o fato que nos faz civilizados. 2. Os atributos da competência comunicativa na escola Dentre as formas de se comunicar mais aparentes estão as comunicações orais, escritas ou imagéticas. Se não são as mais primitivas, aparecem como as mais difundidas para o bom viver em sociedade. Diante das pesquisas realizadas sobre o tema, em publicações e obras de autores como Câmara Junior (1978), Marcuschi (2007) Fávero (2003), Koch (2003), percebe-se a necessidade de se estudar algumas particularidades da língua, que se fazem importantes para a comunicação. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Nessa perspectiva, atribui-se aqui papel fundamental à competência comunicativa, como instância primeira para a conversação entre professores e alunos, levando-se em consideração as novas formas de interação das sociedades contemporâneas e suas regras para os falantes da língua oficial. Considera-se, nesse sentido, que o modo de se comunicar de hoje está diferente da forma como acontecia há algum tempo, haja vista a evolução do vocabulário, melhorias na educação dos falantes, bem como as influências das novas tecnologias nas relações interpessoais. A escola tem sido um lugar em que as relações interpessoais entre professores e alunos são definidas, também, por espaços socioculturais, quer dizer, os mais variados espaços que são formados pelas pessoas e para elas são construídos por um conjunto de regras, que visam estabelecer certa ordem, de maneira a definir questões de comportamentos, condutas e/ou mesmo procedimentos previamente estabelecidos. Para Marcuschi e Dionisio (2007, p.14), “Nossa forma de agir é determinada muito mais pela realidade sociocultural-histórica em que nos inserimos, do que por nossa simples herança biológica”. Da mesma maneira as questões da fala na escola não fogem à regra. As ações pedagógicas dos professores levam em consideração, também, os espaços socioculturais, quer dizer, os mais variados espaços que são formados pelas pessoas e para elas são construídos por um conjunto de regras, que visam estabelecer certa ordem, de maneira a definir questões de comportamentos, condutas e/ou mesmo procedimentos previamente estabelecidos. Para Marcuschi e Dionisio (2007, p.14), “Nossa forma de agir é determinada muito mais pela realidade socioculturalhistórica em que nos inserimos, do que por nossa simples herança biológica”. Da mesma maneira as questões da fala não fogem à regra. E de certo não se pode falar de interação sem abordar a linguagem como consciência ativa de uma determinada sociedade. Assim sendo, ela é mais que uma predeterminação da biologia humana. As questões da língua são consequências de interações sociais, que se fazem inteligíveis pela comunicação e/ou interlocução pedagógica e, por sua vez, produzem sentidos pelo sistema de signos linguísticos, como já evidenciado nos estudo de Saussure33. Há muito tempo se fala da importância da comunicação entre professores e alunos. Autores, mídia, internet, comungam a importância do processo comunicativo, classificando o período atual como era da comunicação. Dessa forma, a competência comunicativa se insere no meio pedagógico como um fator decisivo para a manutenção da qualidade comunicativa entre o professor e seus alunos, visto que falar com proficiência representa uma meta didática pretendida pelo educador no exercício de suas funções. Assim, estudantes com melhor poder de argumentação têm por caracteristica sobresair-se perante a sociedade, a ascender socialmente, ao ponto de galgar espaços privilegiados socialmente. Na escola, em várias situações, é exigida uma 191 33 Ferdinand de Saussure (1857-1913) foi visto por muito tempo como uma espécie de pai da lingüística moderna. Era Suíço, linguista e filósofo, cujas elaborações teóricas propiciaram o desenvolvimento da linguística enquanto ciência autônoma. Saussure entendia a linguística como um ramo da ciência mais geral dos signos. Disponível em: <http://revistalingua.uol.com.br/textos.asp?codigo=11312> Acesso em 05 de Fev de 2012. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário boa capacidade de entendimento dos temas apresentados em aula, entretanto a capacidade comunicativa do docente para a fruição da habilidade que os alunos devem demonstrar nem sempre é posta em prática. Sendo o homem um ser comunicativo, por excelência, sua principal necessidade na escola é desenvolver competentemente a sua capacidade de interação social, com o objetivo primeiro de favorecer reflexões pontuais que lhe permitam resolver os problemas que o quotidiano lhe impõe. Segundo Mota e Souza (p.12 apud HYMES, 1989), “A competência comunicativa tem a ver com a aquisição do conhecimento linguístico com adequação aos contextos sócio-culturais de uma determinada comunidade linguística, em situações autênticas de interação verbal.” As situações comunicativas aqui apresentadas são constituídas por discussões provenientes de situação oral, motivo pelo qual se torna importante eleger um conceito de oralidade, ora entendida como (MARCUSCHI, 2001, p.25): “[...] uma prática social interativa para fins comunicativos, que se apresenta sob várias formas ou gêneros textuais fundados na realidade sonora; ela vai desde uma realização mais informal a mais formal nos mais variados contextos de uso” (MARCUSCHI, 2001, p.25). A sociedade que utiliza tradicionalmente a linguagem oral, sem fazer uso da linguagem escrita, é tida como ágrafa e suas tradições se concretizam na atividade oral, dessa maneira, seus conhecimentos são perpassando de gerações a geração sem que este se percam por completo. Diante dos novos desafios impostos pela escola como forma de potencializar a comunicação entre professores e alunos, está a ideia da construção de um planejamento estruturado do fazer pedagógico por parte do docente que necessariamente privilegie as ações comunicativas dos alunos. É ensta direção e por esse objetivo que professores costumam solicitar a realização dos famigerados exercícios e trabalhos escolares. Não há outra ideia a não ser a de perceber a capacidade de comunicação do aluno frente aos desafios de buscar entender e compreender a fala do outro pelas suas mais variadas representações. e faz. A partir do momento em que um aluno na escola se encontra na necessidade de compreender determinados códigos linguísticos, acessíveis à maioria das pessoas de seu convívio, faz-se notável a falta de estratégias pedagógicas na escola que dêem conta de estabelecer diretamente uma relação pragmática com este objetivo.em outras palavras, falta mesmo um processo de letramento satisfatório para manter o mínimo de dignidade de um ser que se diz letrado por uma instituição escolar. Não é questão de não saber falar, mas de compreender determinadas situações e usos da língua, que em muitos casos não constituem preocupações evidenciadas nas práticas pedagógicas de muitos professores no ensino fundamental, por exemplo. O privilégio está sempre centrado pelo outro, neste caso o autor do livro didático, e não pela necessidade de estabelecimento de um ato comunicativo que favoreça a reflexão do aluno sobre a sua própria linguagem. Valoriza-se muito mais o conteúdo de livro didático do que a relevância desse conteúdo para a formação comunicativa de um sujeito preocupado com seus valores éticos e morais. Talvez seja por isso que a escola fracasse em sua missão primeira: A de ensinar o aluno a comunicar-se com os demais refletindo essa comunicação pela própria língua numa norma eleita como a correta. A questão não é falar certo ou errado e sim saber que forma de falar utilizar, considerando as características do contexto, ou seja, saber adequar o registro às diferentes situações comunicativas. É saber coordenar Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ satisfatoriamente o que falar e como fazê-lo, considerando a quem e por que se diz determinada coisa. (FÁVERO, 2003. p. 12). Por muito tempo e em diversas considerações linguísticas, a língua falada era considerada o lugar onde reinava o caos, isto porque até então os estudos existentes davam conta da língua apenas enquanto produto de uma gramática e norma que se estruturavam por meio da escrita. Com as conquistas da linguística, deu-se uma maior atenção à linguagem enquanto processo, o que permitiu estudar a situação comunicativa entre diversos sujeitos, e aqui defendida entre professores e alunos, bem como, entender os fatores que interferem na conversação no espaço escolar. Em uma sociedade que supervalora a comunicação como forma de agilizar o pensamento e as relações sociais, é de se esperar que a cobrança pela competência comunicativa cada vez mais seja uma realidade presente em nossas escolas. Por esta ótica é de se esperar que as práticas pedagógicas dos professores de educação básica sejam alinhadas com a ciência lingüística, a fim de que o professor perceba ser essa a ciência que deve ter como sustentáculo a faculdade de mobilizar outros saberes no amplo espaço escolar. Os estudos no campo da linguística têm avançado consideravelmente desde 1960, e da paralinguistica a partir de 1990, com a aparição estudos na área de grandes nomes no ramo dos lingüísticos, tais como: Saussure, Chomsky, Hymes, Luke, Freebody, Stuart Hall dentre outros. Segundo tais estudos, a interação comunicativa que se estrutura pelo viés da oralidade possui alguns elementos da atividade conversacional, tais como as hesitações, pausas, repetições de palavras, ênfase, truncamentos dentre outros, tidos como agentes que dificultavam o ato da fala, mas a crescente evolução dos estudos na área da linguística tomou os mesmos elementos como importantes para se analisar o comportamento de professores e alunos no ambiente escolar. Mais complexa que a competência linguística evidenciada por Chomsky34, a competência comunicativa está diretamente ligada à capacidade do falante usar a língua de acordo com a situação e local onde se encontra. Dessa maneira, há uma necessidade de variação do discurso de movimentos corporais. De certa forma, dentro das interações feitas em situações sociais, a competência comunicativa apresenta-se como todo um conjunto de ações, visando desenvolver a comunicação plena. 193 3. A oralidade como estratégia pedagógica Eleger a língua oral como conteúdo escolar exige o planejamento da ação pedagógica de forma a garantir, na sala de aula, atividades sistemáticas de fala, escuta e reflexão sobre a língua. São essas situações que podem se converter em boas situações de aprendizagem sobre os usos e as formas da língua oral: atividades de produção e interpretação de uma ampla variedade de textos orais, de observação de 34 Chomsky foi o linguista responsável elaboração do termo competência lingüística que se fundamentava nas questões da gramática e em seus estudos dizia que através de um número finito de símbolos, podia-se criar um número quase infinito de palavras para comunicar. Disponível em: < http://www3.unisul.br/paginas/ensino/pos/linguagem/0501/10.htm> Acesso em 05 de Fev de 2012. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário diferentes usos, de reflexão sobre os recursos que a língua oferece para alcançar diferentes finalidades comunicativas. Por isso, a prática da oralidade deve ser desenvolvida nas crianças desde cedo, e uma forma muito boa de desenvolver a fala é dar a elas a oportunidade de falar. Não basta deixar que crianças falem. Apenas falar o cotidiano e a exposição ao falar alheio não lhe garantem a aprendizagem necessária. É preciso que as atividades de uso e a reflexão sobre a língua oral estejam contextualizadas em projetos de estudos, quer sejam da área de Língua Portuguesa, quer sejam nas demais áreas do conhecimento. A exposição oral de caráter público do aluno ocorre tradicionalmente a partir dos anos finais do ensino fundamental, através das chamadas apresentações de trabalho, cuja finalidade é a exposição e análise sistemática de temas estudados. Em dadas circunstâncias, o procedimento de expor oralmente em público não costuma ser ensinado, por se imaginar que a boa exposição oral decorra de outros procedimentos já dominados como falar e escutar. No entanto, o texto expositivo é dos que maiores dificuldades apresentam, tanto ao produtor quanto ao destinatário. Assim, é importante que as situações de exposição oral frequentem os projetos de estudos e sejam desde os anos iniciais do ensino fundamental uma prática pedagógica proeminente. Deste modo, conhecer as regras que geram as frases não resulta necessariamente em comunicação boa ou eficiente. “*...+ uma coisa é saber, outra é fazer”. Luft (2006). Conforme Luft (2006), a fala representa o pensamento. De acordo com o autor, a escola deveria cuidar primeiramente da fala dos seus alunos, único meio de comunicação que a maioria deles terá pela vida toda; sabendo-se o quanto o pensamento é desordenado, ao ordenar o pensamento, é ter a competência comunicativa para fazer as devidas articulações, formulações de ideias para organizar a fala. A fala é um complexo que requer treino, prática e conhecimento sobre o que se fala. E é uma prática pedagógica consciente que favorecerá o desenvolvimento da fala dos alunos, não só como ferramenta de participação e de interação nas aulas, mas como ferramenta comunicativa eficaz do aluno, que gera um saber nato e producente numa sociedade, que como já foi ressaltado, valora por demais a comunicação e suas implicações. A boa comunicação é evidenciada através do conhecimento que possuímos e daquele já adquirido por nosso interlocutor. Não tão raro, é comum ouvir pessoas dizerem que é “impossível conversar com tal pessoa”. Para uma comunicação eficiente, é necessário adequar seu discurso ao discurso do seu interlocutor para ser compreendido. Desta forma, faz-se necessário conhecer os vários discursos que na escola são estruturados e proferidos pelos professores. Assim, para se falar bem, é necessário praticar bastante, é preciso que as ideias saiam do papel, que partam da teoria para a prática constante; o treino deve partir de dentro da escola para que o aluno possa atingir um nível de consciência para equalizar que sua competência comunicativa vá além da sala de aula, que os princípios adquiridos na escola ultrapassem os limites da sala de aula. Só assim a escola estará cumprindo a sua função de promover cidadãos críticos e reflexivos, como prega a própria LDB. Salvo exceções, todos as pessoas são capazes de falar, têm a capacidade de articular as palavras que irão se tornar os enunciados comunicativos e ter domínio de seu próprio discurso. A incapacidade de conhecer proposições para argumentar é ser passivo da perda do discurso. É não ser capaz de articular um enunciado comunicativo Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ com poder comunicativo. Fato que é amplamente refutado na escola, pois o que se prega e que se deseja é que o sujeito possa, na interação com vários outros discursos produzir seu discurso com consciência plena dos indícios de sua autoria. As discussões aqui abordadas sobre a competência comunicativa não se restringem à capacidade das pessoas utilizarem um conjunto de regras da língua para dizer o pretendido, mas à capacidade do ser social tomar posse de todo um conjunto de elementos e de situações favorecendo uma comunicação dentre de variadas situações e contextos. O falar, nos dias atuais, assemelha-se a uma presença própria, uma referência do que determinada pessoa se tornou, sua identidade, sua natureza. Portanto, o termo competência comunicativa aparece como uma ideia, que surgiu há algum tempo e que apesar de ser pouco estudada apresenta-se como um ideal dentro das novas formas de comunicação, visto sua abrangência. Tão importante quanto saber utilizar-se da oralidade e suas possibilidades no seu cotidiano, é a competência comunicativa do docente aliada a sua sagacidade de gestão pedagógica a serviço da compreensão lingüística dos alunos. A sala de aula é, portanto um espaço privilegiado para o constante exercício da prática oral entre professores e alunos. Entretanto os professores enfrentam nas salas de aulas a dificuldade de explorarem a oralidade do aluno numa perspectiva de construção significativa de saberes já idealizada em seus planos de ensino. Urge a necessidade de professores e alunos compreenderem e utilizarem atos de performance nos momentos de interação em sala que permitam efetivamente o estabelecimento de uma comunicação amplamente producente, principalmente para o aluno, aqui definido como agente da aprendizagem. Uma boa estratégia pode ser definida pela realização de um júri simulado, de debates, palestras, por seminários, entre outras atividades que têm por natureza a integração e a desinibição dos atos de fala dos alunos, marcadas por um planejamento organizado do professor e por uma aprendizagem relevante do aluno. Entende-se, portanto que a oralidade, associada às técnicas de ensino, como aula expositiva, por exemplo, representa uma modalidade comunicativa que é responsável por grande parte da aprendizagem que o aluno desenvolve em seus anos escolares, bem como pela ensinagem dos professores. Expressar-se bem oralmente, em sala de aula, é uma necessidade que deve ser corriqueira, entretanto pensada pelo viés de um constante planejamento, visto que o professor tem por objetivo estruturar a sua atividade acadêmica a fim de garantir que a sua expressão oral ganhe espaço na intelectualidade do aluno e que sua voz ecoe por meio de uma representação sensível ao mundo globalizado, hipervalorizador dos atos comunicativos. 195 O mais importante, porém, em matéria de tom de voz, não é o seu ajustamento à situação externa, mas a possibilidade de variá-lo a serviço da expressão do pensamento, um único tom é tão inadequado que monótono se tornou sinônimo de enfadonho. E assim que o tom deve crescer ao pronunciarmos palavras de grande importância na frase (ênfase), adquirem esta modulação entre outra a cujo sentido queiramos apresentar em matiz inesperado e um tanto fora da acepção usual, e, ainda variar para exprimir as mudanças necessárias do estado de espírito do expositor, subordinado à Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário natureza dos pensamentos que enuncia e em que se deve mostrar profundamente integrado. (CÂMARA JUNIOR, 1978, p.19) A maneira como cada pessoa se expressa é única, para isso a escola tem o papel de favorecer o desenvolvimento pleno do aluno, por meios de atividades linguísticas, de cunho pedagógico, por meio das quais o professor não seja um mero ator para representar sua oralidade na sala de aula, mas que sua aula suscite o desenvolvimento pela palavra, sendo a oralidade, neste momento, a maior representante desta. É através da voz que o professor/orador dá vida a seu texto, fazendo ele resignificar-se em um centro de conhecimentos, que se disseminam uma ideologia de pensamento por meio de um discurso, que só é assim compreendido pela estruturação lógica e linear que se contrói por meio da palavra oralizada. O trabalho com linguagem oral deve acontecer no interior de atividades significativas: seminários, dramatização de textos teatrais, simulação de programas de rádio e televisão, de discursos políticos e de outros usos públicos da língua oral. Só em atividades desse tipo é possível dar sentido e função ao trabalho com aspectos como entonação, dicção, gesto e postura que, no caso da linguagem oral, têm papel complementar para conferir sentido aos textos. (PCN, 1998, p.40) Conclui-se, pelo exposto que o trabalho prático em atividades que coloquem o aluno em contato direto com diferentes usos da língua, sob as mais diversas situações, possibilita um crescimento, intelectual e cultural. Ao mesmo, tempo descortina-se o mundo que a pessoa se encontra inserida, tornando passível adentrá-lo, compreendêlo, e ser compreendido. A expressão oral é uma das ações mais complexas e mais difundidas da comunicação humana, pois acontece naturalmente, ao mesmo tempo em que necessita de atenção para suas regras de uso. Falar por falar ou um falar bonito não quer dizer uma ação comunicativa eficiente, é necessária que esta fala faça sentido à quem ouve, ou seja, que seu ato funde um fato. Da mesma forma, dentro de uma situação escolar, a performance situa-se como uma forma essencial nas relações dialógicas, cuidando de dar forma ao texto falado, trazendo-o do imaterial para o visível. 4. Considerações finais As discussões aqui travadas evidenciam um caráter amplamente subjetivo do processo comunicativo entre professores e alunos na escola. Nem sempre há uma relação lógica e precisa do uso da oralidade em sala de aula. Se por um lado a fala do professor é a ferramenta metodológica por meio da qual as técnicas de ensino se configuram, por outro a fala não constitui um elemento planejado de ação pedagógica a serviço da produção de um discurso atraente, coeso e significativo para os alunos. Discute-se mais a forma de condução de uma aula, considerando o arcabouço metodológico que a estrutura, do que a enunciação que a oralidade provoca do desenvolvimento da mesma. Talvez seja o momento dos educadores prestarem a atenção aos atos comunicativos que se processam em sala de aula. Os alunos dizem muito pouco o que pensam, pois quase sempre não há um espaço privilegiado de exploração da oralidade na sala de aula. Existe a condenação pela fala excessiva e desordenada dos alunos Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ durante uma aula, entretanto não há uma valorização da oralidade que em vez de ser explorada para se avaliar o pensamento e a reflexão da própria língua que o aluno faz, é condenada e relegada a segundo plano. Quanto menos os alunos falarem durante a aula melhor será para o professor ministrar sua aula. Esse é um ledo engano que os professores precisam veemente combater. Urge a necessidade de uma ação reflexiva da oralidade dos alunos que prime pela valorização das produções de múltiplos sentidos que eles produzem no transcorrer de uma aula. Neste contexto insere-se uma discussão profícua sobre os gêneros textuais que são de base oral e que enriquecem a argumentação pela produção de sentidos lógicos e estruturantes da fala. Falar e escrever bem são uma competência exigida dos alunos, mas que não é bem desenvolvida, dado a burocratização do uso da linguagem que a escola faz. Os atributos da textualidade evidenciam-se também na oralidade do aluno e deve ser objeto de análise e discussões propostas pelos professores. Segundo Mattoso Câmara, (1986) A rigor a linguagem escrita não passa de um sucedâneo, de um ersatz da fala. Por esta ótica seria a fala, portanto a oralidade do aluno, que abrange a comunicação lingüística em sua totalidade, pressupondo, além da significação dos vocábulos e das frases, o timbre da voz, a entonação, os elementos subsidiários da mímica, incluindo-se aí o jogo fisionômico. De acordo com Mattoso Câmara, as representações da oralidade, marcadas pelo tom de voz, pelos gestos do falante são partes fundamentais na linguagem, pois complementam o que este quer expressar em sua comunicação. Neste sentido é preciso entender que esses recursos expressivos colaboram para a valorização de determinadas palavras, deixando-as mais precisas, indiciando o receptor a como receber do expositor, de forma a revelar uma gama de sentimentos deste em referência ao que diz. Sendo de tal importância na linguagem que, na língua escrita, onde eles não podem figurar, temos de recriá-los na leitura mesmo mental, para podermos apreciar e até compreender o texto. 5. Referências BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: introdução aos parâmetros curriculares e nacionais. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. BRINKMAN. Lola. A linguagem corporal do movimento corporal. 3. ed. São Paulo: Sammus, 1975. CÂMARA JUNIOR. Joaquin Matoso. Manual de Expressão Oral e escrita. 5. ed. Petrópolis: Editora Vozes. 1986. DIONISIO, Angela Paiva, MARCUSCHI. Luiz Antonio. Fala e Escrita. 1. ed. Belo Horizonte: Autentica. 2007. Sumário Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). 197 FÁVERO, Leonor Lopes et al. FÁVERO, Leonor Lopes, Oralidade e Escrita: Perspectivas Para o Ensino de Língua Materna. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2003. ______.______. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2007. GARCIA, Angela, HAAS, Aline Nogueira. Expressão corporal: aspectos gerais. Porto Alegre: Edipucs, 2008. HARF, Ruth, STOKOE, Patrícia. Expressão corporal na pré escola. 4. ed.São Paulo: Sammus, 1980. JAKOBSON, Roman. Linguística e comunicação. Tradução: Izidoro Bliktein e José Paulo Paes. 19. ed. São Paulo: Cultrix, 2007. KOCH. Ingedore Grunfeld Villaça. A Inter-Ação Pela linguagem. 8. ed. São Paulo: Contexto, 1993. LAPLANE, Adriana Lia Friszman de. Interação e silêncio na sala de aula. 1997. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Capinas, Faculdade de Educação. – Campinas, SP: [s.n.], 1997. LUFT, Celso Pedro. Língua e Liberdade: por uma nova concepção da língua materna. 8. ed. São Paulo: Ática, 2005. MARCUSCHI. Luiz Antonio. Da fala para Escrita; Atividades de Recontextualização. 9ª ed. São Paulo: Editora Cortez, 2008. ORLANDI, Eni Puccinelli. Análise do discurso: Princípios e Procedimentos. 7ª ed. São Paulo: Fontes, 2005. ZUMTHOR, Paul. Performace, Recepção, Leitura. 2. ed. São Paulo, 2000. Tradução: Jerusa Pires Ferreira, Suely Fenerich. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ A ESCRITA DA ORALIDADE NO LIVRO “UM CONTO DE CADA CANTO” DE PITA PAIVA Leusina Neves Monteiro (UNEB – DCHT – Campus XVI) Robério Pereira Barreto (UNEB – DCHT – Campus V) RESUMO: O presente trabalho tem como intuito apresentar a escrita da oralidade no livro “Um conto de cada canto” de Lindomar Sancho Paiva, em que o mesmo descreve entrevistas feitas a pessoas do município de Uibaí-BA. No decorrer da pesquisa foram feitos estudo do livro, visita a entrevistado, proporcionando um amplo conhecimento sobre a narrativa, além do prazer de ver de perto o que foi estudado. Foram realizados estudos teóricos a autores como Zumthor, Levy, Marcuschi entre outros, que deram grandes contribuições ao desenvolvimento e melhor compreensão desse trabalho que se faz de grande relevância ao reconhecimento da importância da oralidade. PALAVRAS-CHAVES: Escrita, Oralidade, Narrativa. 1. Introdução Este artigo pretende apresentar a escrita da oralidade presente no livro “Um conto de cada canto” de Lindomar Sancho Paiva, uibaiense35 que ao longo do livro descreve entrevistas feitas a pessoas, em especial as de maior idade de cada povoado do município de Uibaí- BA36, fechando com isso uma coletânea de narrativas que contam histórias locais referentes a costumes e crenças do povo. Todas as narrativas são resultado de entrevistas, conversas feitas com os entrevistados na intenção de transformar aquela oralidade em escrita, de forma tal que a escrita servisse como meio de registrar essas narrativas, concentrando em si muitos dos traços presentes na oralidade, pois como é sabido, ao transformar um tipo de texto em outro, transforma-se também a originalidade do mesmo, de modo que uma entrevista ao ser transcrita ela já não é a mesma no momento da gravação, pois há alterações no modo de transposição a outro texto. A oralidade que permeia todas as narrativas são resultados de um jogo de palavras em que o autor escreve conservando o modo como os entrevistados se expressavam e ao final de cada narrativa é dado o significado de cada palavra que apresenta um regionalismo fortemente acentuado. A oralidade jamais desaparecerá e sempre será, ao lado da escrita, o grande meio de expressão e de atividade comunicativa. A oralidade enquanto prática social é inerente ao ser humano e não será substituída por nenhuma outra tecnologia. Ela será sempre a porta da nossa iniciação à racionalidade fator de identidade social, regional, grupal dos indivíduos. [...](MARCUSCHI, 2004, p. 36). 35 Indivíduo nascido ou que vive no município de Uibaí-BA. Município de um pouco mais de 500 km², localizado na microrregião de Irecê, centro norte da Bahia (Chapada Diamantina Setentrional), inserido também no baixo médio são Francisco. 36 Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 199 Diante da importância que a oralidade exerce e sempre exerceu na sociedade é que as narrativas do livro se fazem de grande valor não só do ponto de vista de resgate a oralidade como também da cultura local. 2. Oralidade primária e oralidade secundária Quando se trata de oralidade, é preciso discernir a oralidade primária da oralidade secundária, pois cada uma possui suas particularidades e definições que as tornam distintas em seus usos. Oralidade primária de acordo com Levy (1993) “remete ao papel da palavra antes de uma sociedade tenha adotado a escrita” (LEVY, 1993, p.77), dessa forma toda a infinidade de formas simbólicas de expressões humanas faz parte desse período específico da história. Os registros dos acontecimentos, desde as formas fixadas em pedras, madeira, argila entre os vários outros apresentados durante o período antes do surgimento da escrita fazem parte da oralidade primária. Tratava-se, portanto, das primeiras formas de transmissão de informação e conhecimentos feitos pelos homens e também dos registros, mesmo que de forma simbólica, se configuravam os primeiros apontamentos deixados pelos homens. A oralidade primária teve uma grande importância para o desvendamento da forma como vivia o homem em tempos passados e de como ele agia diante das diversas situações do cotidiano. Ainda hoje a oralidade se faz presente nas sociedades, mesmo que o seu estudo e o seu reconhecimento fiquem por alguns estudiosos de prestígio inferior com relação à escrita, sabe-se que foi por meio da oralidade que se fez possível o surgimento não só da escrita como também de diversas tecnologias que se dispõe atualmente. Zumthor (2005) numa entrevista relata, Não se pode imaginar uma língua que fosse unicamente escrita. A escrita se constitui numa língua segunda, os signos gráficos remetem, mais ou menos, indiretamente as palavras vivas. A língua é mediatizada, levada pela voz. Mas a voz ultrapassa a língua; é mais ampla que ela, mais rica. É evidente, qualquer um constata em sua prática pessoal que, em alcance de registro, em envergadura sonora, a voz ultrapassa em muito a gama extremamente estreita dos efeitos gráficos que a língua utiliza. Assim, a voz, utilizando a linguagem para dizer alguma coisa, se diz a si própria, se coloca como uma presença. Cada um de nós pode fazer a experiência do fato de que a voz, independentemente daquilo que ela diz, propicia um gozo. [...] (ZUMTHOR, 2005, p. 63). E sobre a oralidade secundária, segundo Levy ela “está relacionada a um estatuto da palavra que é complementar ao da escrita, tal como conhecemos hoje” (LEVY, 199, p. 77), sendo, portanto, inerente, ao processo da escrita. De forma distinta da oralidade primária e oralidade secundária se dá por bases em uma cultura escrita, em que os conhecimentos não são mais armazenados somente na memória e transferidos via oral de uma pessoa à outra, são registrados por meio do escrito, do que está gravado no papel. Mesmo durante esse período a oralidade se fez muito importante na compreensão de muitas coisas que dependiam do subsídio da palavra falada para que Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ houvesse uma maior ou uma compreensão do que estava sendo lido. “Antes da Renascença, os textos religiosos, filosóficos ou jurídicos eram quase que obrigatoriamente acompanhados de comentários e de interpretações orais, sob a pena de não serem compreendidos” (LEVY, 1993, pp. 84,85). Dessa forma percebe-se que somente a escrita não era suficiente para transmitir o conhecimento, de maneira tal que a oralidade concedida por meio da interpretação era de fundamental importância para o entendimento do que se queria transmitir. E isso se repercute até hoje, pois o escrito não oferece condições que a palavra falada oferece, não alcança os ouvidos que as mediações entre o falado e o escrito alcançam, nem proporciona a emoção que muitas vezes só a voz é capaz de emitir, a respeito disso cita-se as poesias que não tem a mesma reação do lido e do falado, do declamado. Eu gostaria de enfatizar o fato de que, dentro da existência de uma sociedade humana, a voz é verdadeiramente um objeto central, um poder, representa um conjunto de valores que não são comparáveis verdadeiramente a nenhum outro, valores fundadores de uma cultura, criadores de inúmeras formas de arte. (ZUMTHOR, 2005, p.61). Assim pode ser percebido o quanto a palavra oral desempenha um papel de fundamental importância na vida e emoções das pessoas, e o escrito não anula a oralidade, mas pelo contrário, enquanto o primeiro prolonga a vida do segundo, uma vez que não está unicamente armazenada na memória humana, a outra oferece condição da escrita existir e se desenvolver. 3. O papel da oralidade na escrita A oralidade desenvolveu ao longo de séculos o importante papel transmissor de conhecimentos a gerações o que permitiu efetivar, durante muito tempo, o conhecimento que era transferido de forma oral, e essas mesmas informações puderam ser escritas e divulgadas para outras culturas. O termo oralidade tem na sua etimologia o radical oris, do latim, que significa “'boca; linguagem, língua, idioma; rosto, fisionomia; abertura, orifício” (HOUAISS s.d apud DUMAS, 2010, p.01), de modo que a própria origem do termo remete a algo verbal, algo que é falado. A oralidade desenvolveu durante muito tempo a função de única transmissora de informações, de conhecimentos e valores humanos, pois era por meio das conversas que as famílias repassavam sua cultura, suas tradições, seu modo de viver a seus descendentes. Se bem é verdade que todos os povos, indistintamente, têm ou tiveram uma tradição oral, mas relativamente poucos tiveram ou têm uma tradição escrita, isto não torna a oralidade mais importante ou prestigiosa que a escrita. Trata-se apenas de perceber que a oralidade tem uma “primazia cronológica” indiscutível sobre a escrita. *...+.(MARCUSCHI, 2004, p.17). Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 201 Por isso, a oralidade teve o seu papel primordial de agente transmissor de informações, sem o qual não poderiam registrar esses acontecimentos, a escrita, portanto, pressupõe a existência de uma linguagem falada, sendo uma forma de fixação dessa forma pensamento de permanentemente. No livro que constitui o objeto de pesquisa desse trabalho, o qual descreve a oralidade por meio de entrevistas feitas in loco pelo poeta, escritor uibaiense, popularmente conhecido por Pita Paiva, livro esse intitulado “Um conto de cada canto” essa relação fica explicita, quando o autor faz entrevistas a diversas pessoas de cada povoado do município de Uibaí, no qual o autor deixa claro a sua intenção de resgatar uma oralidade própria, que consiste em termos utilizados antigamente e que hoje as gerações mais novas do município desconheciam, tanto os termos como as histórias. E dessa forma transmite uma linguagem com diversos vestígios da oralidade em forma escrita, respeitando os limites de enunciação da oralidade de forma muito interessante, dinâmica e muito original ao que foi dito no momento da entrevista. 4. A escrita da oralidade em “Um conto de cada canto”. Para a efetivação da presente pesquisa foi necessário o conhecimento do livro “Um conto de cada canto” aliado a outras leituras baseadas na oralidade, mas precisamente nas marcas que a escrita possui graças a sua aproximação com aquela, uma vez que a primeira é consequência direta da segunda. O livro objeto de estudo dessa pesquisa é resultado de entrevistas feitas pelo escritor Pita Paiva a inúmeras pessoas do município de Uibaí, de modo que não foi por acaso o nome dado ao livro “Um conto de cada conto”, pois ele descreve uma narrativa de cada povoado que constitui o referido município. As entrevistas foram feitas a pessoas com idade entre 42 a 88 anos tendo como alvo relembrar histórias do passado, a forma como viviam, como fazia para estudar, trabalhar, alguns costumes da época, tradições, cultura que muita gente desconhecia e que a leitura do livro proporcionou esse conhecimento e essa aproximação com algumas tradições que fizeram parte da história do povo uibaiense. Composto de 25 narrativas que contam histórias da vida, dos costumes, lendas e tradições de um povo, a exemplo de histórias como “Casamento de outrora”, “Engenho e casa de farinha”, “Luta pela água”, “O rezador e a serpente cabeluda” e “O plantador e a ingazeira ameaçada,” essa última sendo a que foi feito a pesquisa a campo e visto a realidade da ingazeira e o modo como o plantador trabalha na intenção de resgatar as árvores nativas que segundo o entrevistado e plantador Amirto, já estão quase em via de extinção. “[...] deve ter mais de quinhentos anos e tá morrendo sem a gente poder ajudar. Ela já tem filho, neto, bisneto e por aí vai. Conhece toda a história do povo de Uibaí, pois nasceu e vive ali no comecinho da Fonte Grande” (PAIVA, 2009, p. 74). É muito interessante o fato como o plantador trata as árvores e como ele respeita o tempo de cada uma, pois em seu quintal ele cultiva inúmeras mudas que cada uma a seu tempo vai sendo plantada na Fonte Grande, local muito conhecido pelos moradores e que já foi lugar de abundância em águas e diversidade de fauna e flora. Na narrativa ele relata o tempo que vem plantando e contribuindo para que espécies de grande importância não cheguem a ser extintas da serra de Uibaí, “tem mais de Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ trinta anos que eu planto árvore” (2009 p.77), e fala da felicidade que isso lhe proporciona. ...eu já cheguei ficar até às dez horas da noite, envolvido e sem um pingo de fome nem sono. Parece que o prazer é muito grande e que a natureza ajuda a gente. E tem noite que o sono espalha e eu levanto e saio sentindo o cheiro das plantas. (PAIVA, 2009 p.80). Logo mais ele fala da personagem central da narrativa, que se trata da Ingazeira. Chegamos. Taí a Ingazeira. Dá pena, não é? Ela tá com uns probleminhas de saúde. Aquela galha ali tá quase caindo. Caiu essa outra que dá não sei quantas toneladas e só tinha a casca, mais ou menos de uns quinze centímetros de espessura, que tava segurando ela. Aqui nesse poço, debaixo dela, depois da chuvarada de cada ano, era cheio de gente tomando banho. Esse gigante da natureza é quem já viu e ouviu tudo quanto é história. (PAIVA, 2009, p.79). Um livro escrito por meio de uma linguagem simples, em que o autor buscou ser fiel a medida do possível, ao transcrever uma entrevista, ela já está sofrendo modificações, pois não está sendo descrita com as mesmas minúcias conforme foi contada. Serão aqui citados exemplos de como ele conservou essa fidelidade às entrevistas e diante disso temos: “perto do riacho eu não bulo em nada, o que vai nascendo eu vou deixando e sempre boto muda de planta onde vejo queimada” (PAIVA, 2009, p. 77). O autor utiliza-se de termos populares que, muitas vezes é necessário utilizar uma espécie de glossário para explicar alguns deles, porque poderiam ser desconhecidos para as pessoas que lessem o livro supracitado, a exemplo da palavra “bulo” que ele descreve como “mexo”, toco”. “Há alguns casos em que o é fundamental recorrer ao glossário para compreender o que o texto traz, em casos como “dibugaiô”, “comendo no birro”, “laúsa”, “ corta- passo” que significam respectivamente, “ abriu, cortou”, “ acontecido com intensidade”, “algazarra, barulho” e “ objeto de madeira pra se colocar livros, substituído hoje por “mochila ou bolsa”, percebe a importância e o cuidado do autor de fazer-se compreendido pelos leitores e ao mesmo tempo manter-se fiel a seus entrevistados. No decorrer da leitura do livro nos deparamos com imagens em algumas das narrativas representando figuras que remetem ora ao contador, ora a situação narrada. Ao passo que no final encontramos as fotos dos entrevistados, descrevendo o nome, a idade e povoado de origem, de modo que a história fica apresentada no inicio do livro e seus criadores fotografados ao final da escrita das narrativas. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 203 Ler “Um conto de cada conto” é para muitos um retorno ao passado, às origens, atuando como um flashback37 no tempo e para os que desconheciam da história apresentada no livro é sentir suas raízes sendo desvendadas de um modo muito especial, pois, são histórias de nossos descendentes contadas por meio da oralidade e recontadas por meio do registro escrito feito pelo autor e deixado a disposição de quem quer conhecer um pouco mais da história de Uibaí e da origem desse povo. De uma linguagem simples o livro narra histórias que deixa o leitor à vontade para lê-lo, compreendê-lo e conhecer as histórias que fizerem e ainda fazem (algumas), parte da vida dos uibaienses e servem também para aguçar a curiosidade de leitores e conterrâneas que tem o interesse de conhecer mais sobre esse lugar tão pequeno e tão cheio de narrativas que encantam muita gente, ora pela grandiosidade dos fatos, ora pela simplicidade das ações. Figura 1. Capa do livro “Um conto de cada canto” de Pita Paiva. 5. Marcas do regionalismo presentes no livro. 37 De acordo com Globalink Power Translator Pro (Programa de tradução de línguas) o termo referido refere à retrospectiva. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Durante a leitura das narrativas é encontrado a todo momento palavras ligadas diretamente ao regionalismo, que por meio da oralidade são apresentadas ao autor das entrevistas e posteriormente aos leitores do livro. Em todas as 25 narrativas que compõem são encontradas trechos que remetem ao regionalismo, dentre vários deles pode-se aqui citar “Na ida não, porque a gente tinha que puxar pra chegar no horário, mas de lá pra cá se divertia muito”.(PAIVA, 2009, p.15). Esse é um trecho da primeira narrativa do livro, “ A caminho da escola” em que o entrevistado narra história da dificuldade de frequentar a escola em seu tempo, tempo esse que não havia escolas no município de Uibaí, a não ser uma escola em Hidrolândia38 que foi iniciativa de uma pessoa que ele descreve a bondade e paciência como característica principal. Logo depois se verifica também a oralidade no trecho “E sempre foi assim, labutando e fugindo de dificuldade maior, astuciando uma coisa e outra” (PAIVA, 2009. p. 18). Trecho da narrativa intitulada “Arte do cipó39”, forma de trabalho desenvolvida em que do cipó faz-se cestos de variadas espécies e ornamentações no qual é feito um cestinho especial e repleto de rosas. Dentre as várias expressões orais que apresentavam o regionalismo pode se cita também “ Zanzei demais debaixo da lua, atrás de madeira que desse certo pra atender o pedido. Teve vez de eu pensar que ia descansar a noite toda, quando pensava que não, ó gente na porta! O rojão era esse, e era de graça. (PAIVA, 2009, p.41). Passagem da narrativa “ O artista da madeira e os trezentos caixões” em que o entrevistado tinha uma habilidade no trabalho com madeira e ele dedicava essa sua habilidade a confeccionar caixões para todas as pessoas que faleciam no município, por isso que o mesmo descreve que quase toda noite lhe batiam a porta em busca de seu serviço e ainda complementa que não cobrava pelo seu trabalho. 6. Considerações Diante do que foi exposto, percebe-se que a oralidade foi de grande relevância no que tange ao desenvolvimento da comunicação, pois ela foi responsável por muito tempo pela disseminação de informações, pela troca de conhecimentos e armazenamento de conteúdos que se mostraram imprescindíveis para a humanidade. A oralidade é uma prática que se faz presente em nossas vidas, em práticas comuns a nossa existência. Embora possamos admitir, que atualmente haja inúmeras formas de comunicação e interação que pouco utilizam da oralidade. Porém, de alguma maneira elas tiveram o seu surgimento e disseminação por meio da oralidade, considerando o fato de que o homem por mais que invente tecnologias e meios de comunicação sofisticados, não pode deixar de falar para transmitir suas ideias e propagar seu conhecimento. 38 Vila do município de Uibaí. 39 Designação comum às plantas lenhosoas e sarmentosas ou trepadeiras, que pendem e se trançam nas árvores, características das florestas tropicais. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 205 Outro ponto importante a ser aqui posto é o fato de que se não fosse a oralidade, como as crianças teriam acesso a uma das primeiras faculdades mentais que se apresenta como uma ferramenta fundamental no desenvolvimento da fala, das primeiras expressões que ela aprende ao ouvir as pessoas falarem e a partir daí ela também aprende a exercer essa prática que é essencial para o ser humano. Por tudo isso a oralidade é intrínseca ao ser humano e não há como desmerecer esse fato, pois é a realidade, e ver os processos de oralidade como algo menor em relação aos demais é agir no mínimo de forma indiferente e preconceituosa ao meio pelo qual possibilitou que grandes avanços fossem realizados em diversas áreas do conhecimento humano. Mesmo diante de variados meios de comunicação surgidos da necessidade de encurtar distâncias e transpor barreiras, do grande aparato tecnológico que o homem tem a seu alcance, podemos verificar que alguns meios tecnológicos se aproximam da oralidade no que se refere à utilização de sua linguagem, a exemplo disso podemos citar as várias redes sociais utilizadas em larga escala em que as pessoas se comunicam como se estivessem realmente falando com o outro, desprezando as normas que uma língua escrita requer. Assim podemos perceber que mesmo diante de todo esse progresso no que se refere a questão comunicativa e em especial as atreladas às novas tecnologias, elas estão presente durante todo o ciclo, uma vez que originaram da oralidade, passaram por diversas transformações e hoje a retomam para se fazer presentes e atuantes na sociedade atual. Confirmando, com isso mais uma vez a grande importância que a oralidade desempenha em nossas vidas como seres comunicativos e praticantes de uma linguagem que se renova à medida que a sociedade evolui seus modos de conceber e transmitir informações e conhecimentos. Referências MARCUSCHI, Antônio. Da fala para a escrita: atividade de retextualização. 5 ed.São Paulo: Cortez, 2004. ZUMTHOR, Paul. Escritura e nomadismo: entrevistas e ensaios. Tradução Jerusa Pires Ferreira, Sônia Queiroz. Cotia, S.P: Ateliê Editorial, 2005. LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: tradução de Carlos Irineu da Costa. Ed: 34. Rio de Janeiro: 1993. DUMAS, Alexandra. Oralidade, escrita e encenação: uma breve análise sobre o Auto de Floripes (príncipe- áfrica) e a luta de mouros e cristãos (Prado- Bahia- Brasil). Trablho apresentado no VII Enecult (Encontro de estudos multidisciplinares em cultura). Salvador: 2010. PAIVA, Lindomar. Um conto de cada canto. 1ª ed.- Irecê- Gráfica Iagrapel, 2009. REGMENDES, Celito. História de Uibaí: da formação à emancipação. Uibaí, 2011. Dicionário rápido da língua portuguesa. Disponível em http://dicionariorapido.com.br. Acessado em 30/04/2012 às 12h e 11 min. Dicionário aulete. Disponível em http://aulete.uol.com.br. Acessado em 30/04/2012 às 17h e 34 min. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ INDISCIPLINA - ANÁLISE DE UMA REALIDADE Susana Rita Barreto Pimentel40(IEB) Lormina Barreto Neta41(UNEB) RESUMO: O presente artigo é fruto de pesquisa realizada numa escola municipal de ensino fundamental, em Barra do Mendes – Bahia. Aborda a indisciplina na sala de aula como uma das dificuldades apontadas pelo professor no manejo de classe. Os dados coletados por meio da observação in loco e do registro diário das atividades desenvolvidas no estágio de observação e regência referendam o estudo de caso. Como referencial teórico, foram tomadas discussões de Foucault (1987) sobre disciplina como mecanismo de controle de corpos dóceis; Freire (1996) que aponta indisciplina para uma relação dialógica entre sujeitos do processo ensino-aprendizagem; Vygotsky (1991) que aborda o conhecimento como construção sociocultural. PALAVRAS-CHAVES: Disciplina; Indisciplina; Sala de aula. A importância da disciplina na Escola 207 A sociedade é constituída de princípios para o convívio com o outro, ou seja, regras são necessárias para estabelecer limites entre o mundo individual e o coletivo. A escola, como célula da sociedade, também é formada de normas em que a disciplina é necessária para o bom desempenho das atividades pedagógicas e para despertar no estudante a necessidade de cooperação com a comunidade escolar - professores, colegas, funcionários. A geração atual sofre influência de uma outra geração que se contagiou pelo movimento hippie dos anos 60 -70, que tinha como lema é proibido proibir. Esses são os pais da nova geração que adentra as escolas. Aqueles que foram criados num clima de proibições e respeito impostos pelo medo querem que seus filhos sejam educados de outra forma, porém se perdem, pois a substituição dos valores gerou a desobediência desenfreada da geração atual. Tudo isso reflete na educação escolar que acolhe essa população oriunda dessa fase histórica da nossa sociedade. Dada a importância desse tema, e constatada a dificuldade dos professores em conciliar disciplina enquanto fundamento para a convivência no ambiente escolar, 40 Egressa do curso de Pedagogia da Universidade Luterana do Brasil –ULBRA. Professora do Instituto Educacional Barramendense - IEB 41 Orientadora. Pedagoga. Psicopedagoga Clínica e Institucional. Professora de Pesquisa e Estágio da UNEB- DCHT/CAMPUS XVI. Mestranda em Educação e Inovações Pedagógicas pela Universidade da Madeira- UMA – Portugal. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário posto que esta seja entendida na escola como obediência cega às normas, passividade total dos alunos utilizada como arma para manter a autoridade do professor, denunciando uma prática pedagógica centrada na figura do educador. Esta é resquício da educação tradicional que valoriza o ensino e não a aprendizagem vista como construção do conhecimento pelo aluno é que este trabalho pretende discutir a indisciplina na sala de aula enfocando até onde ela se configura como insubordinação do aluno ou abuso de autoridade e despreparo do professor para atender as demandas e interesses dos educandos dentro do contexto social atual. O interesse pela temática surge em decorrência da realização do estágio de regência numa classe de 4ª série, turno matutino, na escola Necy Novaes cujos alunos não conseguiam obedecer sequer os combinados de convivência. Discutindo o conceito de disciplina Um dos conceitos de disciplina, segundo Ferreira (1988), é “ordem que convém ao funcionamento regular de uma organização militar, escolar ou observação de preceitos ou observância de preceitos e normas, submissão a um regulamento”. Para Foucault (1987) disciplina são os métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade. Ainda segundo Foucault (op. cit.) a disciplina é uma técnica de exercício de poder, não inteiramente inventada, mas elaborada em seus princípios fundamentais durante o século XVIII. Historicamente as disciplinas existiam há muito tempo na Idade Média e na Antiguidade. Os mecanismos disciplinares são, portanto, antigos, mas existia um estágio isolado, fragmentado até os séculos XVII e XVIII (Foucault, apud Rabelo, 1998 p.105). Portanto, é durante o século XVIII que se enfatiza o corpo como alvo de poder por ele moldável, manipulável, hábil, dócil e controlável. Esse controle disciplinar surge com a nova sociedade burguesa industrial e favorece o modo de produção capitalista da época. Segundo Foucault, apud Rabelo o sucesso desse controle disciplinar se deve ao uso de instrumento como: olhar hierárquico-instrumento de vigilância que é favorecido pela organização, separação e distanciamento do individuo no espaço físico, permitindo o acompanhamento perfeito daquele que domina sobre os movimentos corporais e a produtividade numa relação de poder; sanção normatizadora que tem a função de reduzir os desvios utilizando o castigo conforme as normas estabelecidas e do exame que permite qualificar, classificar e punir. (2002, p.43) Com o surgimento das idéias modernas do homem como ser moldável, modifica-se também a concepção de infância. A infância e sua evolução: Histórico Nos séculos XIV e XV a criança era tratada como adulto na sociedade medieval, não existia primeiros anos de vida, as pessoas se divertiam com as crianças pequenas como animais de estimação – a paparicação. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Posteriormente (séc. XVI e XVII) sugere a infância institucionalizada. Com a Revolução Industrial surge a família moderna, onde há a preocupação com a criança e o surgimento de sentimentos de afetividade, cuidados, etc. A família começa a se preocupar com os estudos dos filhos e desapareceram os sentimentos de indiferença do passado. Para Ariès (1978 p.27) “a escola confinou uma infância outrora livre num regime disciplinar cada vez mais rigoroso.” Nessa época surgiram os internatos onde as ordens religiosas eram responsáveis pelo ensino a jovens e crianças. A instituição escolar, atendendo às necessidades da sociedade disciplinar, propõe, desde cedo, o controle e a domesticação da criança preparando-a para servir docilmente as idéias definidas no século XVIII e para protegê-la da natureza humana, mesmo por meio de métodos violentos, mas considerados normais na época. Assim, a submissão e o silêncio do aluno favoreciam um ensino centrado no professor e nos conteúdos. Percebe-se que atualmente ainda existem muitas escolas estruturadas sob essa perspectiva, o que faz lembrar a concepção bancária criticada por Freire (1998) que tem a função de transmissão ao aluno, de forma mecânica, conhecimentos historicamente construídos por meio de seu principal agente: o professor. Nesse tipo de educação não há construção de conhecimento em busca da transformação e superação das dificuldades sociais, pelo contrário, com o objetivo apenas de transmitir valores e conhecimentos este tipo de conhecimento anula o poder criativo e participativo do aluno, contribuindo para que este não sinta sujeito capaz de participar do processo de construção histórico. Essa prática também é antidialógica porque não proporciona aos alunos açãoreflexão-ação sobre sua realidade, impedindo a conscientização da posição social em que vivem, gerando contraditoriamente a indisciplina, pois reprova as manifestações que não fazem parte das normas estabelecidas pela cultura dominante. Presente ainda hoje na maioria das escolas, este tipo de concepção tem contribuído cada vez mais para o agravamento da indisciplina escolar, pois como instrumento de transmissão da cultura da classe dominante, a escola acaba por discriminar outras manifestações culturais presentes no seu interior. Assim, o aluno com uma cultura diferente da transmitida na escola, sentindo-se excluído, sem espaço para pronunciar seu mundo é levado a acreditar que existe apenas uma maneira correta de se viver que não é a sua. Com isso, a identidade e as perspectivas de um futuro melhor diminuem e, não tendo mais nada a perder, denuncia a discriminação da qual foi vitima, por meio de atitudes incômodas entendidas por essa concepção como indisciplina. Essa resistência dos alunos, que ameaça a ordem estabelecida na escola é friamente analisada como desacato e denominada como um ato de indisciplina. Portanto, na concepção bancária, a indisciplina é de responsabilidade apenas do aluno, pois sendo o professor a figura central do processo ensino-aprendizagem e o único detentor do saber, a ele apenas deve-se toda a reverência. Assim, qualquer atitude contrária às suas imposições, amparada por um currículo escolar fechado e excludente que sustenta esse tipo de educação, é tratada como indisciplina. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 209 Para Freire (1996 p. 67) “A educação bancária com o objetivo de controle do homem é necrófila, pois não dando oportunidade de expressão e de esperança, enquanto sujeito re-criador do mundo, mude-se do amor à morte e não do amor à vida.” Outra visão de indisciplina é apontada por Paulo Freire (1996) quando argumenta que numa concepção problematizada, o educar é um ato de amor, respeito a todas as visões do mundo, esperança e troca de experiências entre os envolvidos. E o diálogo é fundamental nesse processo educativo libertador. Nesse sentido deve-se dialogar com os educando para se entender os atos de rebeldia ou indisciplina, perceber o significado da insatisfação ou desconforto que muitos educandos, por não serem ouvidos, transgridem regras para dizerem: estamos aqui. Enquanto na educação bancária a relação professor-aluno ocorria de forma vertical, na concepção problematizadora o diálogo deve ocorrer numa relação horizontal, em que, tanto o educador como o educando, buscam saber mais em comunhão. Neste contexto, a indisciplina é encarada de forma diferente da concepção anterior, é pedagógica, e entendida como organização, pois surge da autoridade, compromisso e competência docentes. Segundo Paulo Freire (1996, p. 154) “O sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a relação dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, como inconclusão em permanente movimento da história.” A finalidade dessa prática disciplinar não é a de silenciar o aluno, mas de ultrapassar os limites do espontaneísmo e conhecimento como senso comum; por isso é pedagógica, colaborando com o desenvolvimento da autonomia intelectual e da autodisciplina dos alunos. Nesse sentido, o papel do professor é importante como o coordenador do processo educativo, criando em parceria com os alunos um espaço pedagógico, estimulante e desafiador, para que nele ocorra a construção de um conhecimento cientifico significativo. Nesta perspectiva, a indisciplina escolar não é só representada pelas manifestações ativistas, mas também pelas atitudes passivas dos alunos, pois tanto uma quanto a outra são encaradas como denúncia de insatisfação social e do tipo de educação praticada na escola. A concepção problematizadora deve ser prática constante no espaço escolar como meio de superação da indisciplina, pois valorizando a relação professor aluno, o pensar crítico e a construção coletiva, desenvolve-se a participação, a criatividade, o respeito, a cooperação, a tolerância e a conscientização das nossas possibilidades como seres participantes na construção do conhecimento no mundo, em busca de uma sociedade mais justa. Enquanto a educação bancária contribui para a imobilidade social, a educação problematizadora enfatiza a sua mudança e transformação. Na primeira concepção, por meio da relação vertical do professor com o aluno, da organização espacial da sala da aula (fileiras) e da prática docente da transmissão de conteúdos e dos exercícios de fixação, são favorecidos o controle e a formação de “corpos dóceis”(Foucault) e vazios para que possam ser inclusos de valores e conhecimentos para a conservação da ideologia da classe dominante. Como reação a este tipo de ensino, as manifestações dos alunos são entendidas e tratadas isoladamente como indisciplina. Mesmo com o discurso construtivista existente nas escolas, percebe-se na prática, uma tendência à educação bancária. O professor continua como mero Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ transmissor de conhecimento e o aluno como receptor. Com isso as aulas ocorrem sem muita motivação e centrada no livro didático, tornando-a monótona e cansativa. O caminho da pesquisa A pesquisa em pauta tomou como método de análise dos dados o fenomenológico que, segundo Masini (1997), desvela o fenômeno, colocando-o a descoberto. Trata-se de desvendar o fenômeno além da aparência, pois este não é evidente de imediato, sendo necessário descortiná-lo. Portanto o método fenomenológico, na visão de Masini, furta-se à validação do já conceituado (do já pensado) sem prévia reflexão, e volta-se para o não pensado (seu subsídio). Propõe uma reflexão exaustiva, constante e contínua sobre a importância, validade e finalidade dos processos adotados. (1997, p. 66) A pesquisa discute o problema da indisciplina na sala de aula como uma das dificuldades apontadas pelo professor regente no manejo de classe, tendo como referência a análise teórico-prática, a partir do estágio realizado como integralização do curso de Pedagogia. Os instrumentos utilizados para coleta das informações foram a observação e o registro diário das atividades e reação dos alunos, como também conversas travadas nos intervalos e sala de professores com funcionários e alunos. A população alvo desse estudo foi uma turma da quarta série do ensino fundamental composta por 24 alunos, na Escola Nelcy Novaes na cidade de Barra do Mendes-Bahia, onde pode ser observada a prática pedagógica da professora regente, pautada no livro didático, isenta de recursos atrativos para o interesse dos alunos, tornando a aula um monólogo. Esta prática faz lembrar a educação bancária criticada por Freire onde o aluno é visto apenas como depósito, em que os conhecimentos são jogados simplesmente. Tomou-se como instrumento de registro das observações e do trabalho realizado o diário de registros de estágio. O estudo qualitativo historicamente sempre esteve presente na investigação de natureza social, e na contemporaneidade esse estudo está mais voltado para a educação, que se justifica considerando que o processo educativo é um fenômeno humano social, que percorre a subjetividade do aluno. Humano no sentido em que só o homem busca a educação formal, no espaço específico, com leis e regras regimentais existenciais do contexto em que vive. Social, porque o processo educativo se dá de convivência em que se encontram valores atribuídos ao ensino. Valores apresentados na sociedade em que vive. (BARRETO NETA, 2004. p 28) Com base nos objetivos estabelecidos, estruturou-se a pesquisa em base qualitativa a partir do estudo de caso, que se dedica à compreensão dos significados dos eventos, sem a necessidade apoiar-se em informações estatísticas. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 211 Focando o olhar – o estágio como ponto de partida. O projeto de estágio teve como temática “Educação ecológica: ler, conhecer e preservar”. Como perspectiva teórico-metodológica de trabalho com a classe optou-se pela sociocultural de compreensão da realidade, tomando nesse trabalho, como representantes dessa perspectiva, Freire e VygotsKy. A escolha do tema Indisciplina para a produção do artigo é fruto dessa vivência na escola durante um mês, e também de presenciar a constante presença do conselho tutelar para resolver questões disciplinares, o que nos deixou mais intrigadas, por percebermos que a escola não está preparada para resolver estas questões. Foi possível perceber durante o estágio que, se motivados, os alunos participam e, mesmo no barulho característico, o grupo conseguia, apesar das dificuldades, assimilar os conteúdos trabalhados, se a análise da aprendizagem parte do conceito de zona de desenvolvimento proximal defendido por Vygotsky (1991b.). Na prática tratase, pois, de respeitar os conhecimentos prévios dos alunos e oferecer ajuda necessária para conhecimentos ainda não construídos. Nesta turma também foram observados, além do desinteresse,pelas aulas, o vai e vem pelas carteiras, a falta de limites dos alunos que pediam licença para sair a cada minuto, ou seja, a não-adaptação/cumprimento às regras de convivência. Foi utilizado durante o estágio o estabelecimento de combinados que a cada aula, quando fugiam dos acordos, as regras eram retomadas e analisadas com os alunos. Estes percebiam os desvios, e à medida que os dias passavam iam incorporando ao comportamento as regras estabelecidas, como: pedir licença, levantar a mão para falar, ouvir os pares, melhorando inclusive a participação nas aulas. Como estratégia foi também utilizada a leitura compartilhada de textos que focavam a valorização dos sujeitos, elevando assim a auto-estima dos educandos. Percebeu-se durante as observações o discurso da professora em relação aos alunos, justificando que a falta de interesse e pouca aprendizagem pautam-se nas carências afetivas, econômicas, sociais visto que a escola atende a um público de baixo poder aquisitivo. Percebe-se nesse discurso a presença de uma perspectiva da carência cultural tão criticado atualmente pelos estudiosos da área de educação. Retomando aos estudos realizados por VygotsKy (1991a) percebe-se que o conhecimento é construído a partir do processo de interação entre os sujeitos mais experientes e os instrumentos sócio culturais com os quais os aprendentes entram em contato. Estes estudos são fundamentais para se entender que a disciplina ou a indisciplina pode ser gerada pela insatisfação dos alunos em relação às práticas pedagógicas estabelecidas no cotidiano da sala de aula. Freire (1996) nos aponta que educar pressupõe o diálogo com o outro. Nesse sentido faz-se necessário dialogar com os alunos percebendo suas opiniões, respeitando seus limites e valorizando suas potencialidades. Foucault (1987) nos fala de “corpos dóceis”, ou sujeição às regras impostas, que nada mais é que o controle e a manipulação de comportamento desejáveis como imposição, sem a dialogicidade entre os sujeitos envolvidos no processo educativo. À guisa de conclusão Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Retoma-se aqui o conceito de indisciplina defendido por Freire no que se refere â mesma como concepção problematizada, em que educar é um ato de amor, respeito a todas as visões do mundo, esperança e troca de experiências entre os envolvidos. E o diálogo é fundamental nesse processo educativo libertador. Percebe-se, pois, que a rebeldia dos alunos não é algo gratuito, mas um pedido de socorro. Vivendo em ambientes familiares em que as regras são transgredidas essas crianças precisam de um ambiente escolar em que a idéia de pertencimento e não de exclusão esteja presente. Tomando como referência a prática durante o estágio, acreditar na capacidade dos alunos é condição essencial para um envolvimento e um investimento em uma metodologia de trabalho que considere as características do público que atende, bem como valorize as potencialidades dos educandos, seus conhecimentos prévios e a partir do reconhecimento que todos somos capazes de aprender investir na aprendizagem de atitudes pela vivência efetiva dessas no ambiente escolar. Para tanto o investimento na formação continuada dos professores em serviço favorecerá a mudança de postura diante do fazer pedagógico desses educadores. Apesar da experiência como regente, a contribuição do curso para a formação profissional é fundamental para revisão da prática, desconstrução e construção de novos conceitos estruturantes para o trabalho de educadora. No estágio, pode-se colocar em prática os conhecimentos construídos fazendo a relação teoria e prática. Para quem atua em escola particular o espaço público da maior liberdade, para colocar a criatividade e testar os limites, haja vista tratar-se de um público diferenciado. A presente pesquisa direcionou o olhar aos textos estudados, focada para responder ao objetivo da pesquisa, o que enriqueceu o processo de produção de conhecimento. A formação do educador não termina com o seu trabalho de conclusão de curso. Como nos diz Paulo Freire (1996) “somos seres inacabados.” Conseqüentemente em constante formação. Referências ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan S.A,1981. BARRETO NETA, Lormina.UNEB. Formação de professor: de aprendente a ensinante. Construção psicopedagógica. v.17 n.15 São Paulo dez. 2009 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio Básico da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira S/A, 1988 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessário à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. (Coleção Leitura) FOUCALT, Michel. Vigiar e Punir: História da violência nas prisões. 20 ed. Petrópolis: Vozes, 1987. MASINI, E.F.S. Enfoque Fenomenológico de Pesquisa em Educação. In: FAZENDA, I. Metodologia da Pesquisa Educacional. 4ª ed. São Paulo: Cortez, 1997. RABELO. Rosana Aparecida Argento. Indisciplina Escolar: Causas e sujeitos: a educação problematizadora como proposta real de superação. Petrópolis, RJ.: Vozes, 2002. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 213 PAULA, Ercília Mª Angelli de & MENDONÇA, Fernando Wolff. Psicologia do desenvolvimento. Curitiba: IESDE Brasil S.A. SEBASTIANI, Márcia Teixeira. Fundamentos teóricos metodológicos da educação infantil. Curitiba: IESDE Brasil S. A., 2003 TOZONI-REIS, Marília Freitas de Campos. Metodologia de pesquisa. Curitiba: IESDE Brasil S. A., 2005. VYGOTTSKY, L.S. Pensamento e Linguagem. 3ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991.a. __________. A formação social da mente. 4ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991.b. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ EDUCAÇÃO INFANTIL: O SILÊNCIO DO PRECONCEITO ÉTNICO-RACIAL NA SUA PRÁTICA PEDAGÓGICA42 RESUMO: O presente artigo tem como objetivo analisar a relação entre alunos e professores sobre a questão do preconceito étnico-racial na educação infantil. Partiuse da observação da realidade da Escola Municipal de Educação Infantil (Emei), seguida de questionários com os professores e conversas informais com as crianças. É abordado como o preconceito etnico-racial se apresenta na sala de aula e de que forma ele atinge os sujeitos neste espaço escolar. Foram observados os comportamentos dos alunos diante de situações de preconceitos raciais, como a escola trabalha o processo de socialização infantil e a prática pedagógica desses professores relacionando-a a Lei 10.639/03. PALAVRAS CHAVES: Relação interpessoal, preconceito racial, educação infantil. Introdução O silenciamento do preconceito étnico racial na escola de educação infantil é o principal objetivo desta pesquisa. Para a realização desta pesquisa foi necessário observar a prática pedagógica do professor, as crianças em suas relações e a relação professor-aluno. A escolha desse espaço se deu por a escola ser um ambiente onde há diversos sujeitos vindos de diferentes grupos sociais e étnicos, neste período da educação infantil as crianças começam a ter como referência a escola, passando a desenvolver características neste local. É neste momento que elas começam a manifestar seus gostos e suas qualidades, tendo não apenas a figura da família como referência, mas também a do professor. Essa é também a posição de Eliane Cavalleiro (2000) quando ela afirma que, “as relações interpessoais que na escola se vivenciam é, essencial quando se pensa a Educação como um dos principais fatores de desenvolvimento da cidadania” (p.12,13). Ou seja, só por meio da educação será possível mostrar as contradições e diferenças existentes em nossa sociedade. O espaço escolhido para a realização desta pesquisa é uma Escola de Educação Infantil, onde recebe diariamente 120 crianças com idade entre cinco e seis anos. E um dos motivos de pesquisar este campo é porque se localiza na cidade onde resido e também por acolher crianças em sua maioria negra oriundas das classes populares da cidade. Sendo ela composta de sete professoras, sete turmas, uma coordenadora pedagógica, uma diretora, uma secretária, duas serviços gerais, uma merendeira e um vigilante. De acordo com informações das professoras e das próprias crianças a maioria de seus familiares sobrevive com benefícios sociais do governo (bolsa família, aposentadoria), muitos vivem com os avôs, outros são filhos de pais separados. A comunidade é composta por habitantes em sua maioria negros, sendo seu fundador um escravo fugitivo, nesta comunidade existem dois povoados considerados 42 A presente pesquisa foi desenvolvida em 2010, com apoio da PICIN-UNEB na modalidade de Iniciação Cientifica, sob a orientação do professor mestre Gleiton Silva de Sales. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 215 quilombos. A questão racial na cidade é bastante complexa, pois as pessoas negras que constitui a comunidade muitas não se auto-afirmam como afro descendente, o que piora ainda mais o quadro das relações raciais na cidade. Assim a escola recebe diariamente crianças vindas de famílias negras que não se afirmam como negra passando isso também para as crianças. Ao chegar ao ambiente escolar isso é reforçado quando a escola não trabalha esta questão para a auto valorização da criança negra, muitas vezes, se silenciam diante de situações preconceituosas como se esta fosse a melhor solução a ser tomada, beneficiando com isso a classe dominante (branca), restando aos alunos afro-descendentes o silêncio, o isolamento, a baixa auto-estima; tudo isso acaba contribuindo para a exclusão desses indivíduos na sociedade. Não seria demasiado supor que a ausência desse tema no planejamento escolar impede a promoção de boas relações étnicas. O silêncio que envolve essa temática nas diversas instituições sociais favorece que se entenda a diferença como desigualdade e os negros como sinônimo de desigual e inferior. (CAVALLEIRO, 2000, p.20). A escola ao trabalhar somente uma cultura como padrão deixa de exercer o seu principal papel, que é a socialização entre todos, independentemente dele ser afrodescendente ou não. O aluno negro ao perceber tal situação acaba se tornando passivo, pois vê que o assunto não é discutido pelos professores e tampouco pela família, e acaba adotando como melhor forma para fugir desse conflito o silenciamento. Segundo Cavalleiro (2000) Observar as relações interpessoais que na escola se vivenciam (…) a educação como um dos principais desenvolvimentos da cidadania. Só por meio dela é possível desmitificar as grandes contradições que nos são peculiares. (CAVALLEIRO, 2000, pp. 12,13). O professor pode trabalhar essa questão do comportamento infantil, visando um ambiente escolar menos preconceituoso, ou ele pode reforçar ainda mais o comportamento discriminatório que a criança já traz do meio ao qual está inserida. Enfim, o propósito principal desta pesquisa foi observar como são mantidas as relações étnico-raciais no campo da educação infantil. Para tanto, fez-se uso de um estudo de caso, valendo-se da observação participante e de entrevistas. Escravidão, racismo e racismo à brasileira O atual povo brasileiro é oriundo de quatro continentes: América, Europa, África e Ásia. Quando os portugueses pisaram nas terras brasileiras por volta de 1500 encontraram pessoas que viviam nas terras brasileiras, denominando assim de índios. Os povos indígenas que viviam por aqui vieram de diferentes culturas e civilizações encontrando nas terras brasileiras a melhor forma de se viver coletivamente. No meio de tantas culturas diferentes o Brasil é um exemplo de povos oriundos de culturas e civilizações diferentes contribuindo assim para formação da história, na construção da cultura e da identidade do povo brasileiro. Por isso conhecer e entender a história do Brasil é um dever de cada brasileiro, para isso é preciso começar pelo estudo de cada matriz que formou o Brasil. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Quando nos relacionamos a África à primeira coisa que vem em nossas cabeças é somente coisa ruim, isso porque desde pequenos aprendemos que a África é um continente cheio de coisas ruins e as informações que são passada vem de forma estereotipada onde só focalizam as doenças como a AIDS, as guerras entre tribos e etc. Isso quando o assunto é abordado, sendo que a maioria das vezes a história africana é esquecida sem ao menos ser explicada. Por isso, depois de mais de um século da abolição da escravatura a Lei 10.639/2003 foi promulgada vindo justamente para reparar essa injustiça feita não somente aos negros, mas também a toda população brasileira, pois a história de um povo não pode ser esquecida nem deformada tão pouca passada de forma estereotipada. O povo brasileiro em sua maioria é descendente de africanos esses que foram trazidos para o Brasil através do tráfico negreiro. O tráfico negreiro foi a forma que encontraram para trazer homens e mulheres vindos da África para servir de mão de obra escrava. Durante muitos anos o Brasil e outros países fizeram uso dessa mão de obra, fazendo do negro africano um objeto de trabalho que poderia ser vendido e explorado como ocorreu durante séculos, constituindo assim uma das maiores tragédias que a história da humanidade. A miscigenação existente no Brasil é muito grande, pois há uma mistura entre brancos, negros e índios, por isso que muitos brasileiros classificam-se como mestiços, morenos, pardos, negros ou afros descendentes. Durante muitos anos acreditou-se que a escravidão no Brasil teria sido de forma branda, isso interferiu e interfere até hoje nas concepções que muitos brasileiros têm em relação ao africano escravizado no Brasil, fazendo com que muitos fatores do racismo persistam em nossa sociedade sem ao menos darmos conta do que estejam sendo praticadas, expressões e piadas que fazem parte de nosso dia a dia, faz com que o negro seja sinônimo de feio, sujo, pobre, ladrão e etc. Desconhecendo totalmente o processo de luta e organização dos africanos escravizados faz com as pessoas conheçam de maneira equivocada e estereotipada o processo de escravidão no Brasil. Tendo o quilombo uma das maiores organizações que existiu na história, servindo de refúgio para os escravizados fugidos, sendo o mais famoso o quilombo dos Palmares localizado em Alagoas no nordeste brasileiro, onde acolheu vários dos escravizados que fugiam das garras dos senhores donos de terras. Após a abolição da escravatura os escravizados foram libertos, mas uma libertação que não dava nenhuma condição de sobrevivência, o fato de serem libertos não garantia aos negros os mesmos direitos e oportunidade dada aos brancos na sociedade da época. Só que essa “liberdade” não era motivo para fazer com que os negros deixassem de lutar pelos seus direitos, mas sim motivo de luta na construção da igualdade a todos os setores da sociedade, sendo que essa luta continua até os dias atuais. Quantos anos se passaram após a abolição e a desigualdade existente no país ainda é muito grande, pesquisas deixam isso bem claro, quando aponta que as maiorias dos brasileiros que vivem na linha de pobreza são negros descendentes de africanos, triste realidade que mais de um século se passou e continuamos a “viver em completa e violenta desigualdade” (MUNANGA, LINO; pág: 107, 2006) . 217 Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário No Brasil, atualmente o preconceito racial ainda se faz presente na sociedade, porém não explicitamente como antes, mais de uma forma em que muitos dizem viver numa “democracia racial”, onde ninguém é racista, mas sempre conhece algum parente ou amigo próximo que seja racista, tendo assim “o preconceito retroativo; um preconceito de ter preconceito” (Florestan Fernandes, 1972), ou seja, sabe que existe a discriminação, mas tem medo ou mesmo preconceito de falar sobre o assunto. Reafirmando a expressão “racismo cordial” publicada em 1995 pela Folha de São Paulo, na teoria vivemos todos como irmãos, um amando o outro “somos iguais”, mas na prática desiguais, sendo o negro feio, dono de pouca inteligência e incapaz de ocupar um lugar de destaque na sociedade, com os piores cargos e vivendo a margem da sociedade sem uma vida digna e educação, sempre exercendo o papel de inferioridade com relação ao branco, ou seja, tudo ligado ao negro é tido como feio, e o branco sempre representado como ser sublime e padronizado como bonito. Algumas “revelações” No inicio da pesquisa a maior preocupação foi como aproximar das crianças para fazer esta coleta, tinha certo receio de falar com elas sobre o assunto da minha pesquisa, mas isso foi feito devagar até conseguir familiarizar mais com elas. A ida a campo ocorreu nos meses de outubro a novembro de 2010. Minhas visitas se faziam todos os dias, com observações em salas de aula e principalmente no recreio, pois esse era o momento principal onde eu poderia manter maior contato com as crianças. A coleta de dados se deu a partir de conversas não formais com as crianças e aplicação de questionários com as professoras e conversas com as mesmas. No momento do recreio quando aproximava de algumas crianças negras tentava conversar com elas sobre vários assuntos para introduzir a questão de raça, se não fizesse isso a questão não era colocada na conversa, principalmente por que eles vinham com diferentes histórias sempre tentando fugir da questão. Em uma dessas conversas com a aluna “H” pergunto se alguns de seus colegas lhe atentavam com algum apelido ela responde “não eles não me atentam” eu pergunto de nenhum apelido que você não gosta? Vejo que ela fica meio pensativa e responde “só de baleia” em outro momento em suas brincadeiras com seus coleguinhas vejo que os garotos lhe chamam de cabelo de fogo para assim ela correr atrás deles. Dessa forma, Fazzi (2004, pág.51) traz uma reflexão que “os estereótipos são aqui considerados parte da manifestação atitudinal do preconceito racial, que, no entanto, possui também uma dimensão comportamental”. Ou seja, a realidade social dessa criança só foi possível ser observada em suas relações interpessoais, pois a resistência de falar sobre tal assunto é um fenômeno que não existe em seu imaginário ou ela não gosta de falar sobre o assunto e o apelido pejorativo pode ter se tornado apenas brincadeira, podendo não ser um xingamento para a aluna “H”. Em um momento de observação em sala de aula na turma da pró “M” a aluna “E” se aproxima da pró chorando e falando “pró K(aluna negra) disse que eu sou da mesma cor que ela e eu não sou não,não?” a professora para tentar amenizar a situação respondeu “não pró você não é da mesma cor que K mas nós somos todos iguais”. Vê se na fala da criança e da professora uma breve confusão da questão racial na sala de aula, onde a professora tenta amenizar através de um discurso relativizador Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ o preconceito racial, vê se também na sua fala o despreparo dela para lidar com situações preconceituosas reproduzindo o lema da democracia racial. Assim, Porter (1973) em suas pesquisas produzidas com crianças de 3 a 5 anos constatou que “a preferência pela cor white, acompanhada por uma vaga consciência de raça na idade de 4 anos, é transformada, aos 5 anos, em um claro conhecimento de que essas características biológicas são conectadas a categorias sociais” (PORTER, 1973, pag.79 apud FAZZI, 2004, pag.57). Para concluir FAZZI (2004) afirma que “a consciência cognitiva de raça surge para blacks e whites, entre 4 e 5 anos; existe, no entanto, uma diferença em relação á importância atribuída á cor: a criança black confere uma importância para cor mais cedo do que a criança white” (FAZZI, 2004, pag. 57). No período das visitas de campo percebe-se que no espaço escolar pesquisado a questão étnica ainda é bastante ausente, e isso é constatado quando se vê a ausência de cartazes com crianças negras e leitura de livros infantis que tragam a valorização da cultura negra. Mesmo assim as educadoras entrevistadas afirmam trabalhar esta questão para a valorização da negritude com as crianças dentro da sala de aula como explica a pró “J”: “eu tento mostrar para eles que a única coisa diferente é a cor da pele tendo os mesmos valores e direitos, sendo dignos e competentes da mesma forma que os brancos”. Outra leva para o lado da escravidão como afirma em sua fala “essa valorização eu trabalho o que o negro trouxe para o Brasil, explico que os escravos eram pessoas como nós”. (pró “M”) 219 Assim, a pluralidade étnica da sociedade e principalmente, do espaço escolar constitui um tema que parece não ter importância para o desenvolvimento do trabalho escolar. Não obstante, constata-se que o respeito ás diferenças étnicas não é verbalizado de maneira elaborada pelas professoras. (CAVALLEIRO, 2000, p.48) Ao se falar sobre preconceito racial na educação infantil a maioria das professoras afirmam existir, mas quando se questiona a forma que elas trabalham para acabar com esse preconceito percebe se em suas falas que a preocupação de se trabalhar as questões étnicas ainda é pouca deixando apenas para as datas comemorativas como explica a pró “V” “aproveitamos o período do treze de maio que foi a abolição da escravatura para conversar com as crianças e conscientizar elas sobre a presença do negro, sendo que na minha turma eu nunca presenciei algum ato de racismo mas mesmo assim eu trabalho”. Pelo relato acima da professora “V”, é possível entender a importância que há na capacitação dos professores para lidar com a questão étnica, caso contrário essa questão vai virar ou continuar sendo folclore. Todo esse esforço teórico e prático tem como objetivo que o professorado compreenda a particularidade da condição racial dos/as alunos/as e assim dê um passo para promover a igualdade. É preciso compreender que a exclusão escolar é o início da exclusão social das crianças negras. (SILVA, pag. 66, apud CAVALLEIRO, 2001) Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário Percebe-se que um profissional bem capacitado eventualmente estará apto para lidar com essas questões trabalhando de maneira positiva, mas para que isso aconteça é preciso recursos didáticos necessários. Para assim desenvolverem novas possibilidades para que, “por meio das quais se limita a formação de pessoas criticas e reflexivas, que respeitem e explorem a riqueza das diferenças, recusando-se a transformá-las em desigualdades” (SILVA, pag. 67, apud CAVALLEIRO, 2001). O sujeito que mais sofre com a desigualdade é o negro, pesquisas demonstram que, a maioria das pessoas que estão abaixo da linha de pobreza sempre e são da raça negra. Quando fazem algum estudo em escola sobre o rendimento ou nível de aprendizagem de crianças ou estudantes, os alunos negros é os que aparecem com mais baixo nível de aprendizagem. Segundo o censo escolar de 2007 a distorção idade-série de brancos é de 33,1% na 1ª série e 54,7% na 8ª, enquanto a distorção idade-série de negros é de 52,3% na 1ª série e de 78,7% na 8ª. Dentre os jovens brancos de 16 anos 70% haviam concluído o ensino fundamental obrigatório, enquanto que dos negros, apenas 30%. Dentre as crianças brancas de 8 a 9 anos na escola, encontramos uma taxa de analfabetismo da ordem de 8%, enquanto que dentre as negras essa taxa é de 16% (PNDA/IBGE 2007). Esses dados levam-nos a refletir como a escola reproduz a desigualdade racial, pois a partir do momento que a criança negra sente-se excluída dentro da instituição escolar conseqüentemente ela será um adolescente e adulto excluído socialmente, pois os fatores que fez com que ela não se sentisse incluída e valorizado na sua infância irão contribuir para que ela não se sinta um sujeito apto para desenvolver uma função em relação o branco “o acesso ao conhecimento sistematizado é o condição estruturante para que o repertório cultural das pessoas possa se expandir” (SILVA, pag.68, apud CAVALLEIRO, 2001). E como diria nosso grandioso Paulo Freire “se a educação sozinha não muda a sociedade, tão pouco sem ela a sociedade muda”. Como poderemos fazer uma educação antirracista? Ao questionar as professoras de como poderemos fazer uma educação anti racista muitas colocaram em pauta que conscientizar famílias é dar o primeiro passo como fala a pró “M” “para conseguimos uma educação dessa forma acho que primeiro tem que partir da família, isso vem de casa, primeiro conscientizar as famílias, fazendo alguma coisa para essa conscientização”. È interessante observar que as professoras colocam a culpa sempre na família, ausentando sua prática como parte do problema, o que dificulta ainda mais uma educação para as diferenças étnicas. Enquanto os professores considerar que o preconceito racial é um problema externo da escola não se poderá fazer uma educação para acabar com esse preconceito. Mas se os educadores compreenderem que a exclusão da criança na escola é o inicio da exclusão social da criança negra com certeza haverá uma contrapartida para a mudança desse quadro educacional, que se encontra a educação brasileira e quem sabe assim não será possível julgar a aprendizagem da criança pela cor da pele. Portanto, percebeu-se nesta pesquisa que o preconceito racial na educação infantil existe, estando a todo o momento tanto na sala como no recreio como percebi em suas brincadeiras quando uma criança negra queria brincar de roda com as outras e elas não aceitaram a entrada da menina negra na roda, situações como essas acontecem a todo o momento. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ É interessante perceber que algumas professoras ver o problema, afirmam trabalhar esta questão mais em nenhum momento das idas a campo percebeu como se dá esse trabalho. O que se ver é que cada vez mais o professor está se omitindo a trabalhar a questão étnica e falar que trabalha uma coisa sem estar, não irá contribuir para melhorar o preconceito, a mentira diante desta realidade não vai fazer com que o problema se resolva sozinho e sim contribuir ainda mais para a desvalorização da criança negra. Diante da realidade vivida percebe-se que a preparação dos profissionais para lidar com situações de racismo na escola é indispensável para se fazer uma educação para a diversidade étnica e isso só será possível quando a própria escola com as secretárias de educação de cada município enxergar o preconceito racial na escola, caso contrário irão continuar reproduzindo todos os dias a ideologia racista que a sociedade interioriza em nós mesmos. Referências CAVALLEIRO, Eliane. Do silêncio do lar ao silêncio escolar: racismo, preconceito e discriminação na educação infantil. São Paulo, contexto 2000. CAVALLEIRO, Eliane. Racismo e anti-racismo na educação repensando nossa escola. São Paulo: Summus, 2001. DAMATTA, Roberto. A ilusão das relações raciais. In: O que faz o brasil, Brasil?. Rio de Janeiro. Rocco, 1984. 221 FAZZI, Rita de Cássia. O drama racial das crianças brasileiras: Socialização entre pares e preconceito. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. GOMES, Nilma Lima. Cultura negra na escola. In: Revista: Presença pedagógica. Nov. Dez. 2008. MUNANGA, Kbengengele; GOMES, Nilma Lino. O negro no Brasil de hoje. São Paulo: Global 2006. (Coleção para entender). MUNANGA, Kabengele. Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia. In: Palestra proferida no 3º Seminário Nacional, Raciais e Educação-PENESB- RJ, 03/11/03. PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais). Pluralidade Cultural e Orientação sexual. Ministério da educação, secretaria da educação fundamental. 3 ed. Brasília. Secretaria, 2001. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios (PNDA). Intituto Brasileiro de Geografia Estatístico (IBGE). Discriminação Racial. <www.ibge.gov.br/oqueediscriminacao.html> Acessado em: 26 de Junho de 2011. RODRIGUES, Flávia. Práticas para igualdade racial na escola. In: Revista da Criança. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário SCHWARCZ, Lilia Mortiz. Questão racial no Brasil. In: Negras imagens. Ed.usp 1996. SILVA, Célia Ana. A desconstrução da discriminação no livro didático. In: KABENGELE, Munanga.Org. Superando o racismo na escola. 2º ed. Brasília. Secretária da Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. SOUZA, Marina de Melo e. África e Brasil Africano. São Paulo. Ática 2008. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ A CRIANÇA COM TDAH: CARACTERÍSTICAS E INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS Edcleia Gomes Lacerda Jérssica Durães de Souza Patrícia Júlia Souza Coelho RESUMO: O referido artigo tratará do TDAH (Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade). Para o desenvolvimento desse estudo foi desenvolvido uma pesquisa bibliográfica, a qual teve como objetivos: analisar a história da Educação Inclusiva e identificar as principais características comportamentais que a criança apresenta na sua sala de aula que podem evidenciar o TDAH. Para subsidiar este trabalho tomamos como referências os estudos desenvolvidos por José, Coelho, Drouet por discutirem os distúrbios, problemas e dificuldades. Mendes, Ciasca, Valise que discutem o TDAH na perspectiva escolar. Consideramos essa temática muito relevante para o desenvolvimento da prática Pedagógica, uma vez que o TDAH se constitui cada vez mais presente entre nossas crianças. PALAVRAS-CHAVES: Educando – Dificuldade – Aprendizagem – Hiperatividade – Prática pedagógica. Introdução O referido artigo tratará de uma temática pouco conhecida: A criança com TDAH: características e intervenções pedagógicas. TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade), sendo resultado de um estudo bibliográfico realizado no quarto semestre no curso de Pedagogia da UNEB – Campus XVI. Este trabalho tem como intencionalidade discutir o que caracteriza esse TDAH e de que maneira o professor pode incluir na sua práxis pedagógica atenção especial ao processo de aprendizagem das crianças com TDAH, tendo em vista uma educação de caráter inclusivo. O tema proposto: a criança com TDAH: características e intervenções pedagógicas foram escolhidas a partir das nossas experiências como professoras em sala de aula. Convivendo diariamente, percebemos alunos com características de dificuldades de aprendizagem que pode ser TDAH, conhecida também como DDA (Déficit de atenção), caracterizado por desatenção, hiperatividade e impulsividade, encontrados em crianças com comportamentos de esquecimento, desorganização, agitação e desatenção. Nesses casos, percebem-se as necessidades que essas crianças possuem, pois precisam de um acompanhamento especial, ou seja, uma atenção maior que outros educandos, além do acompanhamento de grupo multidisciplinar composta por: neurologista, psicopedagogo e psicólogo. Por um desconhecimento ainda muito grande por parte dos profissionais de educação, é que nos propomos discutir essa temática a partir de referencial teórico, contribuindo, assim, para a nossa práxis educativa e dos demais educadores. Estaremos discutindo esse distúrbio por considerado um dos mais difíceis de ser diagnosticado, pois, o comportamento da criança com essa necessidade especial muda com o contato com pessoas desconhecidas, o que dificulta o diagnóstico do TDAH para equipe multidisciplinar. 223 Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário Dessa forma propomos analisar a história da Educação Inclusiva; identificar as principais características comportamentais que a criança apresenta na sua sala de aula, que podem evidenciar o TDAH e compreender como os professores (as) podem trabalhar com crianças com TDAH na sua práxis pedagógica. Educação inclusiva: uma breve abordagem histórica Propomos a abordar a educação inclusiva, a partir de uma breve abordagem histórica, através do que traz a Constituição Federal, LDB (Lei de diretrizes e Bases) e os teóricos com seus conceitos, para discutirmos essa breve abordagem histórica. Desse modo, Mendes (2006), no século XIX deram origem às classes especiais nas escolas regulares, com educandos que tinham necessidades especiais de aprendizagem, assim ia iniciando as oportunidades para aqueles com deficiência, que até então não tinham oportunidades de avançar no processo educacional. Em 1960 houve a normalização da integração escolar, que tinha como base que todas as pessoas incluindo os deficientes tenham direito comum de frequentar a escola. Esse processo de integração ia conceber aos deficientes lugares acessíveis, adequados para atender as especificidade e necessidades de cada educando. Segundo Mendes (2007) “A partir da década de 1970, houve uma mudança, nas escolas comuns passaram a aceitar crianças e adolescentes deficientes em classes comuns, ou pelo menos em classes especiais” (MENDES, 2007, p. 390). Isso porque aqueles com deficiência também têm o direito de conviver socialmente, assim com parcerias entre a educação regular com a educação especial precisam de uma socialização do ensino para que futuramente eles possam estar preparados para assumir seus papéis na sociedade, a partir de então, foi realizada a Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais, que deu origem a Declaração de Salamanca, na qual ressalta as necessidades educativas especiais, como: Necessidades em prol da Educação para Todos, reconhecendo a necessidade e a urgência de garantir a educação para as crianças, jovens e adultos com necessidades educativas especiais Educativas Especiais, representando noventa e dois países e vinte e cinco organizações internacionais, reunidos aqui em Salamanca, Espanha, de 7 a 10 de Junho de 1994, reafirmamos, por este meio, o nosso compromisso em no quadro do sistema regular de educação, e sancionamos, também por este meio, o Enquadramento da Acção na área das Necessidades Educativas Especiais, de modo a que os governos e as organizações sejam guiados pelo espírito das suas propostas e recomendações. (SALAMANCA, 1994). A Declaração de Salamanca faz a mesma afirmação que está contida na Constituição Universal dos Direitos Humanos de 1948, que assegura o direito de todos a educação, independente das diferenças. Em 25 de agosto de 2009, surge o Decreto nº 6.949 da Constituição Federal contida no Art. 1º , vem reafirmar o mesmo que a Declaração de Salamanca. I - garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades; II - aprendizado ao longo de toda a vida; Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ III - não exclusão do sistema educacional geral sob alegação de deficiência. Isso significa que é obrigatório o poder público oferecer uma educação de qualidade, também á aqueles com necessidades especiais, principalmente para quem têm dificuldades de aprendizagem, que ensinando-o de forma apropriada ele tem capacidade de aprender. A LDB no Art. 58º nos § 1º e § 2º.G arante apoio aos educandos com necessidades especiais, através de atendimentos nas salas multifuncionais, de acordo com as particularidades de cada necessidade. Diante desse contexto é indispensável falarmos dos distúrbios, dificuldades e problemas de aprendizagem, pois quanto mais o tempo passa, mais surgem crianças que apresentam esse tipo de problema, e o estado está ai com leis, para apoiá-las e incluí-las na educação e cabem a nós como educadores nos profissionalizarmos para atender as especificidades de cada uma dessas necessidades, que muitas vezes são confundidas por serem parecidas, mas cada teórico traz conceitos divergentes, como definiremos a seguir. Distúrbios, dificuldades e problemas de aprendizagem: conceitos e concepções. Encontramos diariamente os educadores se referindo a distúrbios, dificuldades de aprendizagem na sala de aula, porém, muitas vezes, são mal interpretados, por não terem formação específica para atender determinadas crianças, o que nos leva a questionar esses distúrbios, problemas ou dificuldades de aprendizagem. Dessa forma, levantamos algumas definições do que se considera como distúrbio, dificuldade ou problema de aprendizagem, temáticas que têm vasta fundamentação teórica, é baseado na abordagem de cada autor, muito embora muitas destas concepções sejam divergentes entre si. Para Ruth Caribé (1995), distúrbios de aprendizagem são todos os problemas que possam atingir o processo de ensino aprendizagem, desde questões físicas, sensoriais, neurológicas, emocionais, intelectuais ou cognitivas, podendo surgir de diversas causas, mas que atrapalham a aprendizagem. No entanto, para Ciasca e Rossini (2000), o distúrbio é uma disfunção da criança por problemas neurológicos. Já a ABPP (Associação Brasileira de Psicopedagogos) classifica as crianças com distúrbios como aquelas que têm dificuldades para aprender sobre o conteúdo da matéria, mas que possuem inteligência normal e não possuem nenhum problema físico, emocional, ou social. A partir disso, para a ABPP as crianças que têm distúrbios de aprendizagem são capazes de aprender, pois, esse distúrbio não é algo que será para sempre, mas é uma questão de maturação. Vale ressaltar que ainda não existe uma definição consensual acerca dos critérios definidores dos distúrbios, dado o aspecto biopsicossocial do problema. Neste trabalho, utilizamos como concepção de distúrbios de aprendizagem o que considera um problema que afeta significativamente o aprendizado do aluno, pois, este distúrbio é devido a uma disfunção do sistema nervoso central, segundo Ruth Caribé (1995, p. 125). Esses distúrbios podem ser classificados como neurológicos, algumas vezes genéticos, possivelmente intensificados por distúrbios emocionais 225 Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário secundários. Podemos observar que uma criança com distúrbio em uma sala de aula tem um desenvolvimento inferior a sua idade cronológica e quando se depara com colegas da mesma idade, demonstra dificuldade de acompanhar o raciocínio deles, apresenta dificuldade de leitura, escrita, cálculos matemáticos, mas esses distúrbios não podem ser relacionados à deficiência mental. Alguns dos principais distúrbios de aprendizagem são: dislexia, disgrafia, discalculia e dislalia. Para todos é necessário um acompanhamento de um grupo multidisciplinar com: psicopedagogo, psicólogo, neurologista. Dessa forma, eles podem ser sanados enquanto distúrbios submetidos a tratamento. Os problemas de aprendizagem podem ser causados por fatores da própria escola, que levam em consideração as condições que a escola ofereça aos educandos. Essas dificuldades de aprendizagem na escola acabam sendo uma das causas do fracasso escolar do aluno e também referem à estrutura familiar a qual a criança está vinculada, que favorecem a não aprendizagem do mesmo. Como mostram as autoras JOSÉ e COELHO (1996), podemos identificar crianças como portadoras de problemas de aprendizagem “quando não realizam o que se espera de uma programação de ensino, seja porque ficam presas a mecanismos que tentam produzir sem êxito, também quando elas não conseguem acompanhar o currículo estabelecido pelo professor, por fracassarem durante as atividades e não conseguirem se expressar”, ou seja: as dificuldades de aprendizagem estão relacionadas à aprendizagem dos alunos. As dificuldades de aprendizagem (DA) constituem em déficit da aprendizagem. Dessa forma, as crianças que apresentam (DA) têm dificuldades de realizar atividades que são esperadas durante as fases do desenvolvimento infantil, bem como do nível de escolaridade e idade, tais como a fala, escuta, leitura, escrita e raciocínio matemático, pois, existem diversos fatores que podem provocar um problema ou dificuldades de aprendizagem, esses podem advir de fatores orgânicos, psicológicos e fatores ambientais. As autoras supracitadas (1996) afirmam: Fatores Orgânicos relacionados à saúde física deficiente, falta de integridade neurológica, (sistema nervoso doentio), alimentação inadequada etc.; Fatores Psicológicos, inibição fantasia, ansiedade, angustia, inadequação a realidade, sentimento generalizado de rejeição etc.; Fatores Ambientais, o tipo de educação familiar, o grau de estimulação que a criança recebeu desde os primeiros dias de vida, influencia dos meios de comunicação etc. (JOSÉ E COELHO 1996, p 23). No entanto, acreditamos na abordagem acima, referente às dificuldades de aprendizagem que são causados por esses diferentes fatores, acrescentando-se também, que vai depender das abordagens sustentadas pelo educador, escola e família, pois, o ato de ensinar e carinho fazem toda a diferença na aprendizagem de uma criança. De acordo com Smith e Strick (2001, p.36), citado por BARRETO, et al. (2007), geralmente as crianças que têm sintomas de (DA) “sofrem alterações nas áreas básicas de atenção, percepção visual, processamento da linguagem ou coordenação muscular”. Essas podem sofrer de TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade). Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Para entendermos melhor esse transtorno é necessária uma discussão mais detalhada, assim propomos no próximo item descreveremos o que realmente significa, o que é, suas características e por fim as intervenções pedagógicas para entender e ajudar as crianças que apresentam o TDAH. A criança com Transtornos de déficit de Atenção e Hiperatividade: características e intervenções pedagógicas Crianças que apresentam algumas características de hiperatividade, como dificuldade de permanecer quietos e manter a concentração, outras que não conseguem desenvolver, algumas atividades esperadas durante o seu nível de escolaridade e idade, podem sofrer de TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade). Deparamos diariamente com educadores que se referem a distúrbios de aprendizagem, na sala de aula, porém, muitas vezes, são mal interpretados, por não terem formação específica para atender determinadas crianças, o que nos leva a questionar sobre essa patologia. Dessa forma, levantamos algumas concepções teóricas do que se considera como distúrbios de aprendizagem, temática esta que tem vasta fundamentação teórica, baseada nas abordagens de cada autor, muito embora, muitas destas concepções sejam divergentes entre si. Abaixo trazemos algumas concepções referentes ao TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade). Como mostram as autoras José e Coelho, podemos identificar crianças como portadoras de problemas de aprendizagem “quando não realizam o que se espera de uma programação de ensino, seja porque ficam presas a mecanismos que tentam produzir sem êxito” (1996 p. 24), também quando elas não conseguem acompanhar o currículo estabelecido pelo professor, por fracassarem durante as atividades e não conseguirem se expressar. No entanto, afirma Phelan (PHELAN apud MENDES. 2005 p. 23-24), a hiperatividade é um sintoma provável do TDAH. Isso por que as crianças mudam de comportamento, quando estão com pessoas estranhas, por isso há uma grande dificuldade de diagnosticar crianças com TDAH do tipo hiperativo, até mesmo porque nem todas as crianças hiperativas desenvolvem o TDAH, mas é bom, lembrar-se de ficar sempre atentos a essas crianças. Na visão de Benczik “a criança portadora de TDAH apresenta características comuns a todas as crianças, porém são mais distraídas, agitadas e têm dificuldades em controlar seus impulsos e em concentrar-se”. (BENCZIK apud VALISE, 2011). O TDAH pode ser classificado em três tipos: predominante desatento, predominante hiperativo e impulsivo, a excitação, frustração ou motivação também são características predominantes dessa síndrome. Topczewski ressalta que a hiperatividade é um “desvio comportamental, caracterizado pela excessiva mudança de atitudes e de atividades, acarretando pouca consistência em cada tarefa a ser realizada”. (TOPCZEWSKI apud GABRIEL. 2009). Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 227 Dessa forma os portadores de TDAH têm dificuldade de realizar e organizar as atividades do dia-a-dia e atividades esperadas durante a fase do desenvolvimento infantil, bem como os níveis de escolaridade e idade, tais como: a fala, escuta, escrita, leitura e raciocínio matemático. A desatenção também é um fator que caracteriza o portador de TDAH, elas têm facilidade para se entreter facilmente com qualquer coisa que seus olhos possam ver, esse é o fator que mais dificulta na aprendizagem, por exigir uma maior concentração e atenção do aluno durante as aulas, essa patologia é o maior responsável por uma boa parte do mau desempenho escolar. As crianças com TDAH são caracterizadas como desligadas, desorganizadas, bagunceiras, aborrecidas, agitadas, barulhentas, em especial dificuldade de manter a atenção e seguir regras. Essas características estão agrupadas em fatores: desatento, hiperatividade e impulsividade. Desatenção é encontrada em crianças que tenham dificuldades de manter a concentração nas atividades, facilidade para se entreter com as coisas dos colegas ou qualquer outra coisa que seus olhos possam ver, em alguns casos é como se a criança não estivesse ali por algum tempo. Hiperatividade é encontrada em crianças inquietas, agitadas e agressivas, não conseguem ficar sentados, tem dificuldade de brincar no coletivo e não param de falar. A seguir, apresentamos algumas características apresentadas naqueles que podem vir a ter o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, separada pelos seus três tipos: Predominante desatento: desvia facilmente a atenção, ou seja, tem facilidade para se entreter com qualquer coisa que seus olhos possam ver, principalmente quando se trata dos objetos dos colegas, desorganizado, perde os objetos com facilidade, dificuldade em seguir instruções e de completar tarefas. Predominante hiperativo: Assim trago algumas das características presentes no hiperativo, na qual são aquela criança que se mantém em constante movimento, manter a concentração, não conseguem permanecer sentados para assistir a um desenho ou filme por muito tempo, apresenta impaciência, desvia a atenção facilmente distraem-se com muita facilidade, não conseguem terminar as atividades. Essas crianças têm facilidade para fazer várias coisas ao mesmo tempo, se envolve em situações de riscos sem medir as conseqüências, dificuldade em expressarse, são agitados, agressivos, tem dificuldade de brincar no coletivo, entre outros. Há ocasiões em que não se percebe a hiperatividade de maneira muito nítida, isso se dá pelo fato da criança hiperativa ter mudanças no comportamento ao ter contato com pessoas desconhecidas, o que dificulta o diagnóstico do TDAH para equipe multidisciplinar. Predominante impulsivo: A impulsividade age como um fator preocupante no TDAH, pois, pode causar um sério risco ao físico da criança, contudo ela age sem pensar. Dessa forma, podem se envolver em brincadeiras perigosas sem medir as conseqüências. Tem sérias dificuldades de manter o autocontrole, diferente das crianças consideradas normais. Dessa forma, vemos que é de suma importância que os professores conheçam sobre esse distúrbio e identifiquem crianças que podem sofrer de TDAH em sua sala de aula. Ao serem identificadas como suspeitas do distúrbio, elas devem ser encaminhadas a equipe multidisciplinar que vai submetê-la a testes, assim diagnosticar se ela realmente tem esse distúrbio, que muitas vezes será sanado a base do remédio. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ o mais importante, essa equipe vai auxiliar o educador como incluir e acompanhar essa criança na sala de aula. Considerações finais Diante da realização da pesquisa, baseada na análise de referencial teórico, foi possível perceber que crianças com TDAH são capazes de aprender. Para isso é necessário que o educador faça a diferença durante as atividades, isso significa que essas crianças devem ser motivadas, fazer com que elas sejam capazes de manter a concentração, mesmo que seja por alguns segundos, mas que esses segundos façam a diferença na vida dela. É necessário que o educador use da ludicidade, na qual é um meio para facilitar a aprendizagem desses educandos, instrumentos que chamam a sua atenção, incluindo também as músicas, roda de conversa, histórias, textos diversificados e jogos educativos, coisas que facilitam na sua atenção e aprendizagem. O grande desafio dos educadores de crianças com TDAH é mobilizar os educados a um processo de aprendizagem significativo. Dessa forma devemos levar em consideração, que os professores de alunos com esse distúrbio devem ser compreensivos, procurar sempre entender essas crianças e ajuda-las da melhor forma possível, um exemplo claro que temos a passar, pelo pouco tempo que exercemos essa profissão de educador é buscar a participação delas nas aulas e motivá-las sempre independente do quão simples tenha sido o seu feito. O professor, no acompanhamento pedagógico, precisa conhecer as limitações desses indivíduos e descobrir a forma como eles aprendem melhor, pois a criança com TDAH aprende muito bem, quando os assuntos e atividades são trabalhados adequadamente e principalmente quando é trabalhado de forma espontânea, lúdica, como exemplo, através de brincadeiras observadas e jogos, estratégias essas que podem ser trabalhadas a partir do assunto abordado, pois os jogos de memória estimulam o pensamento, a memorização e motivação das crianças. Diante desse contexto, percebemos que é indispensável o estímulo, o jogo e o acompanhamento especial do educador, ou seja, uma atenção maior que outros educandos, além do acompanhamento de grupo multidisciplinar composto por: neurologista, psicopedagogo e psicólogo, que devem estar auxiliando o professor a como trabalhar com esses alunos. Como mostra os referenciais teóricos apresentados é de fundamental importância que o educador perceba as dificuldades de aprendizagem que podem existir em sala de aula, pois é papel do educador detectar as dificuldades de aprendizagem que aparecem em sala de aula. Dessa forma, quando o educador detectar as dificuldades de aprendizagem dos educandos, deve encaminhá-los para acompanhamento com a equipe multidisciplinar, para que os mesmos façam o diagnóstico, além de orientar o educador como desenvolver sua práxis pedagógica, atendendo às especificidades do TDAH e proporcionando a aprendizagem desses educandos. Infelizmente, essa é uma realidade de ensino que não estamos condicionados, na qual os professores não estão totalmente preparados para lidar com certas situações na sala de aula, inclusive para identificar crianças que podem sofrer de Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 229 TDAH, com predominância de hiperatividade e perceber que os mesmos apresentam necessidades especiais de aprendizagem e precisam desse acompanhamento. O qual vai auxiliar não somente a criança, mas também o professor, a como incluir esse educando na sua práxis pedagógica e a atenção especial a mesma. Quando paramos para observar os relatos de professores no nosso cotidiano escolar, percebemos que esse acompanhamento multidisciplinar é inexistente para o TDAH, pois é necessário mais psicopedagogos e psicólogos nas escolas públicas, então percebe-se a carência desses profissionais nas escolas e no acompanhamento necessário para esses educandos. Assim as crianças hiperativas são consideradas como crianças que não aprendem, em muitos casos vão passando de ano, mesmo sem uma aprendizagem significativa, somente para que, no final do ano letivo seja diminuído o índice de reprovados nas escolas e posteriormente do país, dessa forma uma educação de qualidade fica a desejar. É difícil de obter o diagnóstico dessa patologia, por conta dos processos complexos e delicados, é necessário que o profissional tenha vasta experiência clinica, conhecimentos teóricos, além da ajuda de outros profissionais da área. Sendo assim é possível obter respostas por meio de testes e exames com especialistas em TDAH. Este distúrbio pode ser incurável, embora tenha tratamento à base de remédios, que em alguns casos devem ser tomados pelo resto da vida, para obter controle desse distúrbio. Felizmente educandos com outras necessidades especiais de aprendizagem estão tendo a oportunidade de serem alfabetizados na nossa cidade, na qual, aos poucos estão inserindo salas multifuncionais nas escolas com diversos equipamentos, que auxiliam na aprendizagem de acordo com cada necessidade, mas para o hiperativo fica a desejar, por necessitar de profissionais especializados e competentes, pois faltam cursos de capacitação na nossa cidade, de como trabalhar com crianças que tem dificuldades ou distúrbios como estes apresentados neste artigo. Diante deste estudo, ainda preliminar sobre esta temática, que irá contribuir na nossa prática, através dos conhecimentos adquiridos de como identificar, lidar, ajudar e encaminhar educandos que necessitam de acompanhamento para a equipe multidisciplinar, esperamos também ajudar os educadores a identificar crianças com TDAH na sala de aula, e que eles consigam trabalhar com as mesmas na sua práxis pedagógica. Referências Associação Brasileira de Psicopedagogo. Uma caracterização sobre distúrbios de aprendizagem. Lourdes P. de Souza Manhani. 2006. Disponível em:<WWW.abpp.com.br/artigos/58.htm> Acesso em: 07 set. 2011. BARRETO, Cleidinéia Rocha; et al. Dificuldades de aprendizagem. (2007 p. 44) Ubiratã, PR. Disponível em: <http://www.faculdadesdombosco.edu.br/v2.1/documentos/monografia_hiperativida de.pdf> Acesso em: 08 dez. 2011. CIASCA, SM; ROSSINI, S.D R. Distúrbios de aprendizagem: Mudanças ou não? Correlação de uma década de atendimento. Temas sobre desenvolvimento. 8. (48: 11- Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ 16, 2000) Disponível em:<WWW.abpp.com.br/artigos/58.htm> Acesso em: 07 set. 2011. DROUET, Ruth Caribé da Rocha. Distúrbios da aprendizagem. 2ª ed. São Paulo, SP. Ática S.A, 1995. GABRIEL, Daniela Anselmo Garcia. O Papel do Jogo no Desenvolvimento da Criança com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade. SP, 2009. Disponível em: <http://www.crda.com.br/tccdoc/62.pdf> Acesso em: 08 dez. 2011. JOSÉ, Elisabete da Assunção; COELHO, Maria Teresa. Problemas de Aprendizagem. 8 ed.São Paulo, SP. Ática, 1996. MENDES, Antônio Cesar Evandelista; SOUZA, Sandra Regina; DAMA, Silva Abigail. O papel da escola no processo ensino/aprendizagem do aluno hiperativo. Ubiratã, Pr. Disponível em:< http://www.faculdadesdombosco.edu.br/v2.1/documentos/monografia_hiperatividad e.pdf> Acesso em: 02 dez. 2011. MENDES, Enicéia Gonçalves. A radicalização do debate sobre inclusão escolar no Brasil. In: Revista Brasileira de Educação. V.11. SALAMANCA, Espanha, 7-10 de Junho de 1994. ED-94/WS/18 231 VALISE, Leila H. Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH): o processo de encaminhamento e psicodiagnóstico. 2010. Disponível em:<http://www.artigos.etc.br/transtorno-de-deficit-de-atencao-e-hiperatividadetdah-o-processo-de-encaminhamento-e-psicodiagnostico.html> Acesso em: 08 dez. 2011. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário DA DIDÁTICA A MATÉTICA – REPENSANDO A EDUCAÇÃO Lormina Barreto Neta RESUMO: O presente texto pretende discutir o Construtivismo tão difundido nos centros educativos e o Construcionismo tão distante da realidade educacional das nossas escolas, seus princípios, o conceito de inovação pedagógica tão urgente para a redefinição das escolas presentes em nossa sociedade. Vislumbra também enfocar a Matética como caminho para uma educação mais condizente com os estilos de aprendizagem dos nossos aprendentes, concluindo com a certeza de que a escola que temos precisa rever sua prática e voltar seu olhar para a arte de aprender no momento de incertezas que é a contemporaneidade. Essa discussão tem como suporte principal o livro de Seymour Papert (1994), “A Máquina das Crianças: Repensando a escola na era da informática”. PALAVRAS CHAVE: Construcionismo, construtivismo, Matética. Introdução Vivemos um momento histórico em que o avanço tecnológico, os meios de comunicação e as descobertas científicas afetam a vida de todos. Onde antes o capital era a mercadoria mais valorizada temos agora o conhecimento como moeda valorativa, visto que o mundo do trabalho tem se transformado radicalmente pelo uso das tecnologias, substituindo a força do trabalho humano. Conseqüentemente, a capacidade de aprender humana terá que dar conta de habilidades que antes não eram tão valorizadas como a de aprender a aprender, pois no mundo contemporâneo teremos que aguçar a nossa capacidade de lidar com o inesperado e assimilar novos conceitos. Nesse cenário, a educação atravessa uma fase em que por mais que se faça, não consegue atingir aprendizagens significativas dos educandos que favoreçam a aquisição de conhecimentos básicos necessários, segundo os currículos oficiais e os índices esperados pelo governo em todas as esferas. Como nos coloca Seymour Papert (1994, p.54), “a instituição Escola, com seus planos diários de lições, currículos estabelecidos, testes padronizados e outras tantas parafernálias, tende constantemente a reduzir a aprendizagem a uma série de atos técnicos e o professor, ao papel de um técnico.” Os sistemas avaliativos criados e incentivados por órgãos internacionais para medir escores de rendimento dos nossos alunos constatam quão desastrosa é a garantia pelas escolas às crianças, principalmente das camadas populares, das habilidades e competências esperadas pelos órgãos responsáveis. O que se questiona é: qual o rumo da escola para as gerações futuras? Que escola será necessária para atender a demanda de uma sociedade que se afasta da modernidade e que na contemporaneidade convive com crianças e jovens tão diferentes de nós? Penso que certamente a escola que temos não tem dado conta de atender as necessidades diversificadas dos nossos alunos. Pensar a escola na contemporaneidade é lidar com crianças inquietas, menos propensas a ouvir por muito tempo, mas ao mesmo tempo, mais aguçadas ao uso das Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ tecnologias recentes que a escola, apesar do esforço em colocá-las nos espaços educativos, ainda ignora ou não sabe usá-las de forma eficiente, pois seus profissionais são de uma geração de tecnologias menos sofisticadas: o giz, o quadro negro, o lápis e o papel e em muitas escolas ainda o velho mimeógrafo a álcool. 1. Construtivismo Segundo muitos estudiosos e dentre eles Papert(1994), o problema maior da escola é que ela valoriza mais o ensino que a aprendizagem. Isso se dá em virtude das concepções pedagógicas e epistemológicas que estão subjacentes às práticas pedagógicas presentes em muitas escolas do Brasil e de outros países. Estas se polarizam centrando a atenção ora no professor, ora no meio, ora no aluno, ora na relação professor-aluno. A concepção centrada no professor é aquela que vê o educando como mero receptor. Nesta perspectiva, a criança é vista como uma tábua rasa onde serão gravados os conhecimentos do mundo adulto. Esta concepção epistemológica tem origem no inatismo, em que o sujeito já nasce pronto e acabado por ocasião do nascimento. A concepção behaviorista desloca sua atenção para o meio, ou seja, para os estímulos externos, fatores exógenos como alteradores ou modeladores de comportamento, percebendo o sujeito enquanto ser manipulável e plástico exposto as influências do meio em que vive. A concepção centrada no aluno vê o educando com capacidades que este ainda não possui como a abstração e a capacidade de direcionar sua própria aprendizagem. Esta perspectiva epistemológica encontra sustentação em Carl Rogers (1985) e nas ideias defendidas pela Escola Nova. A concepção centrada na relação professor aluno relativiza e dialetiza a relação dos elementos envolvidos no processo. O professor é elemento fundamental por trazer o conhecimento sistematizado essencial para o desenvolvimento e aprendizagem do aluno e este traz consigo conhecimentos que precisam ser considerados e relativizados nessa relação dialética entre saber do professor e saber do aluno. Nesta perspectiva epistemológica o conhecimento é uma construção ativa envolvendo o sujeito aprendiz. Esses pressupostos epistemológicos encontram suporte na psicologia genética desenvolvida por Piaget (1982) e em concepções sócio históricas como a de Vygotsky (1991) entre outros. Piaget (1982) defende a teoria construtivista em que a criança constrói seus conhecimentos a partir da interação com o meio num processo de “equilibração” dos conflitos cognitivos vivenciados. Neste processo a criança não assimila o real tal como lhe é dado pelo meio, mas num processo de relaboração constante, que evolui de acordo as estruturas internas construídas pelo sujeito. L.S.Vygotsky enfatiza que as construções individuais são viabilizadas pela mediação dos instrumentos físicos e simbólicos e que o processo de desenvolvimento varia tendo em vista o aceso a esses instrumentos. Nesta perspectiva, o homem é visto como ser histórico e em essência social. Criou o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, “distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 233 Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário através da solução independente de problemas e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da resolução de problema sob a orientação do professor ou em colaboração com colegas mais capazes” (VYGOTSKY, 1991, p.97). Esse conceito valoriza o papel da mediação como mecanismo potencializador das construções mais elaboradas por favorecer ajudas necessárias às construções ainda não finalizadas. Papert toma como referência esses referenciais e avança seus estudos tentando demonstrar que o período fortuito para as construções do conhecimento pelo aprendiz é justamente o das operações concretas, que o ensino tenta subpor ao das operações abstratas considerado o conhecimento melhor elaborado pelo sujeito aprendente. Segundo ele “a tendência dominante a supervalorizar o abstrato é um importante obstáculo ao progresso da Educação”. (1994, p.123) 2. Construcionismo A escola tradicional segue uma lógica empirista de ensino que toma o aluno enquanto receptáculo de informações, que na perspectiva freiriana43 é tida como educação bancária visto que o professor é o protagonista do processo ensinoaprendizagem. Essa abordagem da educação não se enquadra nos padrões construcionistas que toma o aluno como aprendiz autônomo, não por negar a importância da instrução, mas por concordar com o princípio piagetiano de que quando se ensina algo às crianças, nega-se o direito da descoberta/construção do conhecimento. O educador atento oferece ao aprendiz o apoio moral, emocional e cognitivo para que o educando consiga resolver o problema ou a tarefa intencionada. O Construcionismo é uma linha de abordagem metodológica defendida por Papert como aquela que utiliza o computador como ferramenta que possibilita aprendizagem ao aluno, visto que aquele é utilizado por este para resolver um problema ou executar uma atividade por meio de softwares educativos. Segundo Papert, a construção do conhecimento se baseia na realização de uma ação concreta. 3. Matética No campo pedagógico, temos a Pedagogia e a Didática como a ciência que norteia a arte de ensinar. Por muito tempo, esta foi difundida desde a Didática Magna, de Comenius, a arte de ensinar tudo a todos e da melhor forma possível. A educação sempre esteve centrada no ensino, muito embora atualmente seja comum, pelo menos aqui no Brasil, o termo processo ensino-aprendizagem, a ênfase ainda persiste nos processos de ensinagem que de aprendizagem. Como nos coloca Papert “A arte de aprender é um órfão acadêmico.” (1994. p.77) Em conseqüência ele sugere o nome Matética para esta arte. Como falamos anteriormente a escola enfatiza a arte do ensino e não da aprendizagem, ou seja, a Matética, a educação nos moldes que está posta não consegue dar conta dos ritmos diferenciados de aprendizagens dos nossos alunos como também atender aos estilos diferenciados de aprendizagem existente no universo escolar. 43 Perspectiva discutida pelo educador brasileiro Paulo Freire. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Um dos princípios matéticos propostos por Papert é que a aprendizagem precisa de tempo para fazer conexões que favoreçam ligações fortuitas a partir de conhecimentos já construídos. Por isso a sua máxima de que a “aprendizagem explode quando você permanece com ela.” (1994, p.95). Segundo a Matética, proposta por Papert, o princípio mais importante é o “maior aprendizado com o mínimo de ensino” (1994, p.126). Costumamos comentar que aprendemos muitas coisas apesar da escola. Isso é constatado por aprendizagens cotidianas que exigem conhecimentos específicos que são construídos de modo intuitivo. Ainda segundo Papert, é que, como educadores, precisamos nos dar conta que esse processo natural de aprendizagem tem sua lógica e requer um tipo de suporte diferente daquele dado pela escola atual. O Construcionismo, que adota os princípios da Matética, postula que “a construção que acontece na cabeça, com freqüência ocorre de modo especialmente venturoso quando é apoiada pela construção de um tipo mais público no mundo, ou seja, pode ser mostrado, discutido, examinado, sondado e admirado. Ele está fora.” (PAPERT, 1994, p.127) (conhecimento concreto). Para dar suporte a este pensamento ou essa proposição Papert criou o LOGO, um software educativo com a idéia de dar à criança controle sobre a mais poderosa tecnologia disponível em nossos tempos. 235 A linguagem foi desenvolvida para permitir que crianças programassem a máquina, em vez de serem programadas por ela, possibilitando a utilização do Construcionismo como metodologia facilitadora de processos pessoais de aprendizagem com o uso do computador. Esse programa segundo seu criador proporciona a criança o acesso a ciências, a matemática e a criação de modelos encorajando-os a avançar no seu processo construtivo visto que o erro é considerado uma fase para uma nova construção cognitiva. A idéia era dar à criança controle sobre a mais poderosa tecnologia disponível em nossos tempos. A linguagem foi desenvolvida para permitir que crianças pudessem gerenciar seu processo de aprendizagem, evoluindo na utilização de comandos mais sofisticados conforme suas construções. 4. Inovação Pedagógica Inovar em educação na perspectiva da Inovação Pedagógica é a intencionalidade de uma visão em prospectiva que favoreça a (re-des)construção da escola que está posta. É a aposta em uma forma diferente de pensar e fazer a educação com a presença forte dos instrumentos tecnológicos que impulsionam novas formas de pensar e vê o mundo. O termo inovação pedagógica deve ser considerado como uma ruptura paradigmática no processo de educação tradicional, que forje o modelo fabril da escola existente. Tomando como referência a inovação com tratada por Papert, creio Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário que numa sociedade marcada pela escola, essa ruptura só se dará em modelos alternativos como ele mesmo postula. Vivemos momentos de tensão em que muitos velhos conceitos estão sendo questionados e a verdade científica já não se faz tão sólida como no passado positivista em que a ciência era inquestionável. “A transição paradigmática é *…+ um ambiente de incerteza, de complexidade e de caos que se repercute nas estruturas e nas práticas sociais, nas instituições e nas ideologias, nas representações sociais e nas inteligibilidades, na vida vivida e na personalidade.” (SANTOS, 2000, p. 45) Numa perspectiva hierarquizada como é a maioria dos sistemas educativos que conhecemos é preciso quebrar as amarras institucionalizantes para pensarmos em uma instituição que dê conta de perceber o aprendiz de forma individualizada, que possa desenvolver seu potencial de aprendizagem de forma autônoma. Carlos Nogueira Fino coloca que Inovação pedagógica como ruptura de natureza cultural, se tivermos como fundo as culturas escolares tradicionais. E abertura para emergências de culturas novas provavelmente estranhas a olhares conformados com a tradição. Para olhos assim viciados pela rotina escolares tradicionais é evidente que resulta complicado definir inovação pedagógica e tornar a definição consensual. No entanto o caminho da inovação raramente passa pelo consenso ou pelo senso comum, mas por saltos premeditados e absolutamente assumidos em direção ao muitas vezes inesperado. Aliás, se a inovação não fosse heterodoxa, não era inovação. (FINO, 2007, p. 2) Pensar em inovação Pedagógica no contexto atual é lançar mão de ferramentas que favoreçam a motivação interna para a aprendizagem dos sujeitos aprendentes numa sociedade em que as informações estão ao alcance de todos a um simples toque em um mouse ou similar. A Tecnologia está presente em nossos dias e precisamos tirar dela o maior proveito possível. Segundo Fino, nessa perspectiva “... o papel da tecnologia, posta diretamente ao serviço do aprendiz, não é o de substituir a escola, proporcionando o que ela já proporciona, mas ao contrário, abrir portas que a escola nem imagina.”(2007, p.9) 5. Conclusão Retomando as questões levantadas na introdução deste texto, penso que as instituições de ensino precisam avançar mais nos seus intuitos de levar uma educação de qualidade, principalmente às crianças das camadas populares, posto que são as mais prejudicadas quanto ao acesso aos bens culturais produzidos nas últimas décadas. Concordo com Vygotsky (1991) quando coloca a importância do acesso aos instrumentos (físicos e simbólicos) da nossa cultura para uma melhor utilização das nossas funções mentais superiores. Nessa perspectiva, percebo a importância da Matética trazida por Papert (1994) no sentido de entendermos como nossos alunos aprendem para podermos trabalhar em suas zonas de desenvolvimento proximal, favorecendo assim aprendizagens mais significativas. As novas tecnologias estão postas e a tendência para a contemporaneidade é o avanço na área da informática e da robótica, pelo próprio acesso de parcela das novas gerações a esses instrumentos bem como a facilidade que têm em lidar com elas de forma leve e lúdica. Porém pelo próprio fracasso da escola na Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ missão que lhe foi incumbida temos uma porção muito grande que ainda não domina a tecnologia rudimentar do uso do lápis e da escrita, que numa sociedade letrada é um bem cultural necessário ao acesso ao saber. Pensar o aluno sujeito cognoscente, construtor de conhecimento requer pensar numa escola que valorize a curiosidade, a inventividade e o uso de estilos pessoais de aprendizagens. Creio, porém, que as escolas, ou outra instituição que a substitua, ainda serão necessárias num mundo em que o fosso das desigualdades ainda persiste. Concordo com Freire em sua entrevista com Papert, quando coloca que a escola que temos não é a ideal, precisamos de outro tipo de escola. Esse é o desafio que está posto. 6. Referências ROGERS, Carl R. Liberdade de aprender em nossa década. Porto Alegre: Artes Médicas, 1985. __________. Tornar-se pessoa. Trad. Manuel J. C. Ferreira, 5 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997. FINO, Carlos Nogueira. O futuro da escola do passado. In: Jesus Maria Sousa &(Org.). A escola sob suspeita. Porto: ASA, 2007. _____. “Inovação pedagógica: significado e campo (de investigação)”. In: MENDONÇA; Alice, BENTO, Antônio V. (Orgs.). Educação em tempo de mudança. Funchal: Grafimadeira, 2008. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. SOUZA SANTOS, Boaventura de. A crítica da Razão indolente: Contra o desperdício da experiência. São Paulo: Cortez, 2000. PAPERT, Saymour. A Máquina das Crianças: Repensando a escola na era da informática. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994. PIAGET, Jean. O nascimento da inteligência na criança. 4. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1982. VYGOTSKY, Levi Semenovich. A construção social da mente: O desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 237 Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário PROJETO UNIVERSIDADE PARA TODOS - UPT: IMPACTO EDUCACIONAL NO TERRITÓRIO DE IRECÊ Jorge Luiz Santiago Rocha RESUMO: Este artigo teve por objetivo analisar em que medida o projeto Universidade para Todos tem cumprido a finalidade de inclusão de alunos egressos das Escolas Públicas no Ensino Superior, considera o projeto no âmbito da atuação do pólo de Irecê na busca da reflexão acerca da sua importância e o que mudou após a implantação e execução no território. Para responder as questões apresentadas utilizamos uma abordagem qualitativa, por meio de um estudo de caso desenvolvido em oito cidades do território atendidas pelo Projeto. Ao final desta pesquisa concluímos que o UPT no âmbito de atuação do pólo Irecê tem cumprido com a sua finalidade. Palavras-Chaves: Políticas Educacionais. Ensino Médio. Universidade para Todos. Introdução As questões vinculadas à educação repercutem diretamente no contexto social e interferem diretamente no crescimento e no desenvolvimento do Estado e da Nação. No Brasil, a perspectiva de mudanças significativas no modelo educacional intensificouse a partir de 1996, com a promulgação da Lei nº 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, baseada no principio do direito universal à educação para todos, abrindo novas perspectivas e sonhos para a sociedade brasileira. Nesse contexto, entende-se que a universalização e gratuidade do ensino em suas quatro instâncias, Educação Infantil, Fundamental, Médio e Superior, são meios importantes para atingir os objetivos da equidade social, com a ampliação de oportunidades de ingresso e permanência na educação superior. Assim, este trabalho apresenta um estudo sobre o Projeto Universidade Para Todos-UPT, criado em 2003, e regulamentado em 2004, pelo Governo do Estado da Bahia com a missão de favorecer a inclusão social e educativa de alunos oriundos da rede pública, de Ensino Médio ao Ensino Superior no território de Irecê através de objetivos e metas que priorizam o fortalecimento e a democratização da educação superior e a igualdade de oportunidade para todos. 1 - Políticas Públicas para o Ensino Médio Entende-se políticas públicas como resultado da dinâmica adotada da sua trajetória, da elaboração à efetivação, originada de uma ideia e esta de um principio de uma pressuposição ou de uma vontade, conforme define Bonetti (2006, p. 9). Teixeira (2002, p. 15) assim se posiciona em relação às políticas públicas: diretrizes, princípios norteadores, de ações do poder, regras e procedimentos para as relações entre o poder público e sociedades, mediações entre atores da sociedade e do Estado. São, nesse caso, políticas explicitadas, sistematizadas ou formuladas em documentos (Leis, programas, linhas de financiamento) que orientam ações que normalmente envolvem aplicações de recursos públicos. Nem sempre porém, há Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ compatibilidade entre as intervenções e declarações de vontade e as ações desenvolvidas. (TEIXEIRA, 2002, p. 15) Bonetti (1977) assinala que “a globalização da economia, os tradicionais limites nacionais estão seriamente atingidos pela invasão da universalização das relações sociais e econômicas”. A partir desta nova configuração mundial, torna-se simplista entender o Estado como mera instituição de dominação a serviço da classe dominante, por exemplo, como ensina a tradição marxista ou por outro lado, torna-se simplista também entender o Estado como uma instituição regida pela lei, a serviço de todos os segmentos sociais, ao que o autor reafirma: mesmo considerando o Estado e as políticas públicas como resultado de uma correlação de forças sociais originadas de interesses específicos de diferentes grupos ou classes sociais, e levando em conta que não se pode desprezar a atuação dominante da classe economicamente dominante, necessário se faz considerar que o pretendido e os resultados em políticas públicas podem andar separadas (BONETTI, 2006 p. 12). Na primeira, considerando o caráter classista da sociedade e atuação determinante da classe economicamente dominante, o pretendido pode se constituir de discurso que justifica a ação, mas não necessariamente da finalidade esperada. Isso ocorre quando a ação resultante de uma política pública não interessa a alguns segmentos sociais, mas é conveniente para outros. Como exemplo, pode-se citar os projetos de desenvolvimento econômico de grande impacto sobre as populações locais, como é o caso das barragens, rodovias, etc. As justificativas apontam para o benefício que tal política pública provoca, mas sem ressaltar o preço que apenas alguns segmentos sociais pagam. Nestes casos, as avaliações técnicas oficiais consideram os resultados, “negativos” como “não previstos”. Neste caso a exclusão social provocada por estes projetos de desenvolvimento ganha “legitimidade” ou, no mínimo, é justificável e passa a ser compreendida como estratégia de desenvolvimento (BONETTI, 1977 p. 56). Na segunda, o fato de o pretendido e o resultado poderem andar separados em política pública diz respeito ao seu próprio caráter. Uma política pública é o resultado de um ato intervencionista na realidade social, atingindo a vida de pessoas e de grupos sociais. Isto significa dizer que nem sempre a aplicabilidade de uma política pública trará resultados positivos para toda a população, mesmo que não existam interesses específicos de grupos dominantes como o caso anteriormente analisado. Na maioria das vezes uma política pública provoca uma troca de “atores sociais”, beneficiando alguns segmentos em detrimento de outros, dependendo do caráter da política pública implementada. Conforme coloca Bonetti: 239 o caráter de uma política pública, isto é, o tipo de intervenção do Estado na realidade social, o tipo de impacto que ela provoca nessa realidade, os benefícios que ela produz e a quem ele beneficia, é construído durante o todo da sua trajetória, desde o momento de sua elaboração até a sua Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário operacionalização, assumindo importância decisiva na formação desse caráter a correlação de forças sociais envolvidas (BONETI, 1996 p. 81). Políticas públicas podem ser entendidas também, como as ferramentas escolhidas pela sociedade para que o Estado regule as relações entre diferentes grupos de interesses. Para Demeter “Na regulação ou nesse processo de impor regras, estabelecer regulamentos determinados interesses privados podem ser transformados em direitos, outros não.” (DEMETER, 2002, P. 86). O autor ainda assinala que, praticamente todas as famílias tem interesse em dar educação. A sociedade reconhece a educação como um direito cuja aplicação será regulada através de uma política pública de educação. Pressões e contrapressões vão ser feitas para que os governos destinem parte da arrecadação de impostos para financiar ações que coloquem as pessoas nas escolas. Obviamente, a qualidade e a continuidade de uma política pública de educação vão depender dessas pressões e contrapressões feitas pelos diferentes grupos de interesse existentes na sociedade. (DEMETER, 2002, p. 86) No Brasil, o que se refere à política pública educacional, temos nas duas últimas décadas, a implementação de ações voltadas para atender ao sistema educacional público em todo o país nas três instâncias. Ações essas, fruto da pressão da sociedade civil e do reconhecimento por parte do Estado da necessidade de elaboração, implantação e consolidação de políticas compensatórias, principalmente para o Ensino Médio. Castro argumenta que mesmo tardiamente o país universalizou o Ensino Fundamental e que com o Ensino Médio parecia ir pelo mesmo caminho, mas que encruou. “Pior, muito antes de atingir uma cobertura aceitável, está encolhendo.” Some-se a isso o fato de que os alunos aprendem pouquíssimo. É hoje o nível que traz mais perplexidades. Nossos alunos têm um nível médio de compreensão de leitura equivalente ao de europeus com quatro anos a menos de escolaridade. Ademais, a sua variedade é imensa. Alguns são tecnicamente analfabetos ao entrar no médio. Mas há os geniozinhos de Primeiro Mundo. Uns gostam de teatro, outros de química. Uns de equações do terceiro grau, outros de música. Uns aprendem rápido, outros ainda precisam aprender a ler (CASTRO 2011 p. 101). O físico Richard Feynman (1918-1988) quando esteve no Brasil em 1950, ficou assombrado com o que viu. Ao tomar contato com estudantes às vésperas do vestibular, espantaram-no tanto o pendor local pela decoreba de fórmulas como a completa ignorância sobre seu significado. Anos mais tarde registrou em seus escritos aquilo que entendeu como um paradoxo brasileiro: entre os estudantes do mundo inteiro, os jovens que conheceu nos trópicos eram os que mais se debruçavam sobre a física e os que menos sabiam sobre a matéria. Frigotto (2009, p. 16) afirma que após o término de uma pesquisa sobre o Ensino Médio, praticamente não se tem um Ensino Médio no Brasil “porque dos jovens que deveriam estar no Ensino Médio, apenas 50% estão, mas somente metade desses, 25% o fazem na idade apropriada.” O que chamou do primeiro aspecto dramático, onde contrasta muito com um país entre potencial econômico e o capital político Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ diante do cenário do G20, onde a questão do acesso a este nível, que a Constituição diz que é a etapa final da educação básica. A segunda conclusão segundo Frigotto: a qualidade desse Ensino Médio. Nós temos 60% desses jovens fazendo Ensino Médio noturno, ali nós vamos encontrar uma grande desigualdade entre aquilo que seria o Ensino Médio, que dá uma base para entender o mundo da vida, a cidadania, o mundo do trabalho, a produção, a ciência que está na produção, mas que está dentro de casa também. O próprio uso daquilo que existe em benefício do que o ser humano produz, por meio do conhecimento, é negado, porque esse Ensino Médio não permite que esse jovem decodifique isso. Apenas 1% da matricula do Ensino Médio é feita em excelentes escolas, em colégios de aplicação, ou nas redes das escolas técnicas, as antigas redes. Ali você tem uma excelente base para discutir os valores, a ênfase que é dada ao ensino muito voltado para o mercado. (...) Agora custa caro isso, custa em média 6,7 mil reais por aluno/ano. Nós gastamos 2, ou 1,5 mil reais nessa etapa da educação básica. O que nós oferecemos de base, de laboratório, não só de física, de química, mas também de arte, de cultura, de linguagem, de espaço para a adolescência se exercitar, como o esporte, etc., tudo é muito precário. (FRIGOTTO 2009, p. 17) O acesso ao Ensino Médio tem sido ampliado no País, o que significa que mais pessoas concluíram o Ensino Fundamental. Saviani (2008, p. 256) afirma, que “em 1991, havia cerca de 4 milhões de alunos matriculados no Ensino Médio; em 1998, esse número subiu para quase 7 milhões, um crescimento de 84,8%. Apesar do avanço das matrículas nos últimos anos, o Ensino Médio, segundo o Plano Nacional de Educação (PNE) atende apenas 38,8% da população de 15 a 17 anos”. O PNE pretende em cinco anos, atingir 50% dos alunos dessa faixa etária. O País apresenta índices de 32% de repetência, 5% de evasão e 56% de matrículas no horário noturno, procurado, sobretudo por jovens trabalhadores, que vem concordar com o que diz Frigotto (2009). 2 - Recursos Financeiros Para o Ensino Médio Durante a década de 1990, os administradores do Estado brasileiro afirmavam que o problema da educação estava relacionado com má organização de gestão, essa ideia, que permaneceu durante a década de 2000, é rechaçada pelos educadores. O movimento de educação afirma que o maior problema da área é o baixo financiamento, durante os últimos 20 anos, a parcela do Produto Interno Bruto (PIB) destinada à educação se manteve em torno de 4%. Em 2000, o então presidente da República Fernando Henrique Cardoso vetou artigo do Plano Nacional de Educação (PNE) que devido à pressão do movimento social de educação, institui que 7% do PIB fossem destinados a educação pública. FHC, no entanto, vetou esse artigo, mantendo os 4%. No primeiro mandato do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente Lula não alterou o percentual do PIB como desejava o movimento educacional, “é uma das reclamações que fazemos, mas ele fez intermediações e pôs um prazo para aumentar. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 241 Além disso, triplicou o orçamento do MEC, que é uma vantagem.” Afirmou o professor Moacir Gadotti (CAROS AMIGOS44), tendo em vista o orçamento do MEC saltou de R$ 20 bilhões em 2002, para R$ 70 bilhões em 2010. No Brasil, a perspectiva de mudanças significativas no modelo educacional intensificou-se a partir de 1996, com a promulgação da Lei nº 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, baseada no princípio do direito universal à educação para todos, abrindo novas perspectivas e sonhos para a sociedade brasileira. Nesse contexto, entende-se que a universalização e gratuidade do ensino em suas três instâncias, Fundamental, Médio e Superior, são meios importantes para atingir os objetivos da equidade social, com a ampliação de oportunidades de ingresso e permanência à Educação Superior. O Ensino Médio no Brasil é mantido e desenvolvido à custa de recursos internos e externos, os internos são de caráter público e privado. Os recursos públicos emanam das três esferas administrativas da Nação: União, Estados (Distrito Federal) e Municípios. A União subvenciona, quase inteiramente, o ensino no Distrito Federal. Os recursos privados são originários, principalmente, da cobrança de anuidades ou mensalidades por parte da rede particular (privada) de ensino e, eventualmente, de doações e legados originários de Fundações, de empresas privadas e de indivíduos isolados. Até bem pouco tempo, desconhecia-se a importância das empresas como instrumento de contribuição dos recursos privados internos. Hoje em dia, sabe-se que as empresas privadas de quaisquer tipos ou tamanhos são poderosos estimuladores do crescimento dos sistemas de ensino (observe-se que o sistema de ensino é modificado, quase sempre por pressão das empresas, que passam a ter novas necessidades), por meio dos mecanismos de contribuição do salário-educação e dos impostos. Ainda contribuem com o sistema S (Senai, Sesi, Senac, Sesc ,Sest, Senar, etc.), que abrangem escolas profissionais de aprendizagem e serviços sociais para os trabalhadores, e também escolas regulares, principalmente do Ensino Fundamental. Os recursos que as empresas carreiam para o ensino só são ultrapassados pelos recursos orçamentários do poder público federal, estadual e municipal. Vale registrar que nas duas últimas décadas as ofertas do Ensino Médio em instituições privadas cresceram muito. Em grande parte, esse fato deve-se a carência na política educacional para toda a Educação Básica, onde o Ensino Médio se insere, e durante os governos desse período, após a redemocratização do país a educação não foi priorizada, tendo muitas vezes uma reprodução de alguns modelos usados durante os governos militares de 1964-1984. As instituições, ou melhor, empresas educacionais com um cenário econômico favorável, investiram e continuam investindo nos “clientes”, ou seja, pais de alunos numa disputa ferrenha para trazer os filhos da classe média para suas escolas, usando todos os mecanismos disponíveis do marketing de mercado para uma disputa acirrada de quem é o melhor, ou qual a escola é a melhor em aprovação de vestibulares, Enem, etc. A maior parte e dos recursos públicos aplicados em ensino é retirada dos orçamentos públicos que constituem um dos instrumentos fundamentais do planejamento imperativo dos governos, nas três esferas públicas. A noção de 44 Revista Caros Amigos, 2010, ano XIV, edição nº 164 Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ orçamento público tem sofrido uma evolução, acompanhando o papel que, em diferentes épocas, é atribuído à atividade financeira do Estado. De instrumento estatal, auxiliar do planejamento, com funções essencialmente técnicas da política econômica, capaz de abrir novas perspectivas, inclusive para a iniciativa privada, criando novos caminhos para o desenvolvimento global do país. 3 - O Projeto Universidade Para Todos Em Abril de 2003, a Universidade do Estado da Bahia, representada pela PróReitoria de Extensão, a Gerência de Extensão e professores, compareceu à Secretaria da Educação (SEC) para relatar sobre sua experiência com o pré-vestibular social desenvolvido pela UNEB em alguns dos seus campi. Era o governo do então governador Paulo Souto e foi apresentado à equipe da Coordenação de Educação Superior (CES) da Secretaria da Educação da Bahia um relato da experiência da Universidade, seguindo todos os passos, desde o fato gerador, passando pela investigação científica, o diagnóstico, as possibilidades de solução, encaminhamentos, concluindo com os resultados obtidos. Em maio de 2003, já com a aprovação da proposta encaminhada ao Governo do Estado, a SEC através da Coordenação do Ensino Superior (CES) convidou as quatro universidades estaduais baianas (UNEB, UEFS, UESC e UESB) para participarem da elaboração do projeto definitivo que passou a ser denominado Universidade para Todos (UPT). O projeto passou por alguns ajustes com a finalidade de atender às sugestões encaminhadas através dos relatórios de 2003. Em 2004, o governo do Estado regulamenta o projeto, através decreto nº 9.149/2004 de 09 de Julho, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de 24 e 25 de julho de 2004, conforme documento em anexo. Após a regulamentação do projeto, ficou definido que o objetivo geral do projeto era democratizar o acesso do aluno da escola pública à Educação Superior, preparando os estudantes para o processo seletivo do vestibular. A missão do Universidade Para Todos (UPT ) é favorecer a inclusão social e educacional de alunos oriundos da rede pública de Ensino Médio ao Ensino Superior através de objetivos e metas que priorizam fortalecimento e a democratização da Educação Superior, a elevação da qualidade da educação pública e a igualdade de oportunidade para todos. A proposta do programa visa atender também a instrumentos de inclusão social e no mercado de trabalho, na medida em que proporciona a discentes que estão na graduação em diversos cursos da Universidade a oportunidade de ministrarem aulas aos cursistas, proporcionando uma troca riquíssima de conhecimento para todos que participam do programa. O projeto através da UNEB-Universidade do Estado da Bahia atendeu na modalidade presencial a 22.645 alunos oriundos da rede pública de Ensino do Estado da Bahia, em 2011, oferecendo ao público alvo, um conteúdo programático de 11 disciplinas em 25 horas/aula por semana, com duração de 50 minutos por aula diurna Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 243 e 40 minutos por aula noturna, totalizando 800 horas durante 08 meses de curso. O material didático-pedagógico foi disponibilizado para os cursistas (módulos) além da capacitação 1300 estudantes dos cursos de graduação das 04 Universidades do Estado da Bahia para o desempenho da função de professor/monitor. As ações do UPT estão pautadas na relação dialógica entre estudantes e educandos. Nesse contexto o aluno é concebido como sujeito da ação e o ensino aprendizagem incentiva o desenvolvimento qualitativo do aluno ao tempo em que, também, fortalece a consciência cidadã. As aulas são presenciais e contam com a aplicação de técnicas de ensino, baseada em exposição participada, aulas interativas, estudo em grupo, visitas direcionadas e monitoradas, aplicação de simulado e utilização de material didático específico produzido pelos docentes das Universidades Estaduais da Bahia. 4 - O UPT no território de Irecê A história do Programa Universidade Para Todos (UPT) no território de Irecê começa no ano de 2004, no DCHT, Inicialmente com uma turma com 50 alunos foi contemplada para o território funcionando inicialmente nas dependências do Colégio Estadual Polivalente de Irecê, e posteriormente a turma foi transferida para o Colégio Municipal Odete Nunes Dourado, próximo a então sede do Departamento situado à Rua Tiradentes, nº 54, Loteamento Arnóbio Batista, na cidade de Irecê. Após relatórios da coordenação de 2004, e avaliação do primeiro ano do projeto, foram feitos alguns ajustes para o ano de 2005, como também a SECSecretaria de Educação autorizou a Coordenação Geral pela UNEB, que o pólo Irecê tivesse três turmas de 50 cursistas cada, totalizando 150 alunos atendidos. No período vespertino era uma turma funcionando nas dependências da sede do Departamento e duas no turno noturno nas dependências do Colégio Municipal Odete Nunes Dourado. Também em 2005, o pesquisador ingressou no projeto inicialmente como cursista e logo depois como auxiliar de coordenação, tendo como Coordenador do Pólo o técnico José Adailson Paiva. No segundo semestre de 2008, o pesquisador ingressa na graduação do curso de Pedagogia no DCHT- Campus XVI-Irecê, onde visualizou-se a possibilidade de pesquisar sobre o projeto no âmbito do território de Irecê, tendo em vista, um vasto campo de estudo como, por exemplo, o perfil desses alunos, renda familiar, escolaridade dos pais, e a o mesmo tempo avaliar o desempenho do programa no âmbito do nosso território. Nesse ano o programa implantou uma política de expansão do cursinho para outras cidades do interior do Estado, ficando essas extensões vinculadas ao Pólo Irecê. No território, as cidades de Ibititá, Lapão e São Gabriel ganharam uma turma com 50 alunos, ficando a sede do Pólo, Irecê com 02 turmas totalizando 250 alunos atendidos. Em 2009, com vistas ao Trabalho de Conclusão de Curso-TCC, o pesquisador passou a desenvolver pesquisas através de formulário elaborado em conjunto com o professor do DCHT-Campus XVI-Irecê, Júlio Bispo Junior, que naquele ano fazia a capacitação dos professores e monitores do pólo. Nesse mesmo ano, houve mais uma vez a ampliação de atendimento aos municípios que solicitaram junto a Secretaria de Educação uma extensão em seus municípios após o devido convênio. Na análise da pesquisa com 247 alunos de 2009, por exemplo, tivemos 177 cursistas em sua maioria jovens que não trabalhavam, ou Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ seja, quase 72% dos 247 alunos atendidos naquele ano e 22 cursistas trabalhando na agricultura, representando 9% do total. Quando vamos para renda familiar, os números não são animadores, pois somando-se a renda das pessoas que moram com o cursista temos 48% sobrevivendo com renda familiar de até um salário mínimo, e 27,5% sobrevivem entre a faixa etária de um a dois salários mínimos. Esses são alguns números dessa pesquisa que nos dão uma pequena amostra da importância de se ter um projeto voltado para o atendimento atender a jovens filhos desta terra que com muita luta conseguem chegar ao Ensino Médio, conforme gráficos em anexos. Alguns dados colhidos pela pesquisa com 250 cursistas também de 2010 merecem reflexão, pois do universo pesquisado, apenas 95 pais concluíram o Ensino Médio, como também a renda familiar, onde apenas 49 famílias ganham de um a dois salários mínimos. Em 2011, o município de Jussara foi contemplado com uma turma com 50 alunos. Com essas extensões o atual quadro de municípios atendidos pelo projeto no território de Irecê. Como nos dois anos anteriores, foi aplicado o questionário com 250 alunos atendidos nesse ano e um dado coletado nos chamou atenção, pois mesmo o governo Federal afirmando que a economia estava bem, que houve um crescimento do emprego, nos municípios atendidos pelo polo apresentou um número de 169 cursistas que não trabalhavam correspondendo a um percentual de 68% do total do universo pesquisado e que consequentemente o número de pessoas com renda familiar de um a dois salários mínimos registrava apenas 23, que corresponde a um percentual aproximado de 9.3% do total dos entrevistados. 5 - Considerações Durante este estudo pudemos refletir a respeito de questões relevantes analisadas no decorrer do texto e que colocamos de forma sintética: Após o processo de redemocratização do país no início da década de 1980, quando na área política e econômica ocorreram mudanças, algumas medidas foram concretizadas nas duas últimas décadas que atingiram diretamente todo o setor educacional do Brasil. Mesmo os avanços ocorridos no setor educacional, temos ciência que precisamos avançar muito para assegurar o que diz a Constituição do país e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB para fazer cumprir o direito à educação para todos, abrindo novas perspectivas para a sociedade brasileira. Nesse contexto, entende-se que a universalização e gratuidade do ensino em suas três instâncias, Fundamental, Médio e Superior, são meios importantes para atingir os objetivos da equidade social, com a ampliação de oportunidades de ingresso e permanência à educação superior. Neste sentido, destacamos a relevância do Projeto Universidade Para Todos (UPT) que com sua missão do favorecimento da inclusão social e educacional de alunos oriundos da rede pública de ensino médio ao Ensino Superior, através de objetivos e metas que priorizam o fortalecimento e a democratização da educação superior, a elevação da qualidade da educação pública e a igualdade de oportunidade para todos. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 245 Assim, diante do que foi pesquisado e das reflexões apresentadas nesse trabalho monográfico é fruto da vivência como egresso, auxiliar e Coordenador do Projeto UPT ao longo desses sete anos, e podemos afirmar que o Projeto Universidade Para Todos no âmbito do Pólo Irecê tem cumprido com a sua finalidade. Pretende-se ampliar essa pesquisa em estudos posteriores com uma proposta de mapear e acompanhar os egressos do UPT após sua inserção no Ensino Superior, considerando a totalidade do Projeto no âmbito da atuação na UNEB - Irecê. Por fim, registra-se a relevância dessa pesquisa não somente para a comprovação de que Projeto como o UPT proporcione a inclusão social e educativa na vida de cidadãos na sociedade. Mas, como também da necessidade de ampliação desse projeto, principalmente no território de Irecê. Referências BÁSICA, diretoria de Educação e suas modalidades, coordenação de Educação profissional. Salvador-Bahia, maio 2008. BONETTI, Lindomar Wesley. Políticas públicas por dentro. Ijuí: Ed. Unijuí, 2006. BRANDÃO, C.F. LDB Passo a Passo: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei. 9394/06) comentada e interpretada artigo por artigo. 3. Ed. Atual. São Paulo: Avercamp, 2007. BRASIL, Ministério da Educação. Plano Nacional de Educação. Brasília: Inep, 2001. _______. Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM): fundamental teóricometodológica/ Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Brasília: O instituto, 2005. _______. Secretaria da Educação do Estado da Bahia. Decreto nº 9.149, 2004. _______. Ministério da Educação. Matriz de referência para o ENEM 2009. INEPInstituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Disponível em: Portal www.mec.gov.br, acesso em 20/02/2012. CAROS AMIGOS, Educação: Avanços e retrocessos do Governo Lula. Ano XIV. edição nº 164 – novembro de 2010. CODES, Projeto Universidade Para Todos. Coordenação Desenvolvimento Educação Superior/ SEC - Secretaria de Educação do Estado da Bahia – Salvador 2011. DIREC -21, Diretoria Regional de Educação - Irecê-Ba. Dados das unidades escolares/2011. Irecê, 2011 GOES, Daniel de Cerqueira; RAMOS, Paulo Augusto Oliveira: Projeto Universidade Para Todos: Universidade do Estado da Bahia. Pró-Reitoria de Extensão – Salvador: Eduneb, 2006. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ PINTO, José Marcelino de Resende. O Ensino Médio. In: Oliveira, Romualdo Portela: ADRIÃO, Theresa. (Org.). Organização do Ensino no Brasil. 1 ed. São Paulo: Xamã, 2002. 247 Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário A EXPERIÊNCIA DO ENSINO COLABORATIVA NO MUNICÍPIO DE IRECÊ: O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO RESIGNIFICANDO A APRENDIZAGEM DO ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. Sheila BRIANO de Oliveira (UNEB – Universidade do Estado da Bahia - DCHT – Campus XVI) RESUMO: este trabalho traz uma discussão sobre esta nova realidade que precisa ser assumida em sala de aula, a avaliação de software educativo. Com o objetivo de promover reflexões sobre a mediação pedagógica a partir do olhar crítico e avaliativo do professor, amparada por suas decisões definidas no planejamento da ação educativa para o desenvolvimento da aprendizagem. Para tanto, realizou-se a avaliação do software Cmaptools, que tem a função de oportunizar a construção de mapas conceituais de acordo com o interesse e necessidade do autor. Esse trabalho foi fundamentado em Papert (1994) e Fino (2007) que discutem e defendem a promoção da aprendizagem na perspectiva construcionista. PALAVRAS CHAVES: Software educativo. Avaliação. Aprendizagem. Mediação pedagógica. 1 Introdução A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis e etapas da educação escolar, que realiza o AEE - atendimento educacional especializado, disponibilizando serviços e recursos pedagógicos destinados a inclusão educacional de estudantes com NEE – necessidades educativas especiais e orienta os professores quanto à utilização destes instrumentos nas salas comuns do ensino regular. O público da Educação Especial é aquele que por alguma espécie de restrição necessita de modificações ou adaptações no programa educacional, para que possa atingir todo seu potencial, as quais podem advir de limitações: visuais, auditivas, mentais, ou motores, bem como de condições ambientais desfavoráveis. Documentos que elucidam o paradigma da inclusão no Brasil, a exemplo da LDB 9.394/96 em seu capítulo V, o qual retrata que a educação para as Pessoas com Deficiência deve se dar preferencialmente na rede regular de ensino, pretendem apresentar um novo paradigma educacional, que debata sobre a inserção, acesso e permanência das pessoas com Deficiência no espaço escolar inclusivo. E para que o ato de “incluir” aconteça na sua plenitude é imprescindível peculiar atenção a sua obrigatoriedade e as reais condições de sua implementação, sejam elas, atitudinais e/ou estruturais - reorganizar a estrutura funcional da escola, inovações e adaptações curriculares, de acessibilidade e principalmente repensar a formação do professor e a organização do trabalho pedagógico numa perspectiva emancipadora são ações primordiais, antes mesmo dos estudantes com deficiência ingressarem no espaço escolar. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Nesta perspectiva, se verifica a forma de atuação da proposta de trabalho articulada entre os profissionais da Sala Comum e Salas de Recursos Multifuncionais45 do município de Irecê, quanto à eliminação do assistencialismo e dos pré-conceitos, articulando os resultados que se anseia alcançar no espaço escolar inclusivo, em prol de uma aprendizagem significativa, mediados pela dialética - realidade e superação desta, a partir de mecanismos como: estudo, pesquisa e construção coletiva – o ensino colaborativo. Para Mendes (2006) a parceria colaborativa possibilita o planejamento de atividades acadêmicas, adaptações de materiais, manejos ambientais e compartilhamento de informações, expectativas e frustrações com a família, o profissional da Sala de Recursos, a professora do ensino regular e a direção da escola. 2 Aspectos históricos da inclusão da Pessoa com Deficiência no espaço sócioeducacional. 2.1 No mundo e no Brasil A trajetória da Deficiência foi marcada por fatos curiosos e, no entanto absurdos, na era cristã as pessoas consideradas “diferentes” eram alvos de maus tratos. Na antiguidade eram escondidos e muitas vezes sacrificados, na Idade Média, momento em que o Cristianismo exercia uma força política sobre a sociedade, estes sujeitos eram vistos como filhos de Deus e não poderiam ser mortos, viviam a margem da sociedade e se tornavam vítimas de piedade. Nos séculos XVI e XVII, “os deficientes” eram encaminhados aos asilos, pois se considerava que estes não se diferenciavam dos “loucos”. Contudo, a institucionalização em asilos e manicômios foi à primeira “resposta” à sociedade, ao tratamento dado as pessoas com deficiência. Estes espaços apresentavam um movimento de segregação, com a justificativa de que a pessoa com “diferença” (como eram tratadas) seria bem mais cuidada e protegida se confinada em um ambiente separado das pessoas consideradas normais, segundo o padrão social da sociedade do século XVI. Assim, segregar apresentava a seguinte característica: confinar em ambiente separado, cuidar e proteger o “diferente”, além de resguardar a sociedade dos “anormais”. 249 Deficiência é um conceito complexo que reconhece o corpo com lesão, mas que também denuncia a estrutura social que oprime a pessoa deficiente. Assim, como as outras formas de opressão pelo corpo, como o sexismo ou o racismo, os estudos sobre deficiência descortinaram uma das ideologias 45 Resultado do programa SRM, o qual é destinado as escolas das redes estaduais e municipais de educação, que atendem alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, matriculados nas classes comuns do ensino regular, registrados no Censo Escolar MEC/INEP. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário mais opressoras de nossa vida social: a que humilha e segrega o corpo deficiente [...] uma forma particular de opressão social, como a sofrida por outros grupos minoritários, como as mulheres ou negros. (DINIZ, 2007 p. 0910) Paralelo ao isolamento dos asilos e manicômios questionava-se a institucionalização da escolaridade obrigatória, por esta não responder e apresentar a incapacidade da escola em dar respostas significativas pela aprendizagem de todos os alunos surge então, em meados do século XIX, o movimento de Integração, o qual propõe que os estudantes com NEE (estudantes com deficiência e/ou com dificuldades de aprendizagem médias e/ou severas) se adéqüem a realidade escolar vigente. Neste período surgem às classes especiais nas escolas regulares, estas se proliferaram como modalidade alternativa às instituições residências, após as duas guerras mundiais pelo contingente de pessoas mutiladas em combate e pelo sistema educacional se apresentar apenas apto a prestar serviço as crianças e jovens que não tinham acesso livre para freqüentar as classes comuns, ou para aqueles que “supostamente” tinham condições de ingressar na escola regular, mas eram encaminhadas as classes especiais por não apresentarem avanço no processo educacional. Entre o momento da Segregação e transitando para o movimento de Integração, surge em meados do século XVI a Educação Especial, por meio de estudos feitos por médicos e pedagogos, os quais se tornaram os próprios professores de seus pupilos, exercendo um trabalho de cunho tutorial e que desafiando “os pré-conceitos e tabus” da época, centraram discussões e estudos aprofundados de relevância pedagógica numa sociedade, a qual priorizava a educação formal como direito de poucos, excluindo o direito a educação as pessoas consideradas ineducáveis, em particular as pessoas com deficiência. No movimento da Integração o problema estava centrado nas crianças, considerava-se que as Escolas conseguiam educar “ao menos os considerados normais”, não havendo mudanças no contexto Escolar, ação educacional considerada segregadora, o qual ressaltava que para o aluno com NEE - necessidade educativa especial fosse matriculado na Sala Comum do ensino regular, este deveria apresentar dificuldades médias ou comuns. A perspectiva da educação inclusiva traça um modelo curricular que inspira sobre como reformar as escolas, as práticas educativas e a formação dos professores, com o fim de proporcionar uma educação de qualidade ajustada às características de todos os alunos. A educação inclusiva promove a reforma dos sistemas educativos, e colocam em juízo de valor as teorias e hipóteses inerentes à educação especial (sic). (ARNAIZ, 1996, p.10) No final dos anos 80, início da década de 90, surge no Brasil o movimento de Inclusão com discussões referentes à inclusão escolar das Pessoas com Deficiência, inicia-se a necessidade de debatê-lo face aos movimentos anteriores que se caracterizavam pela descontinuidade e dimensão secundária da inserção destes sujeitos no espaço sócio-educacional. No paradigma da Inclusão, as diferenças humanas é algo normal, se reconhece que a Escola está provocando ou acentuando desigualdades associadas à existência Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ das diferenças (pessoais, sociais, etc), surge a necessidade de reformulação dos currículos, formas de avaliar, formação de Professores, adoção de uma política educacional mais democrática, onde todos os alunos são membros de direito da Sala Comum, sejam quais forem suas características pessoais. Adotam-se como base, documentos que validem a afirmação e atuação política de respaldo internacional a exemplo da Aprovação da Declaração Mundial sobre Educação para todos (1990 - Jomtien - Tailândia, Conferência Mundial sobre Educação para Todos), com a finalidade estimular esforços para atender as necessidades educacionais dos alunos privados do direito ao acesso, ingresso e permanência na educação básica e a Declaração de Salamanca (1994 - Salamanca – Espanha, Conferência Mundial sobre NEE: acesso e qualidade), a qual é considerada marco mundial na difusão da Educação Inclusiva. Os referidos documentos contribuíram para disseminar o paradigma da inclusão no final do século XX. 2.2 No município de Irecê-Ba. Em Irecê, a ação que se refere à inclusão de estudantes com Deficiência na rede municipal de ensino teve início em 2000, a partir da iniciativa de membros da ADEVIRAssociação de Deficientes Visuais de Irecê e região ao lutarem por vagas e apoio pedagógico especializado em atendimento as crianças cegas matriculadas na referida rede de ensino, criando então na Escola Municipal Marcionílio Rosa, a primeira Sala de Apoio da Pessoa com Deficiência Visual (Baixa Visão e Cegueira). Tal ação deu início à mudança de atitude dos Gestores de educação da época, para enfrentarem o paradigma da inclusão e buscar novos desafios para a inclusão de estudantes também de com outras Deficiências (auditiva, intelectual e física), TGD – transtornos globais do desenvolvimento e com Dificuldades de Aprendizagem. E em 2003, foi inaugurada a primeira Sala de Apoio da Pessoa com Surdez, na Escola Municipal Tenente Wilson, espaço que trabalha na proposta do Bilingüismo, tanto para os alunos matriculados nestas, quanto às suas famílias e em orientação itinerante realizada pelas Professoras do AEE, tradutoras intérpretes de LIBRAS, nas Escolas onde os estudantes Surdos têm primeira matrícula, ação destinada a toda a comunidade escolar. Em meados de 2004, surge no mesmo município a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais iniciando suas atividades com atendimento Psicopedagógico e Terapêutico Ocupacional, implantando em maio do mesmo ano a Escola Especial Prisma de Irecê com oito alunos e uma professora voluntária. E a partir do ano de 2007, tentando seguir os passos na concretização da Educação Inclusiva, suprem o trabalho que ora realizado, quanto Escola Especial e efetiva-se a criação do CEAPA – Centro Especializado de Apoio Pedagógico da APAE, composto por uma equipe multidisciplinar: Especialista em Educação Especial, Terapeuta Ocupacional, Psicopedagoga, Fisioterapeuta e Pedagogas. Parceria que se efetiva nas Escolas municipais em atendimento aos estudantes com Deficiência intelectual (leve, moderado e severo) em sua maioria e/ou física e TGD Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 251 – transtornos globais do desenvolvimento, os quais tinham dupla matrícula (Escola Municipal e instituição) em ambos os espaços sócio-educativos. A partir de 2008 iniciasse na rede educacional o acompanhamento as Salas Comuns de ensino, as quais tinham alunos com NEE – necessidades educativas especiais (deficiências, TGD e dificuldades de aprendizagem), na orientação e encaminhamento psicossocial e educacional. Assim como na APAE o maior público de estudantes com NEE apresentavam Deficiência Intelectual, porém nos níveis leve e moderado, quadro que ainda se estende na atualidade. O trabalho iniciado em 2008 dar subsídios para que a partir de 2009 se concretize a implantação do AEE – Atendimento Educacional Especializado46 como rege a nova política nacional de Educação Especial na perspectiva Inclusiva de Janeiro de 2008 – MEC/SEESP, através da adesão ao Programa Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), articulado pelas atividades da Coordenação Técnico-Pedagógica de Educação Especial da Secretaria de Educação do município, com o desafio de enfrentar e promover ações nas escolas municipais que contribuam à inserção, acesso e permanência dos estudantes com NEE numa escola verdadeiramente inclusiva. Segundo o MEC (2008), a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, acompanha os avanços do conhecimento e das lutas sociais, visando constituir políticas públicas promotoras de uma educação de qualidade para todos os alunos. Assim, aprimorar a prática educativa é de essencial atenção ao atendimento educacional aos estudantes com deficiência, na Escola inclusiva. Ação que se deve propagar desde a formação inicial e continuada dentro e/ou fora do espaço escolar, de preferência em comunhão com toda a comunidade escolar. Contudo o atual trabalho no município, prima às expectativas da Educação Especial na perspectiva inclusiva, as seguintes ações, após acompanhamento in loco: 1. Investiga as dificuldades e êxitos após acompanhar e avaliar o desenvolvimento do aluno com NEE de acordo com o plano de intervenção do Profº do AEE (Atendimento Educacional Especializado) – discutindo melhor atuação; 2. Articulação com outros órgãos, serviços ou Instituições para o atendimento às necessidades apresentadas pelos alunos com NEE – APAE, Secretaria de Saúde e Transporte Escolar; 3. Proferi reuniões periódicas com o coletivo do AEE para acompanhar os planos de intervenção na Sala de Recursos versus Sala Comum; 4. Organiza e executa momentos de formação em Educação Especial para toda a rede e momentos específicos de estudo com o coletivo do AEE; 5.Apóia as atividades realizadas nas SEM - material didáticopedagógico, gratificação, etc; 6. Elabora documentos que visem ações pertinentes as funções pedagógicas educacionais visando assegurar o efetivo desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes com NEE (Fichas de encaminhamento, Conselho de Classe, etc). Entretanto, com os avanços ocorridos na educação especial no município, ainda em 2009 com a finalidade de firmar os princípios, e práticas da educação especial inclusiva, no espaço escolar regular na garantia de uma educação verdadeiramente 46 Considera-se atendimento educacional especializado o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar à formação dos alunos no ensino regular. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ inclusiva e de qualidade, percebeu-se a necessidade de elaborar um documento que contribuísse com as ações acima expostas. Surge então o Instrumento Orientador: Documento propositivo da educação especial na perspectiva inclusiva para o município de Irecê-Ba, elaborado pelos doze profissionais do coletivo do AEE (Atendimento Educacional Especializado) do município de Irecê, documento que tem como finalidade firmar os princípios e práticas da educação inclusiva, no espaço escolar regular. É importante salientar que o conhecimento constituído historicamente pela humanidade deve ser garantido, também na Educação Especial, através do suporte pedagógico especializado e estruturar quando necessário: orientação da adaptação de materiais, acessibilidade, orientação curricular e estudo da deficiência, através das modificações no contexto pedagógico (projeto pedagógico, objetivos educacionais, conteúdo, métodos de ensino, processo de avaliação, acessibilidade, métodos de comunicação, entre outras).Este documento tem a pretensão de garantir apropriação do conhecimento histórico, mediado da melhor forma possível, respeitando as especificidades de cada estudante com Deficiência. Parafraseando Pinar (1996), a perspectiva da educação inclusiva, traça um modelo curricular que inspira sobre como reformar as escolas, as práticas educativas e a formação dos professores, com o fim de proporcionar uma educação de qualidade ajustada às características de todos os alunos. A educação inclusiva promove a reforma dos sistemas educativos, e colocam em juízo de valor as teorias e hipóteses inerentes à educação especial. 253 2.3 Aspectos históricos e conceituas da inclusão da pessoa com Deficiência Intelectual. A Deficiência Intelectual foi identificada no século XIX. O conceito foi construído a partir do surgimento de uma sociedade que passou a exigir produtividade intelectual, após a Revolução Francesa numa perspectiva humanista e que propõe a oportunidade educacional para todos. A primeira publicação referente à educação para a Pessoa com Deficiência: “A educação de um selvagem”, obra literária do Dr. Jean Marc Itard - Paris/França - séc. XIX. Tal produção retratava o método de ensino inspirado na experiência do menino selvagem de Ayeron (Vítor) – repetição de experiências positivas. O médico acreditava que a deficiência de Vítor não era causada por problemas biológicos, mas pela falta de convívio com o ambiente social. A Deficiência Intelectual se caracteriza por um funcionamento global inferior a média, que pode ou não estar associadas a duas ou mais limitações, a exemplo: 1. habilidades adaptativas: comunicação e cuidado pessoal; 2. habilidades sociais: saúde, utilização da comunidade, segurança, trabalho; 3. habilidades escolares: administração do ócio. O diagnóstico pode se manifestar antes dos 18 anos. É determinado através de avaliações: neurológicas, psiquiátrica, sociais e clínicas. Sendo classificada segundo a OMS – Organização Mundial de Saúde (1976) nos seguintes níveis: a) profundo: incapacidade total de autonomia e/ou nível vegetativo; b) severo: a capacidade de comunicação é muito primária. Devem-se trabalhar hábitos de autonomia. c) Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário moderado: são capazes de adquirir hábitos de autonomia; d) leve: realizam tarefas mais complexas com supervisão. Mesmo com sofisticados recursos, não se sabe com clareza a etiologia (causa) da Deficiência Intelectual, já as causas e fatores de risco podem surgir nos seguintes períodos (Menezes, 2006): a) Pré-natal: incidem desde a concepção até o início do trabalhado de parto, por: desnutrição materna; má assistência à gestante; doenças infecciosas, a exemplo da sífilis, rubéola, toxoplasmose e/ou pelo uso de tóxicos (alcoolismo, consumo de drogas, efeitos colaterais de medicamentos e tabagismo); b) Perinatais : incidi do início do trabalho de parto até o 30º (trigésimo) dia de vida do bebê. Ocasionado pela má assistência ao parto e/ou trauma deste, por hipóxia ou anóxia (oxigenação cerebral insuficiente); prematuridade e baixo peso e/ou incompatibilidade RH/ABO; c) Pós Natais: incidem do 30º (trigésimo) dia de vida até o final da adolescência, originado por: desnutrição, desidratação grave carência de estimulação global, infecções: meningocefalites, sarampo, intoxicações exógenas (envenenamento): remédios, inseticidas, produtos químicos, etc; acidentes: afogamento, asfixia, quedas, etc; infestações: Larva da Taenia Solium. Além das situações acima expostas, percebe-se que as funções cerebrais também se encontram em desvantagem. Ressaltando, que o cérebro é estudado como um conjunto funcional de receber, armazenar, programar, planificar e decidir, realizar e auto-regular funções distribuídas pelas unidades funcionais, Luria (1981), afirma que as Pessoas com Deficiência Intelectual, apresentam inúmeros processos que se encontram em estado de inércia, que não permitem regulação de processos de excitação e inibição operados no sistema nervoso central, os quais são responsáveis pela: atenção seletiva, discriminação, identificação perceptiva e retenção de curto e longo prazo, condições indispensáveis à práxis. Ações que devem ser levadas em consideração, pois, contudo, Luria (1981) define a Deficiência Intelectual (retardo mental, como era tratada na década de 1980), a partir de uma explicação fisiológica e não apenas restrito ao diagnóstico da deficiência puramente, na visão clínica. Já que considera que a perda da força, do equilíbrio e da fragilidade dos processos nervosos de base, impedem o cérebro de cumprir as atividades complexas de conexões temporais, ou seja, as ligações formadas são totalmente instáveis, reduzindo a eficiência do córtex cerebral, tornando as conexões estabelecidas fragmentadas e rígidas. Nós não podemos compreender as perturbações psicológicas que caracterizam o retardo mental senão através de um estudo clínico meticuloso da patologia da atividade nervosa afetada da criança. A análise clínico-patológica, fundada nas ciências naturais, é a tarefa mais importante da ciência pedagógica diante do retardo mental. (...) Assim, as pesquisas modernas em fisiologia e em patologia das funções cerebrais permitem determinar das bases das perturbações da atividade mental da criança retardada em termos de ciências naturais, problema que há muito tempo desconcerta o Pedagogo. (LURIA, 1974, p.21) Percebe-se que o trabalho junto aos estudantes com Deficiência Intelectual, apresenta uma característica peculiar, alguns destes sujeitos apresentam linguagem lacônica e inexpressiva e em alguns casos até a ausência desta. Estes sujeitos não Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ conseguem realizar esquemas mentais, sendo necessário como ponto inicial do trabalho a interação através da comunicação verbal. Como é a partir da fala que se busca desenvolver uma comunicação direta e intencional de interação humana, o domínio da linguagem verbal possibilitará transpor a experiência acumulada historicamente pela humanidade a atentará para que o estudante com Deficiência adquira novos conhecimentos, através do desenvolvimento da assimilação das experiências humanas. Parafraseando Luria (1974), a função da comunicação é essencial à linguagem humana e sem ela, a assimilação da experiência das gerações anteriores seria impossível. Entretanto, será incorreto imaginar que ela supra todas as outras funções básicas da linguagem que não é somente um meio de comunicação, mas instrumento de pensamento. 3 Parceria colaborativa: subsídios norteadores para ação educativa entre o ensino regular e o AEE no município de Irecê. A Deficiência Intelectual do ponto de vista de Vygotsky (1997) depara os processos patológicos como base primária da deficiência, sendo preciso recorrer ao desenvolvimento da criança, para se levar em conta a complexidade num determinado meio e das dificuldades que suscitam o desenvolvimento de complicações secundárias, a exemplo: atraso no desenvolvimento neuro-psicomotor, ou seja, quando esta demora em firmar a cabeça, sentar, andar e falar, além de notável dificuldade de compreensão de normas, ordens e dificuldade no aprendizado escolar. Vygotsky criticava a Escola que se adaptava a deficiência e a forma como se organizava o trabalho pedagógico, que considerava que o aluno por causa da deficiência não estaria apto a desenvolver as capacidades de compreensão, abstração e planejamento das próprias ações. Atuando no nível de treinamento das funções sensoriais e motoras, pois nesta perspectiva a ação pedagógica se reduzia ao quadro orgânico de deficiência desconsiderando a importância dos aspectos socioculturais na constituição do funcionamento psíquico. A proposta de Educação Especial na perspectiva Inclusiva defendida no município de Irecê estima a ação colaborativa, assim, como define Mendes (2006) que o ensino colaborativo é uma parceria entre os professores de Educação Regular e os professores da Educação Especial, onde ambos trabalham juntos compartilhando objetivos, expectativas e frustrações. Embasada nos principais documentos internacionais, os quais apresentam um linear em busca do paradigma da inclusão, a citar: a Declaração de Salamanca; (aprovada em 10.06.94 – retrata os princípios, Políticas e práticas na área das NEE Necessidades Educativas Especiais), a LDB 9394/96 – Capítulo V (modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais), a RES/CEB/CNE N°. 02/2001; (Diretrizes Nacionais para a educação especial na educação básica) e os mais recentes como a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar - 255 Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 2008 (Publicações MEC) e a Lei nº 10.436/02, a qual dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências. Contudo, a Educação Especial é promovida sistematicamente nos diferentes níveis e modalidades de ensino no município, ou seja, desde a Educação infantil até a EJA, passando pelo Ensino Fundamental I e II. Anualmente é realizado um mapeamento do quantitativo de matrículas no ensino regular, subsidiado no ato da matrícula relatórios pedagógicos dos anos anteriores e laudos médicos que comprovem a condição de estudante com deficiência, informações iniciais que colaboram com o plano de AEE nas Salas de Recursos Multifuncionais. Nos casos comprovados/ou com suspeita, os quais apresentam características de alguma Deficiência são encaminhados para triagem com a equipe de Psicopedagogas e investigação minuciosa com a parceria de especialistas, como o Neuropediatra parceria disponibilizada pela Secretaria de Saúde do município, entre outros atendimentos específicos a cada caso, posteriormente encaminhados as Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), quando confirmada a condição de estudante com Deficiência. Outra Secretaria parceira é a de Transporte, a qual disponibiliza Transporte Escolar para os estudantes, os quais têm 2ª (segunda) matrícula na SRM no cotraturno a Sala Comum para os alunos com Def. Visual e/ou Def. Física o deslocamento é realizado da sua residência aos espaços mencionados, já que a sua locomoção é mais difícil, quanto aos estudantes com outras deficiências, estes se deslocam de um ponto de apoio ou na própria escola onde têm 1ª (primeira) matrícula até a SRM. Segundo Friend e Cook (1990), algumas condições são imprescindíveis para que haja um trabalho de colaboração: os professores devem ter um objetivo em comum, ambos devem ter espaço e autonomia equivalentes quanto ao ensino e a colaboração envolve a participação de todos (professores, família, diretoria da escola e demais funcionários), compartilhando de responsabilidades e recursos e participação voluntária. São realizados encontros pedagógicos que se discutam as questões referentes à Educação Inclusiva com a temática da Educação Especial na perspectiva Inclusiva, sempre solicitando a presença da família dos estudantes e de toda a comunidade escolar. Estes momentos são articulados pela Coordenação Técnica-Pedagógica em Educação Especial e os Professores que assumiram as SRM, os quais são graduados e/ou estão cursando a graduação em cursos de Licenciatura em Educação, além de serem qualificados em cursos de formação em exercício na área de Educação Especial, voltados ao estudo da deficiência, às modificações e adaptações necessárias na Sala de Aula e o ambiente escolar na perspectiva da inclusão de alunos com NEE nas Escolas da Rede Municipal de ensino. São consolidados seminários de avaliação e encaminhamentos de propostas das ações executadas e de novas perspectivas, como o objetivo de avaliar as ações pensadas, socializar experiências exitosas, além de levantar novas proposições para o funcionamento da Educação Especial em nível de rede municipal. A partir de 2010, as escolas mesmo as que não foram constatadas matrícula de estudantes com NEE, foram adequadas com rampas e banheiros adaptados, alargamento de portas – esta ação é realizada e acompanhada pela Coordenação de Projetos e infraestrutura da Secretaria Municipal de Educação. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Já as Escolas que estão vinculadas ao programa SRM – Sala de Recursos Multifuncionais (MEC/SEESP) recebem recursos deste, os quais são destinados pela Escola através de planos de ação para: a) construção (mão de obra, compra de material), material pedagógico (reglete, Sorobã, lupas, educativos, etc), material permanente (cadeiras de rodas, bengala, etc). As Escolas que independente de terem ou não as SRM, mas têm alunos com NEE matriculados recebem recursos do programa do MEC/SEESP – Escola Acessível³, o qual deve ser gasto para que a Escola se enquadre nos padrões de acessibilidade. O município garante a distribuição de livros, materiais didáticos, equipamentos e mobiliários adaptados para estudantes com deficiência. A distribuição de livros em Braille é realizada pelo MEC/SEESP, através do projeto Livro Acessível47⁴, para as Escolas com matrícula de alunos com Deficiência Visual e/ou são distribuídos pela Biblioteca Municipal Hermenito Dourado, a qual também tem exemplares, CD´s e DVD´s com a temática da Educação inclusiva a disposição tanto dos Professores quanto da população. Os mobiliários são garantidos pelo próprio programa SRM, nestes espaços. Porém, quando a Sala Comum necessita de uma prancha que se adapte/acople a cadeira de rodas de um aluno com Deficiência Física e/ou Múltiplas, por exemplo, esta é comprada com recursos da própria Escola. Os currículos, os métodos, as técnicas, os recursos educativos e a organização do trabalho pedagógico das escolas contemplam as especificidades dos estudantes com deficiência, orientados pelo Documento propositivo da Educação Especial na perspectiva Inclusiva para o município de Irecê-Ba (instrumento orientador) que tem por finalidade orientar as questões pedagógicas e de estratégias de ensinoaprendizagem. 4 Considerações finais O ensino colaborativo pode ser definido como uma proposta de trabalho educativo para a Educação Especial, no qual o Professor do ensino regular e o 47 O Programa Escola Acessível, da Secretaria de Educação Especial, busca adequar o espaço físico das escolas estaduais e municipais, a fim de promover acessibilidade nas redes públicas de ensino. As escolas apresentam suas demandas de acessibilidade no Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE Escola). ⁴ Busca promover a acessibilidade, no âmbito do Programa Nacional Livro Didático – PNLD e Programa Nacional da Biblioteca Escolar - PNBE, assegurando aos estudantes com deficiência visual matriculados em escolas públicas da educação básica, livros em formatos acessíveis. O programa é implementado por meio de parceria entre SECADI, FNDE, IBC e Secretarias de Educação, às quais se vinculam os CAP Centro de Apoio Pedagógico a Pessoas com Deficiência Visual e os NAPPB – Núcleo Pedagógico de Produção Braille. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 257 Professor do AEE dividem a responsabilidade de: planejar, instruir e avaliar o que se é planejado para um coletivo heterogêneo de estudantes com e sem deficiência. Segundo Mendes (2006) essa proposta de ensino surgiu como uma alternativa aos modelos educacionais existentes (sala de recursos, classes especiais ou escolas especiais) visando, também responder às demandas das práticas de inclusão de alunos com NEE – necessidades educativas especiais. Diversas pesquisas acadêmicas têm apresentado resultados positivos sobre a colaboração entre a Educação Especial e a Educação Regular, pois beneficia todos os estudantes e Professores se sentem revigorados e entusiasmados pela nova perspectiva de educação. Analisando os desafios enfrentados pelas escolas regulares do município de Irecê quanto ao atendimento aos alunos/as com NEE, numa expectativa de ensino colaborativo, tendo como categoria central a organização do trabalho pedagógico, elencam-se como perspectivas para a garantia de uma política pública municipal para Educação Especial, a considerar: a) Formação continuada para os professores do município por área específica do conhecimento relacionado-a a Educação Especial, ou seja, para os Professores do 2º ao 9º e EJA; d) Fortalecer as ações das Salas de Apoio dos Alunos com Deficiência Visual e Auditiva, Salas de Recursos Multifuncionais Tipo I e do CEAPA - Centro de Apoio Pedagógico Especializado da APAE de Irecê, pois o referido coletivo representa a equipe multidisciplinar de nosso município no acompanhamento e/ou intervenção especializada no suporte a prática pedagógica do Professor da Sala Comum; e) Reestruturação da Proposta Curricular e Projeto Político Pedagógico das Escolas da Rede Escolar de nosso Município primando o princípio da inclusão; f) Instituir no PPP da rede: processos de avaliação a partir da especificidade da deficiência de cada aluno com NEE para uma melhor compreensão da articulação objetivo/avaliação e conteúdo/metodologia; g) Contratação de intérpretes de LIBRAS para as escolas da rede municipal – a partir da demanda apresentada por estas, através de garantia de vagas em concurso público; h) Articulação dos profissionais da Educação, Saúde e Ação Social, através de programas a exemplo de: CAPS, NASF, CREAS, CRAS, BPC na Escola e Centro de Atenção Básica, na garantia de direitos a pessoa com deficiência. Contudo, nota-se que os resultados apresentados até o presente, têm colaborado tanto no desempenho acadêmico, auto-estima, motivação, habilidades sociais dos estudantes com Deficiência Intelectual da rede municipal de Irecê. Interações satisfatórias que resultam num desenvolvimento relevante para a aprendizagem destes, sendo reconhecidas pela família, pelos profissionais que prestam tanto atendimento educacional, quanto clínico a estes sujeitos. Referência Bibliográfica ARNAIZ, Sánchez P. Las escuels son para todos. Siglo Cero, 1996. Disponível em: http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2006/discapacidad/tematico/educacion/LasEscuelas-para-todos.htm. Acesso em: 04 Abril. 2012. BRASIL. Ministério da Educação. A educação especial na perspectiva inclusiva escolar: o atendimento educacional especializado para alunos com deficiência intelectual. Brasília: MEC/SEESP, 2005. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ DECLARAÇÃO DE SALAMANCA. Declaração Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais: Acesso e qualidade. Trad. Edílson Alkmim da Cunha.2.ed. Brasília: CORDE, 1994. DECLARAÇÃO JONTIEM. Declaração mundial sobre educação para todos:satisfação das necessidades básicas de aprendizagem.Conferência Mundial sobre Educação para Todos. Jontiem, Tailândia. 05 mar.1990. Peru: UNESCO,2001. DINIZ, Denise. O que é deficiência. São Paulo: Brasiliense, 2007. FRIEND, M. e COOK, L. Collaboration as a predictor for sucess in school reform. Journal of Educational and Psychological Consultation, vol.1, n.1, 1990. p.69-86 LURIA, Aleksandr Romanovich. L’enfant retarde mental. Toulouse: Edouard Privat, 1974. ______, Aleksandr Romanovich. Fundamentos da Neuropsicologia. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1981. MENDES, Enicéia Gonçalves. A radicalização do debate sobre inclusão escolar no Brasil. Revista Brasileira de Educação v. 11 n. 33 , p. 387- 405, 2006. 259 ______, Enicéia Gonçalves. Colaboração entre ensino regular e especial: o caminho do desenvolvimento pessoal para a inclusão escolar. In: MANZINI, E.J. Inclusão e acessibilidade. Marília, 2006 a.p. 29-41. SANCHES, P. A. A educação inclusiva: um meio de construir escolas para todos no século XXI. Revista da Educação Especial, 2005. SANTOS, Jaciete Barbosa dos. A “dialética da inclusão exclusão” na história da educação de alunos com deficiência. Revista da FAEEBA – Revista do Departamento de Educação da UNEB. Salvador, n.17, p270044, jan/jun 2002. VIGOTSKI, L. S. Fundamentos da defectologia (Obras escogidas), volume V. Visos. Madrid,1997. __________. A construção do pensamento e da Linguagem. Martins Fontes, São Paulo, 2001. __________. A formação social da mente. Martins Fontes, São Paulo, 2003. Documento Propositivo da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva para o município de Irecê-Ba: Instrumento Orientador – Fevereiro/2010. Disponível em: Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário <http://br.groups.yahoo.com/group/educacaoespecialinclusiva_smedeirece/files/>. Acesso em: 04 Abril 2012. Parecer CEE 170/2009 - Projeto de Resolução que estabelece normas para a Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, na Educação Básica, em todas as suas etapas e Modalidades, no Sistema Estadual de Ensino da Bahia. Disponível em: <https://www2.sec.ba.gov.br/ancee.nsf/179e891e3118070703256d9d0064e32e/4763 a217c4b05aed032576410071f23b?OpenDocument>. Acesso em: 04 Abril 2012. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ A INCLUSÃO DA CRIANÇA SURDA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: DESAFIOS E POSSIBILIDADES NA ESCOLA MANOEL AUGUSTO DOURADO NO POVOADO DE BELO CAMPO MUNICIPIO DE AMÉRICA DOURADA-BA. Elis Regina da Silva DIAS Dourado (UNEB – Universidade do Estado da Bahia – DCHT – Campus XVI) Sheila BRIANO de Oliveira (UNEB – Universidade do Estado da Bahia – DCHT – Campus XVI) RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo discutir a inclusão da criança Surda na educação infantil, os desafios e as possibilidades para sua consolidação. Assim, busca-se compreender as especificidades da primeira infância da criança Surda e todo o processo histórico, o qual as pessoas com deficiência auditiva vivenciaram ao longo dos tempos, perpassando os movimentos de segregação, integração até a as expectativas da inclusão educacional desde os primeiros anos. Serão reverenciados no corpo do texto, a citar: Quadro (2011), Strobel (2006) e Skliar (2005). Trata-se de uma contribuição à discussão da trajetória da concretização de uma educação de qualidade para todos. PALAVRAS CHAVE: Surdez. Inclusão. Educação Infantil. LIBRAS. 261 1 Introdução A importância atribuída à educação na primeira infância e a compreensão de que a Surdez se trata de uma especificidade que se bem compreendida não impede o desenvolvimento da mesma em nenhum aspecto, são resultados de um processo de construção histórica e se deparam com novas possibilidades, de continuar avançando rumo à conquista de uma sociedade verdadeiramente democrática. A criança Surda deve ser inclusa no sistema educacional desde a Educação infantil e para tanto, faz-se necessário compreender que os Surdos enfrentaram a exclusão e foram ignorados, explorados e desprovidos de direitos. Passaram pela segregação dentro de instituições que os privavam do convívio familiar e social, depois pela integração onde alguns alunos eram encaminhados para classes especiais, após uma avaliação que determinava se tinham ou não condições de se adaptar ao sistema de ensino, surge então, o movimento da inclusão como um novo paradigma educacional, para se opor ao processo de segregação escolar. Através da inclusão, os Surdos podem ter uma educação infantil centrada no respeito às diferenças. Estas são compreendidas e trabalhadas de maneira adequada a favorecer um desenvolvimento global. Assim, na educação do Surdo não cabe a tentativa de oralização, uma vez que sendo a humanidade de natureza heterogênea, faz-se necessário negar a padronização. Para Quadros (2011) até os dias atuais, há pesquisas que procuram um meio de garantir o desenvolvimento da linguagem em crianças surdas através de métodos de oralização. Outras implicações do oralismo estão relacionadas às dificuldades no Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário relacionamento familiar, ao déficit cognitivo por não garantir uma comunicação clara para o Surdo. A Comunicação Total é outro aspecto comunicativo defendido na educação dos Surdos. É uma vertente que valoriza todas as formas de se comunicar, porém, não tem contribuído para o alcance de um desenvolvimento satisfatório para os Surdos. Os entraves no desenvolvimento das crianças com Surdez começam a se desfazer através da proposta do Bilinguismo que defende a necessidade do aluno Surdo aprender a Língua de Sinais Brasileira (LIBRAS) com primeira língua L1 e a língua portuguesa como segunda língua L2. Por ser a Língua de Sinais Brasileira – LIBRAS, considerada uma língua com as mesmas características das demais e reconhecida como a língua oficial dos Surdos, esta modalidade lingüística oferece condição para um desenvolvimento sócio–afetivo, político cultural e nos aspectos cognitivos destes sujeitos. Portanto, os estudantes com Surdez estão sendo matriculados nas salas comuns do ensino regular e para tanto é preciso compreender se os referidos espaços educativos estão preparados para oferecer educação de qualidade, adaptada de forma a contemplar o desenvolvimento dos alunos Surdos, um ambiente estimulante com profissionais que compreendam os aspectos inerentes a sua faixa etária e as especificidades da Surdez. Diante da relevância dos aspectos acima expostos, houve a inquietação em pesquisar a Escola Manoel Augusto Dourado no povoado de Belo campo de America Dourada – BA, com intuito de compreender como se dá o processo de inclusão da Criança Surda do grupo cinco na referida instituição. Haja vista, que neste povoado outras pessoas com Surdez viveram sem nenhuma atenção educativa chegando à fase adulta desprovidos de condições para o exercício da cidadania. 2 Educação para os sujeitos Surdos: linear histórico. O resgate histórico sobre como a humanidade encarou a Surdez revela que na antiguidade houve comportamentos hostis que se manifestaram muitas vezes com o crédito de que, seriam alternativas viáveis para a vida e a educação dos Surdos. Assim, a análise de tal processo é relevante para compreender as posturas ideológicas que influenciaram a educação desses sujeitos ate a contemporaneidade. Registra-se que na antiguidade, o Surdo não era considerado um ser humano pleno “Aristóteles considerava que a linguagem é o que dava condição de humano para o indivíduo. Contudo, sem linguagem, o Surdo era considerado não humano” (SILVA, 2003, p. 25. apud. MOURA. 200, p.16). Nos registros de Strobel (2006) constam que desde aquela época era difícil diagnosticar a Surdez nos recém nascidos o que contribuía para que muitos escapassem da morte. Isso fez com que em 753 ac. o imperador Rômulo criasse um decreto que decidia o extermínio de todas as crianças Surdas até os três anos de idade, com isso as chances dos Surdos sobreviverem em meio a tirania diminuía consideravelmente. Na idade média, o conceito de anormalidade continua a decidir o futuro das pessoas com Surdez. Segundo Strobel (2006) o normal para aquela sociedade era que todos ouvissem e falassem para serem aceitos, então esses indivíduos eram excluídos Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ da vida social e educacional; não havia escolas para Surdos e existiam muitas leis que não acreditavam na capacidade dos mesmos. No século XVI o italiano Girolamo Cardamo afirmava que os Surdos poderiam aprender a ler e escrever sem fala. No entanto, tais afirmativas começam a se concretizar através de ações realizadas por franceses, ingleses, espanhóis e alemães que iniciaram trabalhos educacionais com indivíduos Surdos de forma autônoma. A história atribui destaque ao trabalho do monge beneditino Pedro Ponce de León que é lembrado até os dias atuais como o primeiro professor de Surdos, o que para alguns pesquisadores a afirmativa é falsa. Para Nascimento (2006), nos escritos de Berthier professor Surdo do instituto para Surdos de Paris em 1840 consta que León não foi o primeiro e que antes vários outros trabalhos foram realizados com o intuito de educar crianças surdas, práticas estas que ficaram no anonimato. A fala era algo que garantia aos filhos da nobreza, o direito de receber heranças e títulos de família. Portanto, foi grande a procura para que Ponce de León realizasse o desejo de membros da elite que na época, o procuraram para fazer seus filhos falarem. No século XVII, o espanhol Juan Pablo Bonet publicou o livro chamado Reducion de Las Letras y Artes para Esenar a Habalar a Los mudos. Neste livro, Bonet divulgava o alfabeto manual de Pedro Ponce de Leon como uma idéia simples para a educação e a comunicação dos Surdos. O nome do abade Charles Michel de l’Epée é lembrado como grande colaborador para a educação dos surdos em Paris. Em 1760, o abade encontrou duas meninas surdas analfabetas em Paris, e decidiu ensiná-las rudimentos do cristianismo. Surge então em 1760, a primeira escola para Surdos em Paris,o Instituto Nacional dos Jovens Surdos de Paris (INJS), nesse contexto, Lodi (2005) afirma que l’Epée teve que enfrentar a visão filosófica de superioridade em relação à gramática da língua francesa daquela época. Havia discriminação com as outras formas de comunicação principalmente a língua de sinais defendida por l’Epée. De tal modo, a língua de sinais não era compreendida pela classe dominante como uma língua completa nem podia ser comparada com a língua vigente daquela nação. Para sobreviver ao desaparecimento da língua de sinais, l’Epée tenta adaptar a linguagem dos Surdos a um sistema metódico criado para enquadrá-la na norma culta da língua francesa. Sendo mais tarde contestado pelo movimento de alunos Surdos e professores que passaram a lutar pela extinção dos sinais metódicos criados por l’Epée e o reconhecimento da língua de sinais na educação dos Surdos. Desde o século XIX surgiram formas significativas para educação dos Surdos, pois as várias escolas que foram abertas para educar esses sujeitos tinham a língua de sinais como principal meio de comunicação e transmissão de conhecimentos. Nas palavras de Strobel (2006) haviam professores que se atrelavam no trabalho de comprovar a veracidade da aprendizagem dos Surdos ao usar a língua de sinais e o alfabeto manual e em muitos lugares havia professores Surdos. 263 2.1 A expansão da questão da Surdez no mundo: a origem das práticas normalizadoras e histórias de superação. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário Em 1880, em Milão na Itália, realizou-se o II Congresso de Internacional, considerado um marco histórico para definir o futuro educacional dos Surdos e também analisar qual língua seria ideal para educar estes sujeitos. Conforme Strobel (2006), entre os três métodos apresentados, o oralismo derrota a língua de sinais e o misto (Comunicação Total) obtendo a maioria dos votos. Assim, foi imposta a superioridade da língua falada e conforme afirma Araujo (2010), mesmo com as considerações sobre a língua de sinais foi decidido que o oralismo se constituiria como único objeto de ensino, decisão tomada sem nenhuma fundamentação teórica. Para Skliar (2005) é ingênuo o pensamento de que a origem das práticas normalizadoras deriva do decreto de Milão. A defesa em relação ao ouvintismo e ao oralismo já existia nas políticas e práticas de outros países. O congresso de Milão não iniciou e sim legitimou oficialmente essas ações. Assim, de 1880 até 1960, imperou o discurso ideológico de que, a surdez era uma enfermidade a ser curada pela medicina e essa por sua vez, contava com o auxilio de aparelhos auditivos desenvolvidos para fazer o surdo ouvir, dessa forma, o papel da escola especial48¹ era fazer seus alunos surdos falarem. O despertar para a necessidade de repensar outras formas de educar esses sujeitos faz surgir em 1968, a Comunicação Total, criada por Roy Holcon como alternativa para amenizar as queixas das práticas oralistas. O discurso dessa filosófia é que tanto a linguagem oral, quanto a língua de sinais deviam ser utilizados para a comunicação dos surdos com seus pares e com os ouvintes. Estudos mostraram que essa forma de comunicação diminuía as possibilidades dos Surdos expressarem seus sentimentos e idéias sendo que em relação à escrita os sujeitos não alcançavam autonomia, isso faz com que a maioria não alcance êxito. Na década de 1980 surge a abordagem do bilinguismo que considera a língua de sinais como sendo a língua natural dos surdos e defende que a criança deva ter acesso o mais precocemente possível a essa modalidade, ou seja, à língua de sinais passa a ser considerada como a primeira língua L1 a ser adquirida pela criança com Surdez e através dela adquire-se a língua portuguesa como segunda língua ou L 2. 2.2 A educação do sujeito Surdo no Brasil: uma luta do movimento Surdo. O olhar sobre a surdez no Brasil não possui um histórico diferenciado ao que se apresentou em outros países. É certo que as teorias relativas ao Oralismo, Comunicação Total e o Bilinguismo, influenciaram a educação dos surdos brasileiros fazendo com que vivenciassem todos os momentos que perpassa da segregação, a integração até as atuais propostas de inclusão cujo princípio desta é de acordo com Bonfim (2010) o oferecimento de oportunidades e direitos iguais a todos não importando as suas diferenças. O costume das famílias nas demais esferas sociais era esconder os filhos Surdos. Consta nos registros de Monteiro (2006) que os pais agiam assim por causa da vergonha que sentiam por terem concebido um filho que seria discriminado pela 48 O MEC/SEESP define esta escola especial como o espaço de segregação ao qual emergiu no movimento de integração. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ sociedade por não se enquadrar em seus padrões de normalidade. Para a referida autora, o isolamento e a falta de comunicação causava problemas neurológicos nos Surdos. Estes por sua vez, durante muito tempo não obtiveram êxito em seus objetivos devido ao preconceito e a exclusão social. Em 1855 veio para o Brasil, o francês Ernest Huet, professor Surdo que tinha por objetivo fundar uma casa de abrigo e ensino para surdos. O professor veio munido com os sinais e o alfabeto manual francês. Huet foi apoiado pelo reitor do imperial colégio D. Pedro II e conseguiu uma sala no centro do Rio de Janeiro para que funcionasse provisoriamente o Instituto Imperial dos Surdos-mudos. Este aproveitou os sinais que eram utilizados pelos surdos e juntamente com os sinais franceses cria a língua de sinais brasileira (LIBRAS). Durante muito tempo o instituto funcionou como internato, nele eram abrigadas pessoas com Surdez de todas as partes do país. Nessa conjuntura, os alunos eram instruídos através da língua de sinais francesa e língua de sinais brasileira antiga. O atual Instituto Nacional de educação de Surdos (INES) foi reconhecido oficialmente no dia 26 de setembro de 1857, a grande relevância ao trabalho realizado no instituto é atribuída à criação da iconografia² dos sinais, em 1873 pelo aluno surdo Flausino José da Gama. Já em 1881, os reflexos do Congresso de Milão fazem com que a língua de Sinais seja proibida em todo território nacional. Nas afirmações de Monteiro (2006) as consequências de tal proibição o número de professores surdos diminuiu consideravelmente em 1895, o que faz aumentar o número de professores ouvintes e em 1911, o regulamento interno determinou que o método oral puro fosse adotado no ensino de todas as disciplinas. Em 1925 o Instituto Santa Teresinha é fundado em São Paulo, a referida escola preocupava com a educação de moças Surdas. Seu regimento só permitia que as moças se comunicassem fora da sala de aula e o fato dos educadores serem franceses, influenciava a utilização da língua de sinais desse país, mesmo assim, permanecia o oralismo. Através do Instituto nacional de Educação de Surdos (INES) surgiram em 1930, no Rio de Janeiro, as associações de surdos entre elas destacam-se a dos exestudantes do Grêmio do INES e outra fundada em 16 de maio de 1953 por dona Ivete Vasconcelos, professora de Surdos que de forma generosa emprestava o pátio da sua casa para as reuniões com o presidente Vicente Burnier mais tarde substituído por Alymar Antunes Bousquat. Neste espaço eles organizavam festas e atividades esportivas e competiam com escolas de ouvintes. Contudo, os ex-alunos iam voltando para suas cidades e novas associações iam surgindo a exemplo da associação de surdos de São Paulo, Minas Gerais e Belo Horizonte entre outras. A educação dos surdos no Brasil ganha impulso no século XX e as ações a partir daí são para integrar os surdos em atendimentos especializados. Para Strobel (2006), muitos sujeitos surdos foram tirados, avaliados e encaminhados a classes especiais em escolas públicas em cidades do interior, e nas capitais, foi estimulada a criação de instituições de reabilitação particulares. 265 Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário O modelo Clínico dessas instituições trabalhava no sentido de normalizar o surdo através da utilização de equipamentos de reabilitação auditiva. Outros projetos tinham a finalidade de capacitar professores leigos que muitas vezes faziam o papel de fonoaudiólogos, ficando assim a proposta educacional direcionada somente para a reabilitação da fala dos sujeitos Surdos. Contudo, no Brasil, as tentativas de educar os surdos através da oralização fracassaram o que deu lugar ao surgimento da abordagem da Comunicação Total no final da década de 70. Isso fez crescer nos anos seguintes, o interesse por pesquisas sobre a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) a qual já era defendida por estudiosos e educadores. 3 Educação Infantil e a criança Surda: desafios e perspectivas. O período de zero a seis anos é considerado o mais importante na organização das bases para as competências e habilidades que serão desenvolvidas ao longo da existência humana. É a fase que a criança necessita de cuidados, atenção e estímulos para se desenvolver plenamente. Este entendimento é fruto de um processo histórico assim como o ocorrido com a compreensão dos aspectos relacionados à Surdez. De forma positiva, a abordagem Sócio-Histórica de Vygotsky nos traz uma compreensão de criança ser histórico, social e cultural que aprende enquanto interage com o meio de forma que, quanto mais rico for o ambiente, mais possibilidade de desenvolvimento vai existir. A escola atual trabalha na perspectiva da educação inclusiva que pressupõe oferecer oportunidades e direitos iguais a todos, considerando as diferenças, limites e potencialidades dos educandos. Nas palavras de Bomfim (2010) para atingir este objetivo é necessário que as escolas regulares ampliem seus conhecimentos sobre as possibilidades do ser humano e a valorização da diversidade, fatores relevantes para o desenvolvimento integral dos alunos. O MEC/SEESP (2005) apresentam outros princípios a serem considerados pelo corpo docente para que a educação inclusiva realmente aconteça, dentre eles o de que a inclusão significa transformação da prática pedagógica: relações interpessoais positivas, interação e sintonia entre comunidade escolar, aluno e família, além do compromisso com o desempenho acadêmico por parte dos educadores. Não o bastante, é preciso um projeto pedagógico que garanta adaptações necessárias ao currículo, apoio didático especializado e planejamento, com o oferecimento de equipamentos e recursos adaptados de acordo a necessidade. Para Silva (2005) a inclusão escolar do aluno com Surdez deve envolver essa criança, desde a educação infantil até a plena escolarização, visando à garantia de que ela possa, desde cedo, utilizar os meios de que necessita para vencer suas dificuldades e usufruir de seus direitos escolares, exercendo sua cidadania, de acordo com os preceitos instituídos neste país. A escola precisa estar ciente de que a criança Surda possui o mesmo potencial evolutivo, ela também precisa de cuidados, carinho e de um processo educativo de qualidade para construção de bases cognitivas, afetivas, sociais e culturais. No entanto, têm acontecido muitos casos de pessoas Surdas terem seu desenvolvimento prejudicado devido à falta de aquisição da linguagem ocorrente por causa da falta de interação com esse mecanismo. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ A comunicação é nas palavras de Bomfim (2010) essencial ao ser humano e deve ser assegurada como um direito básico e fundamental a outros direitos, por meio da comunicação a interação se concretiza possibilitando a aquisição de conhecimentos. Por esse motivo, tanto a família, quanto a escola devem entender que a linguagem a ser utilizada na comunicação com o Surdo deve ser de caráter a contemplar sua percepção visual para que assim possa compreender as mensagens que lhe são transmitidas. Em muitas situações, os casais ouvintes em meio à angústia de não saber como lidar ou se comunicar com o filho Surdo, procuram ajuda de especialista muitas vezes para corrigir o que acham ser anormal, na tentativa que o mesmo venha a ouvir e falar. Para Souza (2007), os sentimentos ambivalentes de pais e mães em relação à criança Surda geram a constituição de uma auto-imagem formada mais por elementos autodepreciadores, do que autovalorizadores, gerando ansiedade, baixa auto-estima e insegurança. Diante destes fatos, a escola não pode considerar que a Surdez é um obstáculo para o desenvolvimento infantil e pasmar-se perante tal ocorrência. Antes de mais nada, ela deve se posicionar com outro olhar e outras atitudes no que se refere à educação destes sujeitos. Assim, desde a educação infantil é preciso que o Surdo49 encontre um ambiente adaptado para o campo visual o que lhe possibilitará condições de aprender e se desenvolver em igual condição de direito aos ouvintes. 267 3.1 O desenvolvimento global da criança Surda. As crianças brasileiras, Surdas ou não, contam atualmente com o amparo da lei 9.394/96 que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). Esta reforça o direito aos pequenos de receber auxilio educativo que venha complementar a ação da família e da comunidade fazendo com que tenha a oportunidade de vivenciar experiências que favoreçam a ampliação de seus conhecimentos, oportunizando um ambiente rico o qual todos possam desenvolver aspectos emocionais, sociais, cognitivos, psicológicos, físico e motor se faz imprescindível. Para contemplar tais aspectos, a escola pode contar com o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCN). Trata-se de um material que foi elaborado para orientar o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação da prática educativa. Dessa forma, contém alguns princípios fundamentais a serem considerados na educação da criança pequena. É preciso compreender que estes princípios englobam todas as crianças independente de suas limitações. A noção sobre as particularidades da infância em 49 Segundo o dicionário Aurélio, a Iconografia é uma forma de linguagem visual que utiliza imagens para representar determinado tema. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário especial da criança Surda e a forma como estes sujeitos apreendem o mundo é um requisito essencial aos profissionais de educação. As crianças Surdas precisam encontrar na creche e na pré-escola a oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento e não somente ações assistencialistas como em outros tempos, seus educadores podem envolvê-las no mesmo processo desejado às demais, onde o cuidar oportuniza o educar e ambos são indissociáveis. Para Vygotsky (2007) a aprendizagem precede e contribui para o desenvolvimento, assim, ao chegar a escola a criança já tem um certo nível de desenvolvimento, resultantes de experiências prévias com a família. Esse estado em que a criança se encontra é o chamado nível de desenvolvimento real. O papel do professor é fazer interferências e provocar avanços nos alunos para que os mesmos saiam do nível de desenvolvimento real e entrem na zona de desenvolvimento proximal, a qual possibilita aproximar da zona de desenvolvimento potencial. A Surdez não pode impedir a humanização do sujeito. Para Mello (2007), a humanização ocorre a partir do momento em que o sujeito se apropria de objetos, instrumentos, ciência, valores, da lógica, hábitos, costumes e linguagens. Mecanismos referentes ao resultado do processo de criação cultural do próprio homem. Assim, é de responsabilidade da escola, trabalhar em prol da apropriação destas qualidades humanas por parte dos pequenos. O fato de não poder ouvir não impede a criança de vivenciar situações lúdicas. Para Vygotsky (2007) o ato de brincar é um fator muito importante no desenvolvimento da criança, através das brincadeiras as crianças agem sobre o meio e realiza seus desejos através da imaginação que é entendida por esse teórico como uma forma especificamente humana de atividade consciente, ou seja, enquanto brinca o pensamento da criança comanda suas ações, assim ela vai atribuindo significado às coisas. É na educação infantil que a criança Surda deve vivenciar atividades que estimule seu raciocínio lógico e os jogos apresentam-se como um mecanismo didático que pode ser introduzido no planejamento visando à aprendizagem de conteúdos matemáticos. Os Surdos precisam e devem praticar com os colegas, atividades que envolvam o movimento corporal para que possam ampliar suas possibilidades referentes à motricidade. Para Basei (2008) o corpo fala, cria e aprende com o movimento, se expressa através dos gestos que são ricos de sentidos, significados e intencionalidades, ou seja, diante de vivencias de repressão, os sujeitos deixam de perceber seu próprio corpo, seus desejos e suas vontades expressos no movimentar humano. Outro mecanismo que facilitará a aprendizagem são as artes visuais, consideradas como uma linguagem que expressa e comunica sentimentos, sensações e pensamentos aos seres humanos. Desta forma, é através do contato com as artes visuais que a criança pode se sensibilizar e perceber o significado dos elementos contidos no objeto artístico e será a reflexão que a possibilitará usar a imaginação no seu próprio fazer artístico. Tal atividade deve fazer parte da educação do Surdo uma vez que é através da percepção visual que estes sujeitos compreendem o mundo a sua volta. A criança Surda não vive em um mundo a parte, assim como seus amigos, ela está inserida neste universo repleto de fenômenos naturais e sociais aos quais vão lhe Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ despertando o interesse pela descoberta. Neste sentido, a escola deve proporcionar situações em que a criança tenha contato com diferentes elementos, fenômenos e acontecimentos do mundo. Acesso às diversas formas de explicar e repensar o meio, principalmente às explicações cientifica com as quais passará a pensar sobre os eventos que acerca. O diagnóstico tão comum à educação infantil deve ser realizado com a criança Surda, assim, uma avaliação contínua detectará os avanços no desenvolvimento de todas as crianças para que assim possa formular estratégias que venham suplantar as lacunas que se apresentarem. 4 A importância do apoio pedagógico para o acesso e permanência do Surdo no espaço escolar inclusivo: o atendimento educacional especializado. O acesso dos Surdos à rede regular é um direito e deve ser concretizado por parte das instituições de ensino. Estas, por sua vez, têm o dever de matricular qualquer criança independente de ter limitações (físicas, sensoriais, cognitivas, intelectual, superdotação ou altas habilidades), contudo, o aluno precisa realmente estar incluso no processo educativo e não apenas integrado ao mesmo. Assim, a escola regular pode contar com o trabalho do apoio pedagógico para garantir a permanecia do Surdo no espaço escolar. O apoio pedagógico especializado diz respeito à ação colaborativa de profissionais especializados para atender as crianças segundo suas necessidades, e também todo aparato tecnológico que possa subsidiar o trabalho dos educadores. Portanto, o Atendimento educacional Especializado (AEE) foi idealizado pelo Ministério da Educação (MEC) para superar o modelo de educação especial que acabava tirando o direito das crianças de freqüentarem as salas de aula comum do ensino regular. Tal agravante tirava o direito de socialização e interação da criança com pares da mesma faixa etária, isso, impedia a criança de estar aprendendo e se desenvolvendo em um ambiente estimulante sem se sentir discriminada por causa das suas limitações. Assim, o AEE surge para complementar o trabalho pedagógico da sala comum e deve ser oferecido dentro da mesma instituição, contemplando aspectos específicos que implicam no desenvolvimento de cada criança público da educação especial. A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96, formulada em 20 de dezembro de 1996, apresenta as definições do que vem a ser a educação especial e de como o sistema de ensino regular deve se organizar para atender as crianças com necessidades especiais. Com esta Lei, as crianças Surdas têm seus direitos educativos garantidos dede o nascimento. E as escolas têm o dever de se organizar quanto às especificidades das crianças com necessidades especiais e assim garantir currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organizações específicas para atendê-las. Para isso, o MEC/SEESP, criou o Programa de implantação de Salas de Recursos Multifuncionais ao qual, diz respeito à organização de um ambiente com equipamentos de informática, materiais pedagógicos, de acessibilidade e mobiliários 269 Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário cujo objetivo é apoiar a ampliação da oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE) no contraturno do ensino regular. No que concerne a Surdez, a criança tem o direito de aprender LIBRAS como 1ª língua, se apropriar dos conteúdos através desse mecanismo lingüístico e aprender a língua portuguesa na modalidade escrita como 2ª língua. Assim, o atendimento é realizado em horário oposto às aulas da sala comum. A aprendizagem da LIBRAS L1 e do português como 2ª língua deve acontecer através da interação com um professor especialista nestas modalidades o que facilitará a aprendizagem por parte da criança. O ensino deve ser precedido de uma avaliação sobre o que a criança entende sobre língua de sinais, a partir de então o professor começa a trabalhar as especificidades da língua para que a criança compreenda seus significantes e avance nos conhecimentos. Da mesma forma, o ensino na língua portuguesa, só que esta, deve ser ministrado preferencialmente por um professor licenciado em letras. Para o sucesso no trabalho educativo é preciso que haja uma articulação entre o professor especialista em LIBRAS, o professor de língua portuguesa e o professor da sala comum, isso possibilitará a valorização dos conteúdos curriculares em ambos os espaços e dessa forma, uma melhor compreensão por parte da criança Surda. Os recursos didáticos de caráter visuais são de extrema importância na sala comum e no atendimento educacional especializado para o Surdo. Assim, o teatro, os filmes, fotos, gravuras de livros, revistas e maquetes, bem como expressões corporais e faciais são exemplos de recursos que podem estar enriquecendo a aula e favorecendo o desenvolvimento dessas pessoas. 4.1. Formando professores para trabalhar com estudantes Surdos: um desafio a superar. Um dos grandes desafios que está posto para o professor na contemporaneidade é o de contemplar os objetivos da educação inclusiva. Seu papel é viabilizar condições adequadas para atender a todos os alunos nas suas necessidades e peculiaridades conforme se apresente na sala de aula. Não o bastante, é responsabilidade do professor, contribuir com um desenvolvimento satisfatório à participação efetiva em todas as instâncias do convívio social. O pleito por um ensino regular de qualidade para todos, que contemple as especificidades da criança na primeira infância, em especial a criança Surda, só é possível por meio de ações de profissionais capacitados, ou seja, a qualidade da formação inicial e sua continuidade dão ao professor a condição de mediar os conhecimentos construídos e sistematizados. No entanto, é preciso entender se os professores do referido setor estão preparados para concretizar as propostas inclusivas atuais. Hoje, a formação de professores para atuar com alunos Surdos acontece através dos cursos de Pedagogia Bilíngue, cursos de Letras/LIBRAS ou Graduação em Letras com Licenciatura em português 2ª língua, por meio dos cursos de Educação Especial/deficiência auditiva. Para Gotti (2005) a formação do professor pode ser realizada ainda por meio da pós-graduação e da formação continuada e nos cursos técnicos para instrutor de LIBRAS em nível médio. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Nas palavras de Silva (2010), os indícios mostram que existe a necessidade de reformular os cursos de formação de professores e principalmente a preparação dos formadores de professores. Considera-se ainda que a maior parte dos professores do ensino regular não estão preparados para lidar com a heterogeneidade que vai além dos fatores referentes à Surdez, ocorre então que muitas crianças acabam excluídas do processo educativo por causa dessa lacuna. A inserção da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como disciplina curricular nos cursos de formação de professores em nível médio e superior, pressupõe situar o professor do ensino regular acerca da singularidade lingüística manifestada pelos alunos Surdos. Porém, diante das evidências de que a maioria dos cursos de graduação são ineficientes, pode-se dizer que grande número de professores não estão em condições de estabelecer uma relação comunicativa adequada com essas crianças. Diante de tal agravante e considerando que até pouco tempo grande parte dos educadores efetivos do Brasil não eram formados em nível superior. Por este motivo e principalmente pela consciência da necessidade da continuidade da formação docente, o Ministério da Educação e a Secretaria de Educação Especial (MEC/SEESP) têm procurado corrigir estas lacunas implantando vários programas de formação continuada para professores da Educação Especial e das salas comuns, a exemplo do programa da Plataforma Freire que tem por objetivo contemplar a graduação dos professores em exercício que ainda lecionam amparados no antigo curso do Magistério e daqueles que atuam em áreas que não condizem com sua formação. Um novo documento publicado em 12 de maio de 2011 anuncia novas definições quanto o acesso e objetivos do programa. Segundo o MEC (2011), no âmbito das ações de formação continuada para professores da rede pública de educação básica, a Secretaria de Educação Básica, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade e a Secretaria de Educação Especial, em parceria com as instituições públicas de ensino superior, ofertarão cursos de extensão, aperfeiçoamento e especialização em diversas áreas, com previsão de início para o segundo semestre de 2011. Para se beneficiar com os cursos, as secretarias de educação dos municípios precisam articular coma as escolas e identificar as necessidades que se apresentarem na escola e em seguida inscrever os educadores em tal programa. Em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB), em 2009 o MEC implantou o programa de formação superior a distancia, para professores da rede estadual e municipal, dando condições de atuar na Educação Especial e no ensino regular. A disponibilidade de material para leitura busca oferecer base para os educadores compreender melhor o desenvolvimento das crianças Surdas na primeira infância. Assim, a Coleção Educação Infantil – Saberes e Práticas da Inclusão: Dificuldades de Comunicação e Sinalização Surdez. É um material disponível onde os educadores vão encontrar subsídios para estudo, que se bem planejado pode contribuir para uma prática mais eficiente. Outro material de grande relevância e contribuição para a educação especial é o material Educar na Diversidade destinado à formação docente e estar à disposição Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 271 de todas as escolas que se preocupam com o crescimento profissional do corpo docente e almejam contemplar os objetivos da inclusão. Embora seja evidente a relevância da capacidade do professor para atuar na educação dos Surdos, é preciso entender que o sucesso só ocorrerá mediante a articulação entre todos os membros da comunidade escolar que em parceria com a família irão encontrar caminhos para superar desafios e alcançar metas previamente estabelecidas. 5 A educação da criança Surda no povoado de Belo Campo município de América Dourada – BA: a realidade da Escola Municipal Manoel Augusto. Antes de abordar a forma como a população de Belo Campo encarou a educação das crianças surdas é importante mencionar também que, além de Surdos, nasceram crianças com limitações físicas nos membros inferiores, visual e de cognição. As memórias, relatos e registros de familiares e pessoas que vivenciaram estes momentos, oferecem subsídios para compreender como esta comunidade se posicionou frente às diferenças. Belo Campo foi fundado em 1926 por Manoel Augusto Dourado. Consta que naquela ocasião juntamente com alguns familiares desbravavam as terras na esperança de encontrar água já que esse bem sempre foi escasso no sertão nordestino. Assim, atraído pelo coaxar dos sapos encontrou uma árvore frondosa e uma lagoa com um enorme lajedo em sua volta. Então, nas palavras de Dourado (2004) Manoel Augusto sentou-se debaixo desta árvore e bebeu um pouco de água, contemplando a paisagem teria dito que aquele local era bom pra viver e teria ares de um Belo Campo. Na família Dourado4 havia o costume da consolidação matrimonial entre parentes muito próximos com o temor de que as mulheres descendentes ao assumir o sobrenome do marido iriam reduzir o sobrenome com o passar do tempo. Outra explicação é que o fato de serem os donos da maioria das terras da região lhes atribuíam status de riqueza e poder e isso resultava na rejeição aos pretendentes menos abastados. Estes últimos se tratavam de famílias carentes que vinham para Belo Campo50 com o intuito de prestar serviço para os donos das terras, ou seja, para a família Dourado. Com o passar do tempo, a consangüinidade fez com que os filhos desses casais começassem a nascer com limitações físicas, auditiva, visual e cognitiva. Para a educação dos considerados “normais” Manoel Augusto convida em 1940 o professor Nestor Borges vindo de América Dourada com formação escolar na cidade de Morro do Chapéu para ensinar as crianças da localidade. Para Dourado (2004) Essa escola tinha caráter privado, os pais dos estudantes pagavam pelo período em que o professor permanecia no lugar, o que acontecia geralmente na época da estiagem já que em se tratando de uma comunidade rural, na época das chuvas os pais tiravam os filhos da escola para ajudar nas atividades agrícolas 50 De acordo com Rubens(2001), a família Dourado tem suas origens em Porto, Portugal. Vieram para o Brasil no Século XVIII, atraídos pelas riquezas e acabaram por conquistar grandes extensões de terras. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Os Surdos de Belo Campo não frequentaram a escola devido ao preconceito de que a surdez impossibilitava a aprendizagem. Assim, a educação infantil de seus filhos ficou restrita a observação do trabalho braçal realizado pelos pais. Estes os levavam para o trabalho na roça para não ficarem dispersos na rua. Com isso, eles aprenderam o ofício de trabalhar na lavoura. Essa ocorrência contribuiu para o aumento da renda familiar já que se tratava de um casal com quatorze filhos, deste modo, todos precisavam trabalhar para o sustento da família. Foi somente na fase adulta que os irmãos ouvintes ensinaram os Surdos a fazerem a cópia do nome próprio, isso com o intuito de capacitá-los a votar. Assim, perceberam que os surdos eram inteligentes e resolveram matriculá-los no programa do Movimento Brasileiro de alfabetização o antigo MOBRAL. Foi criado pela Lei número 5.379, de 15 de dezembro de 1967, propondo a alfabetização funcional de jovens e adultos, visando conduzir a pessoa humana a adquirir técnicas de leitura, escrita e cálculo como meio de integrá-la a sua comunidade, permitindo melhores condições de vida Apesar da ênfase na pessoa, ressaltando-a, numa redundância, como humana (como se a pessoa pudesse não ser humana!), vemos que o objetivo do MOBRAL relaciona a ascensão escolar a uma condição melhor de vida, deixando à margem a análise das contradições sociais inerentes ao sistema capitalista. Ou seja, basta aprender a ler, escrever e contar e estará apto a melhorar de vida (BELLO, 1993, p.1). 273 Em 1985, com a emancipação política de América Dourada, Belo Campo passa a fazer parte deste distrito, a partir desse momento a educação para todos indistintamente é de responsabilidade das autoridades vigentes. E em referência aos estudantes Surdos constata-se que ao longo dos anos o descaso é algo presente, pois nem ao menos há registros sobre o atendimento às crianças surdas em anos anteriores a sua emancipação. Para muitas famílias o acesso à educação dos Surdos só foi possível após a vinda destas à cidade de Irecê, através do trabalho realizado pelos fieis da igreja testemunha de Jeová. Acreditando que isso contribuía para a comunicação entre eles (ouvintes e Surdos), com a evangelização e formação de vínculos com outros surdos da localidade. Desta forma, se deu o primeiro contato com a LIBRAS. Assim como tantas outras escolas existentes no Brasil, a escola Manoel Augusto Dourado enfrenta grandes desafios na busca de contemplar a educação idealizada e desejada por grande parte da sociedade. Sua situação é semelhante às demais escolas, localizadas em zonas rurais, as quais muitas vezes não são contempladas com recursos que possam contribuir para uma melhor qualidade educacional, o que faz com que os desafios sejam mais intensos e muitas vezes impossíveis de serem superados. Portanto, a referida escola não possui estrutura física adequada para atender as turmas de educação infantil. Para solucionar tal agravante, uma residência foi alugada para atender 30 crianças na faixa etária de três a cinco anos, nos períodos matutinos e vespertinos. Trata-se de um espaço restrito, sem cantina e sanitários adequados, o qual chama atenção à ausência de área para recreação, o que contribui para um recreio ocioso por parte dos pequenos. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário A inclusão ainda não foi implantada no município de América Dourada51 devido a falta de profissionais capacitados à exercer funções precisas como é o caso de pessoas fluentes ou interpretes de LIBRAS. Informa que não existe nenhum programa de formação continuada na área de educação especial implantado no município. O que existe é a prática do “professor multiplicador” que são educadores convidados a participar de eventos, quando estes são oferecidos geralmente em outros municípios, posteriormente os mesmos repassam o que aprendeu para seus colegas. Considerações finais A relevância deste trabalho está na sua contribuição para um maior entendimento por parte dos interessados sobre a temática que envolve a discussão sobre a importância da inclusão da criança Surda desde a educação infantil. É uma investigação que nos remete ao entendimento de que a escola se depara com grandes desafios a serem superados, e também com inúmeras possibilidades para a consolidar a prática da inclusão no ensino regular. É também um chamamento à reflexão sobre a importância de uma educação infantil rica e estimulante para todas as crianças, inclusive para as Surdas, que tem o direito a um desenvolvimento pleno sem prejuízos conferidos a limitação auditiva. Os dados encontrados durante a realização da pesquisa mostraram que a escola Manoel Augusto enfrenta dificuldades significativas para atender as necessidades da criança Surda. A primeira delas é que não existem professores preparados para trabalhar com o Surdo tanto na sala comum, quanto para um possível Atendimento Educacional Especializado (AEE). Este descaso pode ser considerado como um dos fatores que contribuíram para que não ocorresse nenhuma transformação na estrutura funcional da Escola Manoel Augusto Dourado, no sentido de incluir o aluno Surdo. Releva-se que transformações mais profundas só são possíveis a partir de ações significativas por parte daqueles cuja responsabilidade fora confiada. Portanto, é papel da Secretária de Educação reivindicar junto ao MEC, a implantação de projetos que venham abranger desde a formação continuada para os professores, até a aquisição de recursos pedagógicos que possam apoiar e enriquecer o trabalho docente. E mesmo diante de entraves como os vivenciados pela escola pesquisada, os envolvidos não podem pasmar-se e simplesmente render-se às lamurias que não contribuirão com nenhuma mudança. Faz-se necessário que haja um policiamento no sentido de exigir que cada membro da comunidade escolar cumpra seu papel no sentido de cumprir as metas propostas para a inclusão. Desta forma, se podem amenizar as situações embaraçosas e angustiantes, em que o professor se ver abandonado as suas próprias iniciativas para encontrar caminhos muitas vezes equivocados no sentido de contemplar a educação do aluno Surdo. 51 De acordo com Rubens(2001), a família Dourado tem suas origens em Porto, Portugal. Vieram para o Brasil no Século XVIII, atraídos pelas riquezas e acabaram por conquistar grandes extensões de terras. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ O que os educadores precisam compreender é que a inclusão é uma questão de direitos que o Surdo tem. E que tais direitos só serão validados a partir do momento em que a criança não somente estiver freqüentando a escola, antes, é preciso que a instituição, garanta sua participação efetiva no processo educativo, o que ocorrerá somente a partir do momento em que a escola abraçar a causa da inclusão, este será então, o marco inicial rumo à educação inclusiva. Para garantir que o Surdo tenha uma educação infantil satisfatória para seu desenvolvimento global desde os seus primeiros anos, é fundamental que não só os Surdos mais todas as crianças, encontrem na escola educadores com posicionamento político capaz de transformar suas vidas. É preciso que tais posicionamentos sejam compatíveis com o que fora apresentado por Shima (2011) em que apresenta as recomendações de Vygotsky (1996) sobre o exercício de uma educação que venha a superar as limitações biológicas através da valorização dos aspectos culturais de seus alunos. Uma educação capaz de remeter seus educandos com NEE, ou não à outro patamar, através da apropriação de conhecimentos primordiais que foram produzidos pelo homem ao longo dos tempos. Referências ARAÚJO, Nanci Bento. FARIA, Emiliana Rosa. Libras - Língua Brasileira de Sinais. Salvador. Universidade Estadual da Bahia, 2010. BOMFIM, Duanne Antunes. ROSA, E. Faria. COSTA. E. Morais. ARAUJO. N. Bento Aprendendo a Entender: Teorias e práticas para o processo de ensino aprendizagem de Surdos. Editora asas. Governador Valadares, 2010. BRASIL, Ministerio da educação. Diretrizes Nacional para educação especial na educação básica/ Secretaria de educação especial. MEC; SEESP, 2001. __________, Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial Curricular Nacional Para Educação Infantil. V.1; V.2; V.3: Brasília: MEC/SEF, 1998. BELLO, José Luiz de Paiva. Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL. História da Educação no Brasil. Período do Regime Militar. Pedagogia em Foco, Vitória,1993. Disponívelem:<http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb10a.htm>. Acesso em: 08 de out. de 201. DUCK, Cynthia. Educar na Diversidade: material de formação docente. 3ª ed. Brasília MEC/SEESP, 2006. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 275 DOURADO, C. Edinan. Uma Vila Sertaneja: A Trajetória da Família Dourado e Suas relações Sociais no Distrito de Belo Campo 1926-1950. Monografia em História. UNEB Jacobina, 2004. ROMAN, Eurilda Dias; STEYER, Vivian Edite. (org.). A Criança de Zero a Seis Anos e a Educação Infantil: Um retrato multifacetado. Canoas 2001. MONTEIRO, Myrna Sarlerno.História dos Movimentos dos Surdos e o Reconhecimento da LIBRAS no Brasil. Grupo de Estudos Surdos e Educação. ETD.v.7, n.2. p.279 – 289. Campinas, 2006. RUBENS, Jacson. Irecê: Histórias, Casos e Lendas. ed. 2. Editora Print Fox. Irecê, 2001. SASSAKI, Romeu Kasumi. Inclusão: Construindo uma Sociedade para Todos: Rio de Janeiro, WVA, 1997. SILVA, Alessandra da. LIMA Cristiane V. de Paiva. DAMÁZIO, Mirlene Ferreira Macedo. Deficiência Auditiva. Atendimento educacional especializado. Paulo: MEC/ SEESP, 2007. STROBEL, Karin Lílian. A Visão Histórica da In(Ex)clusão dos Surdos nas Escolas. Grupo de Estudos Surdos e Educação. ETD. V.7, n.2. p. 244 – 252. Campinas, 2006. SIERRA, M. A. Bassan. SHIMA, Sônia M. Barroco . Contribuições de Vygotsky para a Educação Especial na area da Surdez, Cegueira e Surdocegueira. IX Congresso Nacional de Psiologia Escolar e Educacional. Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2009. SILVA, Rosana C. Jacinto. A Formação do Professor de Alunos Surdos: Concepções, Dificuldades e Perspectivas. Dissertação de mestrado. Faculdade de Educação da Universidade de Brasília/UNB. Brasilia, 2010. SKLIAR, Carlos. A Surdez: Um olhar sobre as diferenças. 3ª ed.Mediação: Porto Alegre, 2005. SHIMA, Sônia Mari Barroco. Pedagogia Histórico-Crítica, Psicologia Histórico-Cultural e Educação especial. In: MARSIGLIA, Ana Crolina Galvão. Pedagogia Histórico-Crítica: 30 anos. (coleção memória da educação). Autores Associados. Campinas, SP. 2011. VYGOTSKY, Lev Semonovich. A Formação Social Da Mente: O desenvolvimento dos processos psicológicos superiores; organizadores Michael Cole... [et.al.]; tradução José Cipolla Neto, Lúis Silveira Menna Barreto, Solange C. Afeche. 7ª ed. Martins Fontes, São Paulo, 2007. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ ANÁLISE DO DISCURSO DA LITERATURA BAIANA EM PROL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. Geórgia Ludmila MARTINS Silva (Universidade do Estado da Bahia – UNEB/DCHT – Campus XVI) Sheila BRIANO de Oliveira (Universidade do Estado da Bahia – UNEB/DCHT – Campus XVI) RESUMO: O presente trabalho pretende discutir como são abordadas as políticas públicas e a legislação brasileira na perspectiva da Educação Inclusiva, orientado por análises dos principais pesquisadores dos núcleos de pesquisas das universidades públicas baianas (UNEB, UFBA e UESC) em busca da inclusão de estudantes com deficiência. Nesta perspectiva o intuito da pesquisa está em validar a idéia de inclusão no que tange a literatura baiana e documentos viáveis que asseguram o direito da pessoa deficiente resguardando aspectos e contribuições do AEE - atendimento educacional especializado, designado a sujeitos que necessitam do pleno acesso, participação e aprendizagem numa ambiente escolar inclusivo. PALAVRAS-CHAVES: Educação inclusiva. Núcleos de pesquisa. Políticas públicas. Universidade. 1 Introdução A educação especial foi marcada pela negligência social e política, por causa do grande descaso e ausência total de atendimento às pessoas com deficiência, os quais viviam a margem da sociedade, enclausurados em suas casas ou mesmo abandonados por serem tidos como seres anormais. A partir de meados dos séculos XIX e XX estes sujeitos passaram a ser segregados em escolas que ofereciam uma educação diferenciada, as chamadas escolas especiais, onde se desenvolviam métodos e técnicas de ensino baseados nos princípios de modificação de comportamento e controle de estímulos, posteriormente devido ao movimento de integração social por volta da década de 70 estes sujeitos passaram a serem integrados no ambiente escolar formal. Em meados do final da década de 1980, início dos anos 90, surge o movimento de inclusão, que diz respeito a ações de combate a exclusão, e assim pode-se deduzir que a educação inclusiva formou-se em meio a uma ambiguidade, ora defendiam os interesses dos sujeitos excluídos, ora a escola e outros espaços públicos encontravam e ainda encontram dificuldades para justificar a presença e a permanência dos indivíduos que apresentam algum tipo de deficiência. O auge da educação especial no Brasil se iniciou com o “Instituto dos Meninos Cegos” em 1854 e 1857 com o “Instituto dos Surdos-Mudos”. Desse modo a educação especial no Brasil se caracterizou por atendimentos isolados a deficientes visuais e auditivos. Para Mazzota (1996) alguns decretos e campanhas foram criados no Brasil com a finalidade de educação e assistencialismo, como a primeira Campanha voltada para a Educação de surdos de acordo com o Decreto Federal nº 42.728/57 que tinha por objetivo se estender por todo o território nacional. Apesar de algumas críticas, essas 277 Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário campanhas conseguiram direcionar de algum modo o olhar para as pessoas com deficiência, com destaque para o trabalho dos cristãos aos surdos, dando-lhes manuscritos e comunicação por sinais para que desse modo pudessem se aproximar de Deus. Consequentemente a educação especial existia, mesmo sob veladas segundas intenções, vindo posteriormente a compor documentos legais que lhe deram sobrevida. O assunto se refletiria então na luta cotidiana dos movimentos sociais, sensibilizados com os prejuízos causados pela segregação e marginalização dos minoritários. Tais movimentos traziam ainda a proposta de educação para todos, o que ocasionou a retirada das pessoas com deficiência das instituições de apoio para a inserção na escola e comunidade. O conhecimento destes fatos é fundamental para o desenvolvimento desta pesquisa, porque o estudo assumirá uma feição de pesquisa social, pois trará à tona questões importantes para a discussão da pessoa deficiente em torno de diversos eixos, dentre eles: as práticas pedagógicas, o atendimento educacional especializado e a cultura social e escolar. O texto também pretende tecer uma reflexão sobre as atitudes sociais no tratamento a pessoa com deficiência no que se refere ao debate dos pesquisadores das universidades públicas baianas, ressaltando o direito destes previsto na legislação brasileira. Assim, o objeto de estudo desta pesquisa delineará as ideias dos principais pesquisadores das universidades públicas baianas em prol da educação inclusiva. Estará presente na análise textos de Díaz, Bordas, Galvão e Miranda (2009), Barros (2007), Rabêllo (2004), Santos (2002), Mattos e Benevides (2009). A pesquisa com base nesses teóricos pretende abrir possibilidades para questionamentos ou mesmo acrescentar algo que favoreça o movimento da inclusão educacional e aumentar a consciência a respeito da temática, problematizar a reflexão do trabalho docente e criticar a visão da deficiência na escola e na sociedade, permitindo situar as relações presentes nos espaços de interação. 2 Conceito de inclusão e a inclusão almejada. A educação especial se conceitua como uma modalidade de ensino transversal da educação infantil ao ensino superior e tem como público alvo os estudantes com NEE - necessidades educativas especiais – limitações físicas, sensoriais ou intelectuais, superdotação/altas habilidades e TGD (Transtorno Global do Desenvolvimento). Tem ainda uma tríade de direitos: o direito a educação em qualquer idade escolar, incluindo jovens e adultos; direito de igualdade, disponibilizado por recursos adequados para atender as devidas necessidades; e o direito de participação social. Como exemplo de obrigatoriedade dos serviços públicos em âmbito nacional que orientam a educação para a prática inclusiva, encontram-se: a Declaração de Educação para Todos; PNEE - Política Nacional de Educação Especial; a nova LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; o PCN - Parâmetro Curricular Nacional - de Adaptações Curriculares para a Educação de alunos com NEE; a publicação da Portaria de nº 1.679; o PNE - Plano Nacional de Educação; a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva; e o ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente (1990). Parafraseando Santos (2002) enquanto escrevia sua tese de mestrado que “existe uma distância muito grande entre a “intenção” e a efetivação da ação no Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ sistema educacional brasileiro, pois, mudanças legislativas não implicam, necessariamente, em alterações na prática educativa”. Nesse sentido é a tentativa que conta, não o objetivo. Prontamente esse tipo de reflexão nos remete ao ponto da valorização da dignidade do aluno com NEE, onde é exigido que a própria escola reveja sua função social e sua reponsabilidade como espaço inclusivo. Para Miranda (2000), a resposta adequada ao projeto educativo da escola, o qual deve ser compartilhado por toda a comunidade, assumindo a diversidade como fator inerente a todo grupo humano, deve dar sentido a todas as atuações e serviços que possam precisar os alunos, tendo sempre as situações mais inclusivas possíveis no ensino regular. Os recursos precisos para esta situação educativa também devem ser disponibilizados pela escola, em quantidade suficiente e com a qualidade requerida em cada caso, assegurando a atenção específica aos alunos que dela precisam. A Organização das Nações Unidas – ONU – produziu diversos documentos norteadores de políticas públicas para seus países membros. Dentre eles: a Conferência Mundial sobre educação para todos (Jomitien, 1990), a qual teve por finalidade estimular esforços para atender as necessidades educacionais dos alunos privados do direito ao acesso, ingresso e permanência na educação básica; a Declaração de Salamanca, promulgada na Conferência Mundial sobre NEE: acesso e qualidade (1994); a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), a qual reconhece que “todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos”... (art.1); e a Convenção de Guatemala (1999) que teve por objetivo a eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas deficientes, termo utilizado no referido período. Todos esses documentos são marcos históricos mundiais na difusão da educação inclusiva, os quais buscaram garantir condições por uma educação verdadeiramente igualitária, uma vez que foram pensadas questões do sistema de ensino e programas que tenham em vista diferentes características e necessidades do estudante. Portanto, a relevância desses documentos merece destaque já que fundamentam-se em uma filosofia de valorização do ser humano, de modo que os profissionais que atuam na área educacional tenham conhecimento de tais documentos, pois o professor também desempenha um importante papel político para o desenvolvimento da cidadania. Por conseguinte, as mudanças propostas à escola e aos funcionários são de grande importância para criar condições para o desenvolvimento do processo inclusivo. Portanto estes documentos têm o objetivo de subsidiar escolas em espaços inclusivos que valorizem as diferenças e não surgiram do nada, mas através de uma luta contínua para além dos séculos. 279 O discurso sobre a inclusão de pessoas com necessidades especiais tem mudado no decorrer dos tempos em função de determinadas transformações sociais, culturais e econômicas. Durante muitos anos, determinadas deficiências foram consideradas praticamente como sinônimo de castigo. No período da Inquisição e, posteriormente, na Reforma Protestante, as pessoas com necessidades especiais eram tratadas como Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário uma personificação do mal. Com decorrer das décadas e com os avanços da Medicina, novos conceitos foram sendo construídos e reconstruídos em relação a tais pessoas. (SILVA, SANTOS, FARIAS, 2000, p.40) De acordo com a história da educação especial, o desenvolvimento ao atendimento das pessoas deficientes apresenta quatro estágios. A primeira fase é identificada na Era pré-cristã onde os deficientes sofriam maus tratos, viviam escondidos e muitas vezes eram sacrificados devido suas condições tidas como anormais. Posteriormente na Idade média, onde o cristianismo exercia grande poder político sobre a sociedade, passaram a pregar que estas pessoas não poderiam ser sacrificadas, porque eram também filhos do Senhor e assim o tratamento variava de acordo a piedade humana. Assim, durante a maior parte da história da humanidade, a pessoa com deficiência foi posta como ser impossibilitado de exercer alguma função social ou mesmo incapaz de aprender, por isso viveu muito tempo vítima de isolamento sempre com o pretexto de sua anormalidade. A partir do século XVIII, as pessoas com deficiência começaram a ser vistas como pessoas que poderiam conviver em sociedade e foram encaminhadas a asilos e manicômios, já que não as diferenciavam dos “loucos”; e esse momento histórico ficou conhecido como a fase da segregação. Em meados do século XX a educação especial foi marcada pelo desenvolvimento de classes especiais em escolas públicas com a finalidade de oferecer uma educação diferenciada a essas pessoas. É somente a partir da década de 1970 e 1980 que a escolarização dos deficientes tomou uma nova direção com o debate sobre a integração escolar. Ao final do século XIX surgem as classes especiais diárias em instituições. Em 1950 os pais de pessoas deficientes lutaram para acabar com leis que barravam a entrada de seus filhos em escolas normais e juntos fundaram a NARC – National Association for Retarded Children, hoje a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE no Brasil, país que também assumiu modelo europeu para a educabilidade de deficientes. Os fatos relacionados à educação especial no Brasil tiveram dois momentos marcantes: de 1854 a 1956, período do II Império até a República, com ações particulares e oficiais; e o segundo período de 1957 a 1993com iniciativas em campo nacional. A educação especial no Brasil iniciou-se com a criação do “Instituto dos Meninos Cegos” inaugurado por D. Pedro II em 1854, hoje versado como “Instituto Benjamin Constant” e posteriormente em 1857 o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos, atual INES – Instituto Nacional de Educação de Surdos, ambos localizados no Rio de Janeiro. Tais Institutos representaram a possibilidade de conscientizar a sociedade brasileira para o atendimento especializado e educacional para pessoas deficientes. As medidas relacionadas à educação e ao apoio a estes sujeitos eram extremamente precárias em âmbito nacional. Nessas instituições “em 1872, com uma população de 15.848 cegos e 11.595 surdos, no país eram atendidos apenas 35 cegos e 17 surdos. (MAZZOTTA, 1996, p.29). Ainda com todas as dificuldades, aconteceu no Brasil em 1883 o 1° Congresso de Instrução Pública com as discussões voltadas para a formação docente para cegos e surdos. Consequentemente verificamos que a educação especial no país se dirigia apenas para deficientes sensoriais, negligenciando as deficiências físicas e mentais. Na Bahia se deu início ao tratamento de deficientes mentais, porém de maneira Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ equivocada, pois o atendimento se restringia apenas ao caráter clinico no antigo Hospital Estadual de Salvador, hoje Hospital Juliano Moreira. A partir dos anos 50 o governo federal brasileiro assumiu campanhas voltadas especificamente para sujeitos deficientes. A título de exemplificação encontramos: a “Campanha para a Educação do Surdo Brasileiro” (1957), a “Campanha Nacional da Educação e Reabilitação do Deficiente da Visão” (1958) e a “Campanha Nacional de Educação e Reabilitação de Deficientes Mentais” (1960). Ao longo da década de 60 o debate sobre a educação especial ganhou força e o número de classes especiais no país aumentou consideravelmente. Entre as instituições de atendimento especial estavam: Instituto Pestalozzi; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE; Associação de Assistência a Criança Defeituosa – AACD; Instituto Benjamin Constant – IBC; e Instituto Educacional São Paulo – IESP. Em meados dos anos 80, o movimento popular concebeu a luta pela defesa da pessoa deficiente, suas ações se manifestaram em diferentes setores e em 1988 a Constituição Federal estabeleceu no art. 208 a integração dos estudantes deficientes na rede regular de ensino, o que assegurou minimamente a oportunidade educacional a estes. Os anos 90 apresentaram as conquistas dos sujeitos deficientes e abriu discussões sobre um novo paradigma educacional contrário a integração, este novo debate ganha o nome de inclusão. Ao compreender o trabalho educativo ofertado às pessoas com deficiência, segundo os registros da história, destacam-se os modelos pelos quais estes estavam subordinados e as suas funcionalidades, da exclusão total dos sujeitos deficientes à sua inclusão caracterizou-se o modo de integração pautado numa perspectiva segregacionista. Iniciou-se na década de 70 o modelo de integração permitindo a consolidação da educação especial como uma modalidade de ensino importante para estudantes com NEE. Para Mendes (2006) seu conceito diz respeito à “mera colocação de pessoas consideradas deficientes numa mesma escola, mas não necessariamente na mesma classe (...) práticas quase pertencentes de segregação total ou parcial” A integração refere-se a um termo bem mais restrito que a inclusão, pois dá destaque apenas a questão da deficiência, ou seja, entanto a eficácia desse modelo foi questionada pelos direitos humanos, que defendem que o melhor resultado de aprendizagem seria com a reorganização escolar, um dos maiores obstáculos para a implantação da inclusão educacional. A designação da nomenclatura “pessoa com deficiência” no período da integração (1960-1970) considera a deficiência propriedade da pessoa e não da sociedade, e se refere ao modelo clinico de avaliação, o que anula os questionamentos a respeito da falha no sistema educacional. Em 1990 foi criado o EPT - Educação para Todos, conjunto de políticas internacionais coordenado pela UNESCO com o objetivo de discutir a garantia de acesso e participação na educação em todo o mundo. Deste debate nasceu o pensamento da inclusão com as conferências de Jomtien (1990) e a Declaração de Salamanca (1994). Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 281 Por inclusão social se entende o acesso pleno aos bens e serviços comunitários, o usufruto integral e incondicional das conquistas científicas, sociais e culturais da modernidade, bem como o favorecimento à participação e à representatividade políticas. No que tange aos deficientes, a inclusão social vem se traduzindo, então, basicamente, nas demandas por maior acessibilidade urbana, pela adequação da escola regular aos alunos com deficiência e pela inserção competitiva das pessoas deficientes no mundo do trabalho”. (BARROS, 2007, p. 61) Refletir um novo paradigma sugere, portanto, reconhecer as dificuldades enfrentadas pelos estudantes deficientes o que conseqüentemente conjeturará no avanço social. No que tange o campo educacional, as ações da educação inclusiva não devem se voltar exclusivamente à proposta da educação especial e sim envolver toda a instituição escolar, que deve oferecer ensino de qualidade em sua totalidade. Segundo esse ponto de vista, o movimento da inclusão propõe novas maneiras de convivências: democratização da escola e melhor atendimento dos alunos com NEE – Necessidades educativas especiais - termo referente a todos os sujeitos que necessitam de algum atendimento educativo especial em diferentes momentos e podem recorrer a vários recursos educacionais; a nomenclatura substituiu a colocação “portador de deficiência” após a Declaração de Salamanca. Para Sanches (2005) também é proposto pelo movimento da inclusão o respeito a heterogeneidade e defende que a escola deve “educar com êxito a diversidade de seu alunado e colaborar com a erradicação da ampla desigualdade e injustiça social”. Contudo, a inclusão ultrapassa os muros da escola e se reconhece num incremento de estratégias organizacional para a justificativa de sua filosofia em prol do suprimento das necessidades humanas. Assim a inclusão se caracteriza de acordo a diversidade humana e contempla a equiparação de oportunidades livre de orientação sexual, cor, classe social, ou seja, não defende apenas aos direitos de um determinado grupo de gente. A proposta da inclusão, diferente da integração que buscou adaptar as pessoas deficientes no âmbito social e escolar, luta pela transformação da realidade social para que assim atenda as necessidades de todos. Na busca ontológica da origem dos movimentos sociais na luta pelos direitos das pessoas com deficiência podemos compreender que do contraste entre a segregação e a inclusão nasce o associativismo dos sujeitos deficientes formados por cegos, surdos e deficientes físicos, dirigidos por pais e mães que se organizaram para assistir a seus filhos. Essas instituições de amparo foram caracterizadas pelo acolhimento recíproco, a busca pela sobrevivência diária e o reconhecimento das dificuldades dos deficientes, porém limitados às políticas assistenciais. As primeiras organizações não possuíam espaço próprio e nem objetivos determinados. Somente por volta da década de 1970, no Brasil, passaram a ter uma consciência política dos seus direitos como cidadãos e buscaram iniciativas que os beneficiassem, negando a sociedade que os discriminava e procurando transformação social. Ganhou mobilização populacional por conta da conjuntura social da época definida pelo processo de redemocratização brasileira com o enfraquecimento do regime militar (1964-1985) e a publicação do AIPD - Ano Internacional das Pessoas Deficientes – pela ONU em 1981, com a temática “Participação Plena e Igualdade” o que, por conseguinte promoveu o debate sobre as pessoas com deficiência. Após a ditadura militar, os movimentos sociais, antes amedrontados pelo autoritarismo, saíram em busca de garantir oportunidades iguais e se articularam Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ politicamente aproveitando a abertura democrática vivida no país. Em 1988 foi promulgada a Constituição Federal, a qual assegura melhores condições de vida, direitos iguais a todas as pessoas com e sem deficiência e participação popular. Todas as mobilizações a favor da luta da pessoa deficiente ganharam destaque no cenário nacional e internacional. Em 1980 a ONU publicou a “Carta dos Anos 80” com a finalidade de estabelecer metas de integração da pessoa deficiente no mercado de trabalho, bem como o acesso a educação escolar. Depois desse momento ocorreu uma divisão no movimento dos deficientes a partir das especificidades de cada grupo, uma estratégia que buscou a melhoria do atendimento para cada deficiência. Com base em Barros (2007), foi no incremento cívico das ações contidas no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, em 1993, que objetivava implantar uma política de seguridade social de modo que fosse participativa tanto por meio dos representantes governamentais como pelos representantes da sociedade civil, que se firmaram as entidades de pessoas com deficiência no Brasil. Porém estas entidades são caracterizadas pelo perfil assistencialista, o que representa apenas a prestação de serviços de seus associados e um apoio igualitário, por isso a importância das pessoas deficientes em outros espaços sociais. As mudanças de atitudes das entidades de apoio ao deficiente favoreceram uma melhor compreensão a respeito da deficiência e impulsionaram mudanças no âmbito educacional, que se revela desde mudanças organizacionais da escola, formação profissional a modificações curriculares. Como destaque anterior do período da integração, o atendimento educacional dos estudantes com deficiência estava estritamente direcionado das escolas especiais para a escola regular, no entanto foi questionado se esse enfoque levava em consideração estudantes que precisam de um atendimento educativo individualizado. Daí nasceu o movimento a favor da escola inclusiva, uma transformação no sistema educacional contemporâneo. 2 A importância da pesquisa em Educação Especial nas Universidades públicas Baianas. A partir da década de 1990 os debates sobre a inclusão de estudantes com deficiência na educação superior começaram a repercutir em âmbito nacional através da Lei n° 9.394/96, estabelecida pelas Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Contudo, somente em 07 de novembro de 2003, com o disposto na portaria n° 3.284/03 MEC/GM, que dispõe sobre requisitos de acessibilidade para estudantes com deficiência e instrui processos de reconhecimento de cursos e credenciamento das Instituições de Educação Superior - IES, é que as universidades deram início as condições de acesso para as pessoas com deficiência. Desde 2003, o governo federal consolidou o Programa de Acessibilidade na Educação Superior – Incluir, que assegura acesso aos estudantes com deficiência nas instituições federais de educação superior (Ifes); responde pela concretização de núcleos de acessibilidade nessas instituições e por sua organização para a integração Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 283 de pessoas com deficiência; além de lançar editais com o objetivo de apoiar projetos para a articulação da inclusão educacional. Desses determinantes nasceram projetos acadêmicos que procuraram investir na sua estrutura física e na utilização de equipamentos para tentar diminuir a exclusão dos alunos com deficiência em faculdades públicas, haja vista que, a discussão em torno do ingresso de estudantes com deficiência na universidade ainda é insuficiente, pois não se universalizaram condições de igualdade entre os estudantes com deficiência e aqueles sem deficiência. Parafraseando Brandão (2005) o direito ao ensino superior deve ser aberto a todos os minoritários, independentemente de raça, cor ou classe social. Assim sendo, a universidade pública, pertencente à sociedade, deve recebê-la em sua totalidade como também contribuir para a sua equidade. É de suma importância frisar a responsabilidade social da universidade, porque esta oferece as bases do conhecimento científico em busca de uma melhoria igualitária, e para tanto não deve ficar a par do movimento de inclusão retratado anteriormente. Este paradigma não se refere exclusivamente a adaptações físicas para acomodar estudantes, e sim a uma educação que leve o aluno a outro patamar. Conforme a análise de Shima (2011) o que está em questão não é o mero desenvolvimento de estratégias de ensino, mas a concepção de que a educação tem papel revolucionário na vida das pessoas com ou sem deficiência. Nesse sentido, as pesquisadoras Benevides e Mattos (2009) da Universidade do Estado da Bahia - UNEB, afirmam que a universidade, enquanto instituição formadora apoiada em três eixos: ensino, pesquisa e extensão; não deve estar alheia a este movimento. Torna-se, portanto imprescindível que os grupos de pesquisa e extensão universitários se organizem no sentido de promover uma ampla e contínua reflexão, produzindo instrumentos de esclarecimentos e informando a população sobre as possibilidades de aprendizado das pessoas com deficiências e que auxiliem na construção de políticas sociais de supressão de todas as barreiras físicas, programáticas, atitudinais e de comunicação para que as pessoas que se encontram excluídas possam ter acesso ao mundo educacional, do trabalho e do lazer e assim desenvolver-se pessoal, social, educacional e profissionalmente. (MATTOS e BENEVIDES, 2009, p. 3). Desse intento nasceram alguns núcleos de pesquisas em três universidades públicas baianas, entre eles: o grupo “Educação Inclusiva e Necessidades Educacionais Especiais - GEINE” da Universidade Federal da Bahia - UFBA, que de um modo geral vem analisando e discutindo a implementação das práticas inclusivas no contexto escolar e social; o núcleo “Estudos sobre inclusão e sociedade” da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, que destaca assuntos relacionados ao preconceito, diferenças, diversidade, inclusão escolar e movimentos sociais em defesa dos direitos das pessoas com deficiência; e o grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Especial/GEPEE da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, que também pesquisa no campo das necessidades educativas especiais. Dentro do quadro teórico desses núcleos estão presentes Díaz, Bordas, Galvão e Miranda (2009), Barros (2007), Rabêllo (2004), Santos (2002), Mattos e Benevides (2009); os quais fundamentam-se nas informações sobre a inclusão de estudantes que apresentem algum tipo de deficiência como: deficiência de aprendizagem, auditiva, Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ visual ou física, transtorno global de desenvolvimento (TDG), superdotação/altas habilidades e surdocegueira. Certamente esses núcleos de pesquisa podem contribuir efetivamente para a mobilizção da comunidade acadêmica a respeito da educação inclusiva, mas há muito a se fazer para a efetivação da inclusão do estudante com deficiência no ensino superior. Segundo Ferrari e Sekkel (2007) ainda é pequena a produção de pesquisas e de políticas públicas para a inclusão de sujeitos com deficiência na educação superior. Dados do Inep – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, de 2009, verificou que 20.019 estudantes com deficiência estavam matriculados no IES (gráfico 1), o que representa um avanço significativo no país. De acordo com o pensamento de Miranda (2006) estamos vivenciando “um momento no qual a democratização do acesso e permanência na universidade de grupos socialmente desfavorecidos está obtendo maior espaço”. No entanto a pesquisadora afirma que é necessário que a legislação sobre a acessibilidade dos estudantes com deficiência seja mais respeitada no espaço acadêmico e que este invista na qualificação de professores, recursos tecnológicos e assistência estudantil para assegurar a permanência do aluno com deficiência. 3. A organização e estrutura da escola inclusiva baiana: das práticas pedagógicas a formação de professores inclusivos. 285 De acordo com a história da educação especial brasileira constata-se que o paradigma da inclusão é recente no país. O acesso das pessoas com necessidades educativas especiais à escola regular aconteceu de maneira perceptível apenas na segunda metade do século XX. Somente com a Resolução N° 2/01 – do CNE/CES – Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior – que se determinou que os atendimentos aos estudantes com deficiência devessem “ser realizados em classes comuns do ensino regular” e, em caráter extraordinário e transitório, nas classes especiais. A partir dessa definição ocorreu uma evolução nas matrículas dos estudantes com necessidades educativas especiais. Em 2002, o Censo Educacional registrou um número de 448.601 estudantes com deficiência na escola regular e em classes especiais. Segundo o relatório promovido pelo Banco Mundial e a Secretaria de Educação da cidade do Rio de Janeiro, em 2003, esse número de matrículas representa cerca de 0,8%, dos mais de 50 milhões de alunos da educação básica. No estado da Bahia a educação especial é regulamentada na resolução n° 1.716/87, pelo Conselho Estadual de Educação, e as ações pautadas na Educação Especial do estado são orientadas pelas Diretrizes nacionais da Educação Especial na Educação Básica. Para o desenvolvimento da inclusão dos sujeitos com necessidades educativas especiais o estado conta com o apoio especial de duas instituições: o Centro de Educação Especial da Bahia, que apoia as escolas inclusivas em todas as áreas de deficiência; e o Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual, que ampara estudantes cegos ou com baixa visão. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário Na perspectiva de reformar a educação básica na Bahia, o governo do estado divulgou a cartilha “Princípios e eixos da educação na Bahia (2007)” que visa comunicar o cenário atual da educação no estado. Esta fundamenta-se através de eixos como: o acesso à educação e permanência na escola com dignidade; alfabetização como um direito; gestão democrática, em rede, com efetividade social; garantia do direito à educação profissional; fortalecimento da educação superior pública, gratuita e socialmente referenciada; e reconhecimento dos trabalhadores da educação, como sujeitos de direitos. Para avançar o processo de democratização da escola e torná-la inclusiva não somente a grupos específicos com deficiência, raça ou classe social, mas a todos os minoritários, o estado se apóia no importante papel das universidades frente à formação cultural e social humana. A presença das universidades interfere significativamente na dinâmica local, potencializando a cultura, a economia, a política e ampliando as possibilidades para um desenvolvimento social sustentável. Daí a importância para que essas instituições, com a capilaridade que possuem, sejam reconhecidas como co-autoras na construção e desenvolvimento da educação baiana, à medida que as relações entre educação superior e educação básica se estreitem cada vez mais. (BAHIA, 2007. p, 16) Nesta perspectiva o governo federal tomou medidas de apoio à educação inclusiva em parceria com universidades públicas para valorizar a prática pedagógica e para que esta possa contribuir no desenvolvimento do sujeito com deficiência, como destaque: O programa UAB – Universidade aberta do Brasil, que desde 2006 oferece cursos à distância de nível superior para aqueles com dificuldades de acesso à formação universitária e formação continuada de professores da educação básica e capacitação para gestores; O programa de formação continuada de professores na educação especial, iniciado em 2007, que disponibiliza por meio de instituições públicas o aperfeiçoamento ou a especialização para o atendimento educacional especializado nas salas de recursos multifuncionais e o desenvolvimento de práticas pedagógicas; O Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica/Plataforma Freire, destinado aos professores que atuam em escolas públicas e não possuem formação universitária. O plano oferece cursos superiores públicos gratuitos, cursos de extensão, aperfeiçoamento e especialização por meio de instituições públicas de educação superior, federais e estaduais. As universidades públicas baianas também vêm contribuindo de maneira geral com debates em encontros e conferências a respeito da temática inclusiva e dispõem de ações em favor à pesquisa e extensão à comunidade. Tendo como exemplo o programa da UFBA, NAPE - Núcleo de Apoio à Inclusão do Aluno com Necessidades Educacionais Especiais, que desde 2008 tem como objetivo a implementação de políticas de acessibilidade à educação superior para estudantes com NEE, em parceria com as Secretarias de Educação Especial e de Educação Superior do Ministério da Educação - MEC. Em consonância com o objetivo do NAPE,o ISP – Centro de Estudos Interdisciplinares para o Setor Público (2006) afirma que delinear projetos e políticas Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ públicas dessa natureza para a garantia de uma educação inclusiva e de qualidade em um Estado da complexidade da Bahia não é tarefa fácil e propõe eixos norteadores à educação: planejamento, articulação e fortalecimento que permeiam propostas do governo federal, a fim de assegurar desenvolvimento ao sistema de ensino, promovendo maior equilíbrio à comunidade escolar em todas as suas esferas. 4. Considerações finais No avanço do processo inclusivo a Universidade, enquanto instituição produtora do conhecimento científico, não deve ficar alheia a este movimento, pois esta discute as práticas sociais, formando ideologias e análises dentro dos seus eixos norteadores: pesquisa, ensino e extensão; logo a produção e aplicação do conhecimento estão diretamente associadas à inclusão ou exclusão social. Nesta perspectiva, diversos autores e estudiosos dos núcleos de pesquisas das universidades públicas baianas, defendem o conceito da inclusão educacional e discutem a organização dos movimentos sociais pela luta por direitos das pessoas com deficiência. A crítica da literatura, em prol da inclusão analisa documentos internacionais de valor legal em âmbito nacional, deparando indicadores da presença de politicas públicas, programas e ações do governo federal e estadual para a constituição de uma escola inclusiva, assim como a contribuição das universidades para o avanço do processo inclusivo, já que o percurso do movimento de inclusão se originou historicamente frente à negligência no atendimento às pessoas com deficiência e ao total descaso com a educabilidade desses sujeitos por um longo período. Pode-se constatar que o processo inclusivo vem se ampliando aos poucos no espaço educacional, e assim, justifica-se a importância do papel da pesquisa e da extensão na universidade no tocante à inclusão, uma vez que, através dela se faz possível a promoção cultural e social da comunidade local e sua atuação como suporte na construção de políticas afirmativas para a quebra de barreiras físicas e atitudinais para aqueles que se encontram excluídos. A partir das pautas levantadas foi possível refletir eixos que abrangem o desafio da pesquisa em prol da educação inclusiva e das instituições de ensino na formação pedagógica. Diante das dificuldades enfrentadas pela Educação Especial, as Universidades públicas, em parceria com o governo federal, vêm buscando preencher demandas sociais de inclusão, assegurando a matrícula dos estudantes com deficiência e capacitando profissionais através de programas especiais na esfera nacional para legitimarem o atendimento ao estudante com deficiência em parceria com os municípios brasileiros. Porém as universidades baianas deve dar condições de ir além das discussões em âmbito teórico e permitir a construção real da educação inclusiva no que se discute no plano ideal. Ante o exposto, pode-se afirmar que construir uma educação inclusiva a que os estudantes com deficiência possam ter acesso, fazendo com que permaneçam no Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 287 espaço escolar e que se apropriem dos conteúdos científicos, filosóficos e culturais, para que possam vivenciar experiências cotidianas que os levem a patamar de desenvolvimento pessoal, somente será possível se governo, universidade, escolas, professores e alunos caminharem juntos ao propósito da emancipação humana destes sujeitos. Referências BARROS, Alessandra Santana Soares e. Discursos e significados sobre as pessoas com deficiência nos livros didáticos de português: limites na comunicação de sentidos acerca da diferença. Revista Brasileira de Educação Especial, v. 13, p. 61-76, 2007. BARROS, Alessandra. Alunos com deficiência nas escolas regulares: limites de um discurso.Saudesoc. , São Paulo, v. 14, n. 3, 2005 . Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010412902005000300008& lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 08 Set 2008. doi: 10.1590/S0104-1290200500030000 BRASIL. CNE/CEB. Resolução nº 2/2001, que institui as Diretrizes Nacionais para a diversidade na sala de aula. Paris, 2004 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1988. BRASIL. Coordenadoria Nacional pra Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Brasília: Secretaria de Especial dos Direitos Humanos, 2008. BRASIL. MEC/SEF/SEESP. Parâmetros curriculares nacionais. Adaptações curriculares. Estratégias para a educação de alunos com necessidades educacionais especiais. Brasília, 1998. BRASIL. Ministério da Educação. Portaria n. 3.284, de 7 de novembro de 2003. ______. Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Acessibilidade. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2005. ______. Diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. Brasília, 2001. ______. Secretaria de Educação Especial. Direito à Educação: subsídios para a gestão dos <http://www.publicacoes.inep.gov.br/detalhes.asp?pub=4281# >. Acesso em: 22 out.2007. Capítulo de livro "Acessibilidade Tecnológica". In: DÍAZ, F.; BORDAS, M.; GALVÃO, N.; MIRANDA, T. (Orgs.). Educação inclusiva, deficiência e contexto social: questões contemporâneas. Salvador: EDUFBA - Editora da Universidade Federal da Bahia, p. 191-202, 2009 Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Câmara de Educação Básica. Resolução CNE/CEB 2/2001. Diário Oficial da União, Brasília, 14 de Setembro de 2001. Seção 1E, p. 39-40. DECLARAÇÃO DE SALAMANCA. Declaração Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais: Acesso e qualidade. Trad. Edílson Alkmim da Cunha.2.ed. Brasília: CORDE, 1994. DECLARAÇÃO JONTIEM. Declaração mundial sobre educação para todos: satisfação das necessidades básicas de aprendizagem. Conferência Mundial sobre Educação para Todos. Jontiem, Tailândia. 05 mar.1990. Peru: UNESCO,2001. DINIZ, Denise. O que é deficiência. São Paulo: Brasiliense, 2007. FARIAS, I. R.; SANTOS, A. F.; SILVA, Erica Bastos da.Reflexões sobre a inclusão linguística no contexto escolar. 2007. Apresentação de Trabalho/Congresso). Referencias adicionais: Brasil/Português; Local: Centro de Convenções; Cidade: Salvador; Evento: Congresso Baiano de Educação Inclusiva: a deficiência como Produção Social; Inst. Promotora/financiadora: UEFS, UNEB, UFBA, UESC, UFRB. FÁVERO, A.G. Eugênia. Direitos das Pessoas com Deficiência: garantia de igualdade na diversidade. Rio de Janeiro: WVA, 2004. 289 FERRARI, Marian A.L. Dias; SEKKEL, Marie Claire. Educação Inclusiva no Ensino Superior: Um novo desafio. Psicologia ciência e profissão, v. 27, n. 4, p. 636-647, 2007.fundamentacaofilosofica.pdf>. Acesso em: 15 out. 2009. INEP. Censo da Educação Superior: sinopse estatística 2005. LUCKESI, Cipriano Carlos. Educação, ludicidade e prevenção das neuroses futuras: uma proposta pedagógica a partir da Biossíntese. In: LUCKESI, Cipriano Carlos (org) Ludopedagogia – Ensaios 1: Educação e ludicidade. Salvador: Gepel, 2000. MAZZOTTA, M. J. S. Educação especial no Brasil: história e políticas públicas. São Paulo: Cortez, 1996. MENDES, Enicéia Gonçalves. A radicalização do debate sobre inclusão escolar no Brasil. In: Revista Brasileira de Educação. v. 11 n. 33 , p. 387- 405, 2006. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. In: Revista Inclusão. V.4, n. 1, janeiro/junho, 2008. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário _______.Secretária de Educação Especial. Documento subsidiário a política de inclusão. Brasília: 2005 MIRANDA, T. G. A Educação Especial no Marco do Currículo Escolar. UFBA, Faculdade de Educação. Salvador, 2000. MIRANDA, Theresinha Guimarães. A educação especial no marco do currículo escolar. Disponível em:< http://www.faced.ufba.br/~nepec/noesis1/theres.htm>. Acesso em:1 Abril 2012. NAUJORKS, Inês M. Pesquisa em Educação Especial: o desafio da qualificação. Bauru: EDUSC, 2001. SANCHES, P. A. A educação inclusiva: um meio de construir escolas para todos no século XXI. Revista da Educação Especial, 2005. SANTOS, Jaciete Barbosa dos. A “dialética da inclusão exclusão” na história da educação de alunos com deficiência. Revista da FAEEBA – Revista do Departamento de Educação da UNEB. Salvador, n.17, p270044, jan/jun 2002. SANTOS, Marilda Carneiro. Educação Inclusiva em Foco. Feira de Santana: UEFS, 2006. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ A DOCÊNCIA E O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS EM SALA DE AULA- ENSINO FUNDAMENTAL Eliabe Batista de Souza Maria Geane Pereira da Silva RESUMO: O presente trabalho procura mostrar de forma sucinta como estão sendo utilizadas as novas tecnologias na escola, suas contribuições bem como a práxis pedagógica do docente diante destes aparatos tecnológicos disponíveis nas escolas. O uso das novas tecnologias nas instituições escolares tem sido mais uma ferramenta auxiliar do processo de ensino aprendizagem, por isso, a falta de informação e a forma indevida de usá-la não têm contribuído para uma prática da sala de aula mais dinâmica e motivadora. Apesar dos avanços ocorridos com o advento das novas tecnologias, observa-se que ainda as práticas na sala de aula continuam as mesmas. PALAVRAS-CHAVES: Novas tecnologias. Práxis pedagógica. Formação. 1-Introdução O uso das novas tecnologias no espaço escolar é sem dúvida um avanço considerável para a educação, visto que com a globalização e os avanços ocorrido nas áreas tecnológicas, e humanas, acredita-se que, a escola não poderia ficar longe desta inserção. Antes que as novas tecnologias invadissem todos os espaços da sociedade, o professor usava dos recursos que lhe dispunha no caso o quadro negro, posteriormente o branco, livros, enfim, eram esses os recursos de maior utilização pelo professor para “transmitir” o conhecimento, e que também eram considerados como tecnologia. Com o passar dos tempos ocorreram diversas mudanças na escola e na sociedade como um todo, a forma de pensar dos alunos e dos professores, se antes os mesmos transmitiam conhecimento, hoje, o professor media. Supõe-se que os alunos são os construtores do seu conhecimento e o professor está ali somente para orientar e produzir conhecimento junto com eles, em parte isso é verdade. Uma vez que as estruturas familiares tem mudado muito nos últimos tempos, e os alunos de séculos,décadas atrás não são mais os mesmos, tudo mudou. É notório que as escolas hoje estão equipadas com o que podemos chamar de novas tecnologias da comunicação e informação (TICs), podendo destacar projetos como o ProInfo( Programa Nacional de Informática na Educação), o PROUCA (Programa Um Computador por Aluno) entre outros. O objetivo desses programas são promover o uso pedagógico da informática na escola contribuindo para o ensino e aprendizagem dos educandos. Apesar da inserção das novas tecnologias no espaço educacional percebe-se a falta de direcionamento por parte do professor para a utilização dos meios de comunicação, o que pode influenciar negativamente na aprendizagem da criança e do adolescente. Pretto (2005) relata a existência de duas possibilidades de se utilizar as tecnologias na educação: primeira como instrumentalidade e a segunda como fundamento. Primeira utilização como instrumentalidade é colocá-las como recursos 291 Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário didáticos, servindo para ‘animar a aula,’ ‘motivar’ o aluno ou prender a atenção dos educandos. Com isso a educação continua a mesma, diferindo apenas com o uso dos novos avanços e recursos tecnológicos. Percebe-se que o futuro está nos equipamentos e não na escola. Ainda assim é notório que mesmo com todo um aparato tecnológico que dispõem algumas escolas, e este sendo como mais uma possibilidade de suporte metodológico, as práticas educativas continuam praticamente as mesmas. No caso do educando, a falta de direcionamento das atividades educativas contribuem para levar o aluno a acessar paginas da internet que não contribuem muito na educação formal deste indivíduo. De acordo com (DIAS In NELSON PRETTO, 2005, p.182), Um primeiro aspecto diz respeito ao fato de que a simples navegação, num universo de informação em rede, não se traduz numa aprendizagem efetiva, sendo necessário da parte do aprendente um envolvimento nas atividades e tarefas em curso; em outras palavras, supõe uma atitude de abertura à participação ativa na identificação e definição dos objetivos da aprendizagem, tarefa que se reveste do maior relevo, se pensarmos que se trata de um processo realizado em grande parte no ambiente on-line, sob um regime centrado ou orientado para a autonomia do aluno. . Observa-se que os mesmos são atraídos pelas redes sociais e jogos que na maioria das vezes não contribuem com o seu aprendizado. Outro ponto de extrema relevância é sobre a utilização dos recursos tecnológicos no que diz respeito ao professor. Que recurso tecnológico o professor dispõem para dar aula ou planejar as mesmas? Será que um computador de mesa para toda uma equipe de professores é suficiente? A aprendizagem do aluno tem sido satisfatória com a inserção das TIC’s na escola? E o professor está preparado? Diante destes questionamentos compete também afirmar que não são todas as escolas que dispõem de todo um aparato tecnológico, ainda existem escolas do nosso Brasil, onde as tecnologias ainda não se fazem presentes. Contudo, procura-se mostrar como está sendo utilizado essas novas tecnologias em sala de aula e na escola as quais possuem esses equipamentos e suas possíveis contribuições para o desenvolvimento do educando no ensino fundamental. 1.2A formação e a práxis pedagógica do professor na era digital. A discussão do uso das TICs – Tecnologias da Informação e Comunicação – na Educação tem evoluído bastante em âmbito nacional, possibilitando que os profissionais desta, busquem compreender como se dá a inserção das mesmas no trabalho educacional, bem como, sua relevância para o desenvolvimento de uma educação com mais eficiência e significado para a vida dos discentes, pois eles estão inseridos num mundo globalizado, no qual seu contato é constante com as tecnologias que lhes rodeiam. No entanto, a discussão não ultrapassa de forma efetiva o campo da teoria, pois a maioria dos docentes se questionados sobre o uso e benefícios das novas tecnologias na educação concordam que são de grande relevância, porém, poucos fazem uso delas em seu trabalho. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Alguns profissionais da educação ainda se encontram “perdidos” em relação à compreensão de que trabalhar com os estudantes utilizando as novas tecnologias é acima de tudo compreender que o trabalho precisa ter uma perspectiva de construção de conhecimento e não apenas do simples acesso à informação, pois os conceitos informação e conhecimento se imbricam, mas tem significados diferentes, ou seja, como afirma Bonilla (2005) o conhecimento é a atribuição de significado à informação e acrescenta que Esse processo não acontece individualmente, produz-se na relação do sujeito com o mundo, relação mediada pela linguagem, portanto na interação entre os sujeitos. Em vista disso, o conhecimento nunca está pronto, é sempre provisório, necessitando de constantes argumentações para que possa ser validado... (BONILLA, 2005, p. 19). Assim, se torna mais que necessário repensar o tipo de educação que se configura nas instituições escolares se estas representadas por seus profissionais ministram uma educação que valoriza o conhecimento, ou prioriza apenas o acúmulo de informação por parte dos educandos, desvalorizando tanto a informação, quanto o conhecimento que eles têm da tecnologia. Este artigo foi produzido a partir das inquietações que nos causaram a observação da quantidade de recursos tecnológicos que se encontram atualmente nas escolas, principalmente nas públicas, mas infelizmente a não observância de um trabalho eficaz em prol da aprendizagem dos alunos. Portanto, tem a nítida intenção de discutir o porquê, o para que e o como se pensar e praticar os processos de ensino e aprendizagem com o uso das TICs no âmbito escolar, bem como, a relevância que é dada as tecnologias na escola, pois uma tecnologia em educação não é apenas ter todo um aparato tecnológico, mas acima de tudo, fazer bom uso dos recursos no desenvolvimento educacional dos estudantes. No entanto, não é o que acontece nas instituições escolares, mesmo com tantas ferramentas tecnológicas disponíveis e, até mesmo, tendo quase todas as escolas recebido maquinário tecnológico através do PROINFO – Programa de Informatização Escolar. Mas, também, o uso ou não das TICs está atrelado a alguns fatores internos e externos à escola. Dois fatores contribuem para o não avanço do uso das TICs na sala de aula: 1 – formalização de estudos continuados nas Propostas Pedagógicas dos Municípios; 2 – reformulação dos Projetos Pedagógicos das Instituições Escolares. Em relação ao primeiro, falta uma maior sensibilização das equipes técnicas para observar que a desinformação da maior parte dos profissionais da educação não possibilita que novos horizontes sejam alcançados a partir do trabalho com as TICs e, tentar articular um plano de trabalho que dê conta de fazer formação para estes, buscando com isso, melhorar a qualidade da prática educativa, pois todo o ser humano é suscetível à mudança, mas necessita de ser despertado o desejo, como também a consciência da necessidade dela como meio de melhoria do trabalho docente. “Não é disponibilizado aos professores tempo para estudar, discutir, analisar as potencialidades do uso das tecnologias na educação” (BONILLA, 2005, p. 99). Por isso, é necessário com a maior 293 Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário urgência que se a formação não for oferecida, esta precisa ser buscada ao menos pelo próprio professor em seu estudo pessoal. Por outro lado, se tivesse engajamento na realização de uma revisão periódica do PPE da Instituição Escolar, reformulando-o para que ele atendesse a demanda de estudos periódicos, incluindo como um dos temas as Novas Tecnologias, manuseio e benefícios para a Educação, provavelmente abriria um leque de possibilidades em relação não somente à discussão de como usar as TICs, mas também, de como produzir conhecimento a partir delas e, a educação formal daria um salto em qualidade, pois não basta apenas o oferecimento desta, mas principalmente, a qualidade com a qual ela é oferecida, sendo esta a mola mestra para uma transformação significativa no ato de aprender porque é a qualidade quem faz toda a diferença no desejo de aprender do discente. Discutir as TICs é um mister educacional da qual não se pode fugir o foco de uma questão que é latente na atualidade: o uso das TICs nas salas de aula, realmente estão contribuindo para a aprendizagem das crianças, jovens e adultos? Há quem diga estar fazendo um trabalho que considere o uso das TICs. Mas em que medida é possível de fato conferir a uma prática educativa a verdadeira utilização destas? Poucos são os docentes que incluem em seu planejamento de curso as TICs como ferramenta de trabalho com o argumento de que a maioria dos discentes das escolas públicas não tem acesso a computadores, não possuem renda suficiente para freqüentarem lan-houses. Estes argumentos são uma forma de eles justificarem o não uso, por medo de não acompanharem o ritmo em que os discentes já se encontram, pois eles têm sim não somente acesso como manipula muito bem e até são produtores de conhecimento. A ideia de que não é possível trabalhar com os discentes utilizando as TICs como base de trabalho deve-se também ao fato de que como afirmam Moran, Masetto & Behrens (2000, p. 133 e 134)). Em educação escolar, por muito tempo... não se valorizou adequadamente o uso de tecnologia visando a tornar o processo de ensino-aprendizagem mais eficiente e mais eficaz.... a convicção de que o papel da escola em todos os níveis é o de “educar” seus alunos – entendendo por “educação” transmitir um conjunto organizado e sistematizado de conhecimentos de diversas áreas, desde a alfabetização, passando por matemática, língua portuguesa, ciências, história, geografia, física, biologia e outras, até aqueles conhecimentos próprios de uma formação profissional nos cursos de graduação de uma faculdade... Na verdade, o não uso das TICs por parte do maior número de docentes está no fato de que planejar o trabalho com o uso delas dá muito mais trabalho que, simplesmente copiar atividades prontas que se encontram nos livros didáticos não saindo de sua zona de conforto, não ultrapassam os limites do que está posto nos planos de curso dos anos séries do Ensino Fundamental e, não avançam na construção de novos conhecimentos. É uma questão de repensar a prática educacional ministrada, considerando o que defendem (FAGUNDES, SÁ & TOURINHO, 2003, p. 04), ...a práxis pedagógica que se desenvolve na escola hoje, pode se constituir num “buraco negro”, onde venham a acontecer processos insuspeitados pelos sujeitos da educação. Além do mais, nesse mundo de incertezas, Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ poderia haver espaço para diferentes manifestações pedagógicas, desde a manutenção de propostas mais tradicionais como o desenvolvimento de propostas que contemplem uma nova práxis pedagógica, pautada na criatividade, na diversidade. Pensando por este veio, é necessário que a prática do educador da atualidade seja pautada na reflexão constante dos processos de ensinar e de aprender, compreendendo uma visão mais aberta de como se dão o ensino e a aprendizagem com base no uso das TICs, possibilitando abertura de espaço para o que defende Anastasiou (2005) em relação ao “ensinar, aprender, apreender e processos de ensinagem”, os quais são processos distintos, mas que se imbricam havendo por parte daquele que ensina compreensão da amplitude do ato de ensinar e de aprender. Segundo Silva (2011, p. 03) ... a práxis pedagógica que considere o sujeito em sua totalidade possibilita a produção de novos conhecimentos, (re)criados a partir das potencialidades dos sujeitos que ensina e que aprende e não conhecimentos engessados a partir de práticas desvinculadas da necessidade eminente de conhecimentos relevantes. Assim, levando em consideração que atualmente, mesmo as Escolas Públicas contam com uma gama de aparelhos tecnológicos como retroprojetores, datas-show, copiadoras, notebooks, entre outros, os quais permitem que qualquer docente possa fazer um bom trabalho com base nas novas tecnologias, bem como, orientar os discentes a usarem essas em suas atividades escolares, pois para eles há disponível em praticamente todas as escolas computadores com acesso a rede mundial de computadores através do PROINFO – Programa de Informatização Escolar – e, com direito a instrutor, possibilita que emirjam novas aprendizagens no espaço escolar, os quais podem extrapolar os muros das instituições escolares e possibilitar que os discentes e também os docentes alcem vôos cada vez mais altos, trabalho esse que não apenas enaltece o professor e o aluno, mas alcança outros sujeitos – família, vizinhos, amigos que indiretamente fazem parte dos processos de ensino e aprendizagem, ou seja, estão presentes na vida do estudante. De acordo com (OLIVEIRA & VIANA, 2010, p.34): 295 Para que não ocorra a banalidade de se utilizar o computador simplesmente como mais um “modismo tecnicista”, como sinônimo de uma prática inovadora e para que o docente não continue com uma prática antiga, mas com uma roupagem nova. É necessária uma sólida formação na qual a compreensão do computador no processo de ensino e aprendizagem passe primeiro por um debate com a sociedade (principalmente com a comunidade escolar) sobre a utilização do computador e suas possíveis vantagens e desvantagens. Isso é importante até para que o computador não seja utilizado a fim de propiciar uma Educação técnica de “preparação do aluno para o trabalho”, mas que a utilização deste meio possa servir para formar o homem integrado, o cidadão. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário Portanto, a prática educacional que considera as novas tecnologias em seu currículo requer um novo olhar do profissional abrangendo para além do uso da máquina (computador) como simples ferramenta de sua prática pedagógica para uma práxis que provoque a reflexão-ação no ensino e na aprendizagem, sendo as TICs um dos melhores instrumentos de produção de novos conhecimentos, tanto para o ensinante, quanto para o aprendente e, a possibilidade de eles ganharem espaço até nacionalmente com divulgação da prática educativa de qualidade que esteja sendo praticadas por ambas as partes. Conclusão O uso das novas tecnologias pode se considerar um avanço para a educação, pois permite que educandos e educadores estejam inseridos no universo das informações, as quais acontecem com a maior rapidez que se possa imaginar, é um mundo globalizado, e que de maneira alguma esses recursos tecnológicos não poderiam estar fora deste contexto. Por outro lado, o que se procura mostrar neste trabalho, é que apesar de todo um avanço tecnológico, educando e educadores tendo acesso com mais facilidade, percebe-se que o ensino pouco mudou e as práticas da sala de aula continuam praticamente as mesmas. Uma tentativa de se usar o computador como instrumento de consolidação da prática pedagógica tradicional é semelhante à inserção dos recursos audiovisuais na escola. Os computadores são incorporados como mais um meio disponível. Não existe uma reflexão sobre a possibilidade de contribuir de modo significativo para a aprendizagem e novas formas de pensar. Isto pode estar acontecendo pelo fato de que construímos uma concepção sobre informática na educação, a qual prover uma ampla e abrangente abordagem sobre aprendizagem, filosofia do conhecimento, domínio da tecnologia computacional e prática pedagógica, que não só abandona a ideia de blocos de construção justapostos, como não trata de entidade fundamental alguma-nenhuma constante, lei ou equação fundamental. Ao analisar as possibilidades de introdução de recursos computacionais nas práticas educacionais objetiva-se transformar o processo ensino/aprendizagem, não se tendo como referência nenhum quadro teórico e anteriormente estruturado. É preciso delinear uma base de conceitos que represente um movimento de integração entre diferentes teorias e que possa conduzir a compreensão do fenômeno educativo em sua unidade e concretude. Por isso, é preciso que o uso das novas tecnologias da comunicação e informação (TIC’s) estejam aliados ao processo de construção e produção de conhecimentos de forma consistentes, direcionadas, planejadas, alicerçadas no modelo de educação que contribua para a construção de um sujeito, ativo, participativo, e acima de tudo livre para buscar e produzir o seu conhecimento com autonomia e segurança. Referências ANASTASIOU, Lea das Graças Camargos; ALVES, Leonir Pressate (Orgs.). Processos de Ensinagem na Universidade: pressupostos para as estratégias de trabalho em aula. 5. ed. Joinville, SC: UNIVILLE, 2005. p.12-19. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ BRASIL. Proinfo: Informática e formação de professores/ Secretaria de Educação a Distancia. Brasília: Ministério da Educação, SEED, 2000. BEHRENS, Marilda Aparecida; MASETTO, Marcos T.; MORAN, José Manuel. Novas tecnologias e mediação pedagógica. São Paulo: Papirus, 2000. – (Coleção Papirus Educação BONILLA, Maria Helena Silveira. Escola aprendente: para além da sociedade da informação. Rio de Janeiro: Quartet, 2005. FAGUNDES, Norma Carapiá; SÁ Maria Roseli Gomes Brito de; TOURINHO Maria Antonieta de Campos. As crises do conhecimento cientifico e a práxis pedagógica. (disponível em http://www.faced.ufba.br/~nepec/noesis1/crises.htm) GOMEZ, Margarida Victoria. Educação em rede: uma visão emancipadora- São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2004. -(Guia da escola cidadã; v.11). OLIVEIRA, Uéssia Mendes de; VIANA, El Pablo Filadélfio. Um olhar sobre a formação docente: A prática do professor e inclusão digital. Trabalho de conclusão de curso Universidade do Estado da Bahia- DCHT/Campus XVI. 2010. PRETTO, Nelson de Luca, [org.] Tecnologia e novas educações-Salvador EDUFBA, 2005. SILVA, Maria Geane Pereira da. O ENSINO SUPERIOR COMO CONTRIBUINTE DA PRÁXIS PEDAGÓGICA E SEUS FATORES INTERNOS E EXTERNOS. Artigo produzido como requisito para aprovação na disciplina – Didática e Metodologia do Ensino Superior. Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional. UESSBA – Unidade de Ensino Superior do Sertão da Bahia. Irecê – BA, 2011. 297 Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário A CULTURA HUMANA DA COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO NO AMBIENTE DAS TECNOLOGIAS E DA INFORMATIZAÇÃO Élis Franciélis Barbosa Paiva (Faculdade Montenegro-Bahia) RESUMO: Fruto de leituras, interpretações e discussões, ou seja, reflexões teóricas acerca das novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) presentes no ambiente educacional contemporâneo e nas relações sociais, este trabalho objetiva expor apreensões e apropriações acerca do uso das tecnologias entremeadas pelo uso da internet no dia-a-dia das pessoas. Discorre sobre a construção de coletivos que produzem inteligências recíprocas por meio do espaço virtual de interação social do saber. Aborda a questão da informatização como uma realidade ao ser humano e a transformação das necessidades diversas do sujeito do conhecimento através da cultura da informação e comunicação. PALAVRAS-CHAVES: Tecnologias. Educação. Informação. Comunicação. Conhecimento. 1.0 Introdução Vivemos em um contexto social, cultural e econômico onde a informação e a comunicação são no mínimo necessárias nas relações e atividades desenvolvidas pelo homem e pela mulher. Os enormes fluxos de conhecimentos presentes nas atividades humana se dão por meio de mecanismos diversos que o homem e a mulher construíram ao longo de sua história. Mecanismos que por sua vez, mobilizam grande variedade de competências a partir de inovações e ressignificações. Tais competências, seguindo o fluxo natural da ação humana, desenvolvem, inclusive, novos mecanismos de comunicação e novas capacidades de interação e desenvolvimento social e econômico. Como consequência, são estabelecidos novos paradigmas culturais relacionados à comunicação e interação humana nos diversos âmbitos da vida. A discussão acerca das novas tecnologias de informação e comunicação se tornou corriqueira nos meandros educacionais que sempre teve grande influência das tecnologias. O presente trabalho, por exemplo, nasceu de reflexões teóricas acerca das tecnologias e sua influencia nas relações sociais, na cultura e na educação. O uso da informática se insere na construção do conhecimento como fator determinante e possibilitador de novas atitudes e inovações. Convivemos atualmente com ambientes virtuais de informação e comunicação decisivos perante as exigências de resoluções de situações problemas em um tempo cada vez mais curto. O tempo virou objeto precioso para o novo homem e a nova mulher da contemporaneidade. A capacidade mínima para navegar no ciberespaço se adquirirá provavelmente em tempo muito menor que o necessário para aprender a ler e, como a alfabetização, será associada a muitos outros benefícios sociais, econômicos e culturais além do acesso à cidadania (LÈVY, 2007, p.63). Nesse contexto, as crianças já nascem inseridas no ambiente virtual, regido pela tecnologia da digitalização e informatização. São “assistidas” mesmo dentro do Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ útero materno por meio da tecnologia da ultra-sonografia que tem aperfeiçoado a cada dia. Durante toda a vida somos apresentados às inovações e nos aliamos a essas novidades atendendo às exigências sejam elas de caráter social, econômico e/ou cultural. E assim, ao longo das nossas atividades e experiências nos adaptamos as mudanças e inovações com tamanha facilidade que nos tornamos cooparticipadores das transformações. Colaboramos com a torrencial evolução do uso da informação e da interatividade por meio das novas tecnologias da informação e comunicação. Tornamos colaboradores de uma cultura informacional no ambiente virtual da internet. Mesmo quem não nasceu no contato direto com as tecnologias de informação e comunicação, ou seja, em ambientes cuja presença tecnológica não se fez com tamanha influência, tomou para si o universo permeado pelas as mesmas. Foi inevitável sua inserção nos novos ambientes devido, inclusive, uma necessidade sociocultural baseada no sentido de pertencimento a um grupo social e a necessidade de desenvolvimento e inovação que é latente ao ser humano. Somos regidos e regentes de um sistema tecnológico de informação e comunicação que por ser tão necessário tornou-se intrínseco às nossas atividades, desde as mais simples como utilizar um telefone para nos comunicar a longa distância, até as mais complexas, como por exemplo, criar ambientes de compartilhamento de conhecimentos acessíveis a todos por meio de vias virtuais (videoconferências, blogs, chats, sites, etc.) Os meios da informação são diversos. 299 Para Moore, 2007 apud Gomes et al, 2011, p. 23: Atualmente, a literatura sobre a educação a distância é farta em modelos e tecnologias que são utilizadas como meio pra a realização desta modalidade de ensino tanto por instituições formais de ensino como por empresas, algumas delas: Telepresencial, Redes Sociais, Webcast, Blog, Wiki, Podcast, Videoconferência e Mundo Virtual. Essa evolução tecnológica constitui-se em evolução humana sob a ordem veloz das necessidades do homem e da mulher. A utilização de ferramentas e tecnologias para a informação e comunicação mudou e muda, no mesmo passo das invenções da mente humana, a vida do ser humano como um todo. Todas essas evoluções, mudanças e aperfeiçoamentos tecnológicos são oriundos do advento da informática que transformou a humanidade sob diversos aspectos e, nos leva a vislumbrar outras, em curto e em longo prazo, pois tão quão diversas se fará as necessidades dos sujeitos do conhecimento. Para Lévy (2007, p.14) “mesmo que não nos movêssemos, o mundo mudaria à nossa volta... se o mundo mudar a nossa volta, então nós nos movemos”. Ou seja, a mudança é inevitável. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 2.0 Informação, Comunicação e Educação: uma relação necessária As tecnologias estão cada vez mais presentes na educação. Na atualidade o uso de ferramentas tecnológicas tornou-se um instrumento a mais a serviço do professor e da escola para o desenvolvimento do aprendizado dos alunos. O ensino não está mais centrado nas aulas entre quatro paredes com um professor e um grupo de alunos. O ensino a distância tem ganhado força, apesar das críticas que existem a respeito da ineficácia dessa metodologia. Hoje um professor dar aulas para diversos alunos em diferentes localidades através de sistemas de conexão on-line. O conhecimento está à distância de um clique. Docentes e discentes utilizam da informática, dos ambientes virtuais e das tecnologias para a transposição didática, para reduzirem distâncias e aumentar o fluir do conhecimento entre ambos. Os meios são vários desde o e-mail, que revolucionou a prática da correspondência, aos mais modernos sistemas de videoconferência em tempo real para uma grande quantidade de pessoas em diversos espaços (telepresencial). O espaço físico-geográfico foi suprimido pela nova configuração espaço-tempo. Configuração estabelecida entre fios, cabos wireless e satélites. Para Matos et al (2010, p. 47) “hoje o tempo e espaço ganham outra dimensão, ampliam-se os conceitos e possibilidades e o homem adquire liberdade para administrá-los conforme suas necessidades”. A distância geográfica já não representa um entrave na construção do conhecimento, pelo contrário, possibilita relações diversas. Quem é o outro é alguém que sabe. E quem sabe as coisas que eu não sei. O outro não é mais um ser assustador, ameaçador: como eu, ele ignora bastante e domina alguns conhecimentos. Mas como nossas zonas de inexperiência não se justapõem ele representa uma fonte possível de enriquecimentos de meus próprios saberes. Ele pode aumentar meu potencial de ser (LÉVY, 2007, p.27). A informática permite conexão com o mundo. Para a comunicação não existem mais barreiras, nem tão pouco para o conhecimento, que é o que nos move incessantemente. Nesse frenesi atuamos melhor quando juntos do que separados, pois o conhecimento de um constrói o saber do outro onde o diálogo é a fonte da aprendizagem mútua e ninguém jamais saberá de tudo, uma vez que o saber é dinâmico e subjetivo. Nos ambientes virtuais, quanto mais numerosos são os participantes, ou seja, a coletividade aos quais se une/conecte um indivíduo, mais oportunidades o têm de diversificar seus saberes e fomentar uma inteligência que pertença ao coletivo. Assim, é possível “reinventar o laço social em torno do aprendizado recíproco” (LÉVY, 2007, p. 26). A tecnologia está a serviço da educação na prática do docente e do discente e nas relações estabelecidas entre esses dois construtores da ação educativa. A era digital inaugurou para eles possibilidades diversas de fazer de suas atividades elos com todo o mundo. As ferramentas tecnológicas para a prática docente permitem uma interação maior com o aluno e proporcionam ao professor possibilidades de fazer uma educação contextualizada com a realidade. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Os equipamentos de multimídia fornecem ao professor facilidades na mediação do conhecimento, pois tais aparelhos favorecem uma conexão de som, imagem, escrita e leitura e que integrados à internet possibilitam uma variedade de conhecimentos úteis, construção de novos posicionamentos a respeito de variados assuntos e a interação/contato com outras pessoas distanciadas pelo território geográfico. No espaço da internet há uma nova configuração espacial-temporal e o tratamento da informação é em tempo real. Essa transposição de fronteiras proporcionada pela internet cria possibilidades das pessoas manterem contato umas com as outras conforme suas necessidades, diminuindo as distâncias que impediam a comunicação. Segundo Lévy (2007, p. 14) as distâncias geográfica/territorial já não é um motivo para a não interação social, pois, “mexer-se não é mais deslocar-se de um ponto a outro da superfície terrestre”. A conexão generalizada materializa-se nas relações entre as pessoas, configurando novas formas de sociabilidade. Assim sendo, e como afirma Lévy (2011, p.19): A internet tem aumentado consideravelmente nossos processos cognitivos individuais e coletivos, através do acesso a uma riqueza de dados multimídia em tempo real, multiplicando dessa forma nossa percepção e nossa memória. A importância da internet, da informática e da educação permeada pelas tecnologias é indiscutível em nossa realidade sócio-educacional e cultural. Apesar dessa discussão fugir do objetivo principal do trabalho proposto, cabe ressaltar que muitas pessoas acreditam que apesar da utilidade e dinamicidade na construção e facilitação do acesso ao conhecimento (fomentado pelas novas tecnologias e os meios de interação mediados pela virtualização), nada substitui o contato humano. Acreditam na internet e todas as suas possibilidades à educação principalmente ao permitir o conhecimento partilhado entre diversas pessoas, mas defendem que a relação humana é insubstituível em qualquer circunstância educativa, principalmente na educação formal. 301 Vale destacar que as práticas contemporâneas de informação e comunicação não anularam as práticas tradicionais, mas sim, as reconfiguraram. Dessa forma, as atuais práticas são consequências de outras muitas vezes consideradas como antigas e defasadas. Isso significa dizer que pertencem ao mesmo objetivo prático. As conferências simultâneas, as salas de bate papos, os ambientes virtuais de aprendizagem, os e-mails, as mensagens instantâneas, dentre outras possibilidades, se tornaram importantes nas resoluções de problemas e adoção de medidas, desde as relações pessoais, passando pela vida social até a vida profissional. Com o surgimento da multimídia a forma de agir do homem/mulher foi se alterando. Através da informação, da comunicação e interação social chegou ao que temos hoje: uma cultura da informação e comunicação circunscrita no ambiente da informática e da tecnologia regida pela linguagem intelectual. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 2.1 O Acesso as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e a Exclusão Digital Apesar de podermos contar com os grandes benefícios da internet e os sistemas de informação e comunicação modernos, essa possibilidade de acesso ainda representa uma apartheid entre os conectados e os não conectados, ou melhor, entre os que podem e os que não podem se conectar ao mundo virtual da internet e outras tecnologias. Isso porque o acesso não uniformizado, assim como tantas outras necessidades, inclusive a educação, fomenta uma separação que está vinculada às questões sociais, econômicas, culturais e políticas. O acesso às novas TIC está em grande parte relacionado com a desigualdade social baseada no acesso a poucos e na ilusão do acesso a muitos. A sociedade imediatista, apesar de criar mecanismos que possibilitam a comunicação eficaz e indispensável para nossas necessidades, faz separações excludentes. A exclusão digital não é um fato isolado no Brasil, uma vez que há tantas outras exclusões que repercutem e são repercutidas no acesso as novas Tecnologias de Informação e Comunicação. Para compreender nossa época precisamos discutir acerca dessas novas tecnologias e do acesso às mesmas, pois interferem nas novas formas de relações sociais. O acesso garantido a todos aos novos mecanismos de comunicação social é essencial para a apropriação social das novas TIC, posto que, todo conhecimento, como assegura Boneti et al (2010, p. 17), “é uma construção social”. Pondera ainda que “não é possível produzir experiências, saberes e conhecimentos na individualidade, isso se dá num contexto de relações sociais, no contexto da construção material e social da vida” (2010, p. 17). Portanto, é justo que o conhecimento que é produzido no social, sirva ao social. Para Barreto (2010, p. 39) a TIC surgiu “como elemento potencializador da compreensão de que a cidadania deve ser exercida por meio da participação efetiva de todos os segmentos sociais conforme contemplado na Constituição Federal de 1988”. A partir dos objetivos diversos e das necessidades de cada pessoa, constituiu-se mundos virtuais para a troca, socialização e produção de conhecimento. A cibercultura é um bom exemplo de espaço contemporâneo para a construção de uma imensa, como diria Lévy (2007, p. 12), “enciclopédia viva”. Tal definição faz jus ao movimento de como as mudanças ocorrem na cibercultura, pois nessa cultura regida pelas tecnologias digitais, cada construção está sujeita a mudanças a qualquer momento, uma vez que os sujeitos que a constrói tem total liberdade de disseminar o conhecimento acerca de variados temas e assuntos em um movimento de opiniões de forma ativa e mutante. Esse espaço pressupõe a construção do conhecimento que é social. No entanto, a realidade educacional ainda é muito aquém desse ideal. Sabe-se ainda quão é ideológico, político e economicamente distante o acesso e a participação da ampla maioria da sociedade aos meios e recursos tecnológicos e educacionais – escola com computadores ligados a internet, centro de formação política e social. Estes, por sua vez, levariam a sociedade Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ brasileira alijada dos processos tecnológicos e informacionais ora elementares, a terem condições de fazer o enfrentamento das desigualdades sociais, políticas e econômicas ao mesmo tempo em que fariam à sua maneira, a transformação de suas realidades por meio da solidificação de redes sociais sustentadas no pluralismo e dinâmica de suas comunidades. (BARRETO, 2010, p. 40). O mundo mudou e continua a mudança, apesar dos grandes avanços que tardia em efetuar, seguindo o ritmo das transformações ininterruptas e aceleradas da técnica, e por que não dizer da ciência e seus profissionais e das mentes dos sujeitos do ambiente social. Tais mudanças interferiram e interferem espontaneamente na dinâmica da sociedade e nas transformações dos próprios sujeitos sociais, tornando-se um círculo permanente. As transformações que presenciamos na atualidade é consequência de um processo longínquo. Para Waiselfisz (2007, p.13) as mudanças provocadas pelas tecnologias e velocidade na sua transformação “vem acontecendo ao longo de toda a história humana, desde a transição da pedra lascada à pedra polida – do paleolítico ao neolítico – até a fundamentação das várias evoluções industriais...”. O homem e a mulher sempre descobriram, criaram e transformaram tecnologias que representaram soluções para diversas atividades desempenhadas por ele/ela. Somos seres do pensar, do inventar e do saber. Podemos citar várias dessas, como por exemplo, o descobrimento do fogo que serviu e serve para variados fins, da pele para agasalho, da pedra para perfurar e descascar, da organização em grupos para proteção contra as ameaças, da construção de ocas/casas, da criação de animais, do plantio de ervas e alimentos etc. 303 Entretanto é importante ressaltar o descobrimento da escrita, pois se trata da maior tecnologia e linguagem criada pelo homem/mulher que modificou a comunicação e que hoje faz parte de qualquer atividade humana. O ser humano é um ser essencialmente social e a escrita está inserida nas relações humanas enquanto linguagem entremeada de significados. Através da escrita o ser humano pode desenvolver as transformações que hoje fazem parte do dia-a-dia de cada pessoa. Foi a partir dessa tecnologia que tantas outras vieram a existir. 2.1.1 A Cultura Humana da Comunicação e Informação no Ciberespaço Por meio da escrita a língua foi constituída e com ela a humanidade se organizou em grupos de pertença /cultura/territorialização. O espaço da cibercultura, construído pelo sujeito do conhecimento, é além da escrita, espaço de leitura, ou seja, espaço que pressupõe participação democrática de todos os sujeitos e não como tantas outras tecnologias da informação e comunicação que é detida pelo poder de um membro ou grupos individualizados, cuja ideologia é alheia à maioria. Tal ação ativa amplia a leitura e o compartilhamento de conhecimentos entre inúmeras pessoas Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário pertencentes a grupos diversos. Ou seja, esse espaço tem um alcance qualitativo para construção e a administração do conhecimento, que pertence a todos. Podemos citar o hipertexto, que é bastante utilizado na cibercultura e, consolida o uso de leitura e amplia o alcance da mesma. Tal documento é construído e enriquecido em tempo real por uma comunidade de autores e leitores conectados a uma mesma rede. O espaço do saber centra-se na valorização do humano em sua diversidade, por meio de uma ação democrática de participação, apesar da contradição que existe, haja visto que nenhuma mídia é totalmente universal. Para Lévy (2007, p. 11) é no espaço do saber (o ciberespaço) que “todo elemento da informação encontra-se em contato virtual com todos e com cada”. Podese está em vários lugares ao mesmo tempo, assim para esse autor, voltamos à condição de nômade sob a constante mutação a qual participamos nesse espaço, ou seja, “transformação contínua e rápida das paisagens científica, técnica, econômica, profissional, mental” (LÉVY, 2007, p.14). Ciberespaço é ambiente para troca de saberes. Sob o aspecto econômico, o espaço para a troca de saberes é, inclusive, vital para a economia, uma vez que proporciona as redes de produção e de comércio a troca de informações, além da flexibilização e da inovação através de um espaço dinâmico e veloz. Agilidade é dinheiro no cenário econômico mundial. Nesse panorama a empresa, junto a outras instituições, como afirma Lévy (2007, p. 21) “acolhe e constrói subjetividades”. Para ele “a produção contínua de subjetividades será a principal atividade econômica” (p.21). Desse modo, as informações necessárias de um grupo de pessoas cada uma com seus objetivos, desejos, apreensões, necessidades, etc. é fundamental no processo econômico. Isso é muito presente quando tomamos como exemplo a diversidade de produtos e serviços que temos atualmente no mercado para um mesmo fim obedecendo a detalhes que são aparentemente supérfluos, mas que passaram por escolhas individuais de consumidores diversos com suas necessidades múltiplas. Como essa ferramenta proporciona a filtragem de informação sob diversos aspectos, as informações se tornam navegáveis obedecendo a existência dos diversos interesses subjetivos. O espaço do conhecimento tornou-se virtual ao ritmo da velocidade e visibilidade da evolução dos saberes. Consequentemente, esses saberes, interferem na vida cotidiana das pessoas a partir das transformações que levam o coletivo a se adaptar, aprender e reinventar para viver melhor em um universo marcado por emaranhados de subjetividades. A humanidade adotou como convenção que a tecnologia é um sistema de proximidade com as técnicas, com as significações, com as representações, com as linguagens, com a cultura e as emoções humanas. A informática nesse contexto é a infra-estrutura, ou seja, o meio técnico, para os coletivos no espaço do conhecimento. Dessa forma, o papel da informática, assim como de outras técnicas da comunicação, é a construção dos coletivos inteligentes na promoção de conhecimentos e potencialidades mútuas. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Vivemos em um momento para além das mídias, através do uso de técnicas de comunicação que filtram o caminho de conhecimento e proporcionam o navegar no saber/tecnologia sob a égide do pensamento recíproco e não meramente no acúmulo de informações, apesar da existência de uma gama de espaços com o intuito e utilidade apenas de transmissão. Ao contrário da função das mídias que objetivam fixar, reproduzir, difundir e descontextualizar as mensagens, todo o arquétipo do ciberespaço está muito além da capacidade de transmissão. Esse espaço incita e reinventa a relação social em torno do aprendizado, da cooperação, da inteligência e imaginação, dialogando com as subjetividades e alimentando a sociabilidade do conhecimento. A ação de comunicação humana sempre implica em aprendizado. Esse aprendizado está sustentado na medida em que uma pessoa domina conhecimentos que outra não domina e a recíproca é verdadeira. De modo que aquele que sabe as coisas que esse não sabe, representa uma oportunidade para o enriquecimento dos saberes de ambos. Relacionando isso a educação escolar, podemos citar como exemplo o papel do professor como o mediador entre o conhecimento e o aluno. O conhecimento do professor representa uma oportunidade ao aprendiz de desenvolvimento, e novamente a recíproca é verídica. Nisso entra a necessidade do compromisso político do professor enquanto elo essencial da prática educativa. 305 No ambiente das tecnologias a ligação entre o conhecimento e os sujeitos do conhecimento são os próprios sujeitos do conhecimento e a inteligência do grupo. Através dos mundos virtuais podemos pensar harmonicamente e produzir novas perspectivas em torno do conhecimento. A inteligência em grupo está presente e distribuída em toda parte, pois os saberes são o que as pessoas sabem. No ciberespaço essa inteligência em tempo real resulta em mobilização de competências do coletivo, ou seja, as competências em suas diversidades e, conseguinte, a identidade social de cada indivíduo. 2.2 A Busca por uma Inteligência Coletiva no Ambiente das Tecnologias A internet possibilita várias ações simultâneas, como leitura, escrita, imagem, som e interação. Atualmente a “moda” é a participação de pessoas em redes sociais e grupos diversos. Entretanto, o que se percebe a olhos nus é que a grande procura por redes sociais e comunidades está baseada, em sua boa maioria, no gosto que as pessoas têm pela vida alheia e pela apelação na busca pela aparência. A subordinação dos indivíduos a certas redes e comunidades e a ideologia da ostentação da inclusão em um meio que supõe status, leva uma dependência baseada em fetiches a uma pessoa ou a um grupo delas. Para Lévy (2007, p.28) “a base e o objetivo da inteligência coletiva são: o reconhecimento e enriquecimento mútuos das pessoas, e não o culto de comunidades fetichadas ou hipostasiadas”. Outra situação bastante agravada é a exposição ao extremo da vida pessoal e íntima das pessoas, além do apelo à sexualidade e pornografias. Condutas antiéticas e Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário antimorais são corriqueiras nos ambientes virtuais da internet. Sem um ideal de uso baseado na busca por conhecimentos e a produção do que defendemos até então de uma cultura de construção de uma inteligência que ao extrapor os limites geográficos e sociais, pertença a um coletivo consciente do seu papel de agentes transformadores das realidades diversas de cada membro, a grande parte dos usuários objetiva meramente se mostrar, numa busca desenfreada pela exposição da interioridade. A busca pelo conhecimento, o compromisso com a ética, a busca pela cultura, por novos horizontes e a colaboração com uma inteligência que pertença ao social, passa longe do interesse da maioria das pessoas que utilizam a internet diariamente. Pessoas que têm milhões de “seguidores” e não cooparticipadores. Lévy (2007, p. 18) acredita que “se as nossas sociedades se contentarem em ser inteligentemente dirigidas, com certeza falharão em seus objetivos. Para ter alguma chance de viverem melhor, elas devem se tornar inteligentes na massa”. 3.0 Considerações Finais A era digital instituiu mudanças significativas em nosso modo de viver, pensar, agir e interagir. As tecnologias de informação e comunicação são renovadas em um tempo cada vez mais curto e transformam nossas necessidades. Somos fruto e elaboradores de uma sociedade efêmera por mudanças. Todavia, a transitoriedade presente nos meios das tecnologias digitais contribui para a exclusão daqueles que não detém a possibilidade e garantia do acesso às mudanças, ou seja, as vítimas da negação ao acesso aos bens construídos pelo e no social. Que as nossas sociedades estão mudando de forma muito veloz, principalmente nas últimas décadas, já é entendimento amplamente reconhecido, divulgado e aceito. Podem existir divergências quanto ao alcance, a velocidade, o significado, as perspectivas, os impasses e os impactos dessas mudanças em nossas vidas e na vida das sociedades. (WAISELFISZ, 2007, P.13). Como dito anteriormente, em nossa realidade sociocultural as crianças já nascem inseridas no ambiente virtual (nativos digitais). Dessa forma já possuem desde muito cedo a capacidade mínima para navegar na internet e utilizar outros meios de comunicação e informação. Inclusive, dominam desde cedo muitas das formas de comunicação de forma rápida e eficaz. Desse modo, tais ferramentas já se fazem presentes na educação para crianças, ou seja, assessoram alunos e professores desde a educação infantil. As tecnologias são ótimas metodologias para a alfabetização, desde que bem empregadas. Atualmente o acesso a tais tecnologias está associado a muitos benefícios sociais, econômicos e culturais. No entanto, poucas instituições de educação, em especial as públicas, oferecem aos alunos e professores oportunidades de acesso a esses bens construídos pelo e no social. O processo criador no ambiente do espaço do saber contemporâneo (o ciberespaço) é a conexão com o conhecimento criado e recriado por mentes de diversas pessoas em diversos espaços e tempos. O espaço do saber mediado pelas tecnologias sempre existiu ao potencial latente do homem/mulher, pois são os seres Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ humanos que sonham, pensam, agem. Esse espaço já se faz pressente por meio de cérebros conectados a outros cérebros. Assim, são experimentados todos os dias, pois nascem das interações ininterruptas entre as pessoas. Desse modo, o espaço do saber deve ser acessível a todos independente das diferenças entre as pessoas e os seus meios de sociabilidade, até por que são essas diferenças que possibilitam a esse espaço a diversidade de experiências e conhecimentos. A garantia do acesso de todos aos meios tecnológicos de comunicação e informação social é essencial na construção da cidadania e da democracia. A apropriação às novas tecnologias de informação e comunicação significa a garantia de fomentar, inclusive, reestruturação social e econômica tendo como parâmetro as exigências sociais, econômicas e culturais vigentes. É necessário pensar na tecnologia como instrumento potencializador da prática docente, ao passo que as escolas precisam também potencializar esse mecanismo de construção do saber. Os variados espaços de construção do conhecimento devem ser apreciados, estimulados e empregados na educação oferecida a todas as classes sociais. A internet e as novas TIC devem está ao alcance de todos uniformemente dentro das instituições escolares, tradicional espaço para a construção e disseminação do saber. Não basta que seja possibilitado na escola o contato com computadores e internet, quando não se garante a funcionários, professores e alunos o conhecimento em manejar e utilizar esses mecanismos para que recriem formas de fomentar um diálogo entre diferentes realidades, culturas e conhecimentos. 4.0 Referências BARRETO, Robério Pereira. Tecnologias da Informação e Comunicação e Políticas Públicas: aproximação possível (p.39 – 59). In: BONETI, Lindomar Wessler [et al]. Inclusão Sociodigital: da teoria à prática. Curitiba, PR: Imprensa Oficial, 2010 BONETI, Lindomar Wessler et al. Inclusão Social: considerações teóricas e metodológicas (p. 13 – 23). In: BONETI, Lindomar Wessler [et al]. Inclusão Sociodigital: da teoria à prática. Curitiba, PR: Imprensa Oficial, 2010. GOMES, Alex Sandro [et al].Colaboração, Comunicação e Aprendizagem em Rede Social Educativa. In: XAVIER, Antonio Carlos [et al.]. Hipertexto e Cibercultura: links com a literatura, publicidade, plágio e redes sociais. São Paulo: Respel, 2011. LÉVY, Pierre. A Inteligência Coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. Tradução Luiz Paulo Rouanet. 5ª edição. São Paulo: Edições Loyola. 2007. ________. Do Hipertexto Opaco ao Hipertexto Transparente. In: XAVIER, Antonio Carlos [et al.]. Hipertexto e Cibercultura: links com a literatura, publicidade, plágio e redes sociais. São Paulo: Respel, 2011. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 307 MATOS, Elizete Lúcia Moreira. Professor, Educação, Sociedade e a Inclusão das Redes Sociais (p.47 – 59). In: BONETI, Lindomar Wessler [et al]. Inclusão Sociodigital: da teoria à prática. Curitiba, PR: Imprensa Oficial, 2010 WAISELFISZ, Julio Jacobo. Lápis, Borracha e Teclado: tecnologia da informação na educação. Brasília: RITLA/ Instituto Sangari/ MEC.2007. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ INTERNETÊS: TRANSPOSIÇÃO E USO DOS GÊNEROS DIGITAIS NA ESCRITA DE ALUNOS Keila Nunes dos Santos (UNEB – DCHT – Campus XVI) Robério Pereira Barreto (UNEB – DCHT – Campus V) RESUMO: O foco principal desta pesquisa incide sobre os usos que os adolescentes fazem do internetês fora do computador, isto é, fora dos espaços digitais, transpondo-o para textos produzidos na escola, sejam eles formais ou informais, contrariando, dessa maneira, o que afirmam alguns autores ao dizerem que tal forma de linguagem, uma vez retirada dos espaços digitais de comunicação perde a sua função “bacana”. Traz ainda reflexões acerca do processo de surgimento da escrita que, veiculada por novos suportes digitais, exige dos seus usuários novas formas de ler e escrever, novas habilidades para com a organização e recepção do escrito. PALAVRAS-CHAVES: Internetês. Escrita. Comunicação. 1. Introdução 309 Percebe-se que o fenômeno da comunicação via internet traz uma nova forma de comunicação, concebendo, dessa forma, inovações lingüísticas que vão da alteração lexical à ressignificação de signos já utilizados e convencionados socialmente. Emerge então a “língua dos jovens” capaz de expressar o estilo de vida e o comportamento social (“descolado”, original e ousado) desse grupo, imprimindo-lhe uma identidade peculiar. É a partir deste pressuposto que o foco principal desta pesquisa incide sobre os usos que os adolescentes fazem dessa nova forma de linguagem fora do computador, isto é, fora dos espaços digitais, transpondo-o para textos produzidos na escola, sejam eles formais ou informais, contrariando, dessa maneira, o que afirmam alguns autores ao dizerem que tal forma de linguagem, uma vez retirada dos espaços digitais de comunicação perde a sua função “bacana”. A percepção desse fenômeno de transposição do internetês dos espaços digitais para os não-digitais foi possibilitada pela presença constante em sala de aula, no Colégio Estadual Justiniano de Castro Dourado, situado na cidade de Lapão/ BA, instituição onde atuei como estagiária. O trabalho nas Oficinas de Produção de Texto realizadas na escola, nos possibilitou-observar que, em algumas produções textuais escritas pelos alunos utilizavam esporadicamente algum termo do internetês, tais como: “vc”, “ + ou –“, “tbm”, bem como o uso exagerado de sinais de pontuação, como várias exclamações ou interrogações: “!!!”, “???”. Diante disso, foi analisado um total de 88 avaliações escritas, da disciplina de Língua Portuguesa, abrangendo uma turma de 3º ano (com 31 alunos) e duas turmas de 2º ano (atingindo um total de 57 alunos). Também foram observados 20 portfólios, Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 58 atividades avaliativas produzidas na disciplina de Sociologia, abrangendo duas turmas de 3º ano, sendo também recolhido um total de 08 cadernos de alunos dessa mesma série, com o intuito de observar a recorrência e a influência do internetês nos textos contidos nele, somando um total de 166 textos formais, compondo assim, o corpus sob estudo. 2. Da oralidade à escrita Sabe-se que todas as nações estiveram ou estão pautadas em uma tradição oral, pondo a oralidade em primeiro lugar, numa escala cronológica, em relação à escrita, uma vez que o ser humano, antes de desenvolvê-la, desenvolveu a capacidade de falar. “O homem tem inerentemente uma necessidade individual de se expressar e uma necessidade social de se comunicar” (KATO, 2004, p.12), utilizando-se, para tanto, da linguagem oral e/ou escrita. No entanto, na oralidade primária52, a palavra não possui o estatuto de comunicação ou expressão do pensamento, pois atua, basicamente, como guardiã da memória social. Em uma sociedade oral primária, quase todo o edifício cultural está fundado sobre as lembranças dos indivíduos. A inteligência, nestas sociedades, encontra-se muitas vezes identificada com a memória, sobretudo com a auditiva (LÉVY, 1993). Logo, o homem, nos primórdios de sua existência, expressava seus pensamentos por meio de desenhos, sendo que a fala servia, unicamente, para a expressão auditiva. “Com o passar do tempo, a expressão visual desenvolve-se em duas direções distintas: o desenho como arte e o sistema pictográfico na comunicação” (KATO, 2004, p.13). Na fase inicial, o sistema pictográfico não objetivava representar a fala, no entanto, termina por fazê-lo. Posteriormente, com a estilização e convencionalização das formas do sistema pictográfico, surgem os ideogramas ou logogramas 53 que possuíam representação fonética, surgindo assim a foneticização da escrita. Neste período surgem também os sinais de pontuação. Posteriormente, passamos do sistema logográfico-silábico ao sistema silábico, por meio da representação de palavras ou sílabas a partir da utilização de pictogramas, também denominado rébus, em que se utilizam apenas os sons representados pelos desenhos para assim formar as palavras. Embora a representação de palavras dessa maneira não fosse fácil, foi assim que o homem descobriu a escrita silábica. Os ideogramas continuaram a ter mais prestígio em todas as escritas, com exceção da cuneiforme, que se constituiu, desde o início, de uma porcentagem mais alta de elementos de natureza silábica do que de logogramas ( KATO, 2004). Da escrita lexical-silábica, que pertencia aos egípcios, os fenícios extraíram os vinte e quatro símbolos mais simples para formar o silabário, utilizando apenas consoantes. 52 O conceito de oralidade primária remete ao papel da palavra antes que uma sociedade tenha adotado a escrita, a oralidade secundária está relacionada a um estatuto da palavra que é complementar ao da escrita, tal como o conhecemos hoje. (LÉVY, 1993, p.77). 53 Desenho que corresponde a uma noção ou a uma sequência fônica, nas escritas ideográficas. (BISOGNIN, 2009, p. 55). Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Foi o silabário fenício que os gregos tomaram emprestado para a base de sua escrita. Mas o que era feito apenas esporadicamente pelos fenícios, isto é, a colocação da vogal depois da consoante, firmou-se entre os gregos como norma. Passou-se assim da escrita silábica para a escrita alfabética [...] Depois da descoberta desse sistema, segundo Gelb, nenhuma inovação significativa ocorreu na história da escrita. Embora haja inúmeras variedades de alfabeto no mundo, que apresentam diferenças formais externas, todos ainda usam os mesmos princípios estabelecidos pela escrita grega (KATO, 2004, p. 16). O homem então descobriu que poderia desenhar não apenas as coisas, mas também a própria fala. Deste modo, o surgimento da escrita acarretou mudanças na relação entre os indivíduos e a memória social, uma vez que as pessoas passaram a registrar, por meio da graficação da linguagem, seus pensamentos, experiências, cultura, vivências, enfim, uma gama de saberes e conhecimentos construídos ao longo dos tempos e que, uma vez registrados, não mais se perdiam com a morte dos seus guardiões, geralmente, os mais velhos. Assim: A escrita em geral, os diversos sistemas de representação e notação inventados pelo homem ao longo dos séculos têm por função semiotizar, reduzir a uns poucos símbolos ou a alguns poucos traços os grandes novelos confusos da linguagem, sensação e memória que formam o nosso real (LÉVY, 1993, p. 70). 311 O registro gráfico do pensamento, seja ele inscrito em pedra, bronze, argila ou papiro, fixou a história, traçou linhas cronológicas, atividade antes irrealizável no constante devir da oralidade, em que a cada nova transmissão surgia uma nova criação. “A partir do momento em que uma relação é inscrita na matéria resistente de uma ferramenta, de uma arma, de um edifício ou de uma estrada, torna-se permanente. Linguagem e técnica contribuem para produzir e moldurar o tempo” (LÉVY, 1993). Logo, somente a partir da escrita a ciência se configurou como conhecimento dominante, pois todo o saber se imortalizou, em épocas mais remotas, no couro ou papiro, em formato de rolos, que facilitava o armazenamento e organização; um pouco mais tarde, no códice, adquirindo formato semelhante aos livros que hoje conhecemos, para mais tarde, serem impressos no papel. 3. Comunicação virtual: o falar por escrito O surgimento da modernidade proporcionou ao homem modos de vida diversificados, que interferem na forma pela qual ele se comunica. Tais transformações exigem de nós, cada vez mais, rapidez e eficiência, pois estamos imersos em uma sociedade em que as mudanças acontecem de maneira acelerada, especialmente no que diz respeito à produção de linguagem e comunicação on-line. O uso do computador, conectado à internet tem modificado e ampliado de modo significativo a comunicação entre as pessoas. Essa modificação pode Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário ser observada não somente por meio da quantidade de novos gêneros que surgiram, e que possibilitaram uma interação mais ampla, como também no estilo sob o qual esses novos gêneros foram se apresentando, geralmente com base na atividade de escrita. Assim sendo, é possível reconhecer que a internet materializou, juntamente com o processo de sua “democratização”, um novo estilo de projeto de dizer dos sujeitos contemporâneos, o qual foge ao uso da escrita já estandardizado socialmente, provocando o estranhamento e a rejeição por parte de alguns setores mais conservadores da sociedade (DIEB; AVELINO, 2010, p. 264). Logo, “escrever pelo computador no contexto da produção discursiva dos batepapos síncronos (on-line) é uma nova forma de nos relacionarmos com a escrita, mas não propriamente uma nova forma de escrita” (MARCUSCHI, 2004, p. 18). Nesse sentido, a escrita, outrora concebida a fim de armazenar, fixar informações, produzir conhecimento, passa a exercer novas funções em meio a um universo tecnológico proporcionado pela internet. Nesse espaço, grande parte do que se escreve perde-se tão logo se fecha a caixa de diálogos das salas de bate-papo, haja vista a existência do “falar por escrito”, proporcionado pelas conversas em tempo real, via internet, também conhecidas como linguagem dos chats, que, como qualquer outra forma de linguagem, consiste em um instrumento de interação e comunicação entre os indivíduos. Sendo assim, são esses indivíduos os responsáveis pelas mudanças ocorridas na língua, de acordo a forma como a usam, fato que torna cada falante, não somente usuário, mas, sim, agente e modificador de sua língua, imprimindo-lhe marcas geradas pelas novas situações com as quais se depara. Assim, seleciona, descarta, absorve ou ressignifica signos devido as suas necessidades comunicacionais e expressivas. É “livre” para escolher a forma de linguagem que melhor se adéqüe a situação em que ocorre a comunicação. Neste processo de ressignificação das formas lingüísticas, Barreto (2010) nos lembra Bakthin e dialoga com Dieb e Avelino (2010), ao afirmar que a linguagem é uma prática sócio-ideológica, em que os cibernautas, ao praticarem a comunicação nos chats ou weblogs reconstroem a linguagem uma vez que “sendo o sinal algo imutável, ele não substitui nem reflete nada e, por esta razão, é possível haver a interação para que dela possa se extrair os significados atribuídos pelos usuários aos signos da língua” ( AVELINO; DIEB, 2010, p. 276). É exatamente isto que os usuários da língua estão fazendo em meio a essa nova forma de se comunicar, falar ou mesmo “teclar”, que emerge no contexto da internet. Neste tipo de comunicação, como em qualquer outro, faz-se necessário que o código utilizado pelo locutor – conjunto de signos - seja decodificado ou mesmo ressignificado pelo interlocutor, para que dessa forma haja a interlocução. Portanto, é imprescindível a escolha de palavras e expressões já fixadas, cujo significado lhes é comum. 4. A linguagem da Internet: como nomeá-la? Novas coisas exigem novos conceitos... E esses novos conceitos é que enriquecem a língua, tão viva, dinâmica, sempre em evolução, embora para alguns - de visão míope e débil, a mudança seja vista como deturpação, atraso. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Suportes especiais pedem escritas especiais. A alteração do suporte (tijolo, papiro, papel ) foi fator de mudança na escrita e também na leitura. Escrever em letras de forma é o modo mais indicado para pedra e tábuas de argila. Escrever teclando, especialmente on-line, também induz a inovações. Mas essas inovações, em geral, são simples e rapidamente julgadas como deturpações indesejáveis. (BISOGNIN, 2009, p. 16). Assim sendo, a nova forma de expressão surgida e empregada na Internet, por exemplo, tem sido vista como uma deturpação da linguagem em seu padrão escrito, e os seus usuários – jovens em sua maioria, acabam por carregar o estigma da limitação lingüística, como se os usos que fizessem da língua se restringissem apenas ao espaço virtual. Em outras palavras, para alguns professores, os adolescentes/alunos ao entrarem em contato com esse tipo de linguagem estariam limitando sua capacidade lingüística, no entanto, sabe-se que eles estão aumentando ainda mais a capacidade de usar suas diversas modalidades em diferentes contextos e situações, e o mais surpreendente de tudo isso é que aprendem sozinhos, fora do espaço escolar. No que concerne à nomeação desse novo tipo de linguagem concebida na internet, sobretudo nas redes sociais, emprega-se, neste artigo, o termo internetês. Assim sendo, como essa linguagem se caracteriza? Seria ela uma simplificação da linguagem escrita? Com toda a sua simbologia, o internetês é, ao mesmo tempo, simplificação e complexificação da linguagem, pois enquanto algumas palavras são simplificadas por meio da redução, (qdo, qnd, pq, gnt, tbm, pq) em que há o uso esporádico de vogais após consoantes, assim como faziam os fenícios por meio do uso da escrita silábica, conforme foi explicitado no capítulo anterior, outras, no entanto, são acrescidas de uma nova consoante, para substituir o acento agudo: Ateh, eh, neh, tah, jah 54, etc. Para o fenômeno de nasalização, os internautas usam, frequentemente, “um” e “un” no final de palavras que, seguindo as regras da ortografia da língua, seriam grafadas com a terminação “ão”. Por exemplo: naum, bjão, intaun, noçaun, etc. Logo, observa-se que a escrita dessas palavras é bem parecida com a forma pela qual a pronunciamos. Outro fenômeno parecido com esse, em que tenta-se reproduzir os sons, tal qual fazemos quando falamos, consiste na escrita de “ki” em lugar de “que”, “aki” para “aqui” “poko” para “pouco”, “loko” para “louco”, dentre outros. Os monossílabos também sofrem transformação, haja vista o uso de uma única letra para representá-los, como em: q = que, d = de, t = te, dentre outros. Além disso, pode ocorrer também a repetição de vogais para representar a entonação, ênfase, ritmo, pausa, dentre outros efeitos vocais. Nesse sentido, afirma Crystal: 313 Tem havido esforços algo desesperados para substituir o tom de voz na tela, sob forma de um uso exagerado de ortografia, pontuação, letras maiúsculas, espaçamentos e símbolos especiais para ênfase. Os exemplos incluem letras 54 O h já foi utilizado em português para marcar a tonicidade final em lugar do acento agudo, como ainda se pode ver em palavras como Dinorah e em algumas transcritas do hebraico, como Javeh, torah, chanucah, hanucah e menorah. (BISOGNIN, 2009, p. 127). Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário repetidas (aaaaahhhhh, claaaaro), sinais de pontuação repetidos (quem????, ei!!!) e convenções para expressar ênfase (como a *verdadeira* questão). Essas características são capazes de uma certa expressividade, mas a variedade de significados que elas transmitem é pouca e está restrita a noções grosseiras como excesso de ênfase, surpresa e perplexidade. (CRYSTAL, 2005, p. 85). Também é freqüente o uso de caracteres para representar emoções (os emoticons ou smileys55) bem como a recorrência de letras maiúsculas no meio das palavras, que podem ser usadas para representar uma alteração de voz ou mesmo como um simples recurso estilístico. Mensagens escritas totalmente em maiúsculas são consideradas como “gritos” e geralmente evitadas; palavras em maiúsculas acrescentam uma 56 ênfase extra ( o que também acontece com asteriscos e espaçamentos) [...] Outra característica distintiva da grafologia da Internet é o uso de duas maiúsculas, uma no inicio, outra no meio da palavra, observado em nome como AltaVista, PeaceNet e CompuService, ou, mais complexamente, como QuarkXPress. Há um uso maior de símbolos que não são normalmente parte do sistema de pontuação tradicional, como o #. Combinações estranhas de sinais de pontuação podem ocorrer, como (para expressar pausa) reticências (...) em qualquer número, hífens repetidos (---) ou o uso seguido de virgulas (,,,,). Ênfase e atitude podem resultar no uso exagerado ou ao acaso de pontuação, como !!!!!!! ou £$£$%!. (CRYSTAL, 2005, pp.93-94). O uso exagerado ou criativo de sinais de pontuação representa, neste contexto, emoções humanas, podendo significar uma frase inteira. A ausência de pontuação também se faz presente nos diálogos via internet, uma vez que, dada a velocidade do veículo, as pessoas não se preocupam com a rigidez das regras gramaticais, apenas alguns, preocupados com a ambiguidade que pode ocorrer nos textos, é que a utilizam. Além disso, para representar certas ações, como o riso, os internautas recorrem a formas onomatopéicas, transformando um aglomerado de letras em signos: “kkkkkkkkkkkkkk”, “rsrsrsrsrs”, “ehehehehehe”, entre outras. No internetês há muito de simbologia. Cada sinal, um asterisco, um ponto final ou de exclamação, por exemplo, tem sua significação. Não podemos analisar esses sinais isoladamente, mas somente em seu contexto. A pontuação é um grande indicador de expressividade e é muito empregada. Como ferramenta de representação gestual e da entonação, o uso de exclamações, interrogações e reticências é bastante enfático. Alguns símbolos tomam o lugar de palavras, como o sinal “+” , para indicar a 55 Combinações de caracteres do teclado, planejados para demonstrar uma expressão facial de emoção. Os dois tipos básicos expressam atitudes positivas e negativas, respectivamente ( a omissão do “nariz” parece ser unicamente uma questão de velocidade de digitação ou de gosto pessoal). 56 David crystal (2005) traz os seguintes exemplos: Esse é um ponto MUITO importante. Esse é um ponto *muito* importante. Esse é um ponto m u i t o importante. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ palavra “mais” e, algumas vezes, até a conjunção “mas”, o “-“ para substituir “menos” e “T+” significando “até mais”. (BISOGNIN, 2009, PP. 51-52). Também é comum o uso de símbolos e algarismos junto a letras, na composição de palavras – algo semelhante à denominada técnica de rébus, utilizada antes da descoberta da escrita silábica, em que se utilizam os sons representados pelos desenhos para assim formar as palavras. Como exemplo, se tem as expressões: 9dades = novidades, t+ = até mais, d + = demais, v6 = vocês... Descritas boa parte das características do internetês, é possível inferir que tal linguagem “é uma recriação gráfica das línguas escrita e falada preexistentes, enriquecida com representações e simbologias”. (BISOGNIN, 2009, p. 08). Logo, são essas transformações que confirmam e nos comprova a dinamicidade da língua, que, a serviço do homem, permite-se modificar. A língua evolui para servir ao homem e o homem evolui a partir do uso que faz dela, seja para representar graficamente seus pensamentos, sentimentos, emoções, seja para interagir com o outro e com o mundo. 5. Transposição do internetês para textos formais produzidos na escola O objetivo dessa análise é perceber se há na escrita escolar a presença de elementos do internetês, fato temido e percebido como uma “ameaça” à ortografia da Língua Portuguesa por pais e professores. Para tanto, foi analisado um total de 88 avaliações escritas, da disciplina de Língua Portuguesa, abrangendo duas turmas de 2º ano do Ensino médio, contendo 27 alunos em uma, e 30 em outra, e uma turma de 3º ano (com 31 alunos). Na turma de 3º ano nenhuma recorrência do internetês foi encontrada. Dentre as duas turmas de segundo ano, em apenas uma ( 2º E – 30 alunos) foram encontradas, em três avaliações, marcas da linguagem da internet, correspondendo a apenas 10% dos textos analisados nesta turma. Vejamos: 315 Figura 1 - Fonte: avaliações de Língua Portuguesa de alunos do 2º ano. Como se vê a aluna utilizou a palavra “bjinhos” ao invés de “beijinhos” como dita a norma ortográfica da nossa língua. Vejamos outro exemplo. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário Figura 2 - Fonte: avaliações de Língua Portuguesa de alunos do 2º ano. Esta outra aluna utiliza repetidas vezes as reticências. Além disso, usa quatro pontinhos no lugar de três, como em: “me esqueci deu um branco agora....”. Esse exagero na pontuação, como se sabe, é característico da linguagem utilizada nos espaços digitais, sobretudo nos scraps de Orkut e nos sites de relacionamento em geral. Além disso, pode-se perceber a falta de pontuação entre as duas orações: “me esqueci/deu um branco”, que consiste também em uma característica do internetês. No terceiro texto (avaliação) analisada encontramos mais recorrências da linguagem da internet. Figura 3 - Fonte: avaliações de Língua Portuguesa de alunos do 2º ano. Como se vê, a aluna grafa seu nome no espaço indicado para tal, utilizando a escrita padrão, mas ainda assim sente a necessidade de grafá-lo em internetês, como se observa no canto direito superior da avaliação, em que a aluna escreve seu apelido acompanhado do sobrenome: “driikah Torres”, numa atitude de reafirmação identitária, de pertencimento a um grupo social. Além disso, acrescenta a palavra “Bjinhos” após a sua “assinatura”, imprimindo um tom de despedida, tal qual fazemos quando nos despedimos, por escrito, nas redes sociais. A mesma aluna utiliza ainda mais traços do internetês no decorrer da avaliação. Veja. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Figura 4 - Fonte: avaliações de Língua Portuguesa de alunos do 2º ano. Observa-se acima que a aluna, não sabendo responder a questão proposta, faz um questionamento “QUE ISSO!!”, utilizando, para tanto, letras maiúsculas seguidas de dois sinais de exclamação no lugar de um, quando na verdade deveria ter usado um sinal de interrogação, não apresentando preocupação com a pontuação, como frequentemente acontece nos diálogos via internet. Usa também, para tentar reproduzir o riso, um amontoado de letras “KKKK”, assim como fazemos nos espaços virtuais de comunicação. Além disso, o fato de ter usado a expressão “QUE ISSO”, próxima a forma em que a pronunciamos informalmente, ao invés de “O QUE É ISSO”, torna a escrita bem próxima da fala num nível mais informal. Daí a influência da linguagem da internet nos textos formais produzidos na escola. Ao que parece, as alunas não apresentavam domínio das questões propostas, então resolvem “brincar”, uma vez que nas três avaliações analisadas percebe-se um tom um tanto jocoso, irônico, nas respostas das alunas, imprimindo certa informalidade a uma situação totalmente formal, daí a utilização de uma linguagem também informal, fato que, de certa forma, demonstra a consciência lingüística dessas alunas. A questão seria então saber por que agiram assim, o que nos dá duas possibilidades: a primeira seria o fato de já terem obtido a pontuação que as permitissem ser aprovadas na disciplina, e a segunda seria o fato de já estarem de recuperação final, mesmo atingindo a pontuação máxima da avaliação. Fiquemos então com a primeira possibilidade, pois ao procurá-las para uma entrevista que complementaria este trabalho e não as encontrando na escola, descobri que, possivelmente, agiram assim devido já estarem aprovadas na disciplina de Língua Portuguesa bem como nas demais disciplinas. Vale ainda ressaltar, para fins de esclarecimento, que dentre os demais textos analisados ( atividades avaliativas e portfólios da disciplina de Sociologia, somando um total de 78 textos) em nenhum deles foram encontradas marcas do interntetês. 317 6. Transposição da linguagem virtual: o internetês na escola Nesta parte do trabalho, fazem-se reflexões acerca da transposição da linguagem utilizada nas redes sociais para outros espaços, tais como os cadernos dos alunos. Vale ressaltar que foi analisado um total de oito cadernos, apenas de alunos do Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 3º ano, mas somente em três foram encontradas recorrência da linguagem da internet na composição de textos informais. Dentre os gêneros textuais contidos nos cadernos analisados, o mais freqüente era a dissertação, gênero bastante praticado no decorrer do Ensino Médio, devido às exigências dos vestibulares. Também é comum a presença de alguns artigos de opinião. Os demais textos são os famosos “exercícios de fixação”, com perguntas e respostas; e textos descritivos, explicativos ou reflexivos que compõem parte dos conteúdos trabalhados nas disciplinas, sobretudo, de Sociologia, Filosofia e Educação Física. Como já dito, dentre os cadernos analisados, em apenas três foram encontradas influências do internetês, somente em textos informais, bem próximos aos scraps que vemos postados em Orkuts. Estes textos estavam grafados em espaços “permissíveis” (na capa, contracapa, matérias), e pertenciam aos gêneros frase, recado e mensagem. A linguagem utilizada na escrita desses gêneros é idêntica à utilizada nas comunidades virtuais, incluindo até o uso de emoticons. Veja-se o exemplo abaixo, extraído de um desses cadernos: Figura 5 – Fonte: cadernos de alunos do 3º ano. Vale ressaltar que este recado não fora escrito pelo dono do caderno, mas sim, por alguém que faz parte do seu círculo de amigos. Pelo conteúdo dos recados, podese inferir que se trata da namorada do aluno ao qual pertence o caderno. Assim como acontece no Orkut, o recado – scrap – fora deixado no caderno por alguém que está “conectado”, que faz parte da rede de amigos do aluno. A linguagem utilizada é semelhante à utilizada nas redes sociais, haja vista a presença das expressões: “vc” e “AdOLLO vc!!”, em que a palavra você é reduzida e transformada em vc, o verbo adoro transforma-se em adollo, aproximando-se da fala infantil, imprimindo-lhe certa meiguice. Além disso, nota-se o uso de letras maiúsculas e minúsculas na escrita da palavra, bem como dois pontos de exclamação ao invés de um, como determina a escrita padrão. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ No texto abaixo, também extraído do caderno do aluno citado acima, encontram-se outras características da linguagem da internet. Observe: 319 Figura 6 - Fonte: cadernos de alunos do 3º ano. No texto acima, pode-se observar o uso constante e desnecessário de reticências, o que nos leva a constatar que esse tipo de pontuação na escrita desses scraps é utilizado como mais um recurso estilístico. Encontra-se também no texto o uso do ponto (.), característico dos endereços eletrônicos, em que a pessoa que escreveu os recados grafa seu nome seguido do apelido, separado por ponto “Adriana.Dy” . Além disso, acontece a repetição de vogais para representar ênfase e entonação, como em: “te amoooo muintooooo...!”. O uso de cores diferenciadas na escrita do recado, também serve para enfatizar algumas expressões. Veja-se, por exemplo, a expressão “Te amo porra!!” que fora grafada em vermelho, tal qual pode-se fazer quando se escreve um scrap na página de Orkut de alguém. A partir dos exemplos acima, pode-se perceber que está ocorrendo uma transferência da escrita abreviada da Internet para outros espaços, como se essa nova linguagem fosse também uma forma característica e diferenciada da qual os jovens estão fazendo uso para expressar seus pensamentos, idéias, emoções, de forma escrita. Nesse sentido, A escrita é muitas vezes usada para evitar as ameaças possíveis numa interação face a face. Há coisas que não podem ser ditas oralmente face a face e para elas usa-se a escrita como forma mediadora. Por exemplo, insultos, mas também certas declarações de amor inesperadas ou secretas Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário são difíceis de produzir face a face sem incorrer o risco de levar um fora, nestes casos a escrita é o melhor meio, especialmente no caso dos adolescentes que ainda se acham inseguros nestas questões. (MARCUSCHI, 2001, p. 34). No caso dos textos aqui analisados, percebe-se que a pessoa que escreveu os recados produziu declarações de amor, utilizando como forma mediadora a escrita característica do espaço digital, isto é, trouxe a escrita praticada em um suporte digital para um suporte de escrita linear. Logo, tal prática de escrita parece desconstruir afirmações no sentido de que “há pouca motivação para se usar essas formas em outras situações. Elas perdem sua função “bacana”, de identificação de grupo, quando são tiradas da tecnologia, seja o telefone celular ou o computador” (CRYSTAL, 2005, p. 91 – 92), pois, ao contrário do que afirma o autor, pode-se perceber que tal linguagem, mesmo escrita no caderno, continua a exercer sua função “bacana”. A língua da internet é um dialeto social, o qual, segundo Dubois, “é um sistema de signos usado por um grupo social e em referência a esse grupo” ( DUBOIS, 1978, p. 98 apud Bisognin 2009, p. 145). Logo, o internetês é uma linguagem de jovens, criada para ser utilizada em ambientes e situações informais de interação. Os adolescentes (alunos) que se utilizam do internetês para interagir com seus pares apresentam um domínio das práticas discursivas que cada vez mais se fortalecem nos ambientes digitais de comunicação (AVELINO; DIEB, 2010, p.266). Apresentam, portanto, múltiplos domínios das habilidades que envolvem as atividades de leitura, escrita compreensão e interação. São, dessa maneira, sujeitos letrados, uma vez que “existem ‘letramentos sociais57’ que surgem e se desenvolvem à margem da escola , não precisando por isso serem depreciados” (MARCUSCHI, 2004, p.19). Quanto à presença da escrita, pode-se dizer que [...], ela permeia hoje quase todas as práticas sociais dos povos em que penetrou. Até mesmo os analfabetos, em sociedades com escrita, estão sob a influência do que contemporaneamente se convencionou chamar de práticas de letramento, isto é, um tipo de processo histórico e social que não se confunde com a realidade representada pela alfabetização regular e institucional. (MARCUSCHI, 2004, p. 19). Cabe novamente frisar que não apenas existe um só letramento, mas letramentos sociais que vão muito além da simples aquisição da escrita, abrangendo, portanto, usos amplos, diversificados e contextualizados das habilidades de leitura e escrita, sendo esses usos apreendidos e utilizados fora do espaço escolar. 57 Brian V. Street (1995:2) sugere que se use essa expressão no plural, já que o que temos são diferentes práticas de letramento e não o letramento no singular. O próprio titulo do livro de Street, Letramantos Sociais (Social Literacies) , é uma tentativa do autor de frisar a “natureza social do letramento” e o “caráter múltiplo das praticas de letramento”. De fato, Street defende a posição de que não se pode confundir as diversas manifestações sociais do letramento com a escrita como tal, pois esta não passaria de uma das formas de letramento, ou seja, o letramento pedagógico. Quanto aos letramentos, eles se manifestam como eventos em que a escrita, a compreensão e a interação se acham integralmente imbricadas. (MARCUSCHI, 2004, p. 15). Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Para Avelino e Dieb (2010), é devido ao domínio do internetês, bem como das linguagens oriundas de outros espaços de comunicação digital, que se podem compreender tais práticas como uma manifestação do letramento digital por parte desses sujeitos. Para esses autores: Esta compreensão parte do conceito de letramento, em consonância com as reflexões de Soares (2002, p. 146), como um domínio das atividades de leitura e escrita que confere aos indivíduos ou grupos sociais “um determinado e diferenciado estado ou condição de inserção em uma sociedade letrada”, devido à apropriação de “habilidades e atitudes necessárias para uma participação ativa e competente em situações em que as práticas de leitura e/ou de escrita têm uma função essencial (AVELINO; DIEB, 2010, pp. 266 – 267). Assim sendo, infere-se que, por meio dessas práticas de letramento, os jovens desenvolvem intuitivamente a consciência lingüística, em boa parte fora do espaço escolar, uma vez que, como observado, utilizam o internetês, na maioria das vezes, apenas em textos informais. 7. Algumas palavras finais Por meio desta pesquisa, observou-se, dentre outras coisas, que “a linguagem da Internet” atravessou as “fronteiras” virtuais, a partir do momento em que os jovens passam a utilizá-la em outros espaços não digitais, ocorrendo uma transposição da escrita abreviada da Internet para outros espaços, tais como os textos produzidos na escola. A prática de escrita comum aos suportes digitais, quando transposta para um suporte de escrita linear, não perde a sua função “bacana”, uma vez que passa a exercer a mesma função de identificação de grupo. Logo, o internetês é um dialeto social, uma linguagem de jovens, criada para ser utilizada em ambientes e situações informais de interação, mesmo quando a escrita não sofre pressões dos suportes digitais, que exigem rapidez e eficiência na comunicação. Nesse sentido, o internetês é um tipo de linguagem peculiar a um determinado grupo da sociedade: os jovens, que a utiliza para interagir com o outro e com o mundo, em ambientes digitais e também fora dele, criando assim uma identidade, uma forma capaz de exprimir um estilo de vida comum a uma faixa etária. O contato com diversas modalidades de linguagem, sobretudo com o internetês, proporcionará ao jovem sua inserção e participação em diversos ambientes, nos quais poderá transitar com competência e segurança, comunicando seus pensamentos, emoções, ideologias, etc., por meio do uso das novas formas de expressão, dos novos símbolos e signos com os quais recria a linguagem. Deste modo, infere-se que, é por meio dessas práticas de letramento que os jovens estão aprendendo sozinhos o que não lhes está sendo ensinado pela escola: o uso amplo e contextualizado da língua(gem) nas diversas situações de comunicação e interação. 321 Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário Mesmo com a escola menosprezando e abolindo o internetês, numa atitude autoritária, ao afirmar que não pode e não deve ser utilizado em tal espaço, ao considerá-lo como “erro de português”, os jovens conseguem desenvolver a consciência linguística, uma vez que pouco utilizam esse tipo de linguagem nos textos formais, como foi possível observar através da análise do corpus - composto por um total de 166 textos, sendo que em apenas três foram encontradas marcas do internetês - no entanto, em situações informais de escrita utilizam-no com competência e habilidade. Nesse sentido, a influência do internetês, na escrita de textos formais produzidos na escola, é muito pequena, quase insignificante, não representando, como temem algumas pessoas, um risco de deturpação à Ortografia da Língua Portuguesa. A escola, enquanto instituição pautada na Ciência, deve trabalhar no sentido de desmistificar afirmações infundadas, ou melhor dizendo, fundadas a partir do preconceito, da aversão ao novo, ao atual, e, sobretudo, ao tecnológico. Deve, portanto, enfrentar suas “fobias”, principalmente, no que diz respeito ao estudo da língua, repito: “ao estudo da língua”, pois estudar, refletir acerca do funcionamento da mesma, é diferente de ensinar uma língua que os alunos já dominam, portanto, é muito mais proveitoso refletir acerca do que se faz e do que se pode fazer com ela, do que se impor formas “eruditas, corretas e de bom gosto” que pouco ou de nada servem em situações de uso real. Referências ALMEIDA, Risonete Lima de. Oralidade, escrita e ensino: psicodinâmica do pensar e do fazer. In.: SEMINÁRIO DE IDENTIDADE E DOCÊNCIA, 1., out. 2011, Irecê. Anais 2011... Salvador: Eduneb, 2011. ISSN: 2237-1699. Organizadores: SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. BARRETO, Robério Pereira. Tecnologias intelectuais chat e weblog: Módus de produção de linguagem na web. 2009. 162 f. Dissertação (Mestrado em Educação e Contemporaneidade) – Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Salvador. BISOGNIN, Tadeu Rossato. Sem medo do Internetês. Porto Alegre: Age, 2009. CHARTIER, Roger. Do códice ao monitor: A trajetória do escrito. Estudos Avançados:1994. CRYSTAL, David. A revolução da linguagem. Tradução, Ricardo Quintana; consultoria, Yonne Leite. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. Ed., 2005. DIEB, Messias; AVELINO, Flávio César Bezerra. “Escrevo Abreviado porque é muito mais rápido”: o adolescente, o internetês e o letramento digital. In. ARAUJO, Júlio;CARVALHO LIMA, Samuel de; DIEB, Messias. Línguas na WEB: links entre ensino e aprendizagem. Ijuí: Ed.Unijuí, 2010. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ KATO, Mary A. No Mundo da Escrita: Uma perspectiva psicolinguística. São Paulo: Ática, 2004 LAUREN, Davi dos Santos. A linguagem da internet sob a perspectiva dos gêneros discursivos: Implicações Educacionais. Porto alegre, Uniritter, 2006. (monografia). LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. Tradução, Carlos Irineu da Costa. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993. MARCUSCHI, Luiz Antônio. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. São Paulo: Cortez, 2001. ___________. Letramento e Oralidade no Contexto das Práticas Sociais e Eventos Comunicativos. In. SIGNORINI, Inês. (org.) Investigando a relação oral/escrito. São Paulo: Mercado de Letras, 2001. MARQUES, Mário Osório. A escola no computador: linguagens rearticuladas, educação outra. Rio Grande do Sul: Injuí, 2003. SOUZA, Valéria Fernandes de; CASTRO, Andréa de farias. Tecnologias intelectuais: remodelando a formação do leitor no cotidiano escolar. 323 Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário A ESCRITA ANALÓGICA E DIGITAL DOS ESTUDANTES DA ESCOLA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES – IRECÊ –BA Giomara Gomes Rocha Machado (Universidade do Estado da Bahia-Campus V) Robério Pereira Barreto (Universidade do Estado da Bahia-Campus V) RESUMO: Esse trabalho é fruto de pesquisa e inquietações sobre o uso das TIC na escola e extraclasse. O objeto de estudo é a escrita analógica e digital de alunos da Escola Municipal Antônio Carlos Magalhães, situado na cidade de Irecê-Bahia, onde se tem por objetivo observar a escrita desses sujeitos no ciberespaço – weblog – e relacioná-las com suas produções textuais realizadas na escola, observando se a escrita realizada nas interações sociais na web influencia e até que ponto ela poderá interferir na escrita realizada na escola. Para tanto foi utilizada a etnometodologia, por considerar as relações sociais produzidas pelos sujeitos no seu cotidiano. PALAVRAS- CHAVES: Weblog; Escrita Digital e Analógica; Letramento digital. 1. Introdução Esse trabalho é fruto de pesquisa e inquietações sobre o uso das TIC (Tecnologia de Informação e Comunicação) na escola e extraclasse. O interesse com o tema surge no decorrer dos estágios de regência, mas fortalece ao assumir uma sala de aula, quando a partir daí começam as indagações – como os estudantes estão escrevendo na escola e na internet? Qual a influência da escrita digital na escrita convencional – da escola? O objeto de estudo é a escrita analógica e digital de alunos da Escola Municipal Antônio Carlos Magalhães – locus da pesquisa – situada na cidade de Irecê- Bahia, onde, se tem por objetivo observar a escrita desses sujeitos, tanto no ciberespaço – weblog –, como na redação realizada em sala de aula. A metodologia aqui empregada é de base etnometodológica, pois a mesma considera a realidade socialmente construída pelos sujeitos, sua vida cotidiana e as relações sociais produzidas a partir de suas vivências. Desse modo, Coulon, citado por Rivero diz que: A etnometodologia é a pesquisa empírica dos métodos que os indivíduos utilizam para dar sentido e ao mesmo tempo realizar as suas ações de todos os dias: comunicar-se, tomar decisões, raciocinar. Para os etnometodólogos, a etnometodologia será, portanto, o estudo dessas atividades cotidianas, quer sejam triviais ou eruditas, considerando que a própria sociologia deve ser considerada como uma atividade prática. (COULON apud RIVERO, 2011, p.4). Para isso, tomou-se como suporte teórico o marco da Linguística Textual, Marchuschi (2008), Barreto (2010, 2011), Signorini (2008), Bakhtin (2006), Higounet (2003), Soares (2005) dentre outros. A priori, acredita-se que dialogando com esses autores, encontrar-se-á suporte para a pesquisa, pois a mesma pretende englobar o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (doravante TIC) no âmbito escolar, bem como o uso que se faz da Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ mesma, de modo que sabemos quão grande é a utilização por parte dos estudantes fora do ambiente educacional, pois a produção de conhecimento não se restringe às paredes de uma escola. 2. Historicizando a escrita Aqui se pretende tratar as questões históricas da escrita na sociedade, a qual nasce da necessidade de o homem se comunicar através de registros, os quais são possibilitados pela tecnologia intelectual, escrita. Na pré-história essa comunicação era feita através de desenhos feitos em cavernas, o que para alguns escritores ainda não era considerada escrita, pois não havia organização. A invenção da escrita se deu em momentos distintos e em diversos lugares no mundo e segundo algumas fontes, foi na Antiga Mesopotâmia quatro milênios a. C., pelos sumérios58, que a escrita foi elaborada. Os sumérios usavam o sistema de escrita para ajudar na memorização e contabilização dos seus bens. “Depois de ter servido de notação à língua dos sumérios que viviam na Mesopotâmia nos milênios IV e III antes da nossa era, a escrita se propagou em toda a Ásia anterior, onde se tornou o meio de expressão de línguas diversas” (HIGOUNET, 2003, p 29). Destarte, no decorrer da história da escrita foram surgindo modificações; nova forma de escrita se criou – o Uncial59, o cuneiforme, o hieróglifo etc. É, no entanto, com o surgimento do alfabeto, que surgem as escritas alfabéticas e, segundo Higounet (2003), foi durante a segunda metade do segundo milênio a.C. que os fenícios elaboraram o alfabeto (HIGOUNET, 2003, p.65), este que deu origem a todos os alfabetos atuais. Mais tarde surge então o alfabeto grego, que sem dúvida foi de extrema importância para a história da nossa escrita, pois os gregos incorporaram neste alfabeto alguns sons vocálicos. Por fim, surge o alfabeto latino por volta do século I a.C., composto por vinte e três letras e segundo Higounet foi o alfabeto grego ocidental responsável pelo surgimento do alfabeto latino. A partir daí vão sendo aperfeiçoadas, sofrendo algumas modificações até chegar ao modelo que temos hoje. Como se pode perceber, no decorrer de todo processo de surgimento da escrita, cada povo teve seu suporte – a placa de argila, o pergaminho, o papiro ou o papel – e na contemporaneidade, a tela do computador. 325 3. Aquisição da língua escrita na contemporaneidade: alfabetização ou letramento? 58 Os Sumérios foram um povo de origem desconhecida que se fixou na região da Baixa Mesopotâmia entre 3200 e 2800 a.C. 59 É uma grafia particular dos alfabetos latino e grego, utilizada a partir do século III ao século VIII nos manuscritos, pelos amanuenses latinos e bizantinos. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário Ao se pensar num sujeito contemporâneo que nasce em meio à globalização, ou mesmo num sujeito de outra era, infere-se que este ao frequentar a escola pela primeira vez, leva consigo certo conhecimento da língua escrita, pois direta ou indiretamente tem contato com a mesma, seja na tevê, nos livros de histórias infantis, nas roupas etc., porém este mesmo sujeito para ter uma concepção do que ver escrito, ele precisa ter uma compreensão de leitura e escrita, ou seja, ser alfabetizado. Segundo o dicionário Aurélio “alfabetizar é ensinar a ler”. Diferente da fala – adquirida naturalmente nos ambientes informais do dia a dia –, para escrever, o sujeito precisa passar por um processo de alfabetização, mas se alfabetizar é ensinar ou aprender a ler, como se aprende a escrever? Na sociedade contemporânea em que vivemos, despejamos toda essa carga na escola, ela é, segundo Signorini (2008), “o principal, senão único meio de acesso ao letramento do tipo valorizado pela sociedade burocrática” (SIGNORINI, 2008, p. 162). Pois se sabe que é muito difícil aprender a ler e escrever fora da escola, e se isso acontece, não tem valor formal para a sociedade, visto que, quanto maior o grau de escolarização, mais valorizado é o sujeito, quanto menor, menos valor tem. Com isso conclui Soares, As escolas são instituições às quais a sociedade delega a responsabilidade de prover as novas gerações das habilidades, conhecimentos, crenças, valores e atitudes considerados essenciais à formação de todo e qualquer cidadão. Para alcançar tal objetivo, o sistema escolar estratifica e codifica o conhecimento, selecionando e dividindo em partes o que deve ser aprendido[...] (SOARES, 2005, p. 84) É na escola que o sujeito aprende a ler e escrever – é alfabetizado –, é também à escola que a sociedade delega essa responsabilidade – alfabetizar –, porém, há uma grande diferença em ser alfabetizado e ser letrado. Segundo Soares (2005), letramento “é, pois o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita [...] e apropriar-se da escrita é tornar a escrita própria, ou seja, é assumi-la como sua propriedade ”. (SOARES, 2005, pp. 18-39). Analisando os excertos acima podemos entender que alfabetização e letramento se diferem, uma vez que a autora, assim como outros autores considera letrado o sujeito que se envolve diretamente nas práticas sociais de escrita, ou seja, não apenas aprendeu a ler e escrever, mas usa a escrita no dia a dia e alfabetizado aquele sujeito que somente ler e escreve. Ela ainda questiona em seu estudo a diferença entre saber ler e escrever e ser alfabetizado ou letrado. Há, assim, uma diferença entre saber ler e escrever, ser alfabetizado, e viver na condição ou estado de quem sabe ler e escrever, ser letrado (atribuindo a 60 essa palavra o sentido que tem literate em inglês). Ou seja: a pessoa que aprende a ler e escrever – que se torna alfabetizada – e que passa a fazer uso da leitura e da escrita, a envolver-se nas praticas sociais de leitura e escrita – que se torna letrada – é diferente de uma pessoa que não sabe ler ou escrever, não faz uso da leitura e da escrita – é analfabeta – ou, sabendo ler e escrever, não faz uso da leitura e da escrita – é alfabetizada, mas não é 60 LITERATE: educated; especially able to read and write – educado; especificamente, que tem a habilidade de ler e escrever. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ letrada, não vive no estado ou condição de quem sabe ler ou escrever e pratica a leitura e a escrita. (SOARES, 2005, p.36) A partir da fala de Soares (2005) dá para compreender a diferença, pois segundo ela, mesmo o sujeito sendo analfabeto ele pode viver na condição de letrado, visto que mesmo não sabendo ler ou escrever conhece as funções da língua, desse modo mostrará essas funções no momento em que dita para um alfabetizado uma carta a um amigo, pede a alguém que leia para ele avisos afixados em algum lugar, ouve jornais etc. 4. Letramento literário e Letramento digital Muitos são os questionamentos, as dificuldades e as frustrações dos professores quanto à leitura literária. Como promover a leitura literária se os nossos alunos nasceram numa era em que a tecnologia está presente em todos os lugares? – televisão, celular, internet. Como chamar a atenção desses alunos para um letramento literário quando entra em jogo o letramento digital? Em primeiro lugar, o que mais falta para que a leitura literária tenha sucesso é a motivação por parte dos professores; ninguém nasce sabendo ou gostando de ler. A leitura deve ser ensinada e motivada, essa é a função dos professores e da escola, senão a mais importante, pois um bom leitor possivelmente se tornará um bom escritor. Cosson citado por Botelho diz que 327 “*...+ devemos compreender que o letramento literário é uma prática social e, como tal, responsabilidade da escola. A questão a ser enfrentada não é se a escola deve ou não escolarizar a literatura, como bem nos alerta Magda Soares, mas sim como fazer essa escolarização sem descaracterizá-la, sem transformá-la em um simulacro de si mesma que mais nega do que confirma seu poder de humanização.” (COSSON, 2009, p. 23 apud BOTELHO, 2010, p.4) Não se pode impor ao aluno que ele faça uma leitura porque vai ser cobrada numa prova, ideal seria se lessem com fruição e não por obrigação. O primeiro passo é falar do autor, da obra, verificar os conhecimentos prévios dos alunos e não somente utilizar o texto como um pretexto para as aulas de gramática. Em segundo lugar, esses alunos nasceram numa época em que tudo gira em volta das TIC, eles fazem uso frequente dessa tecnologia, seja em casa, na rua ou na escola, pois tem seus celulares com acesso à internet, visitam lan-rouse e etc. Assim sendo, tanto quanto o livro didático as TIC estão a serviço do professor, basta que ele as utilize em seu benefício e em beneficio do seu aluno. Conhecendo a real situação das instituições públicas de ensino, é válido observar que o letramento digital vem ganhando espaços, uma vez que muitas escolas têm em seus departamentos um laboratório de informática que pode ser utilizado por professores e alunos como apoio em suas aulas, porém em muitas os equipamentos ficam trancados a chave, privando os alunos desse aprendizado. A aquisição do letramento torna-se segundo Xavier indispensável àqueles que querem viver bem nas sociedades que super valorizam a escrita, pois eles terão suas formas de vida até certo ponto Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário condicionadas pelo rótulo (competente ou inábil) que receberem das instituições de ensino, conforme o nível de aprendizagem que demonstrarem ter obtido ao longo de sua vida escolar. (XAVIER, 2011, p.1) Como bem salientado pelo autor, o sujeito letrado tem capacidades de ver mais longe, de dominar o código escrito e estabelecer as relações sociais exigidas por tal tecnologia. Embora sendo letrado e/ou alfabetizado, não significa que o sujeito seja alfabetizado ou letrado digitalmente, pois para isso ele precisa de habilidades que o ajude a construir sentidos a partir dos textos produzidos neste meio, pois estes se ligam a outros formando uma rede de links e hipertextos, nos quais é possível perceber uma junção de sons, imagens e letras. Portanto, letramento digital são as práticas sociais de leitura e escrita dos sujeitos nos meios tecnológicos. Soares (2002) diz não existir o “Letramento” e sim “Letramentos”, pois segundo ela, usa-se o plural “Letramentos” para enfatizar a ideia de que diferentes tecnologias de escrita geram diferentes estados ou condições naqueles que fazem uso dessas tecnologias, em suas práticas de leitura e de escrita: diferentes espaços de escrita e diferentes mecanismos de produção, reprodução e difusão da escrita resultam em diferentes letramentos. (SOARES, 2002, p. 156) Podemos inferir a partir deste excerto, que esses espaços de escritas podem ser a escola como um ambiente formal utilizando o papel e o ciberespaço como um ambiente não formal utilizando o hipertexto. Todos esses suportes desde a antiguidade – a placa de argila, o pergaminho, o papiro, o papel e agora a tela do computador, condicionam as relações entre escritor e leitor, pois de certa forma transforma o modo de produção e recepção dos textos, os gêneros aos quais são aplicados, o desenvolvimento cognitivo dos produtores/receptores, bem como o estado e a condição de produtor/receptor destes textos. 5. Weblog: um novo espaço de escrita O termo weblog foi criado por Jom Barger em 1997 e, segundo Marcuschi (2008) “são os diários pessoais na rede; uma escrita autobiográfica com observações diárias ou não, agendas, anotações, em geral praticadas por adolescentes na forma de diários participativos” (MARCUSHI, 2008, p.202). O weblog era usado segundo as características acima citadas, porém não é somente como gênero diário que funciona na contemporaneidade, por ser um espaço de interação e construção do conhecimento, este pode ser usado como gênero diário e portador de vários outros; hipergênero condutor de microgêneros textuais. Devido seu acentuado uso, novos recursos foram sendo adaptados. No espaço do weblog, a comunicação se dá através de posts e comentaristas, estes se conectam através dos links ao qual chamamos de hipertexto – vai além do texto tradicional, possibilitando ao sujeito uma nova forma de leitura e escrita, ele pode ao mesmo tempo ser leitor, autor e coautor de textos diversos, podendo esses textos serem usados coletivamente e, por sua vez estão sujeitos a modificações. Segundo Barreto (2010) o “weblog edifica-se como espaço de formação continuada em rede, visto que a maioria dos enunciados postados possibilita a interação entre os sujeitos – autor e leitor – que ao fazer seus comentários esclarecem e até desconstroem sentidos até então considerados válidos” (BARRETO, 2010, p.4). Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ Foi nessa perspectiva, na ideia de interação e construção do conhecimento através da escrita que se pensou num trabalho extraclasse utilizando o weblog. Os alunos teriam contato com vários gêneros textuais tradicionais em sala de aula, logo esse trabalho teria continuidade no weblog, pois é sabido que a construção de conhecimento não está restrita as paredes de uma escola. A priori, se pensou em utilizar o espaço para socialização das atividades extraclasse, com isso, o weblog seria utilizado como suporte dos gêneros trabalhados em sala de aula. A proposta foi discutida juntamente com a turma e então nasce o weblog–Além da sala de aula. 6. Análise das escritas digital e analógica Pretende-se aqui, analisar a escrita de dois weblogs e alguns textos de alunos da escola locus da pesquisa – ACM –, e partindo do pressuposto que o weblog possui um espaço de escrita diferenciado, temos aqui um bom ambiente para investigação. Segundo as concepções de Marcuschi (2008), o estudo do gênero não é novo, surgiu no Ocidente há cerca de vinte e cinco séculos. Primeiro com Platão, na poética e em Aristóteles, na retórica. Sai dessas fronteiras e abrange a linguística de modo geral. Não obstante, gêneros textuais são os textos que utilizamos no nosso dia-a-dia para nos comunicar. Exemplos: carta, receita, bula de remédio, telefonema, romance, novela, e-mail, notícia, reportagem, entrevista e etc. Durante todo o processo de descoberta da escrita e seu desenvolvimento até a contemporaneidade o homem tem se apropriado dos gêneros do discurso para se comunicar, seja numa conversa informal, seja numa conferência. Esses gêneros utilizados pelos sujeitos precisam estar adequados a situação de comunicação, ao ambiente em que estão/estarão inseridos. Para Bakhtin (1997) há dois tipos de gêneros – primários e secundários. Os gêneros primários são característicos da oralidade e os secundários característicos da escrita. Como descrito anteriormente, o intuito é observar a escrita nos ambientes – escola e ciberespaço –, e verificar até que ponto a escrita na web influencia na escrita da escola. Portanto, objetiva-se observar a transformação do gênero “diário íntimo" pessoal que há muito tempo foi/é utilizado pelos jovens para relatar os acontecimentos do dia a dia, embora seja escrito, o diário íntimo traz características da oralidade, pois o seu produtor/autor escreve informalmente, ou seja, faz basicamente a transcrição da sua fala. Com o avanço da tecnologia o diário íntimo pessoal escrito manualmente tem perdido o lugar para o diário digital – o weblog –, aquele que de certa forma era totalmente “íntimo” se difere deste que embora considerando íntimo por alguns autores, fica exposto na rede – web – para visitação e comentários. O primeiro weblog é de um aluno do 9º ano, que se apresenta com o nickname Smook. A figura 1mostra a página inicial do weblog, porém o primeiro texto a ser analisado é o que traz como título o próprio nome do espaço “Eu, quem mais?! quinta-feira, 19 de maio de 2011 329 Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário Figura 1 Eu, Quem mais ?! Bem, depois de algumas informações. Sinto que algo interiormente em mim mudou, e mudou completamente, atitudes idiotas, sonhos bobos. Todos nós um dia teremos que seguir um caminho, porém tuas escolhas poderão ser as mais difíceis em certos casos. Na maioria das vezes achei algumas atitudes certas, porém foi uma grande perca de tempo. Nossa quantas coisas perdi... Será que termina ou continua nessas besteiras ?. Será que realmente me veria como um amor, ou como outra coisa. Sei lá, agora em minha mente tudo está desabado, como se fosse uma catástrofe do destino. Porém... Será que ela me ama ?, sei não, digamos que sim, mas com todas as ultimas atitudes não... (Manipuladores, sempre querendo ferrar com você e sua mente!) Postado por Smoke às 01:25:00 0 comentários Enviar por e-mailBlogThis!Compartilhar no TwitterCompartilhar no FacebookCompartilhar no Orkut Escrita digital - texto 1 Pode se perceber no texto acima que a sua formatação é básica de um diário, pois há presença de data, hora e remetente do texto postado, percebe-se também que o blogueiro escreve sobre seus sentimentos quanto ao seu crescimento interior, bem como em relação à frustração de um amor não correspondido (essa interpretação poderá ser analisada diferente aos olhos de outro leitor), ele escreve informalmente, o que é proporcionado pelo espaço. Ao fazer a leitura do post, foi possível verificar uma semelhança com a oralidade, pois as entonações e pausas (marcas de oralidade) são marcadas por sinais gráficos como em: “Nossa quantas coisas perdi... e Porém...”; aqui, o sujeito blogueiro utiliza a reticência como uma forma de suspender o pensamento. Partindo do pressuposto de que é uma das utilidades da reticência o sujeito aqui observado não foge a regra gramatical, porém é bom observar que embora servindo como marcadores da fala, alguns sinais de pontuação (gráficos) foram usados de forma inadequada. Outra situação presente é o uso inadequado do pronome: “*...+ porém tuas escolhas poderão ser as mais difíceis em certos” casos”. Como esta escrita foi realizada no espaço do weblog e pressupondo que ele esteja falando para o seu leitor, poderíamos não concordar com a escrita, pois inferirmos que o blogueiro não conheça todos os seus leitores, uma vez que o uso do pronome tuas dá ideia de intimidade com Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ leitor/ouvinte, embora podendo ou não estar presente. É bom também observamos que há erro na grafia, acentuação e pontuação de algumas palavras e frases o que não seria permitido na redação escolar. sexta-feira, 25 de novembro de 2011 Crescendo... Caramba, e eu que até a alguns meses atrás, não sabia de algumas coisas, de alguns hábitos... Nossa, cresci... E muito. Não tenho idéias idiotas como antes, não sou tão idiota de acreditar tanto como antes. Cresci e aprendi que na vida há vários momentos de perca, e de ganho, aproveite ambos os momentos que eles não voltam assim. Legal, eu ainda continuo crescendo, mas dessa vez já estou me entendendo, as minhas decisões, as minhas reações, o meu real valor. Sou muito feliz de estar aqui, sou muito feliz porque posso sorrir. Então nada melhor do que a vida, é isso mesmo, a vida é a melhor coisa que já se pode existir ! Se liberte do que te faz mal, tenha consciencia pra saber a consequencia de seus atos... e, Don't Worry, Be Happy =) Postado por Smoke às 20:46:00 0 comentários 331 Enviar por e-mailBlogThis!Compartilhar no TwitterCompartilhar no FacebookCompartilhar no Orkut Escrita digital – texto 2 Observando o texto 2, pode se concluir que o autor usa o weblog como diário pessoal, pois tanto no primeiro, quanto neste segundo texto ele usa esse espaço para relatar sua vida, os acontecimentos diários e socializar com seus leitores. Houve no texto 2 as mesmas ocorrências do texto1, excesso de reticências, grafia e acentuação inadequadas de algumas palavras. Smoke faz uma associação das imagens presentes no texto com o seu crescimento interior, pessoal, entretanto podemos também perceber uma intertextualidade em relação à evolução humana – primatas, hominídeos, homo erectus, homo sapiens sapiens – o crescimento, a evolução do homem até os dias atuais. Figura 2 Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário A figura 2 mostra a página inicial do weblog, o qual tem como nome Textos :), seguido de um emoticon. O weblog é de uma aluna do 7º ano, assim como o weblog anterior, esta usa esse espaço como um diário pessoal, porém, ao invés de ela produzir seus próprios textos, ela se apropria de alguns depoimentos oriundos de outros sítios da internet, e os transforma numa escrita de si, o que de certa forma não foge a regra dos post de weblog. Pois assim afirma Barreto (2011) “A linguagem por meio da escrita, no ciberespaço os cibernautas constroem identidades reais e imaginárias. Fazem com que o espaço virtualizado pelas tecnologias de informação e comunicação se faça importante no campo da mensagem escrita” (BARRETO, 2011 p. 11). Dessa forma, os blogueiros constroem suas identidades a partir dos post, independentemente de serem suas produções escritas ou apropriação de outras. sábado, 24 de dezembro de 2011 Nosso amoõor " é como o brilho das estrelas, as ondas do mar e o ar que bate em nossos rostos, é tão estranho isso tudo o que está acontecendo entre eu e você, é algo que eu nunca senti por ninguém, é um romance que não tem nem explicação e palavras para falar. Apenas saiba que eu te amo, e que nada nesse mundo irá consegui me separar de você, porque o que sentimos um pelo outro é algo forte, algo bom, algo diferente totalmente fora do normal [...] Agora eu paro e penso se um dia eu iria conseguir viver sem você, sem o seu calor, seu cheiro, seus beijos. Não, eu nunca mais vivo sem isso, porque eu tenho certeza que depois de tudo o que passamos juntos, é algo que podemos chamar para sempre, algo que nunca mais irá acabar, que não existi ponto final, não existi fim, apenas o começo. Parece que todo lugar que eu olho eu lembro de você, todo segundo eu só sei pensar em você, meu mundo gira envolta de você. Eu te amo demais amor, você é tudo o que eu sempre quis nessa vida [...] Porque pode ter certeza que esse amor é algo que durará para sempre *-*' Meu namorado, meu amor .. eu te amo demais e pode ter certeza que nunca vou te deixar só! Porque eu sempre estarei presente do seu lado em tudo o que você precisar, em cada situação, em cada momento de sua vida, para de ajudar e ser a namorada mais perfeita de todas. Eu te amo muito amor ♥ Quero te amar, mesmo que o sol aparecer eu não vou mudar mais de opinião ♪ Postado por :) Enviar por e-mailBlogThis!Compartilhar no TwitterCompartilhar no FacebookCompartilhar no Orkut às 09:09 0 comentários Escrita digital - texto 4 O post acima de título “Nosso Amoõor”, é um texto no qual a autora expõe seus sentimentos a um namorado, aqui ela escreve de forma como se estivesse falando e/ou escrevendo ao próprio garoto, fala de um amor incondicional, que é para sempre, típicos de paixões de adolescentes. Ela utiliza, assim como o primeiro blogueiro, alguns sinais gráficos para marcar as pausas e entonações – marcar a oralidade – usa também alguns sinais simbolizando os emoticons, o que não seria adequado num texto formal. É bom observar que a blogueira foge a regra da escrita formal no início do texto quando utiliza o til (~) na palavra amor, sem contar a quantidade de “o”, isso tudo para reforçar o sentimento existente entre ambos. Depois de verificado os textos desses weblogs, procurou-se observar também alguns textos formais – redação – e verificar se e até que ponto a escrita no ciberespaço interfere na escrita escolar. Foram observados textos dos alunos donos dos weblogs, bem como textos de outros alunos, pois partimos do pressuposto de esses jovens também utilizam as redes sociais, o ciberespaço para pesquisa e interação com outros jovens através da leitura e escrita digital, portanto fazem parte da pesquisa. Dessa forma foram observados cento e quatro (104) textos, tendo como proposta de produção o gênero memória – da infância até os dias atuais. Objetivou-se com isso que esses alunos produzissem livremente, mas com as devidas orientações do Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ professor, uma vez que para produzirem eles teriam que compreender o gênero textual (dentre os textos se encontram os dos blogueiros). Observados esses textos (104), percebeu-se que a incidência da escrita digital foi de aproximadamente 6,25%, ou seja, seis textos, embora haja mais presença de emoticons que do internetês, uma vez que nos textos das meninas os seus títulos vem acompanhados de coraçõezinhos, dentre outros símbolos. Dos seis textos encontrados resquícios da escrita digital somente em dois aparecia o internetês - ka, ka, ka e kkkkkk – simbolizando os risos no início de um texto e no meio de um outro. 333 Escrita analógica – texto 1 Escrita analógica – texto 2 Após observar todos esses textos foram encontrados alguns erros ortográficos, uso inadequado de verbos, acentuação, pontuação etc., porém nada que com a interferência do professor não fossem melhorados. Os textos a seguir são dos blogueiros, nestes foram encontradas as mesmas ocorrências dos demais. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário Escrita analógica do blogueiro Smoke – texto 3 O texto acima é do blogueiro Smoke, aqui ele narra a infância de sua irmã, a qual quando criança era muito esperta e que na adolescência passou a se comunicar com pessoas de diversas localidades através do ciberespaço, nas redes sociais, razão pela qual conheceu um rapaz e depois de algum tempo de relacionamento com o mesmo através da web, se encontraram, casaram-se, tiveram uma filha e depois vieram a se separar. A narrativa de Smoke não é um fato isolado, pois assim como sua irmã ele também é um adepto das redes sociais, constatamos isso no seu weblog, assim como eles, os jovens na contemporaneidade se comunicam através dessas redes, fazem amizade e algumas vezes até se relacionam intimamente como foi a caso da sua irmã. Percebeu-se que assim como no ciberespaço, Smoke utilizou de uma linguagem informal – isso também foi proporcionado pelo gênero textual memória – pois no decorrer da narrativa ele abre espaços para explicar a sua escrita – situar o leitor. Neste texto, podemos encontrar além das marcas de oralidade, alguns desvios da norma culta com relação à pontuação, acentuação, repetição de preposições e mesmo na própria estrutura do texto, pois não deixou as margens e escreveu sem deixar espaços na entrada do primeiro e segundo parágrafos. Embora sendo um aluno do 9º ano, as questões encontradas na sua escrita não compromete totalmente o texto, ou seja, com algumas orientações do professor essas ocorrências podem vir a ser sanadas. Escrita analógica da aluna blogueira - texto 4 Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ O texto, acima é da blogueira do 7º ano, (produzido na escola) e, diferente da sua produção no weblog – apropriação da escrita do outro – esta é uma escrita própria, na qual narra não a sua história de vida, mas de uma vizinha, o que para isso a princípio ela utilizou outro gênero textual – a entrevista – a partir da entrevista, ela começa sua produção. A autora traz como título do seu texto “Conversando com milha vizinha”, podemos perceber que houve uma troca da palatal ‘nh’ do pronome ‘minha’ – aqui o dígrafo ‘nh’ fora trocado por ‘lh’. Houve também o emprego inadequado de alguns pronomes – obliquo ‘me’, escrito ‘mi’, ‘mi’ ou invés de ‘mim’ etc. –, falta de pontuação e organização das ideias, acentuação de algumas palavras, organização dos parágrafos, dentre outras coisas, que seriam resolvidas com uma leitura, observações e reescrita do texto. Pode se constatar também que no texto da blogueira não há presença da linguagem da internet, somente alguns desvios da norma culta. 7. Considerações preliminares Esta pesquisa de caráter etnometodológico, teve como principal finalidade observar a escrita dos estudantes da Escola Municipal Antônio Carlos Magalhães, situada na cidade de Irecê-Bahia, na escola e no ciberespaço – Weblog –, uma vez que esses sujeitos nasceram numa época em que tudo gira em torno das TIC ( Tecnologia de Informação e Comunicação), assim sendo, inferimos que esses sujeitos tivessem contato com as redes sociais na escola ou extraclasse. Como o objetivo era pesquisar a escrita, foi preciso voltar ao tempo para saber como surgiu a escrita e o seu desenvolvimento até a contemporaneidade. Depois de algumas leituras sobre o surgimento da escrita, foi necessário compreender como a alfabetização chegou à classe popular, bem como o letramento literário e o letramento digital, este influenciado pelo grande uso da internet. Após concluir a primeira parte desse estudo começam as observações da escrita desses sujeitos na escola e na internet, visto que o objeto de estudo era a escrita nestes espaços, bem como a influência de uma sobre a outra. A princípio, foi preciso criar um weblog como os alunos para expor os textos realizados em sala aula, como o intuito de levá-los a realizar uma leitura e escrita em outros espaços. Outro passo foi observar o weblog de dois alunos da referida instituição escolar, bem como os textos de outros de variadas séries, para só depois começar as análises. A partir das observações foi possível perceber que a incidência da escrita da internet – internetês – ainda é muito pequena, uma vez que tanto nos weblogs observados, quanto nas redações realizadas na escola pouco se comprovou dessa escrita. No decorrer desse trabalho também foi possível perceber que muitos alunos ainda tem resistência em escrever tanto na escola como no ciberespaço, pois ainda falta incentivo dos professores para tal realização, visto que muitos professores não utilizam esses espaço de socialização de saberes para interagir com seus alunos, o que de fato precisa ser melhorado. Os weblogs observados são utilizados pelos seus respectivos donos como um diário virtual, pois as suas publicações são fatos do seu dia a dia, depoimentos sobre Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 335 relacionamentos e etc., se diferenciando, portanto do diário escrito analogicamente pelo fato de o digital ficar exposto à rede web e não fechado a sete chaves por seus donos. Chamado a princípio de conclusões preliminares, tem-se aqui o interesse em prosseguir com esse trabalho, pois o uso das TIC é importante para o aprendizado dos alunos, uma vez que a construção de conhecimentos não está restrita as paredes da escola. Não obstante nós professores, especialmente de língua portuguesa, precisamos estar aberto a essas mudanças, pois encontramos nesses espaços, ambientes que nos proporciona interagir com os alunos, presencial e virtualmente contribuindo para um aprendizado coletivo. 8. Referências BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. Tradução feita a partir do francês por Maria Ermantina Galvão G. Pereira e revisão da tradução Marina Appenzellerl. — 2’ cd. —São Paulo Martins Fontes, 1997. Versão digital BARRETO, Robério Pereira. Weblog e inserção do outro no mundo da escrita. 2011. Disponível em: < http://www.faetec.rj.gov.br/desup/images/edutec/02_2011/artigo_roberio_barreto.p df> Acesso em 03/01/2012 às 20h35mim. _______________. O reconhecimento de si na escrita no weblog. Disponível em: <http://poetadasolidao.blogspot.com/search?updated-max=2010-09-30T23:01:0003:00&max-results=20>- acesso em 25/11/11 as 22h07min. COSSON, Rildo. Letramento literário: teoria e prática. São Paulo: Editora Contexto, 2009. Resenha de: BOTELHO, Laura Silveira. Disponível em: <http://www.ufjf.br/fale/files/2010/06/Letramento-liter%C3%A1rio.pdf>. Acesso em 11/01/2012. HIGOUNET, Charles. História concisa da escrita. Tradução da 10ª Ed. corrigida Marcos Macionillo – São Paulo: parábola Editorial, 2003. MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008. RIVERO, Maria da Luz Cléia. A etnometodologia na pesquisa qualitativa em educação caminhos para uma síntese. Disponível em: <http://www.sepq.org.br/IIsipeq/anais/pdf/mr2/mr2_5.pdf>. Acesso em 2011 SIGINORINI, Inês. Letramento e (in)flexibilidade comunicativa. In: KLEIMAN, Angela B. Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social de escrita. Campinas, SP: Mercado das Letras, 1995. 10ª reimpressão, 2008. SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ _______________.Novas práticas de leitura e escrita: letramento na cibercultura. Educ. Soc., Campinas, vol. 23, n. 81, p. 143-160, dez. 2002 - Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br> XAVIER, Antônio C. dos Santos. Letramento digital e ensino. (UFPE). Disponível em: <http://www.ufpe.br/nehte/artigos/Letramento%20digital%20e%20ensino.pdf>. Acesso em 10 de dezembro 2011. 337 Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário MOBILE LEARNING COMO UMA AÇÃO SIGNIFICATIVA NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM Adelmo Ferreira de Abreu (UNEB – Campus XVI ) Robério Pereira Barreto (UNEB – Campus V) (professor orientador) RESUMO: este artigo apresenta interações escritas via dispositivos móveis realizadas pelos estudantes do 9º ano do ensino fundamental das escolas públicas de Irecê e região, quando usam as novas tecnologias digitais móveis e sem fio para produzirem e socializarem mensagens on-line. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica embasada a uma pesquisa de campo nas escolas públicas da microrregião de Irecê. Assim, o processo de aprendizagem móvel entre os interlocutores resulta na cooperação social, a qual é fator de interação sócio-verbal em rede. Alem de trazer uma discussão a respeito de como aplicar na prática pedagógica essas novas formas de escrever e aprender. PALAVRAS-CHAVES: M-Learning, Aprendizagem, Educação, Tecnologias. 1. Introdução Segundo Grado (2003) um dos desafios do século XXI é tornar os profissionais cada vez mais preparados para diagnosticar, buscar respostas e solucionar problemas. Viver e conviver em um mundo cada vez mais globalizado e informatizado, conectado em uma grande rede traz consequências importantes no processo de ensinar e de aprender, tanto nos contextos formais quanto nos contextos não formais de educação. Essa nova realidade aí instalada influência, de maneira positiva, não só a maneira de se trabalhar em educação, mas também, a maneira de preparar o sujeito para a sociedade, para o mundo do trabalho e para o aprendizado contínuo. O presente trabalho tem como metodologia a pesquisa bibliográfica tomando como base uma pesquisa elaborada nas escolas municipais da microrregião de Irecê. Estudos sobre práticas educacionais e aprendizagem significativa no contexto das tecnologias da informação e comunicação – TIC – que correspondem a todas as tecnologias que interferem e medeiam os processos informacionais e comunicativos dos seres, incluindo entre eles o M-learning termo que segundo Saccol (2011) é um conceito atual, não havendo consenso nem mesmo nos centros acadêmicos a respeito de sua significação. Ele define: O m-learning (aprendizagem móvel ou com mobilidade) se refere a processos de aprendizagem apoiados pelo uso de tecnologias da informação ou comunicação móveis e sem fio, cuja característica fundamental é a mobilidade dos aprendizes, que podem estar distante uns dos outros e também de espaços formais de educação, tais como salas de aula, salas de formação capacitação e treinamento ou local de trabalho (SACCOL, 2011, P. 25) A partir destes conceitos partimos para um trabalho de pesquisa onde foram entrevistados em média 10 alunos do 9º ano do ensino fundamental das escolas municipais de Barro Alto, Canarana, Ibititá, Irecê e São Gabriel. Para cada aluno Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ entrevistado foi feita a seguinte pergunta: Quando você envia mensagem de texto pelo celular você aprende alguma coisa? Sim ou Não? Por quê? Partindo desses inquéritos vamos apresentar que a compreensão de que os dispositivos móveis usados pelos jovens das escolas públicas de Irecê e Região são considerados por nós nessa pesquisa, como a base instrumental para o processo sociossemiótico que certifica a comunicação que, por sua vez, assegura aprendizagens para além daquelas postuladas pela escola. Assim desenvolveremos, neste contínuo, a tese: os dispositivos móveis são instrumentos competidores, e não concorrentes, de interação e comunicação e, portanto, levam a M-Learning. Firmamos que o debate é parcialmente filosófico com enclaves linguísticos, educacionais e voltados aos aspectos tecnológicos da educação contemporânea e em rede. Em seguida partimos para uma nova abordagem que é como utilizar de maneira significativa a habilidade e destrezas que estes alunos de escolas públicas têm de forma a contribuir com as práticas pedagógicas aplicadas em sala de aula. E neste ponto, encontra-se o grande dilema visto a grande quantidade de obstáculos que se enfrenta quando se pretende inovar na implantação de novos métodos que facilitam a aprendizagem. 2. Dialogando com teóricos Segundo Graziola Júnior na perspectiva da educação digital, numa concepção interacionista, o aluno deixa de ser o receptor de informações para torna-se o coresponsável pela construção de seu conhecimento, usando o celular e diferentes tecnologias digitais para buscar, selecionar, interrelacionar informações significativas na exploração, reflexão, representação e depuração de suas próprias ideias, segundo seu estilo de pensamento. Para Saccol (2011) no m-learning, a informação, a aprendizagem e o conhecimento surgem num imbrincamento. Logo, em determinados momentos, o indivíduo, ao se sentir perturbado por alguma situação externa, busca informação e a partir disso, articula-se rapidamente com seus pares, nas redes das quais participa, de forma que possa construir o conhecimento relativo àquela situação, ou seja, aprender. Nesta concepção a aprendizagem se dá nas relações sociais que o sujeito participa. Para ele não basta termos acesso ao conteúdo em qualquer lugar e a qualquer momento, pois para que a aprendizagem ocorra é necessário que o sujeito tenha espaços e tempos hábeis para ler, estudar, agir e interagir. As mudanças tecnológicas por si só não provoca mudanças na educação, mas a forma como as pessoas vão utilizá-las é que vai provocar esta transformação. Os professores devem está atentos à forma como os alunos utilizam as novas tecnologias e orientá-los no sentido de melhorar o acesso as informações buscando um melhor aprendizado por parte deles só a partir daí teremos cidadãos capacitados de maneira significativa para pensar, solucionar problemas e viver em uma sociedade completamente informatizada de forma consciente e podendo desfrutar de todos os recursos que ela oferece. 339 Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário Saccol (2011) afirma ainda que só assim possa se pensar em novas possibilidades pedagógicas fundamentadas nas teorias que fundamentam a aprendizagem e o desenvolvimento humano. Nesta mesma linha de raciocínio Graziola Júnior (2009) diz que ao compreender a prática pedagógica como articulada a uma educação como prática social e ao conhecimento como produção histórica e cultural, datado e situado, entendemos que a educação na atualidade precisa, necessariamente contemplar em suas práticas pedagógicas o uso de diferentes tecnologias digitais, enquanto uma produção histórica e cultural, que faz parte do viver e do conviver cotidiano dos sujeitos na sociedade atual. Já segundo Macedo (2005) o novo tempo e espaço proporcionado pelo virtual favorecem um novo fluxo de discussões e reflexões acerca das temáticas propostas, que é o ensino a distância, ele tenta mostrar que diante do novo contexto social não se pode imaginar uma educação que não esteja interrelacionada com as novas tecnologias. Ele diz que o acesso não linear, a bifurcação dos assuntos desenvolvidos, a releitura e o igual poder de argumentação dado a todos que pertencem ao grupo, proporcionam uma mudança de comportamento e é nesta mudança que vai provocando uma nova maneira de se ensinar e de aprender e é neste ponto que entra a nossa discussão de que o aluno ao enviar e receber mensagem através de seus aparelhos celulares ele esta construindo um conhecimento, no entanto é necessário que haja uma mudança radical tanto na formação do professor quanto na infraestrutura das escolas para que possa acatar a essa nova realidade. A trama de interações construída no virtual faz com que o processo de aprendizagem de cada indivíduo seja respeitado para tanto é necessário que todos que estejam envolvidos no processo da educação estejam dispostos a se envolverem completamente nesta mudança. Com efeito, através dos diálogos com teóricos da Educação, das Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC – e da Linguagem, bem como a interpretação de dados oferecidos pelos participantes através de suas informações verbais e das produções escritas na web, espera-se apresentar uma proposta metodológica fundamentada epistemologicamente no conceito de novos estudos de letramento, com a qual seja possível o reconhecimento de que os estudantes – nascidos digitais – devem ser orientados para novas práticas de leitura e escrita em que o uso do computador e da internet facilitem práticas interacionais e dialógicas com os professores. 3. O lugar e as práticas com os dispositivos Este texto nasce de inquietações, quais sejam: por que professores da educação básica das escolas públicas de Irecê - BA e Microrregião não utilizam de maneira efetiva os dispositivos móveis? No contexto histórico atual é considerável a popularização de equipamentos móveis tais como telefones celulares, smartphones, aparelhos de MP3, MP4... notbook, netbook, câmeras digitais, Ucas e tablets entre muitos outros, como instrumentos tecnológicos facilitadores de aprendizagem e interação entre eles, estudantes e a escrita presente na web. Em que medida práticas pedagógicas com gêneros textuais múltiplos produzidos no, para e pelos dispositivos móveis ampliariam os horizontes de estudantes e professores no que diz respeito a Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ práticas diversas com textos? De que modo às práticas pedagógicas até então usadas pelos professores potencializam a escrita e a leitura de textos na e da web pelos estudantes? Segundo Saccol (2011), as novas tecnologias: [...] oferecem um conjunto de possibilidades para a aprendizagem, permitindo, por exemplo, nossa interação com professores ou instrutores, bem como colegas ou outros indivíduos com os quais desejamos trocar informações, compartilhar ideias e experiências ou resolver dúvidas. Além disso, podemos acessar uma vasta gama de recursos e materiais didáticos, incluindo não somente texto, mas também imagem, áudio, vídeo, além de todas as possibilidades de integração de múltiplas mídias. Podemos inclusive utilizar toda a ampla gama de recursos que a internet nos oferece para aprendizagem, incluindo e-books, artigos, vídeos, noticias on-line, conteúdos de blogs, microblogs, jogos etc. (SACCOL, 2011, P. 18) Como podemos observar são infinitas as possibilidades de aprendizagens que esta nova realidade social nos oferece, a questão central agora é o professor está preparado para esta nova realidade? A infraestrutura educacional do nosso país tem capacidade ou interesse de acompanhar todas essas modificações que estamos vivendo? Os nossos alunos estão vivendo esta nova realidade um passo a frente da realidade em que vivem nossos professores em quase sua totalidade. Como podemos percebe é consenso o entendimento de que por meio das novas tecnologias da comunicação criou-se um ambiente de interação e comunicação global, portanto, esse novo contexto permite a reformulação de conceitos e técnicas de pesquisa, ensino e aprendizagem. Assim os cenários educacionais são construídos por um conjunto de variáveis que os definem. A entrada em cena dos dispositivos móveis modifica radicalmente as velhas variáveis e leva os processos educacionais e comunicativos para além das paredes da escola. Isto certamente leva ao deslocamento dos procedimentos de pesquisa baseados em modelos cristalizados pela etnografia ortodoxa. Ao enviar ou receber uma mensagem de texto o aluno escreve ou ler, decodifica, interpreta, participa, mobiliza seu intelecto de muitas maneiras, fazendo com que o processo de aprendizagem aconteça. Para Saccol (2011) “os aprendizes não mais precisam ficar limitados a um espaço fixo ou formal de aprendizagem” (SACCOL, 2012, 20) enquanto que a maioria dos professores das escolas pública não aceita se quer que os alunos liguem os seus aparelhos celulares dentro das salas de aula. Estes mesmos professores ministram suas aulas presos no passado com uma metodologia de ensino ultrapassadas tornado suas aulas pouco produtivas para o aprendizado dos alunos. O fato de pertencer a uma comunidade de interação e interpretação de unidades semiótica e textual, os jovens que utilizam os dispositivos móveis para interação on-line provocam, nos outros agentes comunicativos, aprendizagens emuladoras de sentidos visto que ambos são estimulados a cada mensagem a refletirem sobre o tema proposto. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 341 Os dispositivos móveis à disposição dos estudantes constituem-se instrumentos cuja produção resultante é a interação verbal e comunicação contínua, através da qual, novos aprendizados são compartilhados. Diante do exposto, parte-se da premissa de que a sociedade contemporânea, organizada nos fundamentos da Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC – tem desconstruído vários paradigmas e ideias, inclusive a de que a educação bancária centrada no professor, bem como o modus de adquirir e produzir linguagens escritas somente no âmbito das aulas de redação, agora é confrontado pela prática cotidiana de interação escrita dos estudantes através do acesso ao computador e celular. Segundo Saccol (2011) o m-learning vai adquirindo diferentes nuanças, tão diferenciadas e específicas “quanto às possibilidades tecnológicas, epistemológicas e metodológicas evidenciando diversas formas de atividades e situações pedagógicas para impulsionar o desenvolvimento cognitivo, sociocognitivo e metacognitivo dos sujeitos” (SACCOL, 2011, p.100) Segundo Barreto (2005) o texto produzido por meio de dispositivos móveis carrega em si e como ele significa e adquire aquele significado ou outro, posto que os não-ditos presentes na linguagem constituem um novo centro de compreensão para o sujeito que, interpretando a mensagem de um lugar histórico, a reconfigura de acordo com as suas realidades, em virtude de haver nos dispositivos móveis a conexão para a web, a qual disponibiliza espaços para a prática de leitura e de escrita sem que, necessariamente, se aplique o rigor das redações escolares, tampouco exige a presença do professor, como único conhecedor e controlador do que pode e o que não pode ser escrito e ou lido. Os dispositivos móveis nos quais a web, por meio de redes sociais possibilita ações de letramentos múltiplos. Isto leva a tensão que se evidencia por que os professores não acompanham as mudanças no modo de ler e de escrever dos estudantes conectados ao mundo digital. E o complexo nisto é que a escola ainda não absorveu estas produções como práticas contemporâneas de produção e socialização de conhecimentos diversos – M-Learning – nas quais as ações interativas entre sujeitos acontecem por meio da efetiva produção textual em rede. Em virtude da complexidade da questão, se objetiva estabelecer os pontos de tensão existentes na prática pedagógica dos professores – imigrantes digitais – que, atuando de modo racionalista, realizam suas atividades de ensino de leitura e de escrita baseando-se no racionalismo da gramática da língua: começo, meio e fim. Por outro lado, os estudantes – nascidos digitais – praticam leitura e escrita na web de maneira dialógica, na qual não há linearidade de leitura, tampouco simetria no raciocínio escrito. Dizemos que é consenso o entendimento de que a web é o novo ambiente de interação e comunicação global, portanto, esse novo contexto permite a reformulação de conceitos e técnicas de pesquisa, ensino e aprendizagem. Assim, os cenários educacionais são construídos por um conjunto de variáveis que os definem. A entrada em cena dos dispositivos móveis modifica radicalmente as velhas variáveis e leva os processos educacionais e comunicativos para além das paredes da escola. Isto certamente leva ao deslocamento dos procedimentos de pesquisa baseados em modelos cristalizados pela etnográfica ortodoxa. Dessa maneira, a investigação baseia-se nos princípios da dialogicidade e da interação com os dados e os participantes da investigação, de modo que estes últimos Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ determinaram a metodologia da pesquisa porque foram agentes autorais de suas escritas; a princípio isso nos levou transitar da etnografia clássica à etnografia virtual. Nesta senda se tem como expectativa que professores do ensino básico das escolas públicas, interatuem com práticas de leitura e escrita realizadas pelos estudantes na Web. Com isso terão ampliadas suas bagagens teóricas e metodológicas, bem como poderão articular práticas pedagógicas inovadoras voltadas ao ensino de leitura e escrita para além do espaço fechado de sala de aula; aula de redação simplesmente desarticulada da realidade social e cultural dos aprendizes, autores e produtores de textos cujos sentidos incluem uns aos outros no sistema comunicacional da web. A escola nesse contexto tem como alternativa, rever suas ações e o seu papel no aprimoramento da sua prática educativa, sendo que, uma análise sobre seus conceitos didático-metodológicos precisa ser feita, de forma a adequar sua postura pedagógica ao momento atual e principalmente colocar-se na posição de organização principal e mais importante na evolução dos princípios fundamentais de uma sociedade, cumprindo assim sua função transformadora e idealizadora de conhecimentos científico-filosóficos pautando o resultado de suas ações em saber concreto. Segundo Graziola Júnior: Novos modelos educacionais estão se desenvolvendo na tentativa de possibilitar novas formas de comunicação e de interação, que permitam aos sujeitos participarem de um processo de crescimento de diferenciação, de retomada recíproca de singularidades e de construção de cidadania. Portanto, além de estudar as novas possibilidades oferecidas pelas tecnologias digitais, devemos ter presente a profunda necessidade de entender como ocorre a aprendizagem para poder ser coerente com o modelo epistemológico adotado. (GRAZIOLA JÚNIOR: 2009) De acordo com Coll e Monereo (2010) a comunicação e a aprendizagem suportadas pelas ferramentas digitais, em especial, por meio do reconhecimento de que há um novo paradigma tecnológico, organizado em torno das tecnologias da informação e associado a profundas transformações sociais, econômicas e culturais, constituem-se em verdadeira encruzilhada, pois há aí vários mecanismos educacionais, sociais e de poder impactando a vida e as relações entre seres humanos. Este raciocínio é corroborado por Castells (2001), quando ele afirma que a internet por meio de seus dispositivos comunicacionais móveis amplia os espaços de socialização de saberes entre os indivíduos. Assim sendo, novas ações de comunicação e aprendizado se abrem e a educação se torna nômade e profundamente carregada de múltiplos sentidos para aqueles que a praticam. De forma pragmática, o estudo das práticas de leitura e escrita realizadas na web por estudantes e professores permite uma reflexão à prática pedagógica dos professores, no que diz respeito ao reconhecimento de que a web é, por si, espaço de circulação de culturas, em especial aquelas realizadas por meio da cultura escrita. Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário 343 Assim sendo, novas ações de comunicação e aprendizado se abrem e a educação se torna nômade e profundamente carregada de múltiplos sentidos para aqueles que a praticam. Neste contexto, reconhecemos que as práticas de aprendizagem fixas, isto é, aquelas maneiras de se instruir por meio de ensinamentos fixados na figura do professor e da escola deixam de ser o centro da aprendizagem contemporânea, uma vez que passou a existir por meio de subordinações a aprendizagem em movimento cujo responsável direto são os dispositivos móveis – celulares, laptops, tablets, ucas, etc. – presentes na vida da maioria dos indivíduos. Embora se reconheça que, no caso brasileiro, uma parcela significativa da população não tem acesso a serviços de internet com a qualidade e o custo acessíveis; ainda se paga muito caro para ser um cidadão conectado. Novas formas sociais por meio das quais as pessoas não estão obrigadas a viver, encontrar-se ou trabalhar face a face para produzir mercadorias, oferecer serviços ou manter relações sociais significativas, caracterizam-se como a grande encruzilhada da nova realidade, estamos vivendo uma nova – sociedade virtual – e, portanto, os modos de viver e aprender por ela apresentados reclamam por práticas virtuais de ensinoaprendizagem em rede. A escrita na tela dos dispositivos móveis se constitui num ato interacional assimétrico e às vezes conflituoso para o escrevente, porque ao comparar essa produção com aquela pedida pela escola, explicitamente se nota diferenciações quando da articulação das palavras no espaço on-line. Pois neste espaço não se segue normas padronizadas de escrita e esta flui como se o aluno estivesse simplesmente conversando e não escrevendo, além de escrever criando novos códigos que só com o surgimento da internet passaram a serem escritos. 4. Análise dos dados pesquisados As escolas públicas escolhidas estão localizadas no perímetro urbano das cidades bahianas: Barro Alto, Canarana e Ibititá, Irecê e São Gabriel. Estas localidades constituem 23,8% das cidades que compõe a Microrregião de Irecê, cidade considerada pólo de serviços e negócios para os 20 municípios que a circundam. Ainda segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – existem 393.780 habitantes distribuídos numa área territorial de 27.490,80 km2. De acordo com o mesmo instituto de pesquisa, as cidades locus da pesquisa cobrem 4.055 km2, totalizando 14,72% do território e tem na vegetação caatinga seu bioma, a economia é baseada em serviços, agricultura e pecuária. As escolas escolhidas foram escolas públicas situadas na região central das cidades onde se situam a investigação; elas recebem estudantes de várias classes sócio-econômicas. Os participantes da pesquisa disseram são em sua maioria filho de profissionais liberais, agricultores e funcionários públicos. No que concerne à questão de gênero pudemos perceber diante dos dados a maioria das classes pesquisadas 60% dos alunos são do sexo feminino, os outros 40% masculino. Ressaltamos, portanto, que esses números representam metonimicamente o corpo discente pesquisado, entretanto, não ousaríamos afirmar que esta é a realidade das escolas públicas da região pesquisada, apenas o reflexo dela. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ No que diz respeito à idade, pudemos situá-los como sendo da geração 90, que de acordo com Palfrey (2011), trata-se de “nascidos digitais” por terem suas identidades e amizades vinculadas baseadas em interesses compartilhados e interação frequente em rede, a qual permite por meio dos dispositivos móveis e da internet o compartilhamento de informações e consumos criativos contínuos. “uma coisa é certa: os nascidos digitais se expressam criativamente e de muitas formas diferentes daquelas que seus pais usavam quando tinham a mesma idade”. (PALFREY, 2011, p.15) A linguagem icônica presentes nas mensagens trocadas pelos participantes da pesquisa tenciona o modo de escrever, porque colocam em evidência as novas possibilidades de comunicação na rede. Isto fica caracterizado quando eles usam elementos semióticas para construção de suas mensagens. Assim, os dados coletados no campo de pesquisa nos levaram a compreender que os dispositivos móveis potencializam as interações entre sujeitos de tal modo que a comunicação virtual permite a descentralização do poder de ensinar e aprender até então localizada na instituição escolar. “Uso o celular para falar com minha amiga, ela é mais velha e pode me ajudar resolver algumas coisas que não entendi quando a professora falava” disse uma entrevistada. “Aprende a ler a linguagem de torpedo, acho mais fácil e me preocupo com a escrita correta” falou outra. 5. 345 Considerações finais A M-learning surge como nova possibilidade para as instituições educacionais e sociais interagirem de modo significativo tanto com aqueles que ensinam quanto com aqueles que aprendem em rede. Pudemos entender ainda que os “nascidos digitais” das escolas públicas do sertão bahiano têm os mesmos desejos de consumo que os mesmos “nascidos digitais” de outras partes do país, isto é, todos querem acesso wi-fi gratuito nos espaços públicos e conexão à internet banda larga para celular, principal instrumento móvel de comunicação e interação social. Por meio da interação virtual promovida pelos dispositivos móveis os estudantes declaram está “conectados” com o mundo on-line e, assim podem acessar e conhecer realidades diferentes daquelas propostas pelos livros didáticos e as mídias tradicionais presentes na região – rádio e TV. O que nos resta agora é compreender que a realidade é outra, o aluno é outro, logo o professor não pode continuar o mesmo. Por isso cabe ao professor buscar entrar de vez nesse novo mundo buscando realizar o seu trabalho de maneira a conseguir provocar no aluno um interesse pelas aulas de leitura e produção de texto. Sabemos que não é fácil, pois existem inúmeras barreiras: infraestruturais, socioculturais, econômicas e políticas. E para que a mudança ocorra é necessária uma reestruturação de cima a baixo modificando e redefinido todo o processo educativo. Que o aluno aprende com as novas tecnologias é um ponto de consenso entre todos que estudam e analisa esta questão, mas as questões que precisam ser respondidas agora são: como aplicar em sala de aula essa nova prática pedagógica levando em consideração todas as dificuldades elencadas ao logo deste trabalho? Pois no âmbito das instituições de ensino há uma dificuldade em desenvolver e vivenciar Caderno de Resumos e Anais do II Seminário de Identidade e Docência. Uneb – Campus XVI – Irecê. 2012, ISSN: 2237-1710 – Vol. II, Ano 2, Edição 2012, SANTOS, Cenilza Pereira dos; BARRETO, Robério Pereira. (orgs.). Sumário práticas pedagógicas efetivamente inovadoras. E nessa linha de pesquisa há uma imensidão de possibilidades para tentar uma inovação no trabalho do professor. É um caminho difícil e muito trabalhoso, mas que provoca uma imensa satisfação àquele que conseguir trilhar um caminho diferenciado na arte de ensinar a aprender utilizando as novas tecnologias móveis com todas as suas possibilidades de construção do conhecimento. Referências BARRETO, Robério Pereira. Ciberdiscurso e interculturalidade na web. Tangará da Serra, MT, Editora Tangará, 2005. CASTELLS, Emanuel. Sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1995. COLL, César; MONEREO, Carles. Psicologia da educação virtual: aprender e ensinar com as tecnologias da informação e da comunicação. Porto Alegre: Artmed, 2010. GRADO, Anita Raquel, et ali. Objetos de aprendizagem para m-learning. 2003. Disponível em: http://seer.ufrgs.br/renote/search/results. Acessado em 16 de abril de 2012 GRAZIOLA JÚNIOR, Paulo Gaspar. Aprendizagem com mobilidade na perspectiva dialógica: reflexões e possibilidades para práticas pedagógicas. 2009. Disponível em: http://seer.ufrgs.br/renote/search/results. Acessado em 16 de abril de 2012 MACEDO, Alexandra Lorandi, et ali. A concepção do aluno sobre a própria aprendizagem ao utilizar ambientes virtuais. 2005. Disponível em: http://seer.ufrgs.br/renote/search/results. Acessado em 16 de abril de 2012 PALFREY, John. Nascidos na era digital: entendendo a primeira geração de nativos digital. Porto Alegre: Artmed, 2011. SACCOL, Amarolinda, et ali. M-learning e u-learning: novas perspectivas da aprendizagem móvel e umbíqua. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. Sumário II Seminário Identidade e Docência: Trabalho docente e formação de professores: novos desafios e possibilidades Irecê- BA, 16,17 e 18 de maio de 2012 – UNEB - DCHT – Campus XVI – Irecê – BA. ___________________________________________________________________________________________________________ EDUCAÇÃO, CIBERCULTURA E LEI QUE ORGÂNICA DO MUNICÍPIO – LOM. Ednildes Sodré Gomes (FAM – Faculdades Montenegro). (ATHUS – Consultoria e Gestão de Pessoas)61 RESUMO: O presente artigo objetiva refletir acerca da cibercultura e a possibilidade de legitimar à sua utilização em Instituições Públicas Municipais, através das leis orgânicas, a qual poderá nortear novos códigos de conduta, possibilitando sua atualização a respeito do tema e enfatizar a pesquisa teórica, os conhecimentos da antropologia no ciberespaço e a viabilização de uma inteligência coletiva. Enfim, aprender a relacionar comunicação, cibercultura e cognição, em ambientes institucionalizados enquanto lócus básico para um desenvolvimento sustentável, tendo como parâmetros, os princípios delineadores nacionais e estaduais, respeitando e sistematizando as peculiaridades locais, na sua autonomia política, legal, tecnológica, cultural, social e econômica. PALAVRAS-CHAVES: Cibercultura. Nativos Digitais. Imigrantes Digitais. Inteligência Coletiva. Lei Orgânica Municipal. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL A Lei Orgânica Municipal de Barra do Mendes introduz o presente artigo, por que objetiva, portanto, provocar os conhecimentos legais e sua relação com o teórico e o empírico no que diz respeito à educação, a tecnologia e a estética da inteligência coletiva. Como o próprio nome já declara esta Lei é para designar códigos de conduta da pessoa human
Download