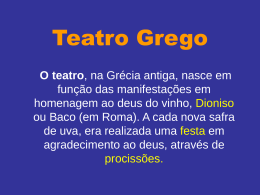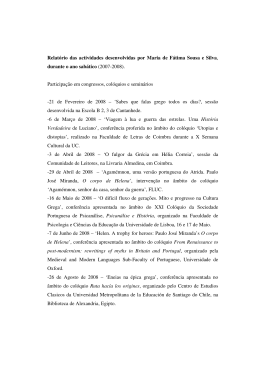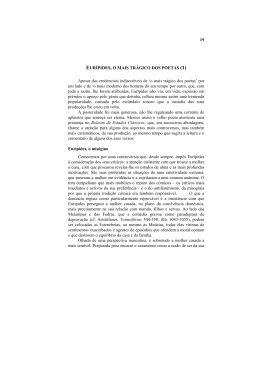AS RÃS, E A CRÍTICA DE ARTE NA ANTIGUIDADE. Autor: Antônio Leandro Gomes de Souza Barros. Titulação: Mestre em História e Crítica de Arte - UERJ. Vínculo Institucional: departamento de História da Arte - UERJ. Resumo: Considerando decisivamente o conceito proposto pelo encontro, Pelas Vias da Dúvida, e dentro da temática “História(s) da arte: escrever e reescrever”, o presente artigo oferece uma releitura crítica da comédia grega antiga As Rãs, escrita pelo célebre Aristófanes e representada pela primeira vez em 405 a.C. O interesse em tal objeto de estudo é a sua essência e expressão dúbia, quase problemática, enquanto obra de arte que também se realiza no trabalho crítico, e até historiográfico. Em outras palavras, a peça faz jus ao seu título ao se tornar um fecundo exemplo de um tipo de escrita caracterizada pela ambiguidade literária, ou de maneira mais precisa, no caso de As Rãs, uma literatura anfibiológica: um “animal gráfico” que atua em diferentes campos e ambientes. Assim, a releitura da obra de Aristófanes serviria como ponto de partida questionador para outras escritas ou reescritas anfibiológicas que reforçam essas vias, vias pela dúvida. Abstract: Considering the concept proposed by this congress, For Routes of Doubt, and inside the theme “History(s) of art: written and rewritten”, the present text offer another critic reading of the ancient greek comedy The Frogs, written by the famous Aristophanes and played for the first time in 405 b.C. The interest in such object of study is your double expression and essence, almost problematic, whereas work of art that also realize itself as a critic work, and also historiografic. In other words, this play lives up to its title for became a fertile example of the kind of writing characterized by ambiguity: as a grafic-animal with dual literary function. Thus, the reading of the work of Aristophanes would serve as a starting point for further questioning about ambiguity written or rewritten that supports those routes, routes for doubt. Palavras-chave: As Rãs, Aristófanes, crítica de arte. Key-words: The Frogs, Aristophanes, art criticism. Artigo: As últimas décadas têm sido de uma profunda e profícua crise para a História da Arte. Nesses momentos é natural dos seres vivos se revolverem em dramas e incertezas, e verem-se visitados pelos seus mais escuros pavores. Nessa atmosfera em que se encontra nossa historiografia, há uma espécie de pesadelo antigo que a assombra, desses que retornam de repente colocando em cheque a própria existência do sonhador exibindo a fragilidade da sua integridade. Tal pesadelo consiste em um paradoxo milenar: o período ideal da produção artística (ou ao menos o período que nos legou a idéia de um “período ideal”) não se dedicou a escrever nenhuma linha de historiografia estética: a Grécia antiga não produziu crítica de arte. É verdade que filósofos como Platão e Aristóteles dedicaram algum interesse sobre a produção artística. No entanto, não há nenhum trabalho propriamente dedicado a ela, nem mesmo a Arte Poética de Aristóteles com seu interesse sobremaneria científico-filosófico. Ao se debruçar sobre as tragédias A Poética não as interpreta, mas as recorre apenas como um repertório de exemplos às suas investigações. Houveram tratados artísticos, como o Cânone de Policleto e os escritos de Apeles, entretanto, essa literatura esteve perdida desde sempre sem que tenha configurado um legado de crítica de arte – e tudo indica que tinham propósitos muito mais teóricos do que críticos.1 Por fim, restariam ao debate as descrições dos viajantes da antiguidade, como nos casos de Heródoto e de Pausânias que, todavia, sofrem de questionamentos semelhantes aos dos textos filosóficos, isto é, o de usarem as obras de arte apenas como utensílios, ilustrações ou decorações aos seus interesses literários. Portanto, cruamente, o único indício contundente de formação de uma noção de crítica e de historiografia da arte só foi alcançado com propriedade por Plínio, o velho, já no século I d.C. – ou seja, já um romano, e quase cinco séculos após o auge da produção artística helênica.2 Dessa forma, pode-se afirmar que o suposto berço estético ocidental se isentou de fazer História da Arte como um deus se isentaria de muletas. É esse paradoxal tormento que aflige hoje, também a luz do dia, a frágil História da Arte. E agora, em meio às teorias do “fim da história da arte” 3, é essencial que reconsideremos esse paradoxo. Para tanto, proponho uma viagem, um passo na loucura. Teremos que nos misturar as sombras desse pesadelo historiográfico, e mergulhar em sons estranhos e perturbadores: iremos até os infernos. A aventura começa em um pântano interminável e muito profundo. Depois o navegante mais evitado do mundo nos atravessará numa barca bem pequena e asquerosa – e é bom que cada qual traga dois óbulos4 nos bolsos –, e mais tarde aportaremos em um lamaçal espesso e numa torrente lodosa. Porém, segundo Hércules, se seguirmos corajosamente um pouco mais longe um som doce de flautas encantará nossos ouvidos e veremos luz pura; e ouviremos coros de bem-aventurados, e aplausos calorosos.5 Pois bem, essa parece a receita certa para nosso elevado propósito. Então, caro amigo, enfrentemos. Enfrentemos nossos pavores. Enfrentemos por amor, louco amor, e por um sono mais tranquilo para a História da Arte. Brequequequex, coax, coax. 6 As Rãs é uma comédia escrita na Grécia arcaica pelo célebre Aristófanes7, e foi representada pela primeira vez em 405 a.C., exatamente um ano após a morte do último dos grandes tragediógrafos gregos: Sófocles. A peça tem como cenário inicial o caminho para o Inferno grego para logo em seguida se desenrolar no próprio Hades. 8 A situação é grave: Diôniso, deus do vinho e para o qual eram oferecidas as encenações trágicas, encontra-se inconsolável. Com todos os grandes nomes da arte trágica mortos, o deus já não encontra contentamento. Dessa maneira, ele decide realizar uma empresa fantástica: descer até o Hades para tentar resgatar de volta a vida ao menos um dos grandes poetas trágicos. Eis a fábula: Diôniso e seu escravo, após receberem instruções de Hércules, o herói que foi e voltou com vida do Inferno, partem rumo a mais profunda das moradas. Para tanto, Diôniso, o deus louco e ébrio, mas também infantilmente medroso, se trasveste com as roupas de Hércules a fim de impor algum respeito em terras tão pavorosas. Viajando enfim, ele e seu escravo vão terra adentro, passam por Caronte e desviam de monstros. Adiante, devido aos medos de Diôniso, senhor e servo trocam de papéis, e logo destrocam em meio a situações particularmente cômicas. Até que, finalmente, ambos são levados ao palácio de Hades e é então que começa o núcleo da fábula. Segundo uma lei do Hades, todo homem superior aos seus rivais nas artes mais nobres deve ser elevado a um lugar especial, sentando-se ao lado do próprio Hades (resultando, evidente e matematicamente, na maior e mais sofisticada corte do universo). Dessa forma, Ésquilo havia sido o primeiro eleito ao cargo da tragédia imediatamente após a sua morte; porém, após a morte de Eurípides, houve uma espécie de motim infernal ou revolução de público, de maneira que não havia mais consenso de qual dos poetas deveria, definitivamente, exercer o estimado lugar ao lado do grande deus do submundo. Para resolver esse incômodo rebuliço, o senhor dos mortos optou por realizar um concurso (melhor seria dizer uma batalha) para julgar os referidos talentos dramáticos.9 Contudo, Hades e todo o público presente à competição se encontravam em uma indeterminação que impedia o começo dos trabalhos. É precisamente nesse momento que Diôniso chega, e é imediatamente eleito o juiz competente e elevado que faltava ao concurso. Então entram em cena os próprios Ésquilo e Eurípides acompanhados de Diôniso, que retorna ao palco já como juiz. Brequequequex, coax, coax. A partir dessa peripécia cômica Aristófanes adensa seus propósitos críticos com uma dignidade literária ainda hoje rara. Seus recursos são vários e cada qual mais sofisticado que o outro. A peça transforma-se assim num texto de crítica de arte exercendo sua existência como um poema repleto de figuras de linguagem que alternam seus lugares. O primeiro a tomar o discurso é Eurípides. Conforme a sua prática dramática, começa produzindo um prólogo: “falarei mais tarde de mim mesmo e de meus galardões poéticos; neste momento quero primeiro mostrar a vaidade dele, seu charlatanismo”.10 Depois, à maneira de sua racionalidade, ele invoca deuses filosóficos ao invés de mitológicos; e finalmente discursa, exibindo as estratégias artísticas de seu adversário tecendo críticas dignas de seu temperamento, afirmando falta de inteligibilidade às peças de Ésquilo, feitas de amontoados incompreensíveis de palavras. Em seguida, Eurípides passa a traçar, rapidamente, o desenvolvimento da arte trágica desde Ésquilo até as suas próprias transformações – e conclui afirmando ter ensinado os atenienses a falar, e de ter formado o pensamento deles, introduzindo nas tragédias o raciocínio e a reflexão. Durante todo esse discurso, Ésquilo permanece praticamente silencioso, quieto e obscuro, provocando a apreensão dramática costumeira em suas peças; até que é chamado a falar. Então explode em cólera: é o confronto de duas estéticas. À reflexão euripidiana – que começa por caracterizar o outro para defender a si mesma – o poeta de Os Persas responde com gesto belicoso e grave. Ele não parte das afirmações do rival para se defender, mas coloca em campo os seus próprios quesitos artísticos e regras morais. A partir de então, a disputa se acirra com cada qual dos poetas recitando seus versos e debatendo as interpretações do adversário. Eurípides, o poeta-filósofo, deseja examinar verso a verso as “composições obscuras e herméticas” de Ésquilo. Já este generaliza, ironizando “a futilidade de todos os prólogos de Eurípides” de uma só vez. 11 E dessa maneira os competidores seguem ritmicamente investigando poéticas de um e de outro. E participando de tudo isso, Diôniso se encontra em extase, exaltado, louco em catarse trágica. Tonto, pressionado e indeciso, o deus literalmente decide “pesar em balança” os méritos de cada adversário. Cada um deles assume um lado da balança e pesam dissimuladamente verso contra verso. Ao fim, o deus ébrio decide por critérios particulares e independentes às disputas escolhendo Ésquilo como vencedor, e com isso Hades o permite voltar à vida. Brequequequex, coax, coax. A começar, o primeiro feito poético da peça é dar voz aos poetas já mortos. O autor não lhes dá simplesmente falas, mas devolve-lhes os seus caracteres, estilos, e lógicas. Na sofisticação crítica de Aristófanes nada é simplório. Até mesmo a condução das ações dos competidores faz-se expressão segura de suas tragédias, de suas estéticas. A partir de uma fábula simples, cria-se um jogo rico e complexo de encenações. Aristófanes faz com que o poeta se torne uma espécie de recipiente trágico, onde se depositam estéticas, personagens, dramas e estilos, e dessa forma tudo se torna um jogo de reinterpretações. O mérito de Aristófanes é a capacidade de fazer das próprias obras trágicas a biografia de cada autor, a anatomia de cada um deles – o exercício da existência de um poeta. Cada um dos tragediógrafos ressuscitados no inferno tem sua estética reinterpretada através de um ir e vir de metáforas perfeitas, que ainda hoje revelam muito da arte dos poetas em questão. Assim, quando Eurípides acusa Ésquilo de produzir “palavras enormes como montanhas” ou “empoladas e enfáticas, verdadeiros espantalhos” ele é preciso. De fato, essa característica da estética esquiliana vai além, realizando também gigantescos caracteres como o seu Prometeu (que permanece imóvel, preso a terra e negando se rebaixar), ou pobres espantalhos como o seu Orestes (que deseja acima de tudo espantar fantasmas, mas que, no entanto, atrai mais e mais urubus para si). Afinal, “Ésquilo pensa por imagens”.12 Seu espírito marcial é apresentado como o contrário direto da reflexão do poeta de Medéia. Por sua vez, a defesa de Ésquilo é exata esteticamente: se suas palavras são difíceis, é por que são pronunciadas por deuses em sua linguagem mais sublime. E, se o raciocínio filosófico é rival aos deuses, não é de estranhar que “um degenerado”, como Eurípides, não reconheça o falar divino. O golpe final do talento de Aristófanes vem com um dos últimos diálogos entre Diôniso e Eurípides, no qual cada um deles fala através de versos trágicos, culminando em um clímax poético. No fim, Eurípides, a quem Diôniso havia prometido a vitória, se queixa e repreende o deus, mas mesmo nisso Aristófanes é preciso esteticamente conseguindo estabelecer um fim trágico apropriado a cada um dos poetas. Para Ésquilo o trágico é o destino humano nas mãos dos deuses, e assim Aristófanes dá a ele o destino de obedecer dois deuses (Diôniso e Hades) e trocar o seu reinado eterno, ainda que no submundo, para guerrear novamente numa batalha impossível de vencer – a vida. E para o mais trágico dos poetas trágicos,13 o destino é ser traído pelos deuses, traído por seus próprios versos: suas verdadeiras ações. Aristófanes também antecipa alguns apontamentos de Nietzsche ao sugerir toda peça trágica como a encenação de um único mito: a morte de Diôniso.14 O deus ébrio em As Rãs perdeu o sentido de viver e decide atravessar o reino dos mortos. Lá, ele é glorificado, os poetas ganham vida, e a tragédia é interpretada. Diôniso volta ao mundo sob a indumentária da criação de um poeta. As injustiças, os paradoxos, as ambiguidades e catarses das encenações trágicas na Grécia antiga são todas expressões oblíquas de um único mito, são o ritual de realização do incompreensível: a morte de um deus. Portanto, não apenas os discursos, mas também as ações, idéias, os efeitos e gestos, tudo se converte em interpretação estética, ou seja, crítica de arte. A fabulosa crítica aristofânica não é redação analítica, mas sim, ao modo helênico, interpretação analógica. “La misión del crítico no es la de hacer justicia, sino la de integrar uma forma de sensibilidad determinada.”15 Trata-se da atitude valente da História da Arte em não se contentar em ser menos poética que histórica; “a Poesia encerra mais filosofia e elevação que do que a História; aquela enuncia verdades gerais; esta relata fatos particulares”.16 Essa atitude é a coragem de escrever crítica e história da arte sem qualquer complexo de inferioridade para com a obra de arte experênciada/vivida no crítico. Assim crítica se faz a partir da obra de arte, isto é, partindo dela, deixando-a, levando-a mais longe em sua própria expressão. É nesse processo artístico que tanto Aristófanes quanto os poetas trágicos não temem adaptar os mitos aos seus interesses poéticos. Logo, fazer poesia é fazer crítica artística, e consequentemente crítica de arte – embora modernamente fazer crítica não corresponda a um fazer artístico. Se o ambíguo é aquilo cujo significado depende do receptor (anfotérico); como rãs, os helenos antigos indicam que as obras de arte trazem em si o reino do anfibiológico, mais precisamente. A obra é dúbia essencialmente, não é uma coisa e depois outra, ele é duas coisas, duas significações simultânea e indissociadamente. Ao que tudo indica a historiografia da arte helênica não era um cadáver sistemático (como propõe a análise aristotélica), mas sim um organismo vivo estruturado inteiramente em analogias e metáforas – e por isso capaz do sublime anacronismo. Razão pela qual Ésquilo crítica a poética de Eurípides sem precisar de tratados, mas simplesmente escrevendo tragédias, algumas até com os mesmos mitos e fábulas. A crítica e a história se revelam (e velam) artísticamente, muito mais que historicamente. É nesse sentido que Holderlin apenas rascunhou uns poucos comentários sobre as peças de Sófocles, porém dedicou anos de sua vida a tentar escrever uma tragédia grega. 17 Brequequequex, coax, coax. O pesadelo se mostra radioso: a linha que desenha uma constelação historiográfica pode ser sobrepujada por um céu inteiro de relações íntimas, onde a argumentação é vã e a sugestão é quem reina: “a persuasão é lépida e não tem sentido.” diz Diôniso.18 Assim podemos confirmar o Hamlet, príncipe shakespeariano, atávicamente ligado ao Rei Édipo de Sófocles; ou o conto O Visionário, de Poe, como a mais bela crítica à Romeo e Julieta. Ou tomemos nas artes plásticas o exemplo do Barroco: sua contraposição crítica não é ao Renascimento, mas sim ao Minimalismo. E assim, não seria também o cubismo picassiano resposta intrigante ao horror vacui barroco? E o supremo pastiche, então seriam as meninas de Les Desmoiselles d’Avignon repintadas em As Meninas de Velasquez... A História da Arte há de ser a história do pastiche, do pastiche total – não uma ciência, mas uma consciência. “Diga o que você quiser, menos as palavras ‘Já não posso mais!’. Isto você não pode dizer, porque já estou cheio de ouvir.”19 Bibliografia Resumida: ADORNO, Theodor W. Teoria Estética. Lisboa: Edições 70, 1970. ARISTÓFANES. As Vepas. As Aves. As Rãs. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2004. ARISTÓTELES. Arte Poética. São Paulo: Martin Claret, 2003. ECO, Umberto. A Poética e Nós. In.: Sobre a literatura. Rio de Janeiro: BestBolso, 2011. ELYTIS, Odisseas. Opens Papers: selected essays. Copper Canyon Press, 1995. EMERSON, Ralph Waldo. História. In.: Ensaios. São Paulo: Martin Claret, 2003. LESSING, G. E. Laocoonte, ou sobre as fronteiras da pintura e da poesia. São Paulo: Editora Iluminuras, 2011. ÉSQUILO. Teatro Completo. Lisboa: Editorial Estampa, 2002. EURÍPEDES. Alceste / Electra / Hipólito. São Paulo: Martin Claret, 2003. ___________. As Fenícias. Porto Alegre: L&PM, 2005. ___________. Medéia. São Paulo: Martin Claret, 2004. NIETZSCHE, Friedrich. O Nascimento da Tragédia. Companhia de Bolso, 2007. SEFÉRIS, Giorgio. En torno a la poesía. In.: El Estilo Griego II – el sentimiento de eternidad. Mexico, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1994. 1 Tais obras ainda são referidas com ares de tesouros perdidos, e tudo indica que foram escritas com propósitos técnicos sobre materiais e estilos, e não críticos. 2 Não confundir com estilo ou período helenístico. 3 Ver também: BELTING, Hans. O Fim da História da Arte. São Paulo: Cosac & Naify, 2006. 4 Moeda vigente na antiga Grécia. Diz-se que Caronte, o barqueiro do Inferno, cobra dois óbulos para fazer a travaessia das almas. 5 ARISTÓFANES, 2004, p. 200-201. 6 Som do coro das rãs na peça As Rãs (ARISTÓFANES, 2004, p. 207). 7 Autor de várias outras peças cômicas importantes como: Lisístrata, As Nuvens, e A Greve do Sexo. 8 Hades era o nome do Deus olímpico senhor do inferno grego, que também se chamava Hades. 9 Segundo se informa na peça, Sófocles, o recém chegado, tinha se contentado em louvar Ésquilo, como o primeiro da arte trágica, e por isso não se candidatou ao cargo. Porém, adverte um dos personagens, caso Eurípides vença Ésquilo é de se supor que Sófocles o desafie mais tarde. (ARISTÓFANES, 2004, p. 238) 10 ARISTÓFANES, 2004, p. 243. 11 O recurso curioso de Ésquilo era ao final de cada verso de um dos prólogos de seu adversário inserir a frase “e perdeu sua garrafinha”, provando assim que Eurípides era vago e fútil com seus versos. A título de exemplo, recita Eurípides um verso de um de seus prólogos: “Zeus, como disse a própria verdade...”, e completa Ésquilo:”... perdeu sua garrafinha”. (p. 261). Essa criação literária de Aristófanes se popularizou entre os atenienses e por muito tempo serviu de chacota fácil à poética de Eurípides. 12 Donald Schuler no prefácio de: ÉSQUILO. Os Sete contra Tebas. Porto Alegre: L&PM, 2007, p. 16. 13 Eurípides: ARISTÓTELES, 2005, p. 32. 14 NIETZSCHE, Friedrich. O Nascimento da Tragédia. Companhia de Bolso, 2007, p. 66. 15 SEFERIS, 1994, p. 142. 16 ARISTÓTELES, 2005, p. 28. 17 Sobre seus comentários e análises ver: Observações sobre Édipo & Observações sobre Antígona. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2008. Já seus esforços trágicos estão em: A Morte de Empédocles. Ed. Iluminuras, 2008. 18 ARISTÓFANES, 2004, p. 267. 19 Primeira fala de Diôniso na peça As Rãs. (ARISTÓFANES, 2004, p. 189)
Download