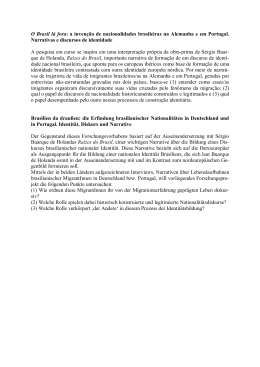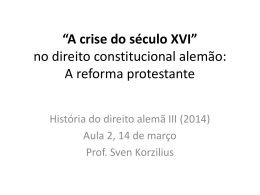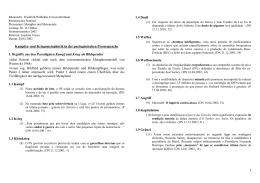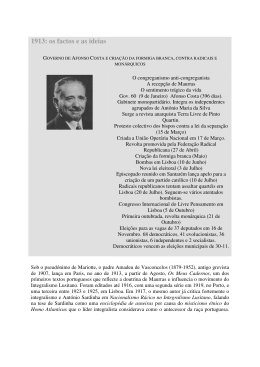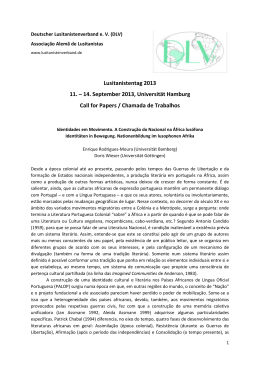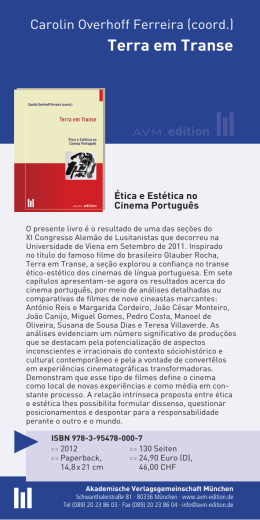Ética, Linguagem e Antropologia Perspectivas Modernas e Contemporâneas Chanceler Dom Dadeus Grings Reitor Joaquim Clotet Vice-Reitor Evilázio Teixeira Conselho Editorial da Série Filosofia (Editor) Agemir Bavaresco Cláudio Gonçalves de Almeida Draiton Gonzaga de Souza Eduardo Luft Ernildo Jacob Stein Felipe Müller Nythamar H. F. de Oliveira Junior Ricardo Timm de Souza Roberto Hofmeister Pich Thadeu Weber Urbano Zilles Conselho Editorial Ana Maria Mello Armando Luiz Bortolini Augusto Buchweitz Beatriz Regina Dorfman Bettina Steren dos Santos Carlos Graeff Teixeira Clarice Beatriz de C. Sohngen Elaine Turk Faria Érico João Hammes Gilberto Keller de Andrade Helenita Rosa Franco Jane Rita Caetano da Silveira Lauro Kopper Filho Luciano Klöckner Nédio Antonio Seminotti Nuncia Maria S. de Constantino EDIPUCRS Jerônimo Carlos S. Braga – Diretor Jorge Campos da Costa – Editor-Chefe Juliano Santos do Carmo Robinson dos Santos Organizadores Ética, Linguagem e Antropologia Perspectivas Modernas e Contemporâneas Série Filosofia - 218 Porto Alegre, 2012 © EDIPUCRS, 2012 Capa Rodrigo Valls Revisão de texto dos autores EDITORAÇÃO ELETRÔNICA Rodrigo Braga EDIPUCRS – Editora Universitária da PUCRS Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 33 Caixa Postal 1429 – CEP 90619-900 Porto Alegre – RS – Brasil Fone/fax: (51) 3320 3711 e-mail: [email protected] - www.pucrs.br/edipucrs. Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) E84 Ética, linguagem e antropologia : perspectivas modernas e contemporâneas / org. Juliano Santos do Carmo, Robinson dos Santos. – Porto Alegre : EDIPUCRS 2012. 374 p. – (Série Filosofia ; 218) Sistema requerido: Adobe Acrobat Reader Modo de Acesso: <http:www.pucrs.br/edipucrs> ISBN: 978-85-397-0259-6 (on-line) 1. Filosofia. 2. Ética. 3. Antropologia. 4. Linguagem. I. Carmo, Juliano Santos do. II. Santos, Robinson dos. III. Série. CDD 100 Ficha Catalográfica elaborada pelo Setor de Tratamento da Informação da BC-PUCRS. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, especialmente por sistemas gráficos, microfílmicos, fotográficos, reprográficos, fonográficos, videográficos. Vedada a memorização e/ou a recuperação total ou parcial, bem como a inclusão de qualquer parte desta obra em qualquer sistema de processamento de dados. Essas proibições aplicam-se também às características gráficas da obra e à sua editoração. A violação dos direitos autorais é punível como crime (art. 184 e parágrafos, do Código Penal), com pena de prisão e multa, conjuntamente com busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei 9.610, de 19.02.1998, Lei dos Direitos Autorais). Colaboradores ADRIANO NAVES DE BRITO (UNISINOS/BRASIL) AGEMIR BAVARESCO (PUCRS/BRASIL) AGUSTÍN REYES MOREL (UDELAR/URUGUAI) CÉSAR CANDIOTTO (PUCPR/BRASIL) FLÁVIA CARVALHO CHAGAS (UFPEL/BRASIL) JANYNE SATTLER (UFSM/BRASIL) JOÃO HOBUSS (UFPEL/BRASIL) JULIANO DO CARMO (UFPEL/BRASIL) KLEBER CANDIOTTO (PUCPR/BRASIL) LUCIANA SORIA (UDELAR/URUGUAI) LUIS RUBIRA (UFPEL/BRASIL) MARCEL NIQUET (GOETHE-UNIVERSITY/ALEMANHA) ROBERTO HOFMEISTER PICH (PUCRS/BRASIL) ROBINSON DOS SANTOS (UFPEL/BRASIL) JOHANES ROHBECK (TECHNISCHEN-UNIVERSITÄT DRESDEN/ALEMANHA) TIEGUE RODRIGUES (PUCRS/BRASIL) Sumário Apresentação........................................................................................................11 Juliano do Carmo Robinson dos Santos Morality as a Functional Phenomenon....................................................13 Prof. Dr. Adriano Naves de Brito A Aplicação da Prudência Kantiana às Questões de Manipulação Embrionária: Uma Análise Filosófica e Bioética .......................................................... 29 Prof. Dr. Agemir Bavaresco Prof. Dra. Noêmia Chaves Indiferencia, preocupación y auto-reflexión: El carácter de la voluntad en la autonomía personal.................51 Agustín Reyes Morel Ética e Genealogia em Michel Foucault...............................................69 Prof. Dr. Cesar Candiotto O fato da razão e o sentimento moral enquanto moralische Anlage.......................................................................85 Profª. Dra. Flávia Carvalho Chagas Alternativas à “Filosofia Moral Moderna”: Considerações Wittgensteinianas, Estoicas e Literárias...........................................................................................103 Prof. Dra. Janyne Sattler Uma Concepção Quantitativa Da Mesotês Em Aristóteles?.......................................................................................................145 Prof. Dr. João Hobuss Linguagem: Entre Norma e Natureza......................................................161 Prof. Dndo. Juliano do Carmo Limites da Teoria Computacional da Mente: Divergências com a Psicologia Evolucionista...................................181 Prof. Dr. Kleber Bez Birolo Candiotto Algunas Insuficiencias de la Democracia Competitiva para Superar Patologías Sociales..............................203 Prfª. Luciana Soria “Quem” Quer o Eterno Retorno do Mesmo? Sujeito, subjetividade, moral e amor fati em Nietzsche.................229 Prof. Dr. Luís Rubira Computerethik – Praktische Ethik des ´Informationszeitalters´?...................................................................................245 Prof. Dr. Marcel Niquet Wittgenstein: Sobre Certeza, Regras e Normas...............................275 Prof. Dr. Roberto Hofmeister Pich Juliano do Carmo Notas sobre a antropologia filosófica de Max Scheler..............307 Prof. Dr. Robinson dos Santos Generation, Erbe und Gabe im historischen Kontext der Langzeitverantwortung.........................................................323 Prof. Dr. Johannes Rohbeck Sobre os Dados Linguísticos e e Suporte para o Contextualismo.....................................................................................347 Prof. Dr. Tiegue V. Rodrigues COLABORADORES.............................................................................................373 Apresentação As possibilidades de investigação que se apresentam no trinômio ética-linguagem-antropologia podem variar muito entre si, dependendo da combinação que se quer estabelecer tanto no que se refere aos três conceitos, quanto entre apenas dois deles (a saber, ética e antropologia, ética e linguagem ou, antropologia e linguagem). As possibilidades de explorar tais temas relaciona-se também com o objeto específico a ser investigado e dos fins que se almeja pois, embora aqui as tratemos exclusivamente em perspectiva filosófica, elas não são um campo de pesquisa e interesse exclusivo da Filosofia. Deste modo, há espaço tanto para abordagens que não se interessam ou não concebem strictu sensu haver um vínculo direto entre tais áreas, como para aquelas que pretendem desvelar as ligações entre uma e outra ou, até mesmo, entre as três. Não é nosso propósito dar conta desta complexa problemática. Este livro originou-se de trabalhos e pesquisas que se inserem de algum modo em um ou mesmo em mais de um dos três âmbitos da filosofia indicados no título. Existem, naturalmente, possíveis pontos de conexão entre os ensaios, alguns dos quais já ficam particularmente evidentes nos próprios títulos ou, até mesmo, implícitos. Tais conexões permanecem como possibilidade de exploração para o leitor. Nosso propósito com a presente publicação consiste na oferta de alternativas independentes entre si. Dito de outro modo, este trabalho coletivo foi concebido tanto para servir como uma espécie de guia e de introdução para aqueles que desejam meramente tomar conhecimento da produção recente a respeito de alguns tópicos e relações possíveis entre ética, linguagem e antropologia, como também para propiciar outras (e possivelmente novas) perspectivas aos leitores já iniciados. Isso significa tanto quanto: os presentes ensaios são endereçados a leitores iniciantes e experientes em filosofia, alunos de graduação e pós-graduação. Logo, os leitores poderão utilizar estes ensaios também como ponto de partida para investigações mais profundas. Por isso, não o concebemos como mais um “manual de filosofia”. Pelo contrário, ele seria melhor compreendido se tomado como uma espécie de “seta indicativa” para algumas questões importantes endereçadas àqueles tópicos. Os dezesseis ensaios que compõem este livro foram produzidos por pesquisadores especializados nos temas em questão. Cada um procurou contribuir com um ensaio, tanto no sentido de apresentar uma abordagem dos componentes substanciais de investigação, acompanhada, na medida do possível, de um levantamento, seguido de análise das tendências mais recentes sobre os tópicos em questão, como também oferecendo uma sugestão bibliográfica a respeito das obras de referência. O caráter plural das contribuições pode ser constatado ainda nos diferentes idiomas e países dos quais promanam os autores e seus textos. Um dos propósitos que tínhamos em mente era, também, o de aproximar colegas pesquisadores de diversas instituições de ensino e pesquisa do país e do exterior, propósito aliás cada vez mais importante não apenas no cenário filosófico. Como sabemos, a cooperação internacional entre instituições de ensino e pesquisa não acontece meramente por decretos, mas por iniciativas de docentes, pesquisadores e discentes interessados em colaboração uns com os outros. Assim como se espera que dos temas abordados aqui surjam novos debates, espera-se também que desta modesta iniciativa em aproximar os pesquisadores, possam originar-se novas iniciativas e projetos. Expressamos nossa gratidão aos colaboradores, tanto pelo compromisso no sentido de enviar os textos dentro dos prazos estipulados, como pela excelência de suas contribuições; ao Prof. Dr. Agemir Bavaresco (coordenador da Pós-Graduação em Filosofia da PUCRS) por disponibilizar e possibilitar a publicação deste volume na “Série Filosofia”; à EDIPUCRS pela assistência com a preparação e padronização dos manuscritos. Juliano do Carmo e Robinson dos Santos Porto Alegre/ Pelotas, inverno de 2012. Morality as a Functional Phenomenon Prof. Dr. Adriano Naves de Brito UNISINOS - Brasil Stating the problem The crucial problem with attempts to naturalise morality — and, therefore, not explain it from a transcendental perspective or from the point of view of a human trait which cannot be reduced to natural evolution, — lies in reconciling, in an immanent way, nature with culture. To couch this in ethical language, we could say that it entails reconciling our own personal inclinations (as our natural inclinations are usually considered to be) with our capacity for cooperation, and with our ability to form societies which go beyond those based only on family kinship. One aspect of this problem which is rarely taken into account lies in the theories of value which are espoused by moral concepts. Keeping morality on an immanent footing proves to be a difficulty which is particularly acute for a theory of value, since “natural value” is an expression lacking in reference. Indeed, “value” is a human creation, and therefore there is no “natural value” in the strictest sense. However, if it were essential in relation to moral value to transfer practical theory to a hypernatural and, therefore, transcendental plain, then morality (for which value is a basic concept) could not be naturalised. From a naturalistic standpoint, value must be of a hybrid nature: it must be atavistically linked to human in- clinations and preferences, and must belong in an equally profound way to culture, which is where the concept is formed and operates. Linked to the hypothesis that morality constitutes a second form of human nature –which represents the dominant tradition in practical philosophy – there is a corresponding theory of value which excludes any reference to inclinations. This tradition is very well-suited to the enlightened humanism bestowed on us by modern philosophy, but it enters into conflict with the immanence cultivated by science, as expressed in the adage natura non facit saltus, which also sums up the ultimate meaning of naturalism within the sphere of moral investigation. In order to remain within the bounds of nature, we must try to find a corresponding entity which is part of the concept of value. This is the realm of individual preferences. From a naturalistic point of view, whatever has value corresponds to individual preferences in one way or another. What is required here is a theory of value which accounts for the hybrid nature of its existence between biology and culture, and which is compatible with the evolutionary history of the human species. If naturalisation of moral values is possible on these terms, then an immanent means of linking nature and culture is also feasible. It is evident that a naturalised theory of value (that is, a naturalised theory concerning what is morally good, and how this goodness is constituted, maintained and transmitted within and between groups of human beings) has a significant impact on the general concept of morality. Indeed, an important part of the effort to naturalise morality lies in showing, on the one hand, that the traditional concept of morality (as generally adopted in philosophical writings [see below]) is based on theses concerning moral values which are not naturalistic, and, on the other hand, that this has a negative effect on the results of research which is clearly of a naturalistic tendency. Discussing the concept of “morality” is therefore a propedeutic approach which is required in order to make it unnecessary for naturalism to account for any phenomenon which is, so to speak, “not of this world”, and to keep the effort to understand morality within the limits of the habits we can find in any human society (or even in groups of other mammals). The purpose of this paper is to make part of the propedeutic effort referred to above. I intend to outline here a moral concept which could form the basis for an immanent theory of values sustained by Capítulo 1 | Página 14 the economy of feelings involved in the moral confrontation which is characteristic of the social life of animals possessing a complex nervous system, as is particularly the case with certain species of mammal, including homo sapiens. What gives a moral dimension to these feelings is the way in which they interfere with and determine the mutual behaviour of individuals within a group, and it is through this process that values are devised, sustained and transmitted. In addition, I would like to outline a scenario where the system of morality would be seen not as a burden for human existence, but rather as a functionality to which we owe a lot in our struggle within the process of natural selection. The route I will take is as follows: I will begin by discussing the problem of normativity on the basis of an updating of the naturalist fallacy by way of the genetic fallacy, and from the point of view of a theory of value. This means that I will not approach the issue directly via the problem of duty, but by showing that it is connected to, and better understood within, a perspective of value. The choice in a moral theory of the measure of what is good therein has fundamental implications for the concept of duty, which is at the heart of of any discussion concerning normativity. This connection will be made clear. I will then submit to scrutiny the traditional view of morality. Following this, I will briefly dispute the thesis that the individual (in the civil and legal sense attributed to the term by the Enlightenment) is an adequate starting-point for practical philosophy, and criticise the limits which tradition has placed on what may be considered moral whilst, by the same token, criticising classical contractualist concepts of morality which have been the basis for the majority of moral approaches in contemporary philosophy, including many of those which are viewed as being naturalistic. Norms, Values and Reason: the traditional view The connections between a theory of value, the problem of mediation between genes and culture, and the question of normativity are not immediately obvious, even though they are strong. They have been neglected by practical philosophy when they have to show their theoretical mettle. It would be more correct to say that these connections have been neglected in the outer layers of moral theories, although they operate more strongly at less visible levels. I will try to demonstrate the Capítulo 1 | Página 15 link between those elements which practical philosophy has assimilated and reproduced (although this has often happened inadvertently), and the theoretical consequences this process has led to, the most grave problem of which is the obstacle placed in the path of the naturalisation of morality. I will not deal with this issue by referring to the opponents of naturalisation, but look at it from the point of view of those who support the concept. The “inadvertence” mentioned above relates more to the group of thinkers who have embraced the naturalistic creed, even though they themselves are bowed down under the weight of tradition. The problem of normativity has its roots in the question which concerns the validity of moral judgements. One way of formulating this question is as follows: how can we explain the normative efficacy of practical judgements, laws, norms and moral obligations? Linked to this is the question of the efficacy of values, since the moral demand that something should be done or avoided reflects the moral values embraced, and to which one wishes to give efficacy within a particular moral community. As a result, the question concerning the normative efficacy of obligations is also the one concerning the normative efficacy of moral values. We can therefore paraphrase the question asked earlier as follows: what is the basis for the objectiveness of moral values and for the obligations which are derived from them? I would like to extend the line which divides the answers to these questions between the two camps of nature and culture. The traditional view fits well within the sphere of culture, but those who seek refuge in the sphere of nature often succumb to the influence of tradition, especially to the idea that moral obligation is rooted in some rational basis humans have for making decisions, and is thus dependent on this “rationality” for its normativity. This concession has been made in the light of the use of the concept of morality which tradition has made homogeneous, and which naturalists have assimilated without criticism. At this point, it is necessary to narrow the scope of the term “tradition” to refer to that which defends the morality corresponding to the rational element of human beings. From the point of view of value, this means that the basis for goodness in a moral sense does not lie in the moral preferences of the species (which, in fact, are often seen as an obstacle to morality), since these preferences are passionate, egoistic and Capítulo 1 | Página 16 anti-social. Within the concept of this tradition, this would correspond first and foremost to the product of the human capacity for mediating the said preferences through principles which are recognised as valid, mainly because they are, as it were, consistent or rational. It was Kant who most clearly and radically established the rational fundaments of morality, in a way which is particularly relevant and influential in these modern (and secular) times. For Kant, the practical element in the human species is based on a moral law whose main criterion is non-contadiction, which is a logical principle par excellence. In addition to its paradigmatic aspect, there are numerous variations on the same alternative for a solution to normativity, and in all these variations there is a similar balance between value, culture and normativity. The effectiveness of the norms adopted depends on their ability to represent objective values which are not based on individual biological preferences, but on the acceptance of general principles which can form a coherent system of norms forged in the melting-pot of culture, which is the cradle of morality. Defying the tradition For reasons I outline below, many naturalists concede a fundamental point to the tradition, i.e. that morality did not exist prior to culture. Even radical Darwinists such as E. Wilson and M. Ruse accepts this concession when they redefine ethics in terms of genetics: In an important sense, ethics as we understand it is an illusion fobbed off on us by our genes to get us to cooperate … Furthermore, the way our biology enforces its ends is by making us think that there is an objective higher code, to which we are all subject. (M. Ruse & E. Wilson, 1985, p. 51.) The idea that morality is an illusion is only stylistically different from the idea in that it belongs to a non-material universe. In line with this view, we can conclude that there is no such thing as an earthly morals, but simply a natural determinism which controls individual actions depending on the economy of causes, in such a way that it produces the illusion that an objective code really exists. The most problematic point of the quotation from Wilson and Ruse is the phrase “ethics as we understand it”. This also means morals as they are understood in the tradition referred to above, and for this tradition the passage from genes Capítulo 1 | Página 17 to morality has been closed, with the result that it is necessary to make a death-defying leap to go from genes to illusion. This concession is fatal to naturalism, since it accepts that morality is, in strictly natural terms, a mere illusion which cannot therefore be an object of scientific research. The naturalist would say that other forces rooted in our genes operate at the level of nature, but to which, surprisingly, is attributed the capacity for producing the illusion of morality. Faithful to his mantra of scientific immanence, the naturalist does not accept the thesis that there is any basis for whatever is produced by human beings not being reducible to their biological or, in the final analysis, physical nature. Nevertheless, the naturalist works with a concept of morality which is incompatible with his causal beliefs, i.e. “an objective higher code, to which we are all subject”. It is obvious that, at the level of nature alone, the only code to which human beings are subjected is the genetic one, which, by definition, is not “higher” but immanent, not rational but intuitive, not objective in isolation, but functional. The normativity which is characteristic of a morality shaped in accordance with “an objective higher code” is not reducible to causal mechanisms, but this is what the naturalist has to explain using purely terrestrial resources. On this level, our genes must (in some obscure way) produce the morality (that second realm of illusion) underpinning duty and values, both of which are intrinsic elements of any serious ethnographic description of a social group. In marked opposition to the high standards of proof and explanation maintained by science, the obscurity of the influence of our genes on human moral culture (with their link to an illusion) does not appear to create difficulties for philosophers such as Ruse and Wilson. This is explained by the fact that morality is viewed as an illusion, i.e. as something which is of minor importance in the causal chain of relationships. On the one hand, such a position is difficult to accept for the human sciences in general, since in this case the object of study is reduced to the point of irrelevance, whilst on the other hand the position is unsustainable and ends up by ambushing whoever defends it. It is unsustainable because an explanation of the relationship between genes and morality is demanded, and this is justified by the statutes of science. The question “How do genes produce the illusion of morality?” is a legitimate one. It puts the naturalist in a predicament which was first alluded to by Hume (1739-40), and which was first referred to as “the naturalistic fallacy” by Capítulo 1 | Página 18 Moore (1903) in his discussion of the nature of utterances with a moral content. In its genetic version, the question is now as follows: How is it possible to move from genetic data to the normativity of the illusory realm of morality? How can we do this without making an illegitimate transition between what is and what ought to be, especially if what ought to be is in a position that is higher than what is? It is impossible to deny the existence of morality (and of its corollary of culture) in any human society (and in the sense that morality is functional for social animals, it has to be accepted that it is also a trait one can find in certain social species). However, we can concede, within the bounds of this ill-advised naturalism, that morality does not belong to nature, even though it is determined by it (or more specifically, by our genes). This means that, in the best of all possible hypotheses, it is derived without the necessary mediation of our genes (and therefore illegitimately), or, at worst, without any explanation whatsoever. Of course, any form of moral naturalism worth its salt must hold that the naturalistic fallacy is not an insurmountable theoretical obstacle, but it is also clear that it is so forbidding because the connection between what is (our genes) and what ought to be (values, duty and culture) is very badly designed. The concept of morality which is taken as a starting point therefore plays a major role in this scheme of things. The concept of morality inherited from the tradition weighs heavily on naturalism because the way in which we understand morality was forged in it. When we try to explain the moral phenomenon, the problem to which we need to give an answer is more or less as follows: how is it possible to create a society beyond the limits of family groups, tribes or clans? In the tradition, the problem is interwoven with the question, to the extent that asking whether a society is possible is the same as asking whether morality is possible. In the tradition, however, morality cannot be part of the solution since it is part of the problem. As a result, it is not able to explain how human beings went from their natural tendency to live in groups to cohabitation in complex societies of a civil or quasi-civil nature, and with a formal or semi-formal legal structure, as to explain this would imply explaining the origin of morality itself. At the end of the day, it is this which makes the traditional concept of morality immiscible with naturalism, since it establishes an insurmountable gap between nature and culture in the way it converts morality, which is the only Capítulo 1 | Página 19 means of connecting the two sides, into an autonomous pole standing side by side with “the second human cultural nature”. Society which is interwoven with morality has its own specific characteristics, since both concepts can be applied to individuals for whose imputability autonomy is a necessary prerequisite, as is its corollary of rational discernment. The consequences of this inadvertent conceptual assimilation are at the same time compromising and all-embracing. If we assume that both morality and complex societies are the product of autonomous individuals practising rational discernment, the explanation to be given by naturalists (like that given by the tradition) must connect genetic mechanisms with rational deliberations. In such a scenario, it is not surprising that contractualism has placed itself in a privileged theoretical position amongst the supporters of moral naturalism. The description I have given above explains the essence of this. Contractualism is the major currency used by naturalists ever since Hobbes (1651). Of the same lineage are Locke (1689), Rousseau (1762), Kant (1797) and, more recently, Rawls (1971), Scalon (1998) and Tugendhat (1993 and 2001), as well as game theorists et alia, such as Kitcher (1985) and Sober-Wilson (1998), or economists, such as Nash (1950). What they all have in common, despite numerous and often profound differences, is the belief that morality is the result of a decision-making process which is to be investigated in relation to individuals, and is a human phenomenon unique to the human species. As Dennett points out: “They (“contractarian” Just so Stories) all agree in seeing morality to be, in one way or another, an emergent product of a major innovation in perspective that has been achieved by just one species, Homo sapiens, taking advantage of is unique extra medium of information transfer, language.” (Dennett, 1995, p. 455-56.)” By and large, Dennett (a militant naturalist) also accepts the traditional concept of morality as a starting-point. It is worth noting that the opening chapter on morality of Dennett’s book, Darwin’s Dangerous Idea, which is entitled “On the origin of morality”, has as its hero none other than Hobbes, for whom (according to Dennett) “there was no morality in the past” (Dennett, 1995, p.454). Dawkins’ (1976) theory of memes also helps to explain the sense of morality which is attributed to it by the tradition, a sense which is primarily contractualist. Capítulo 1 | Página 20 It is evident from the quotation from Dennett (above) that language is another essential component of the “hard centre” of the contractualist position, and thereby reinforces its structure. The singularity of morality as a natural phenomenon corresponds to the singularity of human language, whose distinctive feature is its logical/rational structure. The emergence of this “unique extra medium of information transfer” (human language), which has raised humanity to the level of moral (and cultural) beings (given the predominance of this tool as a means of discursively structuring the world), has allowed us to perceive the realms of objectivity and morality. By dint of this, the human species has been able to distinguish between positive and negative values, and has thus been able to raise itself above other species by building societies which are not based on family ties but on laws, the most “natural” way in which contractualism can be formulated. This also implies the utility of laws, where individuals weigh advantages and disadvantages before sealing the pact which signals the beginning of culture strictu sensu. There is enormous scope in accepting that morality is an epiphenomenon and a means which is not available to other species for making the social lives of individuals with complex nervous systems possible, whilst also incorporating a theory of values. In fact, the concept outlined determines morality entirely, at the same time as it benefits from the theory of values it gave birth to. Value, according to the standard view of this traditional concept, is measured by means of the rule of objectivity, i.e. by its rational properties, in a complex interplay which is another distinctive feature of human morality, and is intimately linked with rationality. In schematic terms, what happens with value has already happened with morality. Since it is related to actions for whose motivation the individual has selected a principle and not a mere inclination, value can no longer be a means of explaining how moral actions are possible because it will be the result of these actions. According to this interpretation, moral value is defined by the motivation of the agent, and the more all-embracing the principle which underpins it, the more commendable the action will be. As long as natural and biologically-determined inclinations are viewed as egoistic, the summum bonum will be in opposition to these inclinations and will be tantamount to a purely unselfish action. This action is motivated by an agent who, despite his inclinations, and by virtue of his discursive and rational nature, perceives it as Capítulo 1 | Página 21 a less egoistic way of proceeding, which is of universal interest. This is realised thanks to the freedom and autonomy which his special ability to judge confers upon the individual. The tradition begins by thinking in terms of gaps, which then transform themselves into chasms. Back to the group from bourgeois society A view which irremediably differentiates tribal life from social life, instinctive action from morality, and pleasure from what is considered to be morally good, close off completely the paths which lead from nature to culture, or from genes to morality. Once we have reached this point, any attempt at naturalisation, or at reconciliation between the two poles, is in vain. The nub of this problem is, as I have attempted to show above, a concept of morality whose semantic essence evokes something beyond nature, unique to humans and contrary to their atavistic inclinations. Of course, this concept is based upon, and implies, a full apprehension of morality, and if we wish to change this apprehension, we must do so, in order for the naturalisation of morality to have any chance of success, by untying the Gordian knot of the theory of values. The belief that morality starts to exist in the human species only in the cultural stage of development is directly determined by the belief that positive moral value is in opposition to the subjective interests of individuals, and of their inclinations. It corresponds to universalist motivations whose source, by a process of elimination, can only be located in rational decision-making, no matter how the concept of “rationality” may be conceived. If moral value can be explained in strictly immanent, and thus fully naturalistic, terms, the concept of morality can be extended to include social manifestations which are much less abstract than those in societies which are regulated by tacit agreements. These two elements of value and morality will be a part of the solution to the problem of explaining the peculiarities of human societies (and also those of other species of social animals) satisfactorily. In this sense, morality has to be seen as a functional trait which we share and have inherited from other social species, especially apes. Breaking with the tradition is a difficult process, but one which is necessary for the success of the naturalist project. Since nowadays contractualism is almost the only visible facet of the tradition, breaking Capítulo 1 | Página 22 with contractualism is also relevant for a naturalistic position. Contractualism has been so dominant in modern times because the structure of moral legitimacy it presents is based in an individual which is the core of the modern bourgeois society. Therefore, it is the perfect moral theory for societies based on contracts and on positive laws. Its concept of the individual carries with it all the elements characteristic of an agent capable of signing contracts, all the way from freedom to rationality. Although contractualism is mainly a theory regarding moral legitimacy, the way moral judgments are legitimate in contractualism presupposes that it is a phenomenon of highly- developed human societies. My point is precisely that this understanding of morality is too narrow and too artificial to be used by an approach which seeks an evolutionary perspective of the moral problem (as a naturalistic approach should be), but one which has been used inadvertently by naturalists. The way moral judgments seem to be justified in agreements says nothing about the origins of morality. However, if that much is true, then explaining how morality really came about may show that what contractualism considers as morality is inadequate, and that the way it presents moral legitimation (and moral normativity) is wrong, or at least, that is not applicable to human beings in general, but only to the artificial individual who is capable of signing contracts. Naturalists, for good reasons, have assigned to individuals an important role in evolution. The way in which evolution carries out its work, by means of individuals or groups of individuals, causes theories of an evolutionist ilk to consider them as fundamental theoretical units. In a passage from The Origin of Species (1859), in which he sets out one of the principles of his theory, Charles Darwin states the following: “Man selects only for his own good; Nature only for that of the being which she tends.” (Darwin, 1859 (2006, p. 503.)”. It was the task of the neo-Darwinists to reduce the significance of the role of the individual in evolutionist theory, and strengthen the significance of the role of populations. However, this theoretical adjustment did not undermine the principle which lies at the heart of Darwin’s conclusion, and that is what I wish to emphasise here. This is the materialist principle which is the driving force behind Darwin’s comparison between artificial and natural selection. The first of these forms of selection has a precise aim Capítulo 1 | Página 23 which is defined by the human beings who want to achieve it, whilst the second follows the course mapped out by the forces of nature, and is not guided towards a pre-determined goal, or an intentional one. The absence of a general aim which drives the evolutionary process (which, if it existed, would give the process an ordering function, but which would be extrinsic to nature itself, an unacceptably high price to pay, in Darwin’s way of thinking) corresponds to an explanation of mutations in individuals, in and through whom evolutionary forces act. In a system which should function outside the plan of a ubiquitous intelligence, the idea that its development should favour one or other species is inappropriate, as is the idea that the system should aim to dispense any specific “good”. When looked at from this materialist standpoint, the very concept of value lacks meaning and, in describing nature, it is not acceptable to state which “good” is being promoted. In fact, this is just a moral variation of the idea that nature serves a purpose. An ultimate meaning for the history of nature is not necessary for evolutionism, in the same way that it is not necessary for a description of how things function in the physical universe, since both the universe and life have their own histories, but there is no “why?” included therein. In a world evolving without blueprints, explanations for the structures which are the result of the evolutionary process must be limited to causal rules hostile to moral determinations. Darwin stresses this point in the case of the relationships between the species: “What Natural Selection cannot do, is to modify the structure of one species, without giving it any advantage, for the good of another species.” (Darwin, 1859 (2006, p. 505.)” The physical causal processes, in the absence of intentional “intelligent” forces (for example, God) are developed by means of changes and from the asymmetries of the system. In biology, when things are observed from a wide-ranging materialist point of view they also act by means of changes favoured by asymmetries which, from the standpoint of both species and individuals, can be metaphorically described as taking with one hand and giving away with the other. The naturalisation of morality certainly implies the incorporation of the descriptive evolutionist (and therefore materialist) model for an explanation of the phenomenon with which it is concerned. In this sense, it appears to be right that we should consider individuals as basic theoretical Capítulo 1 | Página 24 units in order to take account of morality in the realm of naturalism. The problem is that the concept of the individual is not a neutral one, and unless a critical analysis of its tenets is made, naturalism runs a much greater risk of having to pay more than it intends for what it wishes to receive. Intentionality where it belongs To the extent that the descriptions of biological processes do not fail to consider the intentional determiners of the elements involved therein (causal chains have no intentionality), the narrative which is constructed to explain the relationships between individuals within a species and between different species should not be used as a pretext for comparisons between these individuals, and individuals as social agents. From a strictly causal point of view, no single species is “seeking advantage”, and the individuals which comprise each species act according to behaviours which are selected evolutively because of their ability to ensure reproduction. Thus the concept of the individual at the level of biological description has to be divested of the trappings which are unnecessary for the description of social phenomena in species with complex neurological systems (as is the case with many species of mammal), but these trappings have to be preserved in the description of the phenomenon of morality, without withdrawing the individual from the field of biological influences. This means that the narrative concerning the behaviour of individuals in society cannot dispense with intentionality, but we must not lose sight of the fact that this narrative is part of yet another narrative in which this same intentionality has no role to play. Distinguishing between these two levels is essential for preserving the materialism which is inherent to the description of the biological world from an evolutionist perspective, without compromising the explanatory capacity of naturalism when it is confronted with the phenomenon of morality. Thus a naturalist narrative of morality has to make use of concepts which help to keep intentionality in its rightful place, which is that of social relations alone. Although they are different in terms of the elements they include, these two narratives are not contradictory and can coexist with each other, in the same way that modern cosmology, which Capítulo 1 | Página 25 has its basis in physics, can coexist with the theory of evolution, which has its basis in biology. Morality as a functional system It is impossible to think of humanity without considering that moral forces have been active throughout the evolutionary process, a point which is also valid for other species of a similar neurological and behavioural complexity. Therefore, morality is a functional phenomenon and not an epiphenomenal occurrence. It is an evolutionary advantage and a functional disposition of these species, and it has to be seen as providing part of the solution to the problem of the link between genes and culture. This means that the concept of morality should not be limited to accommodating only the deliberative behaviour of subjectivised individuals (all that is required by the traditional concept which is characteristic of contractualism), but must be broad enough to include behaviours determined by affective inclinations which are selected evolutively. The result of this is that morality has to be viewed not in terms of the subjectivised individual of complex societies, but in terms of the group as an essential unit to which the individual is bound by affective ties, and whose influence over his behaviour is impossible to de-activate. This broader concept of morality therefore includes the pre-linguistic behaviour of humanoids, as well as the behaviour of other social mammals, a behaviour to which they owe at least part of their success in the face of natural selection. This step is essential for opening up the investigation of human morality to account for those atavistic elements which determine human behaviour, and for understanding how they can be used to construct moral systems which are much more complex than those of other species of animal. References BRITO, A. N de. 2010. “Freedom and Value in Kant’s Practical Philosophy”. IN: Cultivating Personhood: Kant and Asian Philosophy. Stephen R. Palmquist (Org.). New York City: De Gruyter, 2010. pp. 265-272 DARWIN, C. 1859. The Origin os Species. E. O. Wilson (Ed.) New York: Norton Co., 2006. Capítulo 1 | Página 26 DAWKINS. R. 1976. The Selfish Gene. Oxford: Oxford University Press. DENNETT, D. 1995 (1998). Darwin’s Dangerous Idea. Evolution and he Meanings of Life. New York: Simon & Schuster. HOBBES, T. 1651. Leviathan. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. HUME, D. 1739-1740. Treatise of human Nature. Oxford: Clarendon. 2. ed. 1978. _____. 1751. An Enquire Concerning the Principles of Morals. T. Beauchamp (ed.). Oxford: Oxford. 1998. KANT, I. 1797. Die Metaphysik der Sitten. Darmstadt: WBG, 1983. KITCHER, P. 1985. Vaulting Ambition: Sociobiology and the Quest for Human Nature. Massachusetts, MIT Press. LOCKE. J. 1689. Two Treatises of Government. Kindle Ed., 2009. MOORE, G. 1903. Principia Ethica. Cambridge: Cambridge University Press. NASH, J. 1950. “The Bargaining Problem”, Econometrica. (18): 155–62. RAWLS, J. 1971. A theory of Justice. Belknap Harvard: Harvard University Press. ROUSSEAU, J. J. 1762. The Social Contract. Kindle Ed., 2009. RUSE, M. & E. O. WILSON. “The Evolution of Ethics”. The New Scientist, Vol 17. 1985. P. 50-52. SCANLON, T. M. 1998. What We Owe to Each Other. Belknap Harvard: Harvard University Press SOBER, E. & WILSON, D. S. 1998. Unto Others. Harvard: Harvard University Press TUGENDHAT, E. 1993. Vorlesungen über Ethik. Frankfurt: Suhrkamp. _____. 2001. “Moral in evolutionstheoretischer Sicht”. In: Aufsätze 1992-2000. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Capítulo 1 | Página 27 A Aplicação da Prudência Kantiana às Questões de Manipulação Embrionária: Uma Análise Filosófica e Bioética Prof. Dr. Agemir Bavaresco Prof. Dra. Noêmia Chaves PUCRS - Brasil Introdução Durante muito tempo a Fundamentação da Metafísica dos Costumes tem sido a obra moral kantiana mais debatida e, ao mesmo tempo, a mais referida quando se trata de defender a dignidade da pessoa humana. Mas, hoje, em face dos novos fatos morais postos pela biotecnologia, essa obra, sozinha, é suficiente para oferecer respostas a questões tão complexas como a manipulação embrionária? Toda a espécie humana pode ser compreendida na categoria de pessoa, conforme Kant? Antes de responder tais questões, é necessário considerar-se dois pontos: a) o pensamento moral kantiano não se restringe à Fundamentação; b) embora o próprio Kant tenha dado maior ênfase ao purismo da boa vontade nas ações morais pautadas na autonomia, disso não segue-se que ele tenha eliminado o trato moral das relações em que a autonomia do indivíduo não pode ser exercitada. Essa é uma temática do pragmatismo kantiano ou do imperativo hipotético da prudência, a qual abordaremos realizando os seguintes passos: num primeiro momento, esclareceremos que a prudência não é concorrente do imperativo categórico, mas sua necessária antecedente, realçando as suas características e o seu percurso nas três críticas kantiana; em seguida, demonstraremos que a acusação de que a aplicação do princípio da prudência nas questões concernentes ao início da vida humana autorizaria qualquer ação dos agentes morais é infundada e consiste em um erro semântico, uma vez que o caráter reflexivo só toma sentido se for para tornar as ações boas. Imperativo categórico versus imperativo hipotético Postas as considerações precedentes, devemos observar, agora, que a prudência é um imperativo hipotético, pragmático e relaciona-se, à luz do Teorema II1, aos princípios práticos materiais, os quais se encontram ligados ao amor de si e à felicidade própria. Desse modo, a prudência é um princípio da ação, especificamente ligado aos meios e acha-se prenhe de sentimentos patológicos, enquanto o imperativo categórico associa-se diretamente com a lei moral e constitui-se como um princípio prático produzido pela razão, afinal a razão sozinha produz seus objetos independentemente das condições limitantes da natureza. Dessa forma, a razão cria a ideia de uma espontaneidade que poderia começar a agir por si mesma, sem que uma outra causa tivesse devido precedê-la para a determinar a agir segundo a lei do encadeamento causal.2 Afirmar isso não significa, de modo algum, afirmar que a prudência também não aspire a sentimentos práticos; significa apenas que, embora ela seja influenciada pela razão prática, considera, em larga medida, sentimentos patológicos, os quais “depende[m] da existência de um objeto”3. Não obstante, o princípio da prudência, enquanto versa sobre o controle das máximas, não permite que os sentimentos patológicos apresentem-se desmedidamente na ação do sujeito e, assim, mesmo não estando no nível da moralidade, a prudência já estabelece o campo de luta para o homem tornar-se virtuoso, na medida em que o princípio do amor-próprio racional não é tanto um princípio do uso dos meios para o sentimento de prazer contínuo, mas ao contrário ele é um princípio de integração dos nossos fins, para os quais o sentimento de prazer é apenas um, em um todo compreensível.4 A partir disso, somos levados a observar que a prudência, como pragmatismo, recebe em Kant, cinco significados diferentes: 1) pragCf. KANT, I. Crítica da Razão Prática. Trad. Valério Rohden. São Paulo: Martins Fontes, 2002. [41], p. 37. (Doravante utilizaremos somente [KPV]). 1 2 Cf. KANT, I. Critica da Razão Pura. Trad. Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. 5ed. Lisboa – PT: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. [A533/B561], p. 463. (Doravante utilizaremos somente [KRV]). 3 KANT, I. [KPV 41], p. 37. Cf. PATON, H. J. The principle of rational self-love is not so much a principle of using the means to continuous pleasant feeling, but is rather a principle of integrating our ends, of which pleasant 4 matismo, algumas vezes, refere-se ao talento e à habilidade que um ser humano tem de usar o outro em vista de seus propósitos5; 2) o pragmatismo, na Fundamentação, é denominado de conselho de prudência6; 3) na Metafísica dos Costumes, o pragmatismo refere-se à capacidade de o indivíduo estabelecer os seus próprios fins e agir de acordo com estes fins7; 4) na Crítica da Razão Prática, o pragmatismo, se compreendido como sinônimo de prudência, relaciona-se diretamente ao amor de si e à felicidade própria. Na obra em questão, podemos ainda ligar a prudência ou princípios pragmáticos diretamente aos princípios práticos materiais8. E, 5) por fim, na Antropologia Pragmática, encontramos a capacidade de aperfeiçoamento (perfectibilidade) como a principal característica a diferenciar o homem dos outros animais existentes sobre a Terra.9 No entanto, no que tange ao conceito de moral, a definição kantiana é única e mantém-se por todo o sistema sem alteração de status, ou seja, para Kant, prático ou moral é somente aquilo que é possível por meio da liberdade10. Desse modo, diferentemente de Aristóteles, Kant dispõe a feeling is only one, into a single comprehensive whole. (The Categorial Imperative: A Study in Kant’s Moral Philosophy. Chicago: University of Chicago, 1948. Cap. 8, § 8, p. 86). 5 CF. KANT, I. A educação deve também cuidar para que o homem se torne prudente, que ele permaneça em seu lugar na sociedade e que seja querido e que tenha influência. A essa espécie de cultura pertence aquela propriamente chamada de civilidade. Esta requer certos modos corteses, gentileza e a prudência de nos servirmos dos outros homens para os nossos fins. (Sobre a Pedagogia. Trad. Francisco Cock Fontanela. 5 ed. Piracicaba: UNIMEP, 2006. p. 26). Cf. KANT, I. [O] imperativo que se refere à escolha dos meios para a felicidade própria, isto é, o preceito da prudência, é sempre ainda hipotético; a ação não é comandada de maneira absoluta, mas apenas como meio para outra intenção. (Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Trad. Guido Antônio de Almeida. São Paulo: Discurso Editorial: Barcarola, 2009. (Philosophia). [AK 416] p. 197, doravante utilizaremos somente Fundamentação [AK]). 6 7 Cf. KANT, I. Metafísica dos Costumes (Contendo A Doutrina do Direito e a Doutrina da Virtude). Trad. Edson Bini. Bauru, SP: EDIPRO, 2003. (Dos Deveres consigo mesmo em geral. Cap. II, III Do servilismo. p. 276. Cf. KANT, I. Todos os princípios práticos materiais são, enquanto tais, no seu conjunto de uma mesma espécie e incluem-se no princípio geral do amor de si ou da felicidade própria. ([KPV § 3] teorema II). p. 37. E mais adiante: A máxima do amor de si (prudência) apenas aconselha; (...) ([KPV 64], Anotação II). p. 60. 8 Cf. KANT, I. Antropologia de um Ponto de vista Pragmático. Trad. Clélia Aparecida Martins. São Paulo: Iluminuras, 2006. [322], p. 216. (Doravante utilizaremos somente [Antropologia Pragmática]) 9 10 KANT, I. [KRVA800, B 828], p. 636. Na Segunda Crítica, Kant torna a definição a respeito de prático, ainda mais clara ao expor que: “[o] uso prático da razão (...) ocupa-se com fundamentos determinantes da vontade, a qual é uma faculdade ou de produzir objetos correspondentes às representações, ou de então determinar a si própria para a efetuação dos mesmos (quer a faculdade física seja suficientemente ou não), isto é, de determinar a sua causalidade.” [KPV 30]. p. 25. Capítulo 2 | Página 31 moralidade e a prudência em campos diversos, não havendo mesclas de um com o outro. A prudência, no sentido atribuído por Kant, tem o papel específico de adequar o comportamento do homem para consigo mesmo, com os outros homens e com as coisas estabelecidas no mundo. Dessa maneira, a prudência só pode ser compreendida como uma ponte para o homem chegar à moral, ela jamais pode ser confundida com a moral. Ao percebermos o lugar específico da prudência no pensamento de Kant, localizada entre a destreza e a moral, e ainda a clara identificação desse princípio com o imperativo hipotético ou princípios práticos materiais, torna-se fácil identificarmos, também, a latitude diferenciada atribuída por Kant a esse princípio. Foi demonstrado anteriormente que a razão prática influencia as ações humanas; podemos então identificar uma relação hierárquica entre razão prática e prudência, na medida em que as escolhas dos meios para a ação humana devem obedecer ao comando da razão prática. Nesse ponto, convém sermos cautelosos e, assim, é importante termos claro em que consiste essa hierarquia, além de, principalmente, destacarmos qual a real relação da razão prática com a prudência, pois, como já foi enfatizado, a prudência situa-se em um terreno diverso do terreno moral. Para auxiliar-nos nessa tarefa, recorremos à explicação de H. J. Paton. De acordo com ele: Kant considera os princípios de habilidade e do amor próprio como princípios sob os quais qualquer agente racional necessariamente poderia agir caso a razão tivesse o completo controle sobre as paixões. Significa dizer, com isso, que eles são princípios objetivos; e novamente, na linguagem de Kant, que eles são objetivamente necessários, muito embora eles possam ser subjetivamente contingentes. O que eles têm de peculiar é que, embora sejam princípios objetivos, eles são tão somente condicionados.11 Percebemos, pois, a razão prática incidindo sobre as escolhas dos meios e não somente no motivo da ação, fato que qualifica os impera- Cf. PATON, H. J. Kant regards the principles of skill and self-love as principles which any rational agent would necessarily act if reason had full control over the passion. To say this is to say that are objective principle; and again, in Kant’s language, that they are objectively necessary, even although they may be subjectively contingent. What is peculiar about them is that although they are objective principles, they are so only subject to a condition. (The Categorical Imperative. Cap. IX, § 2, p.90). 11 Capítulo 2 | Página 32 tivos hipotéticos, na visão de Lewis White Beck, como objetivamente válidos. Conforme o autor, os imperativos hipotéticos Não são persuasivos ou emotivos, mas racionais, muito embora eles sejam relevantes para a ação somente sob condições específicas, as quais não necessitam ser legítimas para seres racionais como tais. As condições, às quais eles estão relacionados, são condições daquele a quem o imperativo é direcionado, não daquele que emite o comando.12 Dessa forma, o termo condicionado remete à situação do agente racional no mundo e não somente no reino dos fins. Esse é outro ponto sobre o qual devemos deter-nos; entretanto, é necessário lembrarmos a posição de Aristóteles, tendo em vista que, para ele, a prudência é uma virtude ligada tanto aos meios quanto aos fins de uma ação, ou seja, moral e sabedoria para agir no mundo encontram-se na mesma latitude e configuram-se tanto em uma virtude quanto em uma habilidade. Para o pensador antigo A origem da ação (sua causa eficiente, e não final) é a escolha, e a origem da escolha está no desejo e no raciocínio dirigido a algum fim. É por isso que a escolha não pode existir sem a razão e o pensamento ou sem uma disposição moral, pois as boas e as más ações não podem existir sem uma combinação de pensamento e caráter.13 Já para Kant, o princípio da prudência, por se relacionar somente com os meios, não faz parte do arcabouço da moral pura. A moral, na perspectiva kantiana, desenvolve uma tarefa diferenciada em face da prudência: “A máxima do amor de si (prudência) apenas aconselha; a lei da moralidade ordena.”14 Em decorrência disso, a prudência, na perspectiva kantiana, configura-se somente como a habilidade do uso tanto das coisas quanto dos outros homens para a realização de um fim pessoal (na perspectiva da Fundamentação e da Segunda Crítica), assim como para a habilidade no uso das coisas e dos homens para o bom 12 Cf. BECK, L. W. Because of its formal character, even hypothetical imperatives can be objectively valid; they are not persuasive or motive but rational, even though they are relevant to action only under specific conditions which need not be true of rational beings as such. The conditions that are concerned with are conditions of him to whom the imperative is directed, not of him who issues the command. (A Commentary on Kant’s Critique of Practical Reason. Chicago: University of Chicago, 1960. Cap. VI, § 6, p. 87). 13 Cf. ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Trad. Mario Gama Cury. 4 ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001. - 1139 b. p. 114. 14 Cf. KANT, I. [KPV 64]. p. 60. Capítulo 2 | Página 33 convívio social no mundo (Antropologia, Pedagogia, Metafísica dos Costumes), ou, se preferirmos, podemos afirmar como H. J. Paton que: O conjunto ideal diante de nós é o de uma comunidade de pessoas racionais, obedecendo às mesmas leis morais para seu próprio bem, na qual cada um respeita a liberdade do outro, e nesse sentido luta para efetivar um sistema harmonioso de fins, o qual não pode ser pensado de outro modo.15 A percepção de Paton de que a comunidade moral finita luta para estabelecer e manter-se em harmonia reforça que, para Kant, diferentemente de Aristóteles, moral e sabedoria mundana ocupam terrenos diferentes e, portanto, a prudência, no contexto kantiano, é válida somente para a vontade heterônoma, porque se encontra única e rigorosamente ligada aos meios, ou seja, as ações advindas da prudência levam em conta os meios para a realização de um fim, sempre de forma condicionada. Para explicitar esta grande diferença entre Aristóteles e Kant, vale recorrer a P. Aubenque, o qual reconhece que: [P]ara Aristóteles, ocorre uma ruptura entre a habilidade de um lado e a virtude moral de outro; porém, a prudência conserva suficientemente sua ligação com a habilidade para que se possa ver nela um tipo de assumpção moral desta última. É precisamente essa ligação que vai levar Kant à conclusão oposta: a ruptura agora vai se dar [radicalmente] entre a habilidade e a prudência de um lado e a moralidade de outro.16 A ruptura destacada por Aubenque é estabelecida, claramente, por Kant na introdução da Crítica da Faculdade do Juízo. Assim, os princípios técnico-práticos, em conformidade com Kant, só são possíveis: [S]egundo conceitos naturais de causa e efeito, os quais, já que pertencem à filosofia teórica, estão subordinados àquelas Cf. PATON, H. J. The ideal set before us is a community of rational persons, obeying the same moral law for its own sake, respecting each other’s freedom, and is this way striving to realise a harmonious system of ends such as can be realised in no other way. (The Categorical Imperative. cap.XVII, § 7, p. 190). 15 16 Cf. AUBENQUE, P. [P]our Aristote, la coupure passait entre l’habilité d’une part, la prudence et la virtu morale de l’autre; mais la prudence conservait suffisamment de parenté avec l’habilité pour qu’on pût voir en elle une sorte d’assomption morale de cette dernière. C’est précisément cette parenté qui va conduire Kant à la conclusion opposée: la coupure va désormais passer entre l’habilité et la prudence d’un côté, la moralité de l’autre. (La prudence chez Kant. Revue de Métaphysique et de Morale. p. 166). Capítulo 2 | Página 34 prescrições, na qualidade de simples corolário proveniente da mesma (da ciência da natureza) e por isso não podem exigir qualquer lugar numa filosofia particular que tenha o nome de prática.17 E no Prefácio da Fundamentação, Kant demonstra que a parte da moral que se ocupa com o estudo do homem é a Antropologia, mas esta só pode ser utilizada empiricamente. Toda a filosofia moral repousa inteiramente sobre a sua parte pura e, aplicada ao homem, não toma emprestado o mínimo que seja ao conhecimento do mesmo (Antropologia), mas, sim, dá a ele, enquanto ser racional, leis a priori, que, por certo, exigem um poder de julgar aguçado pela experiência. 18 Encontramos, assim, uma distinção física entre Kant e Aristóteles no que tange ao princípio da prudência e, além disso, podemos observar que, embora a prudência, na perspectiva kantiana, não esteja no nível da moralidade, ela não pode vincular-se totalmente ao hábito, como defendia o pensador grego19, devido ao fato dela conter a necessidade do comando racional da razão prática e contar, para obedecer a essa razão, com a inteligência reflexiva. Sendo assim, destacaremos o hábito como o ponto crucial na distinção entre a concepção aristotélica e a kantiana no que concerne à prudência, uma vez que Kant reprova toda ação advinda do hábito, pois, segundo ele, o hábito encontra-se limitado a considerar a ação do sujeito em circunstâncias sempre semelhantes e repetidas; no momento em que as circunstâncias mudam, o hábito torna-se insuficiente para encontrar soluções. Ademais, o hábito, em consonância com Kant, “retira o valor moral das boas ações precisamente porque prejudica a liberdade do espírito e leva, além disso, à repetição irrefletida do mesmo ato 17 Cf. KANT, I. Crítica da Faculdade do Juízo. Trad. Valério Rohden e Antônio Marques. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. [CJ xv] p. 17. (Doravante utilizaremos somente [CJ]). 18 Cf. KANT, I. Fundamentação, [AK 389], p. 73. Apesar de Otifried Höffe identificar as aproximações entre Kant e Aristóteles, ele também concorda que, no tocante ao hábito, permanece um considerável distanciamento entre eles. Ainda segundo Höffe, Kant “defines virtue as ‘a considered and firm resolution’. He [Kant] polemicizes only against a view that does not stem from Aristotle. Virtue, He argues, cannot be seen as mere aptitude or habit, for then it would have something mechanical about it (...). (Cf. Kant’s Cosmopolitan Theory of Law and Peace. Trad. Alexandra Newton. Cambridge: Cambridge University Press: 2006. p. 27). 19 Capítulo 2 | Página 35 (monotonia), tornando-se, com isso, ridículo.”20 E, em outro lugar, Kant ratifica essa negação ao hábito afirmando que: [O] hábito [é] (uma necessidade subjetiva) de perceber como associadas, segundo sua existência, certas coisas ou suas determinações mais frequentemente colaterais ou sucessivas imperceptivelmente, é tomado por uma necessidade objetiva de pôr nos próprios objetos uma tal conexão, (...).21 Princípios práticos materiais versus princípios práticos formais Mediante a decisiva definição do lugar ocupado pela prudência (entre a destreza e a moral) em Kant, surge a necessidade de demonstrarmos a tipologia específica do princípio da prudência. Para realizarmos essa tarefa, voltaremos o nosso olhar para a diferença que é estabelecida por Kant entre os princípios práticos materiais e os princípios práticos formais, na Segunda Crítica. Ao lançarmos mão do Teorema I, verificamos Kant começar a sua abordagem de forma negativa, expressando que: “Todos os princípios práticos, que pressupõem um objeto (matéria) da faculdade de apetição como fundamento determinante da vontade, são no seu conjunto empíricos e não podem fornecer nenhuma lei prática.”22 De saída, somos levados a acreditar que a matéria deve ser eliminada da avaliação moral; entretanto, ao lançarmos um olhar mais atento, perceberemos a inconsistência de tal crença, primeiro, pelo fato de Kant jamais ter negado o valor da matéria para o estabelecimento do conhecimento23 e, segundo, a negação de Kant é que a matéria não pode ser o fundamento da lei prática e não que ela deva ser desconsiderada na avaliação moral. No Teorema I, Kant ainda não afirma nada acerca do dever que cada indivíduo tem de transformar a sua máxima em uma lei universal e neces20 CF. KANT, I. Antropologia Pragmática.[149], p. 48. 21 Cf. KANT, I. [KPV 89], p. 82-83. 22 Cf. KANT, I. [KPV 39], p. 36. Cf. KANT, I. Antropologia Pragmática, [§ 7, 141-142], p. 40-42. [KRV, B350, A294, B351, A295]. Vale destacar a observação de Paton. Historically it is a mistake to considerer him [Kant] as primarily an exponent of rationalism: his great service was to break away from a one sided rationalism and to do justice to the empirical element in human knowledge. (The Categorical, Imperative, livro I, cap 1,§ 11, p. 29-30). 23 Capítulo 2 | Página 36 sária, nem chama a atenção para o fato de que as máximas são matérias submetidas à avaliação do entendimento. Assim, devemos ater-nos ao fato de que a matéria, embora não possa fornecer nenhum fundamento para a lei prática, constitui-se no objeto a ser avaliado a fim de se concluir se tal matéria pode tornar-se objetiva e valer para todo o ente racional, ou se ela manter-se-á no âmbito da subjetividade e importará somente para o indivíduo. Beck explica que: ‘Material’ aqui parece estar equiparado com ‘objeto da faculdade baixa dos desejos’, mas a conotação das duas expressões são distintas, e a distinção é de grande importância. ‘Material’ também é contrastado com ‘formal’ e ‘forma’, e Kant quer dizer aqui: todo princípio prático, o qual aparece como componente cognitivo na vontade por causa de seu conteúdo, i.e., sua referência a um objeto do desejo, e não por causa de sua forma, são empíricos. É da máxima importância não se cair em incompreensões comuns deste teorema e concluir que Kant quer dizer que a presença de um desejo e, portanto, de uma matéria desqualifica a máxima de ser uma lei. Ele diz explicitamente que deve existir um objeto do desejo para existir ação no todo.24 Esclarecido esse ponto, chama a atenção o caráter avaliativo, tacitamente, exigido para identificar-se quais objetos valem para fundamentar os desejos e as satisfações pessoais e quais atendem à lei prática. Percebemos, então, que a prudência é um tipo de princípio avaliativo pertinente aos princípios materiais. Entretanto, devemos observar que a prudência não funcionará meramente para atender os fins que levam ao bem-estar pessoal. De forma rigorosa, a prudência desenvolverá um papel avaliativo, a partir do qual as máximas serão submetidas à razão prática e o agente, obrigatoriamente, as identificará como válidas objetiva ou subjetivamente. Abordaremos esse ponto, detalhadamente, na 24 Cf. BECK, L. W. ‘Material’ here seem to be equated with ‘object of the lower faculty of desire,’ but the connotations of the two words are distinct, and the distinctions is of great importance. ‘Material’ is also contrasted with ‘form’ and ‘formal’ and Kant means here: All practical principle which figure as the cognitive component in volition because of their content, i.e., their reference to an object of desire, and no because of their form, are empirical. It is of the utmost importance nor to fall into the common misapprehension of this theorem and to conclude that Kant means that the presence of a desire and hence of a material disqualifies a maxim from being a law. He says explicitly that there must be an object of desire if there is to be action at all. (A commentary on Kant’s Critique of Practical Reason. Cap. VII, § 5, p. 96) Capítulo 2 | Página 37 seção 1.2.2 Prudência em sentido largo. Por enquanto retomaremos a análise dos Teoremas. Kant abre o Teorema II afirmando que todos os princípios práticos materiais encontram-se ligados ao amor de si e à felicidade própria. Podemos relacionar essa afirmação, como o próprio Kant o fez na Fundamentação, ao pragmatismo ou ao princípio da prudência para, a partir disso, estabelecer a cara diferença entre os motivos que fundamentam a busca pela felicidade pessoal e o motivo que fundamenta a lei moral. No Teorema II, Kant oferece pistas seguras para entendermos os princípios materiais como sentimentos produzidos patologicamente, na medida em que esses princípios são o fundamento determinante dos apetites do sujeito e, como decorrência, a receptividade de tal sujeito encontrará o seu fundamento no “prazer ou desprazer a ser sensorialmente sentido a partir da efetividade de qualquer objeto”25. Assim, todo o sentimento sensorial/patológico, segundo Kant, tem a sua ligação efetiva com o sentimento e não com o entendimento. Faz-se necessário estabelecer o âmbito de cada uma dessas categorias: podemos afirmar que o sentimento sensorial/patológico “depende da existência de um objeto”26 e a sua existência é o motivo fundante da busca pela felicidade individual, sendo que essa busca por felicidade depara-se com uma diversidade de objetos capazes de afetar sensorialmente um indivíduo e, consequentemente, o faz modificar o seu fim constantemente. Desse modo, o sentimento sensorial/patológico não pertence ao entendimento, pois este “expressa uma referência da representação a um objeto segundo conceitos.”27. Chamamos a atenção para o fato de Kant ligar pontualmente o sentimento sensorial/patológico ao sentimento de prazer e desprazer, os quais pertencem, portanto, à faculdade de apetição inferior, ou seja, ao sentido interno, o qual Kant relaciona, desde os tempos das aulas de Antropologia28, à parte passiva da mente e tal parte passiva pode ser afetada com agrado ou desagrado. O sentido interno, nesse contexto, atua apenas 25 Cf. KANT, I. [KPV 41]. p. 38. 26 Cf. KANT, I. [KPV 41], p. 37. 27 Cf. KANT, I. [KPV 41], p. 37-38. Cf. KANT, I. Antropologia Pragmática, [141], p. 40. Sobre esse ponto ver ainda: [KPV 102], p. 94. 28 Capítulo 2 | Página 38 como receptividade no sujeito e, em consequência, é indiferente ao entendimento que julga segundo conceitos. Estendendo um pouco mais a questão, devemos adiantar que, embora o sentido interno ou parte passiva da mente, como se queira chamar, pertença à faculdade de apetição inferior, ele não pode ser desprezado totalmente, uma vez que a sensibilidade é uma das fontes do conhecimento humano e o meio efetivo da busca pela felicidade; não obstante, cabe ressaltar o caráter de neutralidade dos sentimentos sensoriais/patológicos: “Pode-se, pois, dizer que os sentidos não erram, não porque o seu juízo sejam sempre certo, mas porque não ajuízam de modo algum.”29 Ajuizar é a tarefa do entendimento. Se aceitarmos, então, a sensibilidade como uma das fontes do conhecimento humano relacionada à faculdade de apetição inferior e, portanto, de ordem patológica, pragmática, com vistas à felicidade, teremos realizado parte do nosso objetivo: definimos que os princípios materiais práticos prestam-se apenas à busca da felicidade. Mas, chegada essa conclusão, podemos supor a existência de um sentimento que se vincula especificamente à faculdade de apetição superior, ou seja, à razão. Qual será esse sentimento? Antes de encontrarmos a resposta para essa questão, devemos considerar o alerta de Kant. Para ele, a razão só pode ser considerada uma faculdade da apetição superior se ela puder [D]eterminar a vontade pela simples forma da regra prática, sem pressuposição de nenhum sentimento, por conseguinte sem representações do agradável ou desagradável enquanto matéria da faculdade de apetição, que sempre é uma condição empírica dos princípios.30 Se levarmos a sério essa afirmação, questionaremos, então, que tipo de sentimento pode pertencer à razão, compreendida como faculdade de apetição superior. Se for possível existir tal sentimento, ele só pode ser diverso, em sua origem, do sentimento patológico. Enquanto este advém dos sentidos e depende da existência de um objeto empírico, aquele deve advir e ser produzido pela própria razão. Ora, na Anotação I, referente ao teorema em questão, Kant não trata, ainda, de nenhum sentimento desse tipo; ele limita-se, ao fim da Observação I, a proferir, de forma negativa, que: “A ra29 Cf. KANT, I. [KRV B 350 – A 294]. p. 295. 30 Cf. KANT, I. [KPV 45]. p. 41-42. (Grifos nossos). Capítulo 2 | Página 39 zão em uma lei prática determina imediatamente a vontade, não mediante um sentimento de prazer e desprazer imiscuído nela ou mesmo nessa lei.”31 Seguindo na forma negativa, Kant parte para a Observação II, demonstrando porque os princípios materiais não podem fundamentar as leis objetivas. Ora, cada indivíduo, ao buscar sua felicidade pessoal, vai ocupar-se dos meios que tornam essa felicidade possível; ao se reportar aos meios, necessariamente, tem-se em mente o modo empírico de ascensão à felicidade e nunca, portanto, o modo formal. Conforme Kant, “o apetite de felicidade não tem a ver com a forma da conformidade à lei, mas unicamente com a matéria.”32 Contudo, a nossa pergunta volta: qual sentimento relaciona-se à lei moral e é, como consequência, pertinente à faculdade de apetição superior? É possível existir um sentimento que não tenha a sua origem na sensação, mas na razão? Identificamos que, para tratarmos da possibilidade da existência de um sentimento “produzido unicamente pela razão”33, teremos de ultrapassar o âmbito do Teorema II. Mas, para cumprirmos parte de nosso objetivo e ratificar a exigência kantiana de que, aqui, se encontra a mais “importante diferença que pode ser considerada em investigações práticas”34, basta demonstrar que: •Os princípios práticos materiais são válidos somente para a busca da felicidade pessoal; eles são princípios pragmáticos, sensoriais, patologicamente constituídos. •Os princípios práticos formais são os fundamentos da lei moral, são válidos para todos os entes racionais e são princípios praticamente constituídos. Princípio da Prudência: respostas a algumas objeções A acusação de que o princípio da prudência não contém consistência normativa para balizar o trato com materiais genéticos e 31 Cf. KANT, I. [KPV 45]. p. 42. 32 KANT, I. [KPV 46]. p. 43. 33 KANT, I. [KPV 135], p. 124. 34 KANT, I. [KPV 48], p. 44. Capítulo 2 | Página 40 embriões humanos, pois, segundo os defensores dessa posição, o pragmatismo autorizaria qualquer ação independentemente das conseqüências, nos deixou em uma posição complexa, já que, diante de tal posicionamento, nossa hipótese concentra-se em investigar o seguinte: se a prudência não tem consideração com as conseqüências da ação ou autorizaria fazer-se qualquer coisa tanto com seres humanos reais atuais quanto com materiais genéticos e embriões humanos, nós perguntamos qual seria então o papel da razão prática e da reflexão como características primordiais da prudência? Primeiro de tudo, nós devemos considerar que, embora a prudência seja um imperativo hipotético, ela contém mais obrigação com o fim da ação do que a destreza. Expressando-se semanticamente, constatamos que o termo obrigação não se relaciona com ações danosas, pois causar dano a outrem ou a qualquer ser na natureza não contém nenhum caráter obrigatório; essa mesma leitura aplica-se à palavra reflexão, é semanticamente incoerente afirmar-se que um assassino refletiu acerca dos danos que sua ação poderia causar a ele mesmo e as suas vítimas diretas e indiretas; caso ele refletisse sobre tais danos, provavelmente se autodemoveria da intenção de matar. Podemos, assim, perceber que, ao identificarmos a prudência como um imperativo hipotético fraco por achar-se submetida à influência da razão prática e ter como característica a reflexão, não encontra-se aí uma autorização para se agir arbitrariamente com os outros seres humanos e nem com os embriões humanos. Ao contrário, identificamos na prudência um sólido princípio para balizar relações condicionadas, como por exemplo, a relação dos pesquisadores com embriões humanos, por termos claro que nessa relação não há o alcance dos princípios de autonomia nem de beneficência. A leitura entrincheirada do princípio da prudência realizada por aqueles que não conseguem reconhecê-lo como o princípio mais adequado para o trato dos novos fatos morais meramente reflete a ortodoxia e, pior ainda, a estreiteza de visão das leituras da obra moral de Kant, pois qualquer leitor pouco atento, mas com olhar menos preconceituoso e apaixonado pela Fundamentação, perceberá, na exposição kantiana, que o fato de a prudência ser um imperativo hipotético nada a relaciona com a autorização de ações arbitrárias quer seja no âmbito Capítulo 2 | Página 41 estreito da felicidade pessoal quer no âmbito largo da ação para com a espécie humana; tal posição, dentro do sistema kantiano, apenas indica sua relação direta com as ações condicionadas, fato real na relação entre pesquisadores e embriões humanos. É digno se destacar que o escopo da moral pura da Fundamentação não está relacionado a questões voltadas para a natureza humana nem questões de cunho limítrofes, como, por exemplo, onde começa a vida humana ou a pessoa humana. Em consequência desse caráter restritivo, afirmamos que, à luz da Fundamentação, não é possível se atribuir dignidade ou valor ao embrião humano. Tal situação redunda em um erro topológico, uma vez que a obra citada não foi escrita com a intenção de contemplar todos os membros da espécie humana, mas apenas aqueles detentores de razão, vontade e com capacidade para legislar em um reino dos fins. Considerando tal caráter restritivo, é possível se afirmar então que o embrião humano não possui dignidade? Longe disso: uma coisa é afirmar que o embrião não possui dignidade, outra coisa é afirmar que o fundamento teórico para se atribuir dignidade a ele não é o solo da Fundamentação. Essa é uma questão teórico-metodológica, a qual deve ser resolvida antes da abordagem moral. Faz-se necessário, portanto, se estabelecer (se pretendemos continuar com Kant) qual o lugar, no seu sistema, em que ele afirma que o ser humano é um ser de dignidade e livre desde a concepção. De certo, esse lugar não é a Fundamentação. Algum dos nossos debatedores têm defendido que, alegar que o embrião ou uma criança pequena, por não possuir razão e vontade, está fora do âmbito da dignidade traz conseqüências funestas para bioética, já que tal crença permitiria, por exemplo, o aborto de anecéfalos, e até a escravidão de crianças. Esse tipo de afirmação equivocada se deve a dois motivos: 1) não perceber a distinção que fizemos no parágrafo acima e 2) tal afirmação é o reflexo de um olhar menos atento ou demasiado apaixonado pela Fundamentação, o qual impede a identificação de seus limites e, sobretudo, a aceitação de que a Fundamentação é uma obra endereçada, exclusivamente, aos seres racionais (finitos e infinitos) e nada além disso. Portanto, reafirmamos nossa tese: a Fundamentação não é o lugar para se tratar de questões relacionadas à natureza da espécie humana nem ao seu desenvolvimento biológico, Capítulo 2 | Página 42 psicológico e menos ainda de questões limítrofes acerca do início e do fim da vida humana ou da pessoa humana. [A] determinação específica dos deveres como deveres humanos, para dividi-los, somente é possível se antes o sujeito dessa determinação (o homem) for conhecido segundo a natureza que ele efetivamente detém, embora apenas na medida em que é necessário com relação ao dever em geral; tal determinação, porém, não pertence a uma Crítica da razão prática em geral, que só deve indicar completamente os princípios de sua possibilidade, de seu âmbito e limites, sem referência particular à natureza humana.35 Uma vez excluída a Fundamentação para se atribuir dignidade ao embrião humano, qual lugar, então, no sistema kantiano, suportaria tal discussão? Temos agora que passar do terreno prático em direção ao pragmático. Pois tal questionamento encontra seu solo fértil no terreno da Metafísica dos Costumes e da Antropologia Pragmática. É no § 28 da Metafísica dos Costumes que encontramos a tese kantiana de que o filho é um ser que é livre e, portanto, portador de dignidade desde o ato da concepção. Nesse contexto, podemos claramente afirmar que além de Kant apontar para a questão limítrofe, a saber, a pessoa começa a existir no ato da concepção, percebe-se também a imbricação necessária entre a vida biológica e a vida moral, temática anteriormente abordada em seus Prolegômenos, onde se lê que “a condição subjetiva de toda nossa experiência possível é a vida: consequentemente, só se pode chegar a conclusões sobre a permanência da alma na vida,...”36; torna-se, desse modo, evidente que o terreno onde Kant estabelece a questão limítrofe acerca do começo da pessoa é o terreno da legalidade, do pragmatismo, e não o terreno da moral pura. Em face dessa cara localização teórico/conceitual, se faz necessário esclarecermos que a categoria da liberdade não é um conceito unívoco em Kant e, sendo assim, não podemos realizar uma translação arbitrária entre o terreno da Fundamentação e o terreno da Metafísica dos Costumes, sob pena de trairmos a mais importante exigência kantiana, 35 Cf. KANT, I. [KPV 15], p. 14. 36 Cf. KANT, I. Prolegômenos, § 48, p. 159. Capítulo 2 | Página 43 a qual consiste no verdadeiro e único papel da filosofia, a saber, isolar, no conhecimento, o que é puro do empírico37. Considerando essa exigência, e realçando o rigorismo kantiano, é nossa obrigação, então, estabelecermos que se por um lado, na Fundamentação, a ideia de liberdade é a mediadora da relação entre seres autônomos e com capacidade para legislar; por outro lado, na Metafísica dos Costumes, a liberdade tem como sinônimo não a autonomia, mas a imputação, sua característica primordial será aquela subsidiada pela justiça igualitária, marca do Direito Moderno, cujo corolário acha-se na exigência de se respeitar os contratos; a fuga dessa prerrogativa implica que uns podem punir os outros. Mas e quanto ao embrião humano ou criança, é possível a elas serem imputadas? Uma resposta direta implicaria em não; mas não sendo o embrião livre no contexto da moralidade porque não possui autonomia, nem livre no contexto da legalidade porque não pode sofrer imputação, como podemos afirmar a liberdade desses seres pertencentes à espécie humana? Encontramo-nos diante de um intrigante dilema e, sendo assim, para desenharmos uma solução para ele, se faz necessário primeiro: estabelecermos a diferença entre possuir algo e poder arbitrar sobre algo. Temos observado até aqui a liberdade inata se manifestar como algo intrínseco ao indivíduo humano, quer no seu sentido autônomo, quer no seu sentido putativo. Podemos então entender a liberdade em sua duas formas como uma propriedade do indivíduo; nesse contexto, o conceito de propriedade se traduz na posse, no uso e na alienação. Entenderemos, então, que o embrião, embora seja detentor de liberdade inata, não pode arbitrar. É assim que ele, embora seja um ser livre, vem ao mundo pela vontade de outrem, ou seja, ele é livre, mas não pode fazer uso de sua liberdade; é necessário que outros o encaminhem para isso. A dignidade do embrião é inata posto que ele já é parte da espécie humana desde sua concepção; entretanto, ele não possui o maquinário necessário para decidir acerca nem de si mesmo nem de qualquer outra coisa. Nesse ponto, parece que a objeção retorna: então se pode fazer tudo o que quiser com o embrião humano? Nada disso; de acordo com 37 Cf. KANT, I. [K RV,B X]; [KPV, 24], p. 19; [CJ XV] Metafísica dos Costumes (introdução, p. 16-17). Capítulo 2 | Página 44 a Metafísica dos Costumes, § 7, intitulado Da Degradação de si mesmo pela concupiscência, tem-se: Privar-se de uma parte ou órgão íntegro (mutilar-se) – por exemplo, ceder ou vender um dente para o transplante na boca de outrem, ou ver-se castrado a fim de obter um meio de vida mais fácil como cantor e assim por diante – são formas de matar a si mesmo parcialmente. Contudo, ter um órgão sem vida ou enfermo amputado, quando este põe em risco a própria vida, ou ter alguma coisa cortada que constitui parte, mas não órgão do corpo, por exemplo, o próprio cabelo, não pode ser tido como crime contra a própria pessoa – ainda que cortar o próprio cabelo com o fito de vendê-lo não seja inteiramente isento de culpa38. Essa afirmação pode ser estendida ao nosso objeto de discussão, o embrião humano; ora, considerando que mesmo o cabelo humano não pode ser comercializado, o que se dirá dos materiais genéticos e, principalmente do embrião humano? É certo que ele detém o direito de ser tratado como pessoa, posto que, ao vir ao mundo é um cidadão39 deste reino; é necessário, então, um princípio para balizar a relação assimétrica que se manifesta entre as pessoas e o embrião humano. Já sabemos que a ideia de liberdade como sinônimo de autonomia está fora de questão, pois a autonomia é um princípio balizador da relação entre seres racionais livres detentores de razão e vontade. Portanto, a autonomia pauta as relações simétricas. Resta-nos, então, refletir: qual seria a saída possível e, se existe uma, em qual terreno ela pode ser erigida? Defendemos que o pragmatismo é uma via possível; assim, vale destacar que, na tela do pensamento moderno, Kant dá um salto qualitativo e quantitativo no que tange à dignidade humana, tanto da sua perspectiva teológica quanto política: ao afirmar que o filho é um ser livre desde o ato da concepção, ele estende o marco inaugural da pessoa no exato momento em que a emergência dos Direitos Naturais e o Cristianismo defendiam a dignidade somente Cf. KANT, I. Metafísica dos Costumes. (Contendo A Doutrina do Direito e a Doutrina da Virtude). Trad. Edson Bini. Bauru, SP: EDIPRO, 2003. (Dos deveres consigo mesmo em geral, § 6). p. 265. 38 39 Cf. KANT, I. Metafísica dos Costumes, § 28, p. 125. Capítulo 2 | Página 45 com o nascimento40. A concepção é, assim, um critério inovador; entretanto, Kant o identifica no âmbito da legalidade e não na moralidade. Identificamos, desse modo, que para um ser livre desde o ato da concepção, mas que vem ao mundo por vontade de outrem, é necessário se estabelecer um critério reflexivo, a fim de assegurar tanto seu desenvolvimento biológico quanto moral, uma vez que desde a sua concepção ele já traz elementos constitutivos e indicadores de sua capacidade para participar dos dois mundos a ele reservado, a saber, o mundo da natureza e o mundo da liberdade. Cabe ainda uma breve advertência: embora nosso objeto de pesquisa orbite em torno do pragmatismo kantiano, nós também resgatamos a Crítica do Juízo, devido ao fato de nessa obra observamos duas questões importantes para o estabelecimento do princípio da prudência no trato do embrião humano; a) da Crítica do Juízo se extrai uma ampla discussão sobre os juízos reflexionantes e o papel destes para a experiência. Levando isso em conta concordamos com Jesús Conill Sancho de que [A] terceira Crítica kantiana não se centra, como as duas anteriores, na capacidade de julgar determinante, mas na reflexionante, cuja função é interpretadora e orientadora, mais do que legisladora. Enquanto os juízos determinantes partem do universal dado (os conceitos) ao particular, os juízos reflexionantes buscam encontrar o universal (ideias) para particulares dados. Nos juízos determinantes, o juízo está controlado pelos conceitos puros do entendimento e da razão. Ao contrário, o juízo reflexionante está mais livre e permite que a imaginação crie suas próprias ideias para organizar a experiência em um contexto mais amplo.41 Destacada a função interpretadora e orientadora dos juízos reflexionantes, temos o material necessário para afirmarmos que incorre-se Cf. SOVERAL, E. A. Em: Introdução e notas de LOCKE, J. Ensaio Sobre o Entendimento Humano. 4 ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2010. p. XI. 40 41 Cf. SANCHO, J. C. En efecto, La tercera Crítica kantiana no se centra como las dos anteriores em La capacidad de juzgar determinante, sino em La reflexionante, cuya función es interpretadora y orientadora, mas que legisladora. Mientras que los juicios determinantes van desde lo universal dado (los conceptos) a lo particular, los juicios, reflexionantes intentam encontrar lo universal (ideas) para particulares dados. Em los juicios determinantes, el juicio está controlado por los conceptos puros del entendimiento y de La razón. Em cambio, el juicio reflexionante está más libre y permite que La imaginación cree SUS próprias ideas para organizar La experiência em un contexto interpretativo más amplio. (Ética Hermenéutica: Crítica dede La facticidad. 2 ed. España: Tecnos, 2010. p. 21). Capítulo 2 | Página 46 em um erro semântico a acusação de que o princípio da prudência autorizaria ações arbitrárias no trato com a espécie humana. Longe disso, reafirmamos que, em face da relação assimétrica entre pesquisadores e pais de um lado e embriões humanos de outro, a prudência se apresenta como o princípio mais adequado para balizar tal relação, uma vez que o seu caráter reflexivo assegura a possibilidade da efetivação de ações mais adequadas e mais próximas da razão humana, pois, como afirma Vincent Bourguet, “a questão da individualidade do embrião não está ligada à ética. Com ela estamos na ordem constatativa e não na ordem prescritiva.”42 Conclusão Torna-se patente desse modo que a recorrência ao princípio da prudência ou pragmatismo kantiano, no trato com os embriões humanos, jamais pode implicar em ações arbitrárias pelos motivos que seguem: •O caráter reflexivo tem como fim realizar ações que visem ao bem, seja do indivíduo ou da coletividade. Nesse sentido o progresso só é legítimo quando toda a espécie é beneficiada e não somente os entes racionais/pessoas. •De um lado, a percepção de que a autonomia é um princípio restrito aos seres racionais, finitos e infinitos, detentores de razão, vontade e com capacidade para legislar no reino dos fins, denota o seu caráter estreito. •De outro lado a prudência, por se referir a toda espécie humana, denota o seu caráter largo. Nesse sentido, a prudência não deve ser lida como um princípio de ações heterônomas negativas ou desmerecedoras de credibilidade; a heteronomia deve ser entendida, aqui, como as ações condicionadas pelas evidentes limitações dos agentes: no caso específico do embrião humano, embora ele possua liberdade inata desde a concepção, ele não pode fazer uso de tal liberdade. Esse fato implica que o princípio sob o qual ele deve ser aquilatado não é o da autonomia nem o da beneficência, mas o da prudência. 42 Cf. BOURGUET, V. O ser em gestação: Reflexões bioéticas sobre o embrião humano. Trad. Nicolás Nyimi Campanário. São Paulo; Loyola, 2002. p. 16. Capítulo 2 | Página 47 Referências Bibliográficas de Kant KANT, I. Critica da Razão Pura. Trad. Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. 5ed. Lisboa – PT: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. _____. Prolegômenos. Trad. Tânia Maria Benrkopf. São Paulo: Abril Cultural, 1974. _____. Crítica da Razão Prática. Trad. Valério Rohden. São Paulo: Martins Fontes, 2002. (Clássicos). _____. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Trad. Guido Antônio de Almeida. São Paulo: Discurso Editorial: Barcarola, 2009. (Philosophia). _____. Crítica da Faculdade do Juízo. Trad. Valério Rohden e António Marques. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. _____. Metafísica dos Costumes. (Contendo A Doutrina do Direito e a Doutrina da Virtude). Trad. Edson Bini. Bauru, SP: EDIPRO, 2003. (Clássicos Edipro). _____. Sobre a Pedagogia. Trad. Francisco Cock Fontanela. 5 ed. Piracicaba: UNIMEP, 2006. _____. Antropologia de um Ponto de Vista Pragmático. Trad. Clélia Aparecida Martins. São Paulo: Iluminuras, 2006. Referências ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos. Trad. Mário Gama Cury. 4 ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001. AUBENQUE, P. La prudence chez Kant. Revue de Métaphysuque et de Morale. Ano 80, n.2, abril-junho de 1975. pp. 156-182. _____. La prudence chez Aristote. 2 ed. Paris: Universitaires de France, 1976. BECK, L. W. A Commentary on Kant’s Critique of Pratical Reason. Chicago: University of Chicago, 1960. BOURGUET, V. O ser em gestação: Reflexões bioéticas sobre o embrião humano. Trad. Nicolás Nyimi Campanário. São Paulo; Loyola, 2002. Capítulo 2 | Página 48 SANCHO, J. C. Ética Hermenéutica: Crítica dede La facticidad. 2 ed. España: Tecnos, 2010. HÖFFE, H. Kant’s Cosmopolitan Theory of Law and Peace. Trad. Alexandra Newton. Cambridge: Cambridge University Press: 2006. PATON, H. J. The Categorial Imperative: A Study in Kant’s Moral Philosophy. Chicago: University of Chicago, 1948. SOVERAL, E. A. Em: Introdução e notas de LOCKE, J. Ensaio Sobre o Entendimento Humano. 4 ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2010. Capítulo 2 | Página 49 Indiferencia, preocupación y auto-reflexión: El carácter de la voluntad en la autonomía personal Agustín Reyes Morel UDELAR - Uruguai “Las personas pueden adquirir o lograr autonomia a través de la mera fortuna moral sin luchar verdaderamente por ella”. Elster, Uvas amargas Introducción En la tarea de caracterizar los rasgos esenciales de un agente racional autónomo, uno de los tópicos de más larga data es el de la debilidad de la voluntad o akrasia. Habitualmente el rótulo de acráticos se aplica a aquellos sujetos que actúan en contra de su mejor juicio. Enrique Caorsi, siguiendo a Donald Davidson, denomina a las acciones de este tipo incontinentes y afirma que en el caso de incontinencia entran en consideración dos cursos de acción posibles y pese a que uno de esos cursos de acción resulta preferible a la luz de las razones del sujeto, este opta por el otro curso de acción. Luego un sujeto actúa de manera incontinente siempre que sostenga que es mejor en general algún curso de acción disponible diferente del que sigue (Caorsi, 2001:97-98). Las dificultades que presenta la akrasia han sido asumidas como interrogantes claves que cualquier teoría de la acción debe intentar responder. Pero existe un problema más básico con respecto a la voluntad de los agentes racionales que ha despertado un interés limitado aunque, en algunos contextos, posea mayor relevancia. El problema en cuestión es el de aquellos agentes que son indiferentes sobre el carácter general de su voluntad, es decir, que no les preocupa si los deseos o preferencias que los mueven son aquellos que deberían hacerlo. Este tipo de irracionalidad es más fundamental que el manifestado en la akrasia, porque los sujetos acráticos sí se identifican con algunos de sus deseos o preferencias (es decir, tienen razones para querer que sean sus deseos), aunque actúen de forma opuesta a lo que indican. En el caso de los agentes indiferentes o wantons, como los denomina Harry Frankfurt, esta identificación no está presente o es superficial. Si no es posible describir como autónomo a un sujeto cuya voluntad es débil en los términos referidos, es menos factible adscribir autonomía a aquel individuo que es indiferente con respecto a su voluntad. En el resto del artículo se describirá el modelo de voluntad racional autónoma que presenta Frankfurt; se intentará caracterizar la indiferencia sobre la voluntad como un posible efecto de la patología social del consumismo y se esbozarán algunas ideas referidas a la potencialidad de la deliberación pública para revertir la apatía de los wantons sobre el carácter de su voluntad. Primera sección Los conceptos de autonomía y agencia han sido definidos de diversas maneras en el intento de articular ciertas perspectivas de la teoría de la acción y de la filosofía moral, algunas veces asumiéndolos casi como sinónimos, otras subsumiendo el segundo a un rasgo necesario pero no suficiente del primero. Aún en el caso de considerar la autonomía como el concepto central, hay tantas aproximaciones como variables focales a tomar en cuenta. De la misma forma que al reflexionar sobre la igualdad se debe comenzar con la pregunta: “¿Igualdad de qué?”, en el caso de la autonomía la pregunta básica es “¿Autonomía de qué?”. Porque la autonomía puede predicarse tanto de las creencias como de los deseos o emociones, tanto de los fines últimos como de los principios morales, tanto de las actitudes proposicionales tomadas de a una, como de la estructura desiderativa global. Para los intereses de este artículo se restringirá el concepto de autonomía en tres aspectos: a) en primer lugar, se considerará la noción de autonomía personal que puede entenderse como la capacidad efectiva para la auto-realización. Es decir, la capacidad para tomar el control de la propia vida; b) segundo, la autonomía se presentará como un rasgo de la voluntad de las personas, entendida la voluntad como la estructura de deseos y preferencias; b) tercero, se analizará la autonomía como un rasgo global y relativamente permanente de la voluntad, sin tomar en consideración la autonomía (o la falta de ella) de las preferencias o deseos tomados uno a uno, es decir, de la autonomía en un sentido local. Para realizar esta caracterización de la autonomía personal se seguirán algunas ideas presentadas por el filósofo estadounidense Harry Frankfurt. En su artículo “La libertad de la voluntad y el concepto de persona”, Frankfurt distingue a las personas (o sujetos autónomos) de otros seres diciendo que “además de querer, elegir y ser inducidos a hacer esto o aquello, es posible que los hombres también quieran tener (o no) ciertos deseos o motivaciones […] Alguien tiene un deseo del segundo orden ya sea cuando simplemente quiere tener cierto deseo, ya cuando quiere que cierto deseo sea su voluntad” (Frankfurt, 2006a:32). En este sentido, lo que caracteriza a una persona es la habilidad de separarse del flujo y del contenido inmediato de la propia conciencia e introducir una suerte de división que le permite objetivar para sí misma los elementos de su vida mental: Somos capaces, al mismo tiempo, de prestarle atención a lo que está pasando en nuestra conciencia, separarnos de ello y observarlo desde cierta distancia. Estamos entonces en una posición para formar una respuesta reflexiva o de orden superior. Por ejemplo, podemos aprobar o desaprobar lo que vemos, podemos querer seguir siendo el tipo de personas que vemos que somos, o podemos querer ser diferentes (Frankfurt, 2006d:4). Es importante remarcar la estructura jerárquica de la voluntad en tres niveles que aparece asociada a la capacidad de auto-reflexión: a.una persona quiere o decide hacer algo (deseo de primer orden), b.quiere o decide tener cierto deseo de primer orden (deseo de segundo orden) y c.quiere o decide que algunos de estos deseos de segundo orden sean su voluntad, es decir, se identifica con algunos de estos deseos (volición de segundo orden). Como afirma Frankfurt, “la aceptación voluntaria de actitudes, pensamientos y sentimientos transforma su estatus. Ya no son simples rasgos que aparecen en una determinada historia psíquica […] El hecho de que los hemos Capítulo 3 | Página 53 adoptado y aprobado los hace intencionales y legítimos” (Frankfurt, 2006d:7)1. En este sentido, es posible suponer que una de las claves para determinar la autonomía es la existencia de una preocupación en el sujeto sobre el tipo de voluntad que posee. La preocupación (care) ingresa en la economía de las voliciones propuesta por Frankfurt como el aspecto más profundo de la estructura desiderativa. Es posible suponer que la preocupación ocupa el mismo nivel que las voliciones de segundo orden o, quizá, un cuarto nivel no tematizado explícitamente. Frankfurt afirma que una característica destacada de los seres humanos es que nos preocupa lo que somos. Con respecto a nuestra voluntad, nos importa enormemente si los deseos por los que somos inducidos a actuar como lo hacemos nos motivan porque queremos que sean efectivos al hacerlo, o si nos inducen independientemente de nosotros o, incluso, a pesar de nosotros (Frankfurt, 2006b:235). Según este autor cuando una persona está preocupada por algo se torna auto-consciente y realiza una actividad reflexiva que tiene como resultado, en primera instancia, hacer algo consigo mismo. Es decir, estar preocupado implica, en primer lugar, desarrollar un tipo de relación práctica con uno mismo. En palabras de Frankfurt “preocuparnos por algo nos sirve para conectarnos activamente con nuestras vidas en formas que son creativas de nosotros mismos” (Frankfurt, 2006c: 136). La persona a la que algo le preocupa está investida y se identifica con el objeto de su preocupación (es decir, se vuelve vulnerable a las modificaciones de la cosa), su punto de vista es prospectivo, es en cierta medida coherente o firme en su comportamiento y, finalmente, lo que le preocupa le sirve de referencia para guiarse con su vida y en su conducta (Frankfurt, 2006b:123-125). Por lo tanto, es posible asumir que uno de los rasgos necesarios (aunque no suficientes) del autonomía personal es la preocupación del sujeto por el carácter global de su voluntad. Es decir, al agente autónoEl carácter de identificación o adopción de ciertos rasgos de la voluntad como propios corta, en la lógica propuesta por Frankfurt, la potencial regresión desiderativa en la fundamentación de un deseo en otro deseo de orden superior. De cualquier forma, para completar este proceso sería preciso distinguir entre identificación y aprobación de voliciones de segundo orden, algo que Frankfurt no hace y que Marina Oshana señala como una debilidad. La filósofa sugiere que: “Es erróneo afirmar que los aspectos de la identidad suelen ser los aspectos de la auto-identidad solo cuando están autenticados por un proceso de introspección intencional y crítico” (Oshana, 2005:87). 1 Capítulo 3 | Página 54 mo le preocupa que su voluntad sea la que él cree que debe tener. En otras palabras, le preocupa que su voluntad se ajuste a su identidad o, mejor, a lo que el sujeto entiende que es su identidad. Así, la noción de preocupación con respecto a la voluntad implica tanto la idea de auto-reflexión, como la idea de auto-concepción o auto-comprensión. Esta idea de auto-identidad no está tematizada explícitamente en la obra de Frankfurt, pero como señala Marina Oshana es clave para dotar de sentido a la noción de autonomía personal. Porque el marco contra el cual nuestra auto-reflexión genera la conciencia de la preocupación es la imagen que tenemos de nosotros mismos (de aquello que creemos que nos identifica). Oshana dice que “en cierto sentido, la auto-concepción de una persona es anterior e informa del proceso de auto-reflexión crítica. Tal vez la auto-concepción se dio a conocer en el curso de un proceso de auto-reflexión crítica. Y [también es posible que] una persona [descubra] que su propia concepción se solidifica en el curso de auto-reflexión crítica. Pero esta revelación posterior a la auto-reflexión no establece ni constituye la auto-identidad de la persona” (Oshana, 2005:88). Para comprender mejor la relación entre preocupación, auto-reflexión y auto-identidad se requiere introducir el concepto de necesidad volitiva. La noción de necesidad volitiva es la clave en la arquitectura de la voluntad que presenta Frankfurt. Es, en varios sentidos, un concepto paradójico. Una genuina necesidad de la voluntad es aquella por la que el sujeto no puede dejar de preocuparse, pero por la cual no puede preocuparse de forma voluntaria. Es una necesidad porque el sujeto no puede hacer nada intencionalmente para tenerla o para dejar de tenerla, pero al mismo tiempo es auto-impuesta porque el sujeto la aprueba o, al menos, se identifica con ella. El sujeto entiende que dejaría de ser la persona que es si no siguiese los cursos de acción que la necesidad le indica o rechazase aquellos que la necesidad le hace considerar impensables. Frankfurt dice que “una persona es activa cuando hace lo que hace por su propia voluntad, a pesar de que su voluntad no esté dentro del alcance de su control voluntario” (Frankfurt, 2006b:130). Frankfurt supone que los ejemplos más claros de necesidades volitivas se presentan en el terreno de la racionalidad (lógica) y del amor. Afirma que los filósofos se han visto en la dificultad de explicar por qué el amor y la racionalidad (como capacidades) son valorados “dado que ponen a disposición experiencias de plenitud y libertad especialmente valiosas, aunque am- Capítulo 3 | Página 55 bas requieren que una persona se someta a algo que está más allá de su control voluntario” (Frankfurt, 2006b:131). Un rasgo de nuestra voluntad se transforma en una necesidad volitiva cuando el sujeto se identifica con ella (previamente puede haber sido sólo considerada como una fuerza externa, irracional, inconsciente, etc.), es decir, cuando pasa a formar parte de su auto-identidad. Frankfurt señala que la actitud de Lutero ante la Dieta Imperial de Worms, en la que declara “heme aquí, no puedo hacer otra cosa”, ejemplifica la postura de un agente que reconoce la imposibilidad de actuar de otra manera no como una debilidad, sino como una fortaleza de la voluntad. Pero el mismo ejemplo (al menos en su descripción habitual) no muestra la sentencia de Lutero como el resultado de un ejercicio de auto-reflexión crítica. Es posible suponer que el teólogo protestante no se hizo la pregunta sobre el valor de esa necesidad volitiva, simplemente la reconoció como tal. Adecuando las palabras de Oshana sobre la prioridad de la auto-concepción, es posible suponer que la auto-reflexión crítica sobre las necesidades volitivas que componen la auto-identidad del sujeto no las fortalecen ni las debilitan directa o necesariamente, pero sí permite introducir la pregunta: “¿por qué debería preocuparnos aquello que nos preocupa?” o “¿cuál es la importancia de aquello que nos preocupa?”. Es decir, habilita un tipo de pregunta normativa que no puede responderse simplemente refiriendo al carácter cuasi fáctico de las necesidades o preocupaciones de la voluntad. Porque, como sugieren tanto Frankfurt como Oshana, aunque la persona no pueda dejar de preocuparse por lo que se preocupa, sí podría querer o inclusive decidirse a hacerlo en la medida que suponga que esa necesidad no es digna o no reviste la importancia requerida. Desarrollando estas ideas, en la siguiente sección se intentará mostrar que los agentes indiferentes con respecto a su voluntad pueden ser de dos tipos y, al mismo tiempo, que esta particularidad de la voluntad puede caracterizarse como efecto de algunas patologías sociales, en particular, el consumismo. Segunda sección Frankfurt introduce el concepto de agente indiferente en el artículo sobre la libertad de la voluntad presentado en la sección anterior. Allí señala que empleará el termino wanton para referirse a agentes que Capítulo 3 | Página 56 tienen deseos de primer orden, pero que no son autónomos, porque, tengan o no deseo del segundo orden, no tiene voliciones de segundo orden (Frankfurt, 2006a). Y luego señala que es posible que un agente inconsciente posea y emplee facultades racionales de una jerarquía alta. No hay nada en el concepto de agente inconsciente que implique que éste no pueda razonar o deliberar acerca de cómo hacer lo que quiere hacer. Lo que distingue al agente inconsciente racional de otros agentes racionales es que no le preocupa la conveniencia de sus deseos. Hace caso omiso de la pregunta acerca de cuál ha de ser su voluntad (Frankfurt, 2006a:33) Como afirma Oshana, “la falta de auto-reflexión y una indiferencia hacia la propia auto-concepción eclipsan la agencia autónoma” (Oshana, 2005:). Hacer caso omiso a la pregunta sobre el carácter de la voluntad puede ilustrar dos tipos de wantons: a.En primer lugar, un agente indiferente puede no reconocer o aceptar ninguna necesidad volitiva o preocupación. Esto no quiere decir que no posea deseos lo suficientemente permanentes y estructuradores de su racionalidad práctica, sino que no se identifica con ninguno de ellos. Su auto-identidad es siempre provisoria y está relacionada de forma fuertemente causal con lo que sucede en su entorno. Podríamos decir que, en cierta medida, es el caso de los niños pequeños o, en un sentido más amplio, el caso de aquellos sujetos que Elster caracteriza como dominados por la conformidad, es decir, por deseos causados por el impulso a ser como las demás personas. Como sugiere Elster, “la conformidad puede producir deseos éticamente aceptables aunque carentes de autonomía. El conformista dócil que actúa moralmente porque en todo momento está apoyado por un medio que le inculca los deseos correctos, difícilmente puede afirmar que es autónomo” (Elster, 1988:40). Por el contrario, la conformidad también puede producir deseos moralmente inaceptables cuando está apoyada por un medio que inculca preferencias incorrectas. b.En segundo lugar, un agente indiferente puede aceptar o identificarse con algunos deseos y preferencias, pero es omiso a la pregunta si esas necesidades o preocupaciones son dignas de ser tomadas en consideración. En este caso, su auto-identidad ya no es provisoria Capítulo 3 | Página 57 sino que puede tener un carácter más permanente y, en principio, no hay una adaptación causal de sus deseos al contexto. Pero aún así no puede caracterizarse como autónomo (al menos no completamente y, al menos, en ciertos contextos de autocomprensión cultural) porque no ha realizado un examen crítico sobre el carácter de estas necesidades o preocupaciones. Siguiendo la tipología de Elster, este podría ser el caso de los sujetos dominados por el conformismo, es decir, por el deseo de ser como otras personas. Así como la conformidad implica que la conducta de las demás personas se incorpora a la causación de los deseos del sujeto; el conformismo implica que esas personas se incorporan a la descripción del objeto de su deseo (Elster, 1988:40). En este caso, al sujeto le preocupa ser como los demás, siente la necesidad volitiva de ajustar su conducta a las pautas de comportamiento del entorno y reconoce que le resulta impensable actuar de otra manera. Pero no hay una reflexión crítica sobre el carácter de esas necesidades, entre otras razones, porque la inclusión de la alteridad en la constitución de la auto-identidad está considerada apenas como un dato aproblemático. Aunque con matices, en ambos casos la deliberación de los individuos se limita a considerar los motivos y deseos que las circunstancias le habilitan y a coordinar los medios necesarios para alcanzar estas preferencias que están justificadas en base a una introspección superficial. Esta superficialidad puede describirse, en los términos de Axel Honneth, como un caso de auto-reificación, en la cual los sujetos consideran sus deseos y preferencias como simples objetos ya dados para siempre o construidos a través de sus declaraciones (Honneth, 2007:120). En este sentido, si los propios deseos y sensaciones no son considerados dignos de ser articulados, el sujeto no puede encontrar el acceso a su interior que es necesario preservar en la relación consigo mismo. La referencia a la auto-reificación en relación a la indiferencia sobre la propia voluntad permite introducir la pregunta por la posibilidad de que estas restricciones a la autonomía puedan ser efectos de patologías sociales tales como el consumismo. El concepto de patología social está fuertemente asociado a la filosofía social de tradición hegeliana. Para caracterizar esta noción primero es necesario introducir el presupuesto básico de la teoría crítica, es decir, la idea de que todo estadio social posee un potencial de racionalidad que se expresa bajo la forma de un estado de las relaciones inCapítulo 3 | Página 58 tersubjetivas no distorsionado que tiene por característica el otorgarle a cada individuo las oportunidades para auto-realizarse. En este sentido, la racionalidad de una sociedad implica tanto un tipo de auto-comprensión de sus integrantes como una estructura institucional y motivacional que permita el desarrollo de la autonomía personal de cada sujeto (idea que se expresa de forma directa en el lema de Honneth: “inclusión e individualización”2). Al mismo tiempo, en todo momento histórico pueden existir bloqueos para realizar esta racionalidad que surgen de la dinámica de las sociedades complejas y que constituyen aquello que puede entenderse como patología social. La condena que la filosofía social crítica realiza al efecto de las patologías sobre la autonomía personal no tiene una fundamentación moral en stricto sensu, dado que no hay un agente al cual imputarle responsabilidad. Como afirma Gustavo Pereira “lo que oficia de criterio normativo es una cierta idea de praxis humana adecuada que podría especificarse a través del ejercicio de ciertas capacidades que posibilitan la intersubjetividad [y que es bloqueada por la dinámica social patológica]” (Pereira y Vigorito, 2010:2). Entre los diversos tipos de patologías sociales, el caso del consumismo puede vincularse de forma directa con la indiferencia sobre el carácter de la voluntad en algunos sujetos. En primer lugar, no todo tipo de consumo puede ser considerado patológico. Como ha señalado Hannah Arendt, el consumo es la otra cara de la labor y esta es la forma más básica que adopta la vida activa de los hombres (Arendt, 1995). El consumo se torna problemático cuando se vuelve cuasi forma de vida y subvierte la estructura de racionalidad potencialmente presente en la dinámica social al invertir la lógica de medios y fines necesaria para garantizar la auto-realización de los sujetos. Como afirma Pereira, el rasgo particular del consumismo es que “lo novedoso adquiere la condición de superior y por lo tanto deseable, hecho que a su vez tiene la particularidad de explotar a la perfección la capacidad humana de crear nuevos deseos. Esta lógica genera por contrapartida una permanente insatisfacción, ya que lo novedoso por definición es inagotable” (Pereira y Vigori- “Creo que como crítico social, pero también como analista social, se necesitan criterios para poder decir por qué ciertos desarrollos son probablemente anómicos o patológicos y otros van en la línea correcta. Actualmente mi posición es que el mencionado criterio es una combinación de dos: individualización e inclusión” (Pereira, 2010:326). 2 Capítulo 3 | Página 59 to, 2010:6). Por lo tanto, es posible suponer junto con Benjamin Barber que la sociedad de consumo tiene por consecuencia la generación de un ethos infantilista en el que el comportamiento de las personas es irreflexivo, dependiente de sus deseos primarios y relacionado causalmente con los patrones de conducta de sus pares inmediatos (Barber, 2007). Esta definición de Barber presenta dos aspectos claves para comprender la relación entre patología social e indiferencia sobre el carácter de la voluntad. En primer lugar, el tipo de relación consigo mismo que estipula para los sujetos consumistas posee los mismos rasgos que fueron detallados al caracterizar al agente indiferente. En segundo lugar, la referencia a ethos de cierto tipo para explicar la problemática subyacente al consumismo permite reintroducir la noción de necesidad volitiva y articular así la dinámica social con la auto-identidad del sujeto. Para ello es imprescindible ajustar la definición de ethos. Gerald Cohen define el concepto de ethos como la estructura de respuesta situada en las motivaciones que orientan la vida diaria (Cohen, 2001:173). Para este autor, el ethos se ubica entre las estructuras institucionales y las elecciones de los individuos. Para corroborar este lugar intermedio, Cohen afirma que sus opiniones es este sentido son próximas a las de J.S. Mill quien suponía que “todo el mundo tiene intereses egoístas y altruistas, y el hombre egoísta ha cultivado el hábito de preocuparse por aquellos y desatender estos últimos. Y algo que contribuye a la dirección en que evolucionan los hábitos de una persona es el ethos del ambiente social” (Mill, 1977:444). Este lugar intermedio entre la estructura básica de una sociedad y las decisiones de los individuos es clave, porque permite sugerir que, en cierta medida, el ethos es el locus en el que se ubican las necesidades volitivas de los sujetos. Tres son los puntos de contacto que habilitan esta suposición: a) las necesidades volitivas (preocupaciones) sirven, al igual que el ethos, para motivar y justificar las acciones de los sujetos; b) al mismo tiempo, un sujeto constituye su auto-identidad a partir de su identificación con ciertas necesidades volitivas, así como con ciertos aspectos de su ethos; c) finalmente, tanto el ethos como las necesidades volitivas poseen el carácter paradójico de no poder ser modificados de forma intencional por el sujeto pero, dada su identificación, formar parte de lo que el sujeto considera su voluntad. Esta sugerencia de que el ethos socio-cultural es el locus de las necesidades volitivas requiere un mayor ajuste porque, de otra forma, podría Capítulo 3 | Página 60 conducir a la conclusión de que todos los sujetos que integran un ethos determinado poseen las mismas necesidades volitivas. Elidiendo por el momento este punto oscuro, la relación establecida brinda algunas razones para considerar a la indiferencia con respecto a la voluntad como efecto del consumismo. En pocas palabras, no es que el ethos infantilista del consumismo genere de forma necesaria un conjunto igual de necesidades o preocupaciones en los sujetos (esto sería el caso de un wanton del primer tipo que, aunque factible en lo individual, es poco probable como rasgo de un conjunto), sino que provoca la indiferencia con respecto a la pregunta sobre la validez de las necesidades volitivas o preocupaciones. Sin dudas no es un requisito de la autonomía personal que en todas las circunstancias el sujeto se pregunte por la dignidad de aquello que lo preocupa (esta sospecha permanente es una indicación de otro tipo de patología), pero el ethos del consumismo niega la posibilidad de la pregunta en cualquier circunstancia. Y lo hace, habitualmente, desprestigiando el valor de la interrogante por la pertinencia de nuestras necesidades volitivas (que, en el fondo, es la pregunta sobre cómo incluimos a los otros en la constitución de nuestra auto-identidad). El mecanismo destacado en este proceso de “olvido de reconocimiento” de la pregunta, es la asociación de la idea de auto-reflexión crítica a una especie de pérdida de contacto con una realidad volitiva más primigenia y auténtica, más espontánea, menos “preocupada”. Este ocultamiento de la pregunta es una consecuencia negativa del ethos consumista porque, entre otros aspectos, vuelve indiferente al sujeto con respecto a la necesidad de justificar sus puntos de vista ante los demás (en un diálogo real o adoptando la posición de tercera persona). Aún sin presentar la argumentación debida, es posible asumir que el tipo de relación no distorsionada que es indicación de la racionalidad en una sociedad democrática incluye la noción de justificación intersubjetiva de preocupaciones y necesidades volitivas. Esto no implica que toda preocupación o necesidad pueda ser justificada ni que, en el caso de no poder justificarse ante los demás el sujeto tenga que abandonarla o modificarla obligatoriamente, sólo sugiere que en un ethos democrático una de las preocupaciones de los sujetos es justificar, en el ám- Capítulo 3 | Página 61 bito indicado y con el tipo de razones indicadas3, aquello que les preocupa o que consideran una necesidad volitiva. Por lo tanto, como se sugerirá en la última sección, las instancias de deliberación pública son un mecanismo privilegiado (no el único, ni siquiera el más efectivo) para revertir los efectos de la patología social del consumismo sobre la relación de los sujetos con su propia voluntad. Tercera sección En el marco de sociedades democrática cuya auto-comprensión incluye la justificación intersubjetiva de puntos de vista, la deliberación pública es un ámbito privilegiado para que se pongan en funcionamientos los mecanismos a partir de los cuales las personas pueden volver a preocuparse por el carácter de su voluntad. Esto es así porque, en primera instancia, en el proceso deliberativo público los interlocutores deben hacerse responsable de sus puntos de vista. John Christman refuerza la idea al decir: “La acción de abrazar una visión como parte de un proceso de expresarse públicamente convierte [a esta visión] en propia en un sentido crucial. Incluso si estoy sistemáticamente equivocada sobre el origen psicológico de mis opiniones y valores, me comprometo con ellos en tanto se los presento a los demás en el discurso público” (Christman, 2005:350). A este nivel de reconocimiento de ciertos deseos y preferencias como parte de uno mismo lo denominaremos primer estadio de autonomía personal. En segundo término, la deliberación pública puede ser el punto de ingreso de una disonancia cognitiva y/o volitiva entre los criterios de fundamentación intersubjetiva de preocupaciones y algunos rasgos idiosincráticos del sujeto deliberante. Esta disonancia puede entenderse como una fricción moral que introduce, en un doble movimiento, tanto la preocupación por el carácter de la voluntad como la asunción de la incompletitud en la constitución de la subjetividad: Dado que el sujeto reconoce que no está completamente ni definitivamente constituido se 3 Una interesante aproximación a las múltiples formas de justificación vinculadas a diversos niveles de autonomía puede leerse en el artículo de Rainer Forst “Political Liberty: Integrating Five Conceptions of Autonomy” (2005:226-244). Capítulo 3 | Página 62 vuelve necesaria “la introducción de la alteridad como momento siempre provisorio de esa constitución” (Pereira, 2006:61). Esta fricción moral puede poner en marcha lo que, parafraseando a Sandel, se denominará una agencia en un sentido volitivo (Sandel, 2000). Al desarrollar esta agencia no se genera una independencia respecto de identidades, formas de vida y tradiciones social e históricamente determinadas, sino una distancia reflexiva respecto de todos estos rasgos individuales o sociales. Se produce un extrañamiento sobre las propias preferencias y una preocupación genuina sobre el carácter global de la voluntad. En estas instancias, el sujeto se ubica en un “exterior interior”, siguiendo la imagen topográfica de Axel Honneth, desde el cual observa “con creciente distancia el conjunto de prácticas y convicciones instalado en su propia cultura de origen como si fuera una segunda naturaleza” (Honneth, 2009:201). Este segundo umbral de la autonomía personal se distingue del primero en dos aspectos que coinciden con las diferencias que Honneth resalta entre el intelectual normalizado y el crítico social: a) la agencia volitiva, aunque generalmente se desarrolla a partir de una disonancia entre actitudes proposicionales puntuales, posee un carácter holístico que cuestiona “el entramado de condiciones que ha permitido que surjan todos esos procesos de formación de la voluntad” (Honneth, 2009:201); b) a diferencia de la asunción de ciertas preferencias y actitudes como propias, el segundo estadio de la autonomía tienen una necesidad de hacer uso de una teoría que de una u otra manera posea un carácter explicativo: “para poder explicar por qué se supone que son cuestionables [o aceptables] en su conjunto las prácticas y las convicciones afianzadas, tiene que ofrecer[se a sí mismo] una explicación que haga comprensible [su] formación como la consecuencia de una concatenación de circunstancias o acciones” (Honneth, 2009:202). Es claro, dadas estas características, que la deliberación pública puede generar una ampliación de la autonomía en la medida que su diseño permita el discernimiento y la reflexión interior. Porque la autonomía requiere un espacio personal solitario hacia el cual el individuo pueda retirarse temporalmente con el fin de ejercer la imaginación y sus capacidades contemplativas y críticamente reflexivas (Cooke, 1999). Pero, al mismo tiempo, la dimensión intersubjetiva de la autonomía implica que este espacio privado sea en esencia permeable a la perspectiva crítica de los otros. La autonomía personal es un proceso de retroalimentación: la relación intersubjetiva con Capítulo 3 | Página 63 los otros significantes –en particular en los procesos de deliberación pública- permite desarrollar un espacio personal donde procesar las demandas y objeciones y así potenciar la capacidad del sujeto hacerse responsable del carácter de su voluntad en el intercambio dialógico. La dinámica de deliberación pública y expansión del espacio privado que supone esta agencia puede permitir restablecer una relación no cosificada con los estados vivenciados en el interior, es decir, “una relación con uno mismo en la que nos identificamos con nuestros deseos e intenciones, o los aprobamos de una manera tal que origina el esfuerzo por descubrir nuestras aspiraciones básicas, verdaderas o incluso las de segundo orden” (Honneth, 2007:122). La participación en instancias públicas de deliberación puede permitir a los sujetos afectados comenzar a revertir la indiferencia sobre el carácter general voluntad. Pero dado que las necesidades volitivas no se establecen o modifican por la sola decisión del sujeto, no es posible producir intencionalmente la preocupación por justificar el punto de vista personal ante los demás. Aunque parezca un juego de palabras, la preocupación por la preocupación sólo puede establecerse de forma indirecta. Porque, como sucede con el amor y otras formas de preocupación, las necesidades volitivas pueden caracterizarse como subproductos en el sentido que Elster le da a este concepto, es decir, como aquellos estados que “nunca pueden generarse de manera inteligente o intencional, puesto que en cuanto uno intenta producirlos, la tentativa misma impide que tenga lugar el estado que uno se propone generar” (Elster, 1988:67)4. Este aspecto, sin dudas, es un punto a tener en cuenta por aquellos que buscan establecer instancias de deliberación pública como forma de ampliar la autonomía personal de los participantes. Es, sin dudas, un desafío para los diseñadores de políticas sociales y educativas. Bibliografía ARENDT, H. Labor, trabajo y acción In: De la historia a la acción, Barcelona, Paidós, 1995, pp. 89-107. 4 Frankfurt presenta una idea similar cuando habla de la resolución del sujeto con respecto al carácter de su voluntad a partir de la auto-reflexión: “el hecho de que la persona no se sienta impulsada a cambiar las cosas debe ser el fruto de su comprensión y evaluación de estado de éstas en lo que le toca. Así, la no presencia esencial [de la ambivalencia] no se busca de forma deliberada. Se desarrolla y prevalece como una consecuencia no manejada de la apreciación de su situación psíquica por parte de la persona” (Frankfurt, 2007:170). Capítulo 3 | Página 64 BARBER, B. Consumed. How Markets Corrupt Children, Infantilize Adults, and Swallow Citizens Whole, Nueva York, Norton, 2007. CAORSI, C. E. De una teoría del lenguaje a una teoría de la acción intencional: una introducción a la filosofía de Donald Davidson, León, Asociación Cultural Factótum, 2001. CHRISTMAN, J. “Autonomy, Self-Knowledge, and Liberal Legintimacy” In: Christman, J. y Anderson, J. (eds.), Autonomy and the Challenges to Liberalism New Essays, Cambridge, CUP, 2005. COHEN, G.A. Si eres igualitarista, ¿cómo es que eres tan rico?, Barcelona, Paidós, 2001. COOKE, M. A space of one’s own: autonomy, privacy, liberty” en Philosophy & Social Criticism, nº 25 (1), 1999, pp. 23–53. ELSTER, J. Uvas amargas, Madrid, Península, 1988. FORST, R. Political Liberty: Integrating Five Conceptions of Autonomy. In Christman, J. y Anderson, J. (eds.), Autonomy and the Challenges to Liberalism New Essays, Cambridge, CUP, 2005, pp. 226-244. FRANKFURT, H. La libertad de la voluntad y el concepto de persona. In: La importancia de lo que nos preocupa, Buenos Aires, Katz, 2006ª, pp. 25-45. ____. Identificación e incondicionalidad. In: La importancia de lo que nos preocupa, Buenos Aires, Katz, (2006b) pp. 229-252. ____. La importancia de lo que nos preocupa. In: La importancia de lo que nos preocupa, Buenos Aires, Katz, 2006c, pp. 119-138. ____. Taking Ourselves seriously & Getting It Right, Stanford, SUP, 2006d. ____. La más tenue de las pasiones. In: Necesidad, volición y amor, Buenos Aires, Katz, 2007, pp.155-173. HONNETH, A. Reificación: un estudio en la teoría del reconocimiento, Buenos Aires, Katz, 2007. ____. La idiosincrasia como medio de conocimiento. La crítica de la sociedad en la era del intelectual normalizado” en Patologías de la razón, Buenos Aires, Katz, 2009, pp. 195-208. Capítulo 3 | Página 65 MILL, J. S. Considerations on Representative Government. In: Robson J.(comp.), The Collected Works of John Stuart MilI, vol. 19, Toronto, TUP, 1977. OSHANA, M. Autonomy and Self Identity. In Christman, J. y Anderson, J. (eds.), Autonomy and the Challenges to Liberalism New Essays, Cambridge, CUP, 2005, pp. 77-97. PEREIRA, G. Autonomía, intersubjetividad y consumo. In Sistema, nº 210, 2009, pp. 53-70. ____. Reconocimiento y criterios normativos. Entrevista a Axel Honneth” en Andamios, Vol. 7, nº 13, 2012, pp. 323-334. ____. y Vigorito, A. Justicia y políticas sociales: El alcance de las patologías sociales, documento presentación del proyecto de investigación del mismo nombre financiado por CSIC 2010-2013. 2010. SANDEL, M. El liberalismo y los límites de la justicia, Barcelona, Gedisa, 2000. Capítulo 3 | Página 66 Ética e Genealogia em Michel Foucault Prof. Dr. Cesar Candiotto1 PUCPR - Brasil Status Quaestionis Há [...] alguma coisa profundamente ligada à nossa modernidade; afora as morais religiosas, o Ocidente só conheceu, sem dúvida, duas formas de ética: a antiga (sob a forma do estoicismo ou do epicurismo) articulava-se com a ordem do mundo e, descobrindo sua lei, podia deduzir o princípio de uma sabedoria ou uma concepção da cidade: mesmo o pensamento político do século XVIII pertence ainda a essa forma geral; a moderna, em contrapartida, não formula nenhuma moral, na medida em que todo imperativo está alojado no interior do pensamento e de seu movimento para captar o impensado. [...] Para o pensamento moderno, não há moral possível; pois, desde o século XIX, o pensamento já ‘saiu’ de si mesmo em seu ser próprio, não é mais teoria; desde que ele pensa, fere ou reconcilia, aproxima ou afasta, rompe, dissocia, ata ou reata, não pode impedir-se de liberar e de submeter. Antes mesmo de prescrever, de esforçar um futuro, de dizer o que é preciso fazer, antes mesmo de exortar ou somente alertar, o pensamento, no nível de sua existência, desde sua forma mais matinal, é, em si mesmo, uma ação – um ato perigoso. (FOUCAULT, 1966, pp. 338-339) Foucault, em nota de rodapé, salienta que entre essas duas éticas “o momento kantiano constitui um ponto de juntura: é a descoberta de Professor do PPG em Filosofia (Mestrado/doutorado) da PUCPR. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - nível 2. Autor do livro: Foucault e a crítica da verdade. Belo Horizonte: Autêntica; Curitiba: Champagnat, 2010. 1 que o sujeito, enquanto racional, se dá a si mesmo sua própria lei que é a lei universal.” (FOUCAULT, 1966, p. 339). A citação e a nota anteriores indicam suficientemente o diagnóstico elaborado em 1966, no livro Les mots et les choses. Entre estóicos e epicuristas, a ordem da natureza constituía a referência a partir da qual eram articulados os princípios éticos; a partir de Kant, a referência é o processo de objetivação e universalização de máximas subjetivas e contingentes, elaborado pelo próprio sujeito enquanto sujeito racional. As leis morais decorrentes do teste do Imperativo Categórico são aquelas que qualquer ser racional se dá a si mesmo, quando quer conduzir-se moralmente, o que significa estabelecer uma conduta regrada. Contudo, a posição de Foucault é desconcertante quando afirma que na modernidade é impossível a formulação de qualquer moral, posto que: “todo imperativo está alojado no interior do pensamento e de seu movimento para captar o impensado.” Quando menciona a modernidade, não está se referindo a Stuart Mill, Moore, Rawls, Habermas, Jonas e demais teóricos da ética normativa. Seu diagnóstico está alicerçado em pensadores da estirpe de Sade, Nietzsche, Artaud, Bataille e, de um modo mais discreto, Marx, Freud e o próprio Hegel. Nesse aspecto, o momento kantiano é considerado um “ponto de juntura” porque, entre a predominância nos antigos de um fundamento externo ao sujeito e a ausência moderna de qualquer fundamento, Kant constituíra o próprio sujeito a priori prático em fundamento da lei moral. Passagens tão explícitas e ao mesmo tempo decididamente polêmicas como estas a respeito da ética não são recorrentes nas investigações de Foucault nos anos 1960. Além do já exposto, também se percebe uma inadvertida equivalência ou, no mínimo, uma indiferença explícita entre ética e moralidade. Esse detalhe toma importância haja vista que, posteriormente, Foucault estabelece diferenças semânticas entre esses termos. E, além disso, porque boa parte dos cursos, livros e demais manifestações que vão do final dos anos 1970 até sua morte, em 1984, são conhecidos como o momento da genealogia da ética, e não como genealogia da moral ao modo de um palimpsesto nietzschiano. Se, de um lado, a perspectiva de Foucault toma distância de quaisquer sistemas éticos que proponham um fundamento válido e legítimo para a ação moral, tais como a natureza ou a razão; ainda que ela também tente se afastar das morais religiosas cujo fundamento é a Revelação; de outro Capítulo 4 | Página 70 lado, para entender minimamente a genealogia da ética foucaultiana é preciso situá-la em relação àqueles sistemas éticos e a essas morais religiosas. Não se trata de encontrar normas de regramento das condutas a partir das quais são estabelecidos critérios de correção e obrigação (Kant, Rawls), tampouco propor princípios como os de “bem” e “felicidade” (Stuart Mill, Aristóteles), elevados a finalidades últimas a partir das quais são estabelecidas as avaliações éticas. Foucault não está preocupado em como o indivíduo está obrigado a agir diante de certos princípios éticos ou como ele precisa se comportar em razão dos códigos morais. Não obstante, afirmar que ele não se preocupa com os princípios éticos ou códigos morais de conduta seria, no mínimo, uma conclusão apressada. Na verdade, sua investigação está insistentemente interessada no processo de constituição do sujeito. No caso dos últimos escritos, na constituição ética do sujeito, no sentido de perguntar pela relação singular que podemos criar em relação a nós mesmos diante dos códigos morais que nos são propostos culturalmente e dos princípios normativos que tendem a direcionar nosso agir. Importa qual é a atitude, qual é a modulação que elaboramos na nossa maneira de ser e de viver diante de tais códigos e princípios. Significa que na investigação de Foucault importa muito mais tratar da ética como um campo de problematização do que como um âmbito normativo de fundamentação da ação moral. Essa estratégia da problematização dos conceitos e dos objetos do pensamento é tributária daquela tradição moderna formada por pensadores como Sade, Nietzsche, Artaud, Bataille, Marx e Freud. Mas, paradoxalmente, Foucault não vai procurar saber o que esses pensadores, cada um a seu modo, produziram em termos de uma nova interpelação da ética na modernidade. Ele contenta-se em utilizar suas estratégias para analisar um campo problemático específico. Provavelmente a estratégia que mais esteja explícita nessa análise, particularmente da ética, seja a da genealogia. A genealogia é uma estratégia que renuncia encontrar a origem escondida de um objeto já dado ou sua forma invariável no decorrer da história, uma vez que dessa perspectiva inexistem uma origem essencial e uma unidade já constituída que possam explicá-lo. A “ética”, portanto, não é somente um objeto do conhecimento, mas principalmente um campo problemático que pode ser diagnosticado no seu processo de constituição em domínios específicos. Foucault quer indicar que aquilo Capítulo 4 | Página 71 hoje transformado em princípio normativo foi antes um campo problemático cuja análise auxilia a propor um diagnóstico do presente, mas jamais a prescrever sobre o que e como devemos agir. A ética e seus campos de problematização Convém perguntar a Foucault em que aspectos o estudo da ética antiga (que na genealogia da ética foi recuada até o pensamento grego clássico) foi importante para diagnosticar seu modo de ser moderno. Em outras palavras, até que ponto o estudo da ética antiga tem sido importante para o diagnóstico da ética no presente, malgrado suas diferentes modulações? Na investigação de Foucault a ética foi problematizada enquanto tal, somente nos últimos livros, cursos e demais escritos. A “Introdução” aos volumes II e III de Histoire de la sexualité (1984a, pp. 7-31), é uma das passagens privilegiadas para compreender tal demarcação. Como é de conhecimento, em 1984 esses livros indicaram uma inflexão no pensamento de Foucault, ou, pelo menos, um estilo de escrita mais plano e liso, bem como um deslocamento estratégico para o canteiro histórico do pensamento antigo, ao contrário de seus livros anteriores. Foucault queria encontrar um momento na história do pensamento ocidental quando o sujeito não era a forma terminal de técnicas de decifração do eu, como forjadas no cristianismo a partir do século IV; e tampouco, constituído a partir da normalização das técnicas da disciplina e do biopoder, como observável no Ocidente europeu a partir do século XVII. Foucault foi encontrar no pensamento clássico grego, nos manuais de aconselhamento e de conduta direcionados aos homens livres, uma maneira singular de problematização e especificidade da ética. Ao contrário de boa parte das classificações dos sistemas éticos antigos, Foucault chama de moral o amplo campo da problematização da conduta. Afirma que em toda moral há, pelo menos, três elementos que se articulam com uma relativa autonomia: o código moral, que prescreve as regras de conduta; a moralidade dos comportamentos, que é a conduta que se pode medir àquelas regras; e a ética, caracterizada pelas modalidades de relação consigo estabelecidas pelo sujeito moral quando segue uma ou outra regra. Se de um lado a ética, compreendida neste sentido peculiar, é praticamente ignorada, por outro, prevalece a ambiguidade em torno Capítulo 4 | Página 72 da definição de moral, uma vez que ela oscila entre sua identificação com o código moral e sua equivalência à moralidade dos comportamentos. Esta oscilação muito provavelmente seja explicada pela diferença de abordagem entre os estudiosos da moral. Os filósofos da moral dedicam-se à história dos códigos morais, dos diferentes sistemas de regras e valores postos em funcionamento numa coletividade qualquer e propostos aos indivíduos por aparelhos prescritivos diversos, tais como a família, as instituições educativas, as igrejas etc. Estas prescrições proíbem, aconselham ou exigem condutas quando explicitamente formuladas em uma doutrina coerente; elas ainda estabelecem critérios de valores positivos ou negativos para condutas possíveis ao permitir comportamentos fugidios, quando transmitidas de maneira difusa. Portanto, moral no sentido de regras de conduta. Os sociólogos da moral, por sua vez, definem a moral em função da moralidade dos comportamentos. Ela concerne ao comportamento real dos indivíduos, em que medida suas ações são conformes às regras e valores que lhe são propostos por meio das diferentes instâncias prescritivas. Moral aqui diz respeito às condutas que se podem medir àquelas regras, se elas obedecem ou resistem a uma prescrição, respeitam ou negligenciam um sistema de valores. No entanto, uns e outros, filósofos da moral e sociólogos da moral não levam muito em consideração o terceiro elemento constitutivo da moral, denominado de “ética”. Para Foucault, o importante na “ética” deixa de ser a regra moral ou a conduta que se pode medir em relação a ela pelo comportamento real do agente, mas sim seu modo de “conduzir-se” diante da prescrição da regra e a constituição como “sujeito moral” que isso demanda. Nesse sentido, a genealogia da “ética” é também uma história da “ascética”, ou seja, a história da “maneira pela qual os indivíduos são chamados a se constituir como sujeitos de conduta moral” (FOUCAULT, 1984a, p. 41) pelo exame de si e pela transformação do seu modo de ser. Pretende-se compreender, ao acompanhar a demarcação de Foucault, por que esse último elemento da moral tem sido tão negligenciado pelos historiadores; e, em seguida, saber de Foucault como aquele elemento é enfatizado nos seus últimos escritos, de modo peculiar no domínio da conduta sexual? Com respeito à primeira questão, a hipótese de Foucault é que os historiadores da moral não tratam das relações do Capítulo 4 | Página 73 indivíduo consigo mesmo nos seus compêndios ou as situam como um apêndice, porque elas frequentemente encontram-se associadas ao individualismo ou egoísmo ético. Foucault se afasta deste posicionamento quando identifica uma preocupação consigo inseparável da preocupação com os outros nos textos antigos dos gregos e romanos. Em Histoire de la sexualité I: Le souci de soi (1984b), ele faz uma diferença entre “atitude individualista”, “valorização da vida privada” e “intensidade das relações consigo” (FOUCAULT, 1984b, p. 59) a fim de nuançar que as modalidades de “relação consigo” são inseparáveis da relação com os outros. A “atitude individualista” caracteriza-se pelo valor absoluto concedido ao indivíduo em sua singularidade e pelo grau de independência que lhe é atribuído em relação ao grupo ao qual pertence ou às instituições das quais depende; a “valorização da vida privada” refere-se à importância designada às relações familiares, às formas de atividade doméstica e ao campo dos interesses patrimoniais; quanto às “relações consigo”, concernem às modalidades pelas quais o indivíduo é chamado a se tomar como objeto de conhecimento e campo de ação a fim de efetuar uma transformação do seu modo de ser mediante sua relação com os outros. Desse modo, as modalidades de relação de si para consigo não deixam de ter um caráter social. Os Elementos Constitutivos da Ética A segunda questão, que mais nos interessa, consiste em saber de Foucault como as relações de si para consigo são tratadas nos seus últimos escritos, no caso específico do domínio da conduta sexual. Para isso a genealogia de Foucault propõe uma abordagem diferente em relação àquela do código moral, que normalmente atua entre a obrigação e a proibição moral. Nos dois últimos volumes de Histoire de la sexualité ele sugere que se uma história da moral, no que concerne à conduta sexual, for considerada somente em função das proibições dos códigos, haveria pouca coisa a dizer sobre o que antecede o cristianismo primitivo. Durante muito tempo pensou-se que entre os antigos prevalecia a atitude da tolerância com respeito a determinadas condutas sexuais e que sua codificação rígida e proibitiva teria começado somente com o cristianismo. Pelo menos quatro proibições morais quase não teriam mudado a partir da moral cristã: não fazer sexo além do necessário, não Capítulo 4 | Página 74 ter relações extraconjugais, não exercê-lo com pessoas do mesmo sexo e, até mesmo, abster-se da relação sexual. Todavia, se tais condutas forem abordadas não pelo viés da proibição dos códigos de comportamento moral e sim pela problematização dos modos de “conduzir-se” diante deles, sua presença estende-se a toda a moral ocidental, do pensamento grego clássico até a modernidade, passando pela filosofia greco-romana e pelo cristianismo. Significa que houve uma época no Ocidente quando tais condutas sexuais eram problematizadas sem que ainda fossem proibidas por uma moral religiosa ou informadas por sistemas de conhecimento tais como os da biologia, da medicina e da psiquiatria a partir do século XIX (Cf. DAVIDSON, 1988, p. 253). Trata-se da época da cultura greco-romana dos séculos I e II d.C. e da cultura grega clássica desde o século IV a.C. Por questão de delimitação, atemo-nos somente a esse último momento da cultura antiga no presente estudo. De um lado, o cidadão grego do século IV a.C. tinha amplas liberdades no que concerne à conduta sexual, de modo que nenhum código social ou religioso o impedia de se relacionar com sua mulher, com seus escravos ou com outro homem; mas, de outro, proliferavam manuais de boa conduta, pequenos livros de conselho e de sabedoria prescrevendo-lhe caminhos de austeridade sexual. A questão que se coloca é como identificar a razão de ser da preocupação com a conduta sexual numa cultura em que ela não é proibida ou reprimida. Foucault descobre que a razão pela qual os cidadãos livres sujeitavam-se à diminuição do ato sexual, à fidelidade conjugal e à abstinência do amor masculino era da ordem das modulações da relação consigo. Em outros termos, para que a existência de um varão fosse lembrada pelos seus descendentes era preciso que sua conduta fosse boa (regrada) e bela (exemplar). Não bastava ser livre, era preciso mostrar na prática que ele merecia tal status. Com esse intuito, era imprescindível fazer bom uso dos prazeres mediante uma liberdade estilizada. Moderar-se e até mesmo abster-se daquilo que qualquer cidadão tinha direito: eis a expressão maior de sua liberdade. Se, de um lado, em toda cultura ocidental as formas de problematização em torno da conduta sexual têm sido semelhantes, de outro, não significa que o modo de conduzir-se diante delas tenha permanecido semCapítulo 4 | Página 75 pre o mesmo. Há sempre “deslocamento, desvio e diferença de acentuação” (FOUCAULT, 1984b, p. 93) nas modalidades de relação consigo. O papel da genealogia consiste em diagnosticar tais diferenças, razão pela qual ela é denominada de “genealogia da ética”. (FOUCAULT, 1994, p. 397) Provavelmente, o aspecto mais relevante nos dois últimos volumes de História da sexualidade não seja a problematização da conduta sexual, mas, por meio dela, a análise histórica das modalidades de relação de si para consigo, das diferentes maneiras pelas quais os sujeitos tomam alguma parte de si próprios como centro de preocupação ética. Seja considerado, por exemplo, o valor da fidelidade. A genealogia da ética não pretende investigar se as pessoas são ou não sempre fiéis ao seu cônjuge; ou ainda, estudar os diferentes códigos morais, sociais e religiosos que prescrevem a fidelidade sexual como tema de austeridade. Antes que uma análise do comportamento ou da proibição do código busca-se elaborar a história das diferentes maneiras pelas quais alguém se relaciona consigo diante do valor da fidelidade. Assim, alguém pode ser fiel levando em consideração quatro elementos constitutivos das relações consigo. Na verdade, são os quatro elementos constitutivos da ética, tal como a entende Foucault: a substância ética (ontologia), o modo de sujeição (deontologia), o trabalho ético (ascética) e a teleologia do sujeito moral (teleologia). A substância ética. Diante de uma prática de austeridade, como a da fidelidade conjugal, o indivíduo precisa indicar qual a parte de si mesmo é a mais relevante para conduzir-se moralmente. Pode-se ser fiel apenas em função dos seus atos, abstendo-se das relações extraconjugais e satisfazendo sua esposa; mas, na prática da fidelidade, pode ser fundamental ainda combater o desejo que se tem por outra mulher e vigiar para não aceder a ele; enfim, o aspecto central da fidelidade pode ser a reciprocidade que se experimenta pelo cônjuge e a qualidade da relação que os une. A efetivação do ato, os movimentos do desejo e a qualidade dos sentimentos constituem três partes importantes de si mesmo. Os modos de sujeição. Estabelecida a substância ética, convém indicar o modo de sujeição à regra da fidelidade, ou seja, como alguém se relaciona com ela e sente-se na obrigação de colocá-la em prática. Ele pode submeter-se à regra da fidelidade para ser reconhecido como pertencente a um grupo social que a valoriza; ou ainda por considerar-se o Capítulo 4 | Página 76 herdeiro de uma tradição espiritual; enfim, porque pretende dar à sua vida uma forma bela em virtude de uma escolha pessoal determinada. A elaboração do trabalho ético. A elaboração do trabalho sobre si não consiste na adequação do comportamento à regra estabelecida, como na sociologia da moral, mas na transformação do indivíduo em sujeito moral de sua própria conduta mediante certas práticas de si. A fidelidade pode ser seguida por um controle regular da conduta, medindo a exatidão com que as regras são aplicadas; ela pode ainda impelir o indivíduo a propor para si próprio a renúncia total dos prazeres por meio de um combate permanente dentro de si; finalmente, o indivíduo pode transformar-se em sujeito de sua conduta por meio da decifração contínua dos movimentos do desejo. A teleologia do sujeito moral. Trata-se do objetivo que se pretende alcançar por meio da elaboração do trabalho de si sobre si, ou seja, alcançar a condição de sujeito moral. A fidelidade conjugal impele um modo de conduzir-se cuja finalidade é o domínio de si como sujeito moral, o que pode ser observado nos manuais de conduta no pensamento grego do século IV a.C.; a fidelidade conjugal deve-se ainda ao propósito de um distanciamento radical do mundo circundante ou servir como meio para chegar à tranquilidade da alma e à imperturbabilidade em relação às paixões, como entre os estóicos; enfim, ela pode ser um meio para alcançar uma purificação que assegure a salvação após a morte, conforme sugere o cristianismo. Histoire de la sexualité, vols. II e III, é compreendida a partir das articulações históricas entre essas quatro modalidades de relação consigo. Se, por um lado, os limites dessa pesquisa não permitem aprofundar tais articulações, por outro, é possível diagnosticar a originalidade do elemento da ética e os ganhos teóricos para o conjunto das pesquisas de Foucault. Um deles é que a abordagem das relações consigo mesmo na cultura antiga torna viável pensar em uma constituição histórica do sujeito, muito diferente de suas formulações anteriores nos escritos de Foucault. Na arqueologia do saber de meados dos anos sessenta, o “homem” é um acontecimento histórico cuja emergência é demarcada por uma relação entre saberes, precisamente os saberes modernos da vida, do trabalho e da linguagem; na genealogia do poder dos anos setenta, o “indivíduo moderno” ele é o efeito da relação entre técnicas de saber e estratégias de Capítulo 4 | Página 77 poder; na genealogia da ética dos anos oitenta, as subjetividades são constituídas a partir de uma “relação consigo”, relativamente independente das camadas arqueológicas do saber ou das matrizes capilares do poder. Além disso, a identificação de uma região autônoma da ética permite apontar diferenças entre uma e outra moral onde eram observadas apenas continuidades, como destaca o próprio Foucault em 1983, numa conversa sobre a Histoire de la sexualité (FOUCAULT, 1994, pp. 399-400). É o caso das diferentes possibilidades culturais de relação consigo a partir da substância ética dos aphrodisia, ou seja, do conjunto composto pelo ato, pelo prazer e pelo desejo no domínio da conduta sexual. Foucault simplifica essas diferentes possibilidades por meio de quatro “fórmulas”. Entre os gregos, o ato sexual é o elemento mais importante, sendo que o prazer e o desejo são seus subsidiários. Sobre o ato é que se deve exercer o controle, definir a quantidade, o ritmo, a oportunidade e as circunstâncias. Tem-se então a fórmula: “ato-prazer-(desejo)” (FOUCAULT, 1994, p.400). O desejo é posto entre parêntese porque com os estóicos ele passa a ser condenado. Já na erótica chinesa (da qual Foucault não menciona sua periodização) o elemento a ser intensificado e prolongado tanto quanto possível é o prazer, ainda que o ato seja restringido e, no limite, prescindido. Teríamos assim a fórmula: “prazer-desejo-(ato)”. (FOUCAULT, 1994, p. 400)2 Quanto ao cristianismo, acentua o desejo a fim de suprimi-lo até suas raízes; o ato é considerado neutro servindo, na maioria das vezes, somente para a procriação ou para a consumação do dever conjugal; por isso, precisa ser realizado sem que o prazer seja experimentado ou, pelo menos, anulando-o tanto quanto possível. Entretanto, se na prática o desejo precisa ser erradicado, teoricamente ele é muito importante, pois revela os movimentos da alma. A fórmula seria então: “(desejo)-ato-(prazer)” (FOUCAULT, 1994, p. 400). Enfim, a modernidade também 2 Em Histoire de la sexualité I: La volonté de savoir, essa ênfase, denominada de ars erotica (arte erótica), é estendida para outras sociedades antigas, tais como a do Japão, da Índia, de Roma e dos árabe-muçulmanos. Na arte erótica, a verdade é extraída do prazer. O prazer é qualificado não por seu critério de utilidade ou por sua relação à lei do permitido e do proibido; antes, é conhecido como prazer dependendo de sua intensidade, de suas qualidades específicas e de sua duração. Trata-se de um saber cuja constituição tem a necessidade de permanecer em segredo já que sua discursividade poderia diminuir sua eficácia e sua virtude. A arte erótica é transmitida de modo esotérico por um mestre, detentor dos segredos sobre os prazeres. Os efeitos dessa arte naquele que goza de seus privilégios é o domínio absoluto do corpo, um gozo único, o esquecimento do tempo e dos limites, o exílio da morte e de suas ameaças (Cf. FOUCAULT, 1976, pp. 76-78). Capítulo 4 | Página 78 acentua o desejo, não para suprimi-lo, mas para liberá-lo das instâncias repressivas que o sufocam; quanto ao ato, não tem muita importância; e o prazer, não tem um estatuto definido. Ora, uma filosofia da moral não estabelece tais diferenças e privilegia somente aquelas culturas em que o código moral e as instâncias de autoridade têm maior importância. Nesse caso, a constituição do sujeito moral é “quase jurídica” (FOUCAULT, 1984a, p. 42), na medida em que ele é reportado a um conjunto de regras ao qual precisa submeter-se. É verdade que a moral cristã não pode ser reduzida totalmente a esse modelo, posto que várias modalidades de relação de si para consigo podem ser identificáveis no seu percurso histórico. Entretanto, desde o século XIII até a véspera da Reforma Protestante do século XVI, houve uma codificação intensa e progressiva daquela moral.3 A genealogia da ética privilegia os momentos da história pouco tratados pelas filosofias da moral, a fim de descrever suas diferenças quanto às relações consigo. Não importa que os códigos sejam rudimentares, uma vez que a ênfase incide sobre os “exercícios pelos quais o próprio sujeito se dá como objeto a conhecer e as práticas que permitem transformar seu próprio modo de ser” (FOUCAULT, 1984a, p. 42). É o caso das éticas do estoicismo e do epicurismo cujos direcionamentos estão mais voltados para as “relações consigo” e para a ascese pessoal do que para as codificações de conduta e sua separação entre o permitido e o proibido. Ainda que haja um respeito às leis e aos costumes estabelecidos no âmbito jurídico e social, o acento recai menos no conteúdo e na aplicação daquelas leis do que na atitude que faz com que sejam respeitadas. Não existe apenas “a” moral cristã como uma estrutura monolítica refletida numa codificação jurídica. Além do período já mencionado, nos cursos do Collège de France e em alguns textos dos Dits et écrits, volume IV, Foucault estuda o momento em que o cristianismo introduz e transforma diversos elementos das tecnologias de si pagãs na vida monástica dos séculos IV e V d. C. Nessa moral, permanece ainda como preocupação as relações consigo, e não tanto a proibição dos códigos. A progressiva codificação da experiência moral começou a partir do surgimento da penitência tarifada no século VI, em seguida pela obrigatoriedade da confissão para todos os leigos segundo critérios de exaustividade, de continuidade e de regularidade, no século XI (Cf. FOUCAULT, 1999, pp.161-164; FOUCAULT, 1994, pp. 295-308). 3 Capítulo 4 | Página 79 A ética e a modernidade Em razão talvez de sua morte prematura, Foucault não chegou a problematizar essa ética da qual ainda fazemos parte. Curiosamente, como ocorreu com outros pensadores, ele faz um deslocamento monumental para a ética antiga. Como várias vezes fez questão de advertir, o redirecionamento para a ética antiga não pode ser compreendido como a busca de uma solução no passado para resolver os problemas enfrentados pela sociedade no presente. Não é possível encontrar soluções no passado, pois elas constituem o efeito de problemas que já não são nossos problemas. “Não encontramos a solução de um problema pela solução de outro problema colocado noutra época por pessoas diferentes.” (FOUCAULT, 1994, p. 386). Pelo contrário, ao conhecer como os antigos problematizaram suas condutas, também nós podemos problematizar as nossas e a partir daí inventar e criar novas maneiras de ser e de viver, ainda que sempre provisórias. Foucault ressalta que se a genealogia perguntar pelas formas de problematização da ética, principalmente no terreno da conduta sexual, elas praticamente não mudaram. A restrição da atividade sexual, sua proibição extraconjugal e sua rejeição entre parceiros do mesmo sexo persistem como formas de problematização. Mas se essa mesma genealogia perguntar pelas modalidades de relação de si para consigo que estas formas de problematização ensejaram no decorrer do pensamento ocidental, aí podemos identificar a pertinência da ética. Em diferentes camadas históricas desse pensamento – somente para lembrar que a genealogia também é precedida de uma arqueologia, nesse caso de uma escavação das maneiras de se conduzir – sempre foram propostas novas modalidades de ser e de viver. Somente para exemplificar, dificilmente é aceitável na cultura hodierna que códigos morais, sociais ou religiosos intervenham na vida pessoal e íntima, na condição de regras a partir das quais a conduta deva ser medida (FOUCAULT, 1994, p. 386). Até mesmo os movimentos libertários têm dificuldade de fundar uma nova moral em razão do desconforto gerado pela tentativa de conduzir a vida íntima a partir de princípios universais e necessários. Geralmente, eles somente se atêm a justificações de conduta a partir de um pretenso conhecimento científico do eu, do desejo, do inconsciente e assim por diante.4 Ainda assim, tor4 Foucault enfatiza a importância desses movimentos libertários, como o feminismo, o movimento Capítulo 4 | Página 80 na-se difícil pensar que questões propriamente morais dependam unicamente de saberes científicos. Quando se estuda a experiência histórica singular dos gregos do século IV a.C., ou a cultura de si estoica e epicurista da época imperial romana, o que se observa não é a submissão da conduta ou a autenticação individual a partir de um saber já constituído e sim a utilização de diversas técnicas culturais que poderiam impelir a construção de uma outra perspectiva sobre o modo de conduzir-se. Diante da ausência de um imperativo universal e da proposta da peculiaridade de um campo da ética a partir das relações consigo, quaisquer tentativas de explicação científica ou de codificação jurídica da moral passam a ser inoperantes. A ética, problematizada por ocasião do estudo do domínio da conduta sexual entre os antigos, pode ser o indicativo - não o fundamento - para a criação de novas estilísticas da existência. Uma amostragem dessa possibilidade - alheia ao domínio da conduta sexual - diz respeito à menção feita por Foucault ao pensamento de Baudelaire, para o qual o êthos moderno implica numa atitude duplamente considerada: a que concerne à relação do indivíduo com a atualidade5 e a que remete à sua “relação consigo”. A primeira supõe “um modo de relação com respeito à atualidade; uma escolha voluntária que é feita por alguns; enfim, um modo de gay, etc.; porém, considera-os insuficientes quando se trata de explicar as práticas de liberdade. O tema da libertação (sexual) pode levar à ideia de uma natureza ou de um fundo humano mascarado pelos processos históricos e sociais e alienado pelos mecanismos da repressão. Bastaria apenas romper com tais máscaras repressivas para que o homem reencontrasse sua origem e restaurasse uma relação plena consigo. Pelo contrário, trata-se de partir das práticas de liberdade e não das práticas de libertação. Antes que libertar nossa sexualidade de uma máscara repressiva, seria preciso libertarmo-nos da sexualidade e do próprio desejo. “Este problema ético da definição das práticas de liberdade é, parece-me, muito mais importante que a afirmação, um pouco repetitiva, que devemos libertar a sexualidade ou o desejo.” (FOUCAULT, 1994, p. 710). A noção de atualidade surge de dois modos em Foucault. Um que procura sublinhar de que modo um acontecimento, como, por exemplo, aquele da partilha entre loucura e desrazão, engendra uma série de discursos, de práticas e instituições que se prolongam até nós. Atualidade, nesse caso, é o prolongamento da história no presente. Outro modo reporta a uma série de considerações sobre um texto de Kant, de 1784, Was ist Aufklärung?, no qual pela primeira vez o pensador alemão coloca filosoficamente a questão de sua própria atualidade, o que, segundo Foucault, seria o marco da passagem para a modernidade. Há duas linhas de análise a partir do texto de Kant. Primeira, quando Kant coloca a questão da pertença à própria atualidade, pretende interrogá-la como um acontecimento do qual teríamos que detectar o sentido e a singularidade, mas também a questão da pertença a um “nós” correspondente a essa atualidade, ou seja, formular o problema da comunidade da qual fazemos parte. Segunda, retomar hoje a ideia kantiana de uma ontologia crítica do presente significa não apenas interrogar sobre o que funda o espaço de nosso discurso, mas esboçar seus próprios limites. Assim como Kant procura uma “diferença” entre o hoje e o ontem, também 5 Capítulo 4 | Página 81 pensar e de sentir, um modo de agir e de conduzir-se que marca uma pertença ao presente como uma tarefa.” (FOUCAULT, 1994, p.568). Na perspectiva de Foucault, o próprio pensamento de Baudelaire é exemplo desta atitude na medida em que nele a atualidade é “o transitório, o fugitivo, o contingente” (FOUCAULT, 1994, p.569). Submergir na atualidade consiste na extração de algo eterno que não esteja além ou aquém do instante presente, mas nele. Eis o que significa “heroicizar o presente” (FOUCAULT, 1994, p. 570)6, quer dizer ter a firme disposição de não desprezá-lo. Prestar atenção no presente consiste em imaginá-lo diferentemente do que ele é; e transformá-lo, captando-o naquilo que ele é. A segunda perspectiva da atitude moderna consiste na ênfase concedida à relação consigo. Ser moderno significa ser artesão de si mesmo, tomar-se como objeto de uma dura e complexa elaboração mediante relações de si para consigo ascéticas. “O homem moderno, para Baudelaire, não é aquele que parte à descoberta de si mesmo, de seus segredos e de sua verdade escondida; é aquele que busca inventar a si próprio” (FOUCAULT, 1994, p. 571) O espaço dessa invenção é o da arte, mas não somente. Poderíamos incluir também a reinvenção das relações de amizade. Considerações Finais Um dos desafios decorrentes da ética proposta por Foucault consiste em fazer da própria vida e pensamento obras de arte e objetos de elaboração cuidadosa. Talvez o caminho mais apropriado para esse árduo trabalho artesanal coincida com a tarefa fundamental da filosofia de nosso tempo: a “crítica permanente de nosso ser histórico” (FOUCAULT, 1994, p. 571). Lapidar quem somos para esculpir-nos diferentemente. Nesse sentido, James BERNAUER (1988, p.315) indica que os quatro elementos da ética observados por ocasião do estudo dos gregos, refletem também as quatro artes de interrogação que Foucault praticou nós devemos procurar extrair da contingência histórica que nos faz ser o que somos, as possibilidades de ruptura e de mudança. (Cf. REVEL, 2002, pp. 5-6). Aqui o presente é considerado sinônimo de atualidade. No entanto, também há diferenças entre um e outro nos escritos de Foucault. O presente é definido por sua continuidade história, aquilo que nos precede e que, no entanto, continua a nos atravessar. A atualidade, por sua vez implica a ruptura com a rede epistêmica da qual fazemos parte, é a irrupção do “novo”, do “acontecimento”. Para a diferença entre presente, atualidade e acontecimento, cf. EWALD, 1997, pp. 203-204. 6 Capítulo 4 | Página 82 em suas obras e que bem poderiam ser estendidas a uma ética do pensamento, preocupada com o diagnóstico do presente. 1) O que é necessário pensar hoje em oposição ao que a tradição considera como digno de ser pensado? Qual deve ser a substância do pensamento? 2) Quando examinamos este domínio, qual modo de apreensão deve-se buscar? Qual modo de subjetivação o pensador deve adotar? 3) Segundo qual metodologia a pesquisa deste modo de apreensão deve se realizar? A quais práticas de ascetismo ela deve se submeter a fim de poder pensar diferentemente? 4) Qual é o objetivo que perseguimos através da definição da substância, do modo de subjetivação e da prática do ascetismo? [Tradução nossa]. Eis uma das possibilidades que a ética contemporânea poderia trilhar. Vale lembrar que com isso Foucault não pretende propor qualquer prescrição; somente quer indicar como ele próprio, na sua investigação intelectual, problematizou a relação do pensamento consigo mesmo em diferentes canteiros históricos. Sua interrogação ética, ainda que explícita somente ao final de seu trabalho, implicitamente norteou o conjunto de sua obra, que ele mesmo nomeou como uma história crítica do pensamento. Essa crítica do pensamento, por sua vez, faz parte de uma genealogia, na medida em que esta parte nossa situação cultural, descreve sua diferença em relação ao passado, a fim retornar ao presente. Retorno, que não significa repetir o passado, mas provocar uma estranheza diante das familiaridades prontas e estimular o questionamento das evidências constituídas. A despeito disso, a ética proposta por Foucault tem como objetivo não somente causar uma estranheza em relação às nossas evidências e familiaridades, mas também incitar o artesanato do cotidiano do pensamento como tarefa indispensável diante das identidades forjadas pelos padrões comportamentais já estabelecidos. Referências BERNAUER, J. Par-delá vie et mort. In: CANGUILHEM, G. (Org.). Michel Foucault philosophe: Rencontre internationale. Paris: Seuil/Des Travaux, 1988. pp. 302-327. DAVIDSON, A. Arqueología, genealogía, ética. In: HOY, D.C. (Org.) Foucault. Tradução de Antonio Bonano. Buenos Aires: Nueva Visión, 1988. Capítulo 4 | Página 83 EWALD, F. Foucault et l’actualité. In: Au risque de Foucault. Paris: Éditions du Centre Pompidou, 1997. p. 203-212. FOUCAULT, M. Les anormaux. Cours au Collège de France, 1974-1975. Édition établie par François Ewald et Alessandro Fontana, par Valério Manchete e Antonil Salomoni. Paris: Gallimard/ Seuil, 1999. ____. Dits et écrits. Organizado por Daniel Defert e François Ewald. Paris: Gallimard, 1994. Vol. IV. ____ . Histoire de la sexualité I: La volonté de savoir. Paris: Gallimard, 1976. ____ . Histoire de la sexualité II: L’usage des plaisirs. Paris: Gallimard, 1984a. ____ . Histoire de la sexualité III: Le souci de soi. Paris: Gallimard, 1984b. ____ . Les Mots et les choses: une archéologie des sciences humaines. Paris: Gallimard, 1966. REVEL, J. Vocabulaire Foucault. Paris: Ellipses, 2002. Capítulo 4 | Página 84 O fato da razão e o sentimento moral enquanto moralische Anlage1 Profª. Dra. Flávia Carvalho Chagas2 UFPEL - Brasil Introdução Como se sabe, a problematização kantiana sobre a fundamentação de um princípio moral universalmente válido (o imperativo categórico) é bastante extensa, pois encontramos já na primeira edição da Crítica da Razão Pura (KrV)3 uma tentativa de justificar tal princípio no Capítulo do Cânone da Razão Pura, além, é claro, dos textos clássicos da GMS e da KpV. De fato, a GMS e a KpV pretendem, resumidamente, provar a validade e a necessidade da lei moral, isto é, de um princípio moral válido universalmente para todo ser racional e necessariamente obrigatório. O sucesso desta tarefa (Aufgabe) depende também de mostrar que e como a consciência a priori da lei moral pode determinar a vontade humana ao agir moral. Por conseguinte, o sucesso deste projeto passa pelo tratamento da relação entre princípios a priori e as disposições e faculdades empírico-subjetivas do sujeito. A solução desta tarefa é fonte de grandes desacordos na interpretação da ética kantiana, quer dizer, saber que Conferência apresentada no Simpósio Internacional de Filosofia: Ética e Meta-Ética- Lei moral, reino dos fins e o sumo bem no mundo promovido pelo Curso de Pós-Graduação em Filosofia da UFSM e Sociedade Kant Brasileira – Seção Rio Grande do Sul em agosto deste ano. A primeira versão deste trabalho foi publicada na Revista Studia Kantiana em dezembro de 2011. 1 Professora Adjunta do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas/ UFPel. Email: [email protected] 2 Adotarei as siglas usuais das obras de Kant: Crítica da Razão Pura (KrV), Fundamentação da Metafísica dos Costumes (GMS), Crítica da Razão Prática (KpV) e Metafísica dos Costumes (MS). 3 lugar ocupam as figuras de caráter empírico-psicológicas na fundamentação do princípio moral, tais como o móbil moral ou as disposições morais. Antes de entrar nos detalhes desta discussão de caráter de justificação, gostaria de chamar a atenção para o que lembra Dieter Schönecker em seu artigo “O amor ao ser humano como disposição moral do ânimo no pensamento de Kant”, a saber, que “em nenhuma outra parte da sua obra Kant escreve sistematicamente algo sobre [as] disposições morais do ânimo”4 além do que é dito no Capítulo XII da Introdução à Doutrina das Virtudes. Mas por que seria necessário que Kant se detivesse um pouco mais neste assunto? Chamo a atenção para este ponto que é a do tratamento kantiano das disposições morais justamente pelo fato de que o problema deste trabalho consiste na reconstrução dos argumentos de Kant sobre como se dá a ligação (que deve ser a priori e, portanto, necessária) entre a consciência da lei moral e as disposições morais do ânimo. Anteriormente, em outros trabalhos5, procurei tratar da ligação a priori da consciência da lei moral e do móbil moral a partir dos textos clássicos mencionados que tratam da fundamentação do princípio supremo da moralidade. Sem entrar nos pormenores desta discussão, vou me concentrar na abordagem desta ligação, a saber, da consciência moral com as disposições morais e, em particular, ao sentimento moral (ocasionalmente também ao respeito). O problema que se coloca de imediato é saber qual é o fundamento da obrigação moral, tendo em vista, por um lado, a tese da KpV de que se a razão pura é prática, então o reconhecimento da necessidade prática da lei moral consiste no único fato a priori da razão pura, ou seja, na consciência a priori da obrigação moral, independente de qualquer condição empírica (inclusive do sentimento moral) e, por outro lado, a tese da Metafísica dos Costumes (MS) de que “qualquer consciência da obrigação depende do sentimento moral para nos tornar cientes do SCHÖNECKER, Dieter. O amor ao ser humano como disposição moral do ânimo no pensamento de Kant. In: Studia Kantiana, volume 8, 2009. 4 5 Os outros trabalhos aos quais me refiro aqui são: dissertação de mestrado (Sentimento moral, respeito e fato da razão, defendida em 2004 pela UFSM) e a minha tese de doutorado (O caminho crítico da Grundlegung à Crítica da Razão Prática, defendida em 2009 pela UFRGS). Capítulo 5 | Página 86 constrangimento presente no pensamento do dever”6. A partir disso, este trabalho será dividido nos seguintes passos: 1. Reconstruir brevemente a posição kantiana sobre o fato da razão, esboçando uma alternativa interpretativa; 2. . Apresentar o argumento geral de Kant referente ao estatuto e função das disposições morais presentes na Seção XII da Introdução da Doutrina das Virtudes. Neste momento defenderei uma interpretação diferente da sustentada por Dieter Schönecker em seu artigo anteriormente mencionado; 3. Analisar a figura do sentimento moral enquanto uma disposição moral e investigar se é introduzida uma nova concepção do sentimento moral na MS. Neste ponto apontaremos uma leitura que nos parece equivocada quanto à análise do sentimento moral, que é a posição de Loparic, exposta em seu artigo sobre o fato da razão. O fato da razão e o fenômeno da consciência moral Embora nós possamos apontar algumas passagens do Prefácio da segunda edição da KrV (1787) em que Kant já esteja se referindo à figura do fato da razão7, ela aparece sistematicamente pela primeira vez na segunda Crítica (1788) no contexto da discussão da fundamentação da validade e da necessidade do princípio da moralidade. Não vou me deter na questão sobre a ligação desta obra com a GMS, em especial, à sua III Seção, mas apenas partir da pressuposição de que Kant abandona duas 6 KANT, Metaphysik der Sitten, Ak 36. As passagens as quais me refiro são B XXI/XXII e B XXIX, em que Kant afirma “Após ter sido negado à razão especulativa todo progresso neste campo do supra-sensível, agora ainda nos resta ver se no seu conhecimento prático não se encontram dados (ob sich nicht in ihrer praktische Erkenntnis Data finden) para determinar aquele conceito racional transcendente do incondicionado (...) Com um tal procedimento, a razão especulativa ainda assim nos conseguiu pelo menos um lugar para tal ampliação, embora tivesse que deixá-lo vazio, e ainda somos por conseguinte ainda livres, e a tanto até exortados por ela, a preenchê-lo, se o pudermos, com dados práticos da mesma (ihn durch praktische Data derselben)”. A outra passagem, em B XIX: “Admitamos agora que a Moral pressuponha necessariamente a liberdade (no sentido mais rigoroso) como propriedade da nossa vontade na medida em que aduz a priori princípios práticos originários sitos em nossa razão como dados da mesma (...)”. No original: “Gesetzt nun, die Moral setze notwendig Freiheit (im strengsten Sinne) als Eigenschaft unseres Willens voraus, indem sie praktische in unserer Vernunft liegende ursprüngliche Grundsätze als Data derselben a priori anführt (...)”. 7 Capítulo 5 | Página 87 teses na KpV, a saber 1) o projeto da III Seção da GMS de estabelecer uma dedução do imperativo categórico e 2) o projeto de fundamentar a consciência da lei moral na consciência da liberdade transcendental e, com isso, fornecer uma prova teórico-especulativa do princípio moral. Com efeito, a KpV pretende mostrar, acima de tudo, que a razão pura é prática, ou seja, que a razão pura pode ser um fundamento determinante da vontade humana, logo que a consciência da lei moral não é apenas uma ideia hipotética ou problemática, mas, de fato, tem realidade na medida em que todo ser racional humano reconhece originariamente (ursprüngliche) a sua legitimidade e “produz”, com base nela, efeitos no mundo, quer dizer, ações morais8. O modo como o aparato dos princípios morais formulados por Kant funciona é, como ele mesmo admite, bastante estranho (befremdlich), “pois o pensamento (der Gedanke) a priori de uma legislação universal, que, portanto, é meramente problemático, é ordenado incondicionalmente como lei, sem tomar algo emprestado da experiência ou de qualquer vontade exterior (...) Pode-se denominar a consciência desta lei fundamental um factum da razão”9. Afirmar que a consciência da lei moral se manifesta através de um fato, parece implicar diretamente em um dogmatismo moral, pois como objetar o cético com a introdução da figura de um fato não empírico, mas a priori, a saber, o único fato da razão pura enquanto fundamento da justificação do princípio moral? E como pode ser justificada a tese kantiana diante de um argumento que parece completamente arbitrário, logo injustificável? O indício do caminho perseguido por Kant já aparece nas primeiras linhas do Prefácio da KpV: esta Crítica “deve meramente demonstrar que há uma razão prática pura e, em vista disso, critica toda sua faculdade prática. Se ela o consegue, não precisa criticar a própria faculdade pura para ver se a razão não se excede, com uma faculdade pura, numa vã presunção (como certamente ocorre com a razão especulativa). Pois, se ela, enquanto razão pura, é efetivamente prática, Deixo de lado aqui, por motivos de tempo, a discussão sobre como podemos saber e, portanto, ter certeza de que uma ação que parece ter valor moral foi baseada, de fato, no móbil moral genuíno, problema este reconhecido por Kant em vários trechos de suas obras. 8 9 KANT. I. Kritik der praktischen Vernunft, Ak 55-56, negritos meus. Capítulo 5 | Página 88 prova a sua realidade e a de seus conceitos pelo ato (durch die Tat) e toda argüição dessa possibilidade é vã”10. A partir desta passagem, fica claro que o problema em relação à razão prática pura não se confunde com o da razão teórica, pois a validade objetiva do princípio moral não depende de qualquer atestado empírico através da intuição de fenômenos como prova da sua realidade, e sim de ser mostrado que e como a razão pura pode ser um fundamento determinante subjetivo suficiente do arbítrio humano. Além disso, outro aspecto importante para se compreender o projeto prático-moral de Kant é investigar o ponto de partida do mesmo, o qual consiste na tese de que antes da tematização do conteúdo do princípio moral entendido como o imperativo categórico, nós temos que pressupor que todo ser racional humano reconhece originariamente, isto é, a priori, o que ele deve fazer. Com efeito, a premissa fundamental da ética kantiana é a de que a consciência moral constitui uma forma de compreensão originária, que não se confunde com nenhuma intuição intelectual, por um lado, e também, por outro, não pode ser resumida na mera consciência empírica de deveres morais. Assim, a consciência que o sujeito tem do que ele deve fazer em uma determinada situação pressupõe o reconhecimento a priori (sistematicamente antes e independente de qualquer ação) de que a consciência moral não é uma fantasia da imaginação, mas tem realidade. Numa palavra, o agente que reconhece que deve fazer X ou que é moralmente necessário algo em uma determinada situação, aprova imediata e originariamente a validade da moralidade; logo parece descabida ou sem sentido a pergunta, neste momento, como posso saber que tal consciência é real ou não; ou ainda, que além da consciência da necessidade de fazer X ainda preciso de algum tipo de intuição ou garantia teórica de que estou certa no momento em que reconheço um dever moral. É exatamente neste ponto sistemático que Beck e Henrich afirmam, de modo similar, que se trata de um pseudo-problema ou falso dilema o ceticismo teórico em relação ao tipo de compreensão que é a consciência moral, justamente porque nós não podemos provar, apelando para o campo da experiência, a realidade da mesma. Por outro lado, Kant pen- 10 KANT, Kritik der praktischen Vernunft, Ak 3, negritos meus. Capítulo 5 | Página 89 sa que se nós sustentamos certas crenças morais, então elas não devem se fundamentar no costume ou nas preferências subjetivas, nem mesmo em idéias teológicas, mas na racionalidade, tendo em vista que se trata de um critério universal aplicável a qualquer ser dotado de razão e vontade11. Por fim, antes de passar para o tratamento da relação entre consciência moral e vontade humana, cabe chamar a atenção para a tese forte de Kant no que se refere à filosofia moral, a saber, que a faculdade capaz de provocar ou produzir ações morais no mundo não é a razão teórica e seus respectivos cálculos hipotéticos, mas a razão prática. Na terminologia contemporânea, podemos dizer que a razão prática pode ser causa de eventos no mundo12. Todavia, como salientamos anteriormente, a prova da realidade da consciência moral exige que a razão pura possa ser prática, ou seja, que possa determinar no nível subjetivo a vontade humana. Para tanto, faz-se necessário esboçar, mesmo que de forma resumida, a solução kantiana, a qual, como se sabe, passa pelo tratamento do sentimento moral. A consciência e o sentimento moral Antes de tematizar a figura do sentimento moral enquanto disposição moral do ânimo para a receptividade da consciência do dever, pretendemos fazer um breve comentário sobre a função e o lugar sistemático deste sentimento nos textos que tratam sobre o problema da fundamentação do princípio moral, que são, a GMS e a KpV. Como foi mencionado acima, a realidade da consciência da lei moral ou da razão pura prática exige a prova de como tal reconhecimento determina a vontade humana ao agir moral. Assim, a estratégia do argumento consiste em dizer que a consciência da necessidade prática objetiva da lei moral, concebida como o único fato a priori da razão pura prática, acaba por produzir também no nível subjetivo um móbil capaz de incentivar a vontade humana ao agir moral: o único sentimento, que não é empírico, mas moral, a saber, o sentimento de respeito pela lei. Isto significa que o sentimento moral constitui o fundamento do interesse que o sujeito pode tomar pela realização da consciência moral. É 11 Cf. KpV, Ak 57. 12 Davidson, D. Essays on Actions and Events. Oxford: Oxford University Press, 2001. Capítulo 5 | Página 90 justamente neste sentido que lemos trechos como: “o sentimento de respeito é um sentimento que produz a si mesmo através dum conceito da razão”13 tendo em vista que ele é um efeito subjetivo do reconhecimento objetivo da necessidade prática da lei moral pelo sujeito; lei esta que consiste em uma autolegislação. E, em outro, da KpV, segundo o qual o sentimento de “respeito não é o móbil da moralidade, mas é a própria moralidade, subjetivamente considerada como móbil”14. Assim, para prosseguirmos na temática deste trabalho, devemos ter claro que 1) Kant não sustenta a existência de sentimentos morais, mas do único sentimento moral que é produzido a priori pela razão pura prática, o qual consiste, segundo ele, no sentimento de respeito pela lei e, além disso, 2) este sentimento cumpre uma função sistematicamente crucial no conjunto do projeto moral kantiano, que é a de ser responsável pela motivação moral. Com efeito, segundo Kant, o reconhecimento de que eu devo fazer algo, isto é, a consciência do dever moral, é uma condição necessária, mas não suficiente para que a razão pura seja prática. Por isso, além do reconhecimento da necessidade prática de agir moralmente, o sujeito tem que ter, como ele afirma, uma força motora (em alemão, Triebfeder), ou uma mola propulsora, que determine a vontade humana ao cumprimento daquilo que foi anteriormente (do ponto de vista sistemático) reconhecido como moralmente bom. Esta é, assim, a função que cumpre o sentimento de respeito pela lei moral. Por último, antes de partir para o tratamento das disposições morais, vale notar que alguns comentadores da ética kantiana (particularmente aqueles de viés mais intelectualistas ou formalistas) vêem com estranheza a importância dada a esta figura do sentimento de respeito como a mola propulsora da moralidade. Contudo, com ela, Kant pretende exatamente se opor, ao que parece, a estas interpretações que sugerem que a lei simplesmente poderia funcionar tanto como o fundamento de determinação objetivo, mas também subjetivo da vontade. KANT, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Ak 402 – nota de rodapé. No texto original: “Allein wenn Achtung gleich ein Gefühl ist, so ist es doch kein durch Einfluβ empfangenes, sondern durch einen Vernunftbegriff selbstgewirktes Gefühl (…)”. 13 14 KANT, Kritik der praktischen Vernunft, Ak 134. Capítulo 5 | Página 91 Com efeito, parece-nos que a interpretação intelectualista15, segundo a qual a lei, unicamente, ou a sua consciência, constitui o único motivo de determinação da vontade, acaba, inevitavelmente, por comprometer-se com sérios problemas, como, por exemplo, com um tipo de determinismo moral. Isto quer dizer, então, que ao introduzir a necessidade de um móbil moral para a realizabilidade da consciência da lei da moralidade, a ética kantiana deixa o espaço em aberto para ações genuinamente livres, de modo que o problema todo, como lemos na primeira seção da GMS, consiste na decisão livre do sujeito perante a encruzilhada em que ele se encontra, pois cabe a ele agir por interesses baseados nas sensações de prazer ou de desprazer ligados às inclinações, ou agir motivado pelo único interesse moral, que se baseia no também único sentimento gerado a priori pela razão, o sentimento de respeito pela lei moral. O que nos resta agora investigar é se Kant introduz um novo sentimento moral na MS, pois nesta obra publicada em 1798, após a publicação das três Críticas, ele afirma que o sentimento moral consiste em uma das quatro disposições do ânimo para a receptividade da consciência moral. Mas antes de entrar no exame deste ponto, é preciso reconstruir a argumentação geral sobre as disposições morais, tal como Kant as apresenta no Capítulo XII da Introdução à Doutrina das Virtudes. As disposições morais para a receptividade da consciência da lei moral No Capitulo XII da Introdução à Doutrina das Virtudes da MS, Kant apresenta as quatro disposições morais do ânimo, as quais são, como lemos no próprio título do texto, pré-condições ou pressupostos da sensibilidade (Ästhetische Vorbegriffe) para a receptividade do ânimo aos conceitos de dever. Ele afirma que o sujeito não é obrigado a estar na posse de tais condições, tendo em vista que estas são condições de possibilidade subjetivas para ser afetado pela consciência objetiva da 15 Ver, por exemplo: Robert Wolff, The Autonomy of Reason, 1986; Onora O’Neill, Achtung on Principles, 1974. Capítulo 5 | Página 92 lei moral. Como o trecho acerca do tratamento geral das disposições morais é curto, vale citar a passagem completa: Há certas condições16 morais (moralische Beschaffenheiten) que qualquer um que não os tenha poderia não ter dever algum de adquiri-los. São o sentimento moral, a consciência, o amor pelo próximo e o respeito por si mesmo (auto-estima). Não há obrigação em tê-los porque jazem na base da moralidade (zum Grund liegen) como condições subjetivas da receptividade ao conceito do dever, não como condições objetivas da moralidade. Todos eles são predisposições naturais da mente (natürliche Gemütsanlagen) (praedispositio) para ser afetada por conceitos de dever, predisposições antecedentes do lado da sensação. Experimentar essas predisposições não pode ser considerado um dever; ao contrário, todo ser humano as experimenta e é em virtude delas que pode ser submetido à obrigação. A consciência delas não tem origem empírica; esta consciência pode, pelo contrário, somente resultar da consciência de uma lei moral, como efeito que isso exerce sobre a mente17. Em primeiro lugar, parece não ser problemática a justificativa da tese de que não pode ser considerado um dever ter estas disposições, tendo em vista que são elas que possibilitam estar-afetado pela consciência objetiva da lei moral. Isto é, seria autocontraditório afirmar que o sujeito tem que ser obrigado a possuir determinadas predisposições se essas possibilitam o reconhecimento subjetivo da obrigação moral. Além disso, Kant sustenta que tais disposições (Anlage) são pré-condições “naturais” (logo, não adquiridas) para receber ou sentir o constrangimento moral inscrito na consciência a priori da necessidade prática do princípio moral. Estas pré-disposições morais não dependem da constituição subjetiva e particular do caráter do sujeito, mas estão na base, ou melhor, são constitutivos do agente, considerados como sujeitos dotados de razão e vontade. O texto original não deixa dúvidas quanto a este ponto, pois o termo utilizado por Kant é Anlage e não Gesinnung. Assim, tais disposições (Anlage), no seu sentido “objetivo”, referem-se a estas capacidades especificamente humanas que possibilitam tanto o Na tradução brasileira da MC encontramos o termo “dotes” e não condições. Cf. Kant, I. Metafísica dos Costumes. Tradução: Edson Bini. São Paulo: Edipro, 2003, p. 241. 16 17 KANT, Metaphysik der Sitten, Ak 35, negritos meus. Capítulo 5 | Página 93 reconhecimento subjetivo da necessidade ou da obrigação do princípio moral, como também a realização de ações morais. Em terceiro lugar, parece-nos importante reconhecer que as disposições morais do ânimo não são condições de possibilidade da validade, nem do reconhecimento objetivo da própria consciência da lei moral. Isso significa que as disposições morais não constituem o fundamento da validade universal e necessária do princípio moral, por um lado, nem podem ser a única via de acesso ao reconhecimento da necessidade prática da lei moral, isto é, a consciência da necessidade prática objetiva da lei moral antecede e independe sistematicamente do estar-afetado subjetivamente pela consciência do dever; justamente porque é a primeira que fundamenta a segunda. É exatamente neste sentido que podemos recapitular a tese kantiana mencionada na citação acima: “a consciência delas (das disposições morais) não tem origem empírica; esta consciência pode, pelo contrário, somente resultar da consciência de uma lei moral, como efeito que isso exerce sobre a mente”. Este parece ser o ponto problemático na interpretação de Dieter Schönecker, visto que ele afirma, em seu artigo supramencionado, que “o estar afetado das disposições morais do ânimo é uma condição para que nos tornemos conscientes do caráter coercitivo ou obrigatório do imperativo categórico e, com isso, para que entendamos a lei moral como um imperativo categórico”18. Um pouco mais adiante, ele reconhece que “a tese de Kant de que as disposições morais do ânimo ‘servem de fundamento’ ao conceito de dever” é “consideravelmente mais difícil”19, de modo que a sua proposta de interpretação consiste em afirmar que “as disposições morais do ânimo consitutem o fundamento sensorial para entender o teor compromissivo e motivacional das leis morais e para ser motivado por ele”20. Esta passagem não nos parece problemática, na medida em que as disposições morais são, segundo Kant, condições subjetivas para a receptividade dos conceitos de dever. Todavia, no fim da primeira parte do seu texto, Schönecker apresenta a conclusão do seu argumento: “Portanto, uma cons18 SCHÖNECKER, “O amor ao ser humano como disposição moral do ânimo no pensamento de Kant”, p. 54. 19 Ibidem, p. 55. 20 Ibidem. Capítulo 5 | Página 94 ciência da lei moral sempre tem de ser também uma consciência do seu caráter obrigatório, e visto que as disposições morais do ânimo são uma condição necessária para a consciência de seu caráter obrigatório, elas são uma condição necessária para a consciência da lei moral”21. Com base nestas passagens, a dificuldade parece estar em afirmar que as disposições morais são condições de possibilidade do reconhecimento do caráter obrigatório do princípio moral, ou ainda, segundo Schönecker, na medida em que as disposições morais são condições do reconhecimento do princípio enquanto um imperativo categórico, elas são também condições necessárias para a consciência da lei moral. O problema que parece decorrer desta posição é a seguinte: o reconhecimento da obrigação de um princípio a priori depende de condições a posteriori, ou seja, empírico-psicológicas, como as disposições morais. Esta posição parece contradizer o próprio texto kantiano, tendo em vista que, segundo Kant, tais disposições são condições subjetivas da receptividade ao conceito do dever, não como condições objetivas da moralidade. Ora, a validade e a necessidade do imperativo categórico são, segundo ele, objetivas e só mediante a consciência a priori deste constrangimento é que as disposições são possíveis enquanto efeitos desta no ânimo. Numa palavra, parece-nos imprescindível para a correta compreensão da posição kantiana fazer a distinção entre necessidade prática objetiva e subjetiva, pois a interpretação de Schönecker parece ter como conseqüência o problema da falta de um argumento que responda a pergunta: qual é o fundamento da consciência prática a priori? Na verdade, ele parece estabelecer a separação entre a validade e a necessidade do princípio moral, de modo que apenas a validade do mesmo é independente das condições subjetivas do agente. Contudo, Kant estabelece a diferença entre a consciência a priori e a empírica da necessidade prática da lei moral, pois o sujeito só é capaz de reconhecer a necessidade prática subjetiva (estética) porque ele reconhece esta necessidade de um modo objetivo, ou seja, a priori. Por último, se não fizermos tal distinção, corremos o risco de identificar o fato da razão com o sentimento de respeito, tendo em vista que na interpretação de Schönecker parece não haver lugar para a distinção entre a consciência da lei enquanto um imperativo categórico (necessidade prática objetiva 21 Ibidem, p. 59. Capítulo 5 | Página 95 – o fato da razão) e a consciência subjetiva da lei moral (necessidade prática subjetiva- sentimento de respeito)22. Para concluir esta parte do trabalho, cabe destacar que a objeção principal a esta solução é baseada na necessidade de partirmos de uma premissa prática-moral quando se trata de justificar a validade e a necessidade do princípio moral para seres racionais humanos, a saber, a realidade da razão pura prática, ou ainda, a consciência a priori da obrigação ou da necessidade prática da lei moral, a qual se apresenta a nós a priori como um imperativo categórico ‘produzindo’ certos efeitos na sensibilidade, como as disposições morais do ânimo. Esta objeção só pode ser levantada com a adoção da solução kantiana apresentada na KpV com a figura do fato da razão, o que significa o abandono do tipo de justificação apresentada por Kant na III Seção da GMS, pois esta é baseada na dedução do imperativo categórico a partir do uso teórico-especulativo da razão, isto é, a partir da pressuposição da liberdade transcendental. O sentimento moral enquanto disposição moral do ânimo Tendo em vista que as disposições morais não constituem o fundamento da obrigação objetiva da lei moral, mas, ao contrário, são condições da sensibilidade para a consciência - portanto subjetiva- da Para compreendermos melhor a solução que Dieter Schönecker apresenta seria necessário recorrer a outros trabalhos em que ele trata da fundamentação da validade da lei moral, pois parece-nos que a sua interpretação parece estar comprometida com a justificação kantiana da validade do princípio moral defendida não na KpV, mas na III Seção da GMS. Um exemplo consiste no texto “How is a categorical imperative possible is?”. Neste trabalho, Schönecker afirma, defendendo uma justificação da validade da lei moral com base no primado da espontaneidade teórica-especulativa da razão, que “once the human being understands himself as a member of the world of understanding because of his theoretical faculty, he also may understand his reason as a practical faculty, i. e. he may understand his will to be a member of the world of understanding and hence to be free” (Schönecker, 2006, p. 310). Com efeito, a sua interpretação acerca do fundamento objetivo da obrigação moral do imperativo categórico baseia-se no que ele denomina por um princípio onto-ético, o qual ele formula do seguinte modo: “The world of understanding and thus the pure will as a member of this world of understanding are ontically superior to the world of sense, and therefore the law of this world and will (the moral law) is binding as a categorcial imperative for beings that are both members of the world of understanding and the world of sense” (Schönecker, op.cit, p.318). Recorrendo agora a este texto, podemos dizer, se eu não estou errada, que Schönecker estabelece, mesmo que implicitamente, a distinção entre necessidade prática objetiva e subjetiva, mas de tal modo que a necessidade prática objetiva não reside na consciência a priori da lei moral, enquanto fato da razão, mas na superioridade ôntica da espontaneidade teórica da razão pura. Cf. p. 316. Ver também o subcapítulo intulado “Das Argument der Deduktion” do livro “Kant: Grundlegung III. Die Deduktion des kategorischen Imperativs” (1999). 22 Capítulo 5 | Página 96 necessidade prática ou do caráter obrigatório do imperativo categórico, cabe investigar se Kant introduz uma nova sensibilidade para a receptividade da consciência da lei moral com a figura do sentimento moral. A seção sobre o sentimento moral é a primeira das disposições morais e está dividida em três parágrafos. No primeiro parágrafo, Kant afirma que a determinação de arbítrio depende sempre de um sentimento de prazer ou de desprazer enquanto “motor” que impulsiona o sujeito a agir, sendo que esta capacidade, segundo a qual o agente é levado a agir, está fundada nas representações de ações possíveis; na terminologia da GMS, em determinados imperativos. Assim, se o sentimento de prazer ou desprazer antecede a representação prática com base na qual a ação será feita, então o sentimento, enquanto conteúdo sensível desta faculdade, é, segundo Kant, um sentimento patológico. Caso contrário, se o sentimento de prazer ou desprazer se segue da representação da lei moral, então trata-se do sentimento moral. Este argumento é particularmente importante quando se tem em vista o lugar sistemático e a função do sentimento moral na concepção moral kantiana, na medida em que este parágrafo mostra que este sentimento não cumpre nenhuma função epistemológica, isto é, o reconhecimento da obrigação moral não pode depender do sentimento moral visto que este “só pode se seguir da representação da lei”. Numa palavra, o reconhecimento de que se deve fazer algo necessariamente independe do estado de prazer ou de desprazer (contigente) de um agente. Além disso, a proposta kantiana é mostrar que além da possibilidade de ser afetado por representações práticas de modo geral (imperativos hipotéticos), há uma consciência moral em particular, que é, segundo ele, é obrigatoriamente necessária e universal (imperativo categórico) e, não obstante o seu caráter a priori, pode ser reconhecido também na sensibilidade através de um estado de ânimo peculiar, que é o sentimento moral. No segundo parágrafo Kant retoma o argumento do tratamento geral das disposições, afirmando que não pode haver nenhuma obrigação em ter ou adquirir o sentimento moral, uma vez que este é condição de possibilidade da consciência subjetiva da necessidade prática do princípio moral na medida em que possibilita o estar-afetado pela Capítulo 5 | Página 97 representação da lei moral. Alguns intérpretes23 sustentam, com base nesta passagem, que o sentimento moral fundamenta a consciência da obrigação moral. Todavia, parece-nos que esta posição só pode ser sustentada criticamente se o sentimento moral, enquanto disposição para ser afetado pela consciência da lei moral, consiste em tal fundamento apenas e exclusivamente no nível subjetivo. Com base em uma passagem deste parágrafo, na qual lemos que “toda consciência da obrigatoriedade depende deste sentimento enquanto fundamento para se tornar consciente da necessidade que reside (liegt) no conceito de dever”24, dois problemas são esclarecidos: 1) a consciência da obrigatoriedade (SUBJETIVA) depende deste sentimento, enquanto fundamento, porque tal sentimento consiste na possibilidade do sujeito ser afetado pela consciência a priori e objetiva da necessidade prática da lei moral, ou ainda, o conteúdo (sentimento moral, enquanto sentimento de respeito), que expressa a consciência empírica da obrigatoriedade moral, depende da predisposição ou capacidade para poder ser afetado pela consciência a priori da lei moral e 2) a necessidade (é necessário sublinhar, necessidade prática) de que o homem deve poder ser consciente reside, não no sentimento ele mesmo, mas no conceito de dever, isto é, na lei moral. Com efeito, esta tese é expressa na última frase deste parágrafo, na medida em Kant sustenta que a obrigação do sentimento moral não pode ser a de ter ou adquirir o mesmo, mas simplesmente a de cultivá-lo devido a sua origem na representação racional da moralidade. Outro ponto que, à primeira vista, é de difícil interpretação consiste na pergunta se quando Kant introduz a noção do sentimento moral como uma capacidade moral de sentir prazer ou desprazer a partir da consciência da lei moral, ele está se aproximando da posição dos moralistas britânicos do moral sense, tal como Hume, por exemplo. Nesta via de interpretação, Zeljko Loparic afirma em seu artigo “O Fato da Razão – uma interpretação semântica”25 que Desde a segunda Crítica, Kant afirma, portanto, a existência de dois diferentes tipos de sensibilidade (Sinnlichkeit), uma cognitiva – afetada pelos objetos eles mesmos-, e uma não cogni23 Schönecker, D. 2010. 24 KANT, Metaphysik der Sitten, Ak 36. 25 Loparic, Zeljko. “O Fato da Razão – uma interpretação semântica”, in: Analytica, 1999. Capítulo 5 | Página 98 tiva, afetada não pelos objetos, mas pelas representações de objetos (1797, p. 2). Quando os efeitos recebidos provêm de idéias práticas, a sensibilidade é chamada de volitiva moral. Finalmente, quando a determinação do ânimo resulta de idéias morais, a sensibilidade em jogo é, ela mesma, chamada de moral26. Mesmo já tendo tematizado a interpretação de Loparic em outros trabalhos27, cabe fazer algumas anotações. Em primeiro lugar, parece-nos um pouco estranho que ele afirme que desde a segunda Crítica Kant estabelece a diferença entre dois tipos de sensibilidade sem indicar, ao menos, um “lugar” nesta obra em que ele faria tal coisa. Com efeito, além de não indicar a passagem em que supostamente Kant introduziria uma nova sensiblidade moral na KpV, a citação acima tem como referência, não a KpV, mas justamente o Capítulo XII da MS. Ou seja, Loparic parece fundamentar esta posição de que Kant estaria introduzindo um novo domínio sensível moral, ou, como ele afirma, uma nova sensibilidade, a saber, o sentimento moral a partir do Capítulo XII da MS. Mas embora o texto da MS seja de difícil interpretação, no último parágrafo da seção sobre o sentimento moral Kant adverte justamente para esta possível confusão que a predisposição do ânimo para ser afetado pela consciência da lei moral “não pode ser confundido com um senso moral”, ou seja, como um sentido moral especial, tal como entendiam os moralistas britânicos. Assim, lemos que “nós não temos um sentido especial para o (moralmente) bom e mal, enquanto nós temos pela verdade, embora se fala desta maneira (ob man sich gleich oft so ausdrückt), e sim (a) receptibilidade do livre arbítrio para sermos movidos (für die Bewegung) pela razão pura prática (e sua lei), e isto é o que nós chamamos de sentimento moral”. Com isso, fica claro que a receptibilidade ou a predisposição consiste na mera capacidade para ser afetado pela consciência moral, produzindo, a partir desta afecção, um determinado conteúdo sensível que faz com que a vontade humana seja movida moralmente por este mesmo conteúdo, a saber, o sentimento moral; nas palavras da GMS e LOPARIC, “O Fato da Razão – uma interpretação semântica”, p. 37. Sobre a interpretação de Loparic, segundo a qual Kant introduz ainda na KpV um novo domínio sensível ou uma nova sensibilidade moral, que seria, então, o sentimento moral, ver também p. 39, 42, 47. 26 27 CHAGAS, “Beck, Guido de Almeida e Loparic: sobre o fato da razão”, 2010. Capítulo 5 | Página 99 da KpV, pelo único sentimento autoproduzido a priori pela razão pura prática: o sentimento de respeito pela lei. Obviamente que o cético ainda pode levantar a objeção de que nós não podemos pressupor esta pré-disposição (assim como as outras) como uma capacidade subjetiva universal de todo ser humano, pois alguém poderia dizer que não se sente afetado pela consciência moral. Podemos esboçar uma possível resposta kantiana nos seguintes termos: 1) a destituição desta força vital moral, quer dizer, o sentimento moral, seria idêntico a afirmação de que o ser humano seria moralmente morto, o que implicaria na mera animalidade do mesmo e 2) é verdade que o sujeito pode abrir mão da sua liberdade, enquanto ser natural, mas ele jamais deixará, enquanto ser moral, de reconhecer a priori deveres ou obrigações morais. Cabe ainda destacar que o segundo argumento, ao contrário do primeiro, é, por assim dizer, neutro. Isto significa apenas que, segundo Kant, todo agente, enquanto sujeito moral, reconhece necessariamente e originariamente deveres morais, independente da necessidade da adoção do imperativo categórico como critério de solução de problemas desta natureza. Por último, seria interessante tratar das outras três pré-disposições mencionadas na MS, a saber, a consciência, o amor ao ser humano e o respeito, tarefa esta adiada por falta de tempo. Mesmo assim, parece-nos que Kant mantém a compatibilidade dos argumentos da MS com os textos em que ele trata do problema da fundamentação do princípio moral, buscando, assim, a coerência interna da sua filosofia prático-moral, tendo em vista que as disposições consistem somente nas condições necessárias e fundamentais, mas subjetivas, para poder ser afetado pela consciência a priori da necessidade prática ou da obrigatoriedade de tal princípio moral. Além disso, como ser afetado pela consciência prática da lei moral não garante a sua estrita executabilidade, então, o nosso dever, enquanto agentes morais, consiste na necessidade de cultivar tais disposições morais e isso, claro, é o mínimo que se pode esperar de seres não puramente racionais. Referências BECK, L. W. Das Faktum der Vernunft: zur Rechtfertigungsproblematik in der Ethik. In: Kant-Studien 52, p. 271-282, 1959. Capítulo 5 | Página 100 CHAGAS, F. C. Beck, Guido de Almeida e Loparic: sobre o fato da razão. In: Veritas, vol. 55, nº 3, 2010. DAVIDSON, D. Essays on Actions and Events. Oxford: Oxford University Press, 2001. HENRICH, D. Der Begriff der sittlichen Einsicht und Kants Lehre vom Faktum der Vernunft. In: Prauss, G. (org.): Kant. Zur Deutung seiner Theorie von Erkennen und Handeln. Köln: Kiepenheuer & Witsch, p. 223-254, 1973. KANT, Immanuel. Grundlegung der Metaphysik der Sitten. Herausgegeben von Bernd Kraft und Dieter Schönecker. Hamburg: Meiner, 1999. _____. Kritik der praktischen Vernunft. Herausgegeben von Horst D. Brandt und Heiner F. Klemme. Hamburg: Meiner, 2003. _____. Kritik der reinen Vernunft. Herausgegeben von Jens Timmermann. Hamburg: Meiner, 1998. _____. Die Metaphysik der Sitten. Herausgegeben von Dr. Benzion Kellermann. Berlin, 1922. LOPARIC, Zeljko. O fato da razão – uma interpretação semântica. In: Analytica, 1999. O’NEILL, O. Constructions of Reason: Exploration of Kant’s Practical Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. SCHÖNECKER, Dieter. How is a categorical imperative possible is?. In: HORN & SCHÖNECKER: Groundwork for the Metaphysics of Morals. Berlin/ Nova York: Walter de Gruyter, 2006. ____. O amor ao ser humano como disposição moral do ânimo no pensamento de Kant. In: Studia Kantiana, volume 8, 2009. ____. Kant: Grundlegung III. Die Deduktion des kategorischen Imperativs. München: Verlag Karl Alber Freiburg, 1999. WOLFF, R. P. The Autonomy of Reason. A Commentary on Kant’s “Groundwork of Metaphysics of Morals”. Massachusetts: Gloucester, 1986. Capítulo 5 | Página 101 Alternativas à “Filosofia Moral Moderna”: Considerações Wittgensteinianas, Estoicas e Literárias Prof. Dra. Janyne Sattler UFSM - Brasil Introdução O diagnóstico não é novo segundo o qual a filosofia moral moderna é incapaz de servir aos seus propósitos ao fazer uso da linguagem teórica tal como tradicionalmente utilizada para distinguir na ação humana aquilo que é moralmente correto ou moralmente obrigatório fazer, moralmente requerido ou moralmente proibido, ou ainda legalmente garantido ou sancionado. Compartilhados por partidários de teorias em princípio concorrentes (a começar mesmo pela distinção mais geral entre as teorias deontológicas e as teorias teleológicas), os termos legais são de fato abundantes em uma filosofia moral construída sempre a partir de uma base racionalizante e universalizante mínima – ou de uma concepção (racional e universal) mínima do “humano”. Na verdade, a persistente teorização da linguagem moral ela mesma, a busca por uma sua justificação, fundamentação, classificação e análise é, neste sentido, mais um dos seus sintomas, cujos principais resultados daí derivados podem ser exemplificados através dos princípios kantianos ou das máximas utilitaristas. Classicamente estabelecido por Elizabeth Anscombe no ano de 1958 em seu artigo Modern Moral Philosophy, este diagnóstico vem servir não apenas à crítica às teorias éticas tradicionais como ao renascimento de uma ética das virtudes, a partir da qual uma nova forma de discussão da moral – como uma nova visão da própria moralidade – se quer fazer possível. A alternativa é então levada à sério por um grande número de autores contemporâneos1 e o espírito da crítica de Anscombe percorre as propostas morais de proponentes de envergadura tais como Alasdair MacIntyre2 e Iris Murdoch. Entretanto, devido aos possíveis desdobramentos advindos deste diagnóstico, os descontentamentos críticos são aí multifacetados. O tipo de investigação que é levado à cabo pela filosofia moral moderna é considerado demasiado estreito quanto aos seus métodos, demasiado falho quanto ao seu alcance, mas demasiado pretensioso quanto os seus objetivos. Restringindo-se à análise linguistica de conceitos especificamente morais, a filosofia moral moderna parece tomar como sua tarefa própria (e única) a clareza de termos tais como “bom”, “correto” e “obrigatório”, sempre dentro do contexto da ação e da escolha moral. Segundo Iris Murdoch, é como se a filosofia moral moderna procedesse à análise da linguagem moral apenas por considerá-la imediatamente como falha, imprecisa e variável, tornando este curiosamente o seu ponto central (e único) de investigação: “What these linguistic analysts mistrust is precisely language” (Murdoch 1956, p.42). O que não pode de modo algum fazer sentido em relação ao dispendioso empenho da disciplina em questão se Anscombe estiver certa ao dizer que estes termos (“moralmente correto/errado”, “dever moral”, “obrigação moral”, “moralmente proibido/permitido”) já não possuem hoje qualquer significação, devendo ser descartados das nossas discussões morais. Se eles exercem algum poder, diz a autora, este é muito mais um poder “hipnotizante” do qual os filósofos morais parecem não conseguir se desvincilhar, tornando a investigação da ética 1 Para não citar senão algumas leituras: Baier, A. “Theory and Reflective Practices” e “Doing Without Moral Theory?”, in Postures of the Mind. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1985; Clarke, G.S. & Simpson, E. (ed.) Anti-Theory in Ethics and Moral Conservatism. Albany: State University of New York Press, 1989; Crisp, R. & Slote, M. (ed.). Virtue Ethics. Oxford: Oxford University Press, 1997; Foot, P. Virtues and Vices. Los Angeles: University of California Press, 1978; Statman D. Virtue Ethics. A Critical Reader. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1997; Stocker, M. Plural and Conflicting Values. New York: Oxford University Press, 1990; Wallace, J. Moral Relevance and Moral Conflict. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1988; Williams, B. Ethics and the Limits of Philosophy. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985. Cf. MacIntyre, A. Depois da Virtude. Edusc, 2004. Segundo Garcia, por exemplo, “much of Alasdair MacIntyre’s work on ethics can be read as addressing the matters that Anscombe had thrust into the foreground, whether or not her work figured in his thinking intentionally, thematically, systematically, or even consciously.” (Garcia, J.L.A. “Modern(ist) Moral Philosophy and MacIntyrean Critique”, in Alasdair MacIntyre. Murphy, M. C. (ed.) Cambridge University Press, 2003, p.94). – A mesma relação entre o diagnóstico da filosofia moral moderna e a filosofia de MacIntyre é estabelecida em Hutchinson, P. Shame and Philosophy. An Investigation in the Philosophy of Emotions and Ethics. New York: Palgrave Macmillan, 2008, p.47 e 58 entre outras. 2 Capítulo 6 | Página 104 um compromisso à parte da verdadeira “vida moral”. Neste sentido, esta parte da crítica comporta duas vias estreitamente relacionadas: trata-se, por um lado, de ver que a filosofia moral moderna esvazia o seu discurso de qualquer conteúdo, retendo-se sobre questões próprias apenas ao discurso ele mesmo e que, por outro lado e por esta mesma razão, ela se distancia dos traços concretos da moralidade. Ou como explica Cora Diamond relativamente ao primeiro ponto: “Professor Anscombe has objected to the views of contemporary moral philosophers that while they recognize that expressions like ‘moral obligation’ can have, on their own views, no content, they are not willing to give up these expressions, but try to give them an ‘alternative (very fishy) content’” (Diamond 1995c, p.237). E, no entanto, este “conteúdo alternativo suspeito” não chega a preencher a necessidade de concretude que parece também contemporaneamente diagnosticada pelos críticos das teorias morais modernas3, um conteúdo apenas vinculado à racionalização, abstração e universalização daquelas concepções morais teórica (e internamente) analisadas e definidas, sem referência às suas particularidades e características tangíveis na “vida real”. Segundo os autores da introdução à Moral Discourse and Practice, esta é precisamente a tonalidade e a matéria da crítica oferecida pelos disputantes pró-Anscombe: There surely is a sense in which contemporary “Western” society finds itself without a sufficiently rich shared cosmology or theology, or a sufficiently rich constellation of vigorous, uncontroversial, and unselfconscious collective practices, to be able to escape a certain anxiety about morality, or to be able to articulate crucial moral questions without reaching for a high level of abstraction or generality, a level that seems at times unrelated to the conditions and motivations characteritic of actual lives and their particular sources of interest.4 Mas é claro que esta constatação não se limita ao período do século passado censurado por Anscombe. Ainda no mesmo espírito de Dentro de um espírito wittgensteiniano, utilizo aqui “filosofia moral moderna” e “teorias morais modernas” de maneira intercambiável, embora eu esteja consciente de que podemos recusar a primeira nos termos de Anscombe e guardar a segunda para as abordagens alternativas da ética das virtudes, as quais não deixam de ser proposições teóricas ainda que opostas às questões de normatividade e metaética. Aqui, no entanto, mesmo as subsequentes considerações sobre a ética estoica serão abordadas desde um ponto de vista igualmente não-teórico. 3 4 Darwall, S., Gibbard, A., & Railton, P. “Toward Fin de siècle Ethics: Some Trends”. Moral Discourse and Practice. Some Philosophical Approaches. Darwall, S., Gibbard, A., & Railton, P. (ed.). Capítulo 6 | Página 105 Murdoch, por exemplo, Diamond estende a sua crítica ao discurso moral atual, referindo-se à desconfiança em relação à linguagem como um traço característico dos debates os mais recentes: The focus is still on ‘evaluations’, ‘judgments’, on explicit moral reasoning to conclusions that something is worthwhile, or a duty, or wrong, or ought to be done; our conception of what are ‘issues’ for moral thought is still ‘x is wrong’ versus ‘x is permissible’; the abortion debate is our paradigm of moral utterance (Diamond 1995b, p.380). Neste sentido, as limitações de método e de conteúdo vêm indicar limitações de alcance: “Moral philosophers have been obsessively concerned with action and choice, and do occasionally refer to moral vision” (idem, p.374). A centralidade da análise linguistica e do emprego dos termos mencionados espelha assim a prioridade que a filosofia moral moderna dá à “ação” e à “escolha” como seus objetos. São as características de um agente moral – no momento mesmo de sua deliberação e de sua ação – que explicam a correção moral, o dever e as expressões morais. É claro que, quaisquer que sejam as nossas afiliações éticas – mesmo então uma ética das virtudes, – o modo como agimos no mundo e o modo como agimos uns para com os outros é parte inseparável de uma noção moral mais ampla a partir da qual podem ser definidos conceitos morais específicos. Mas se isto é assim, o que é então que está faltando? Quais são as falhas que nos permitem falar do alcance limitado das teorias morais modernas sobre a nossa vida moral? New York: Oxford University Press, 1997, p.30. – Podemos no entanto concordar com os autores com o fato de que muitos dos “ganhos morais” obtidos pela sociedade moderna são justamente devidos ao ideal de universalização e de generalização: “Yet one cannot without qualm call for ‘fidelity’ to existing conceptions in all their particularity’ as an alternative. Not only are ‘existing conceptions’ in flux, but it would also appear that we owe much of what seems most admirable in modern societies – movements for political democracy and universal suffrage, for the emancipation of slaves and women, for the elimination of racial, ethnic, and religious discrimination, for universal social provision of basic needs, and for international law and human rights – in significant measure to universalizing and generalizing pressures that have precisely gone against the grain of some entrenched (and still powerful) particularistic moral conceptions and individual or group commitments” (p.31). Se participamos aqui do espírito crítico no que toca à filosofia moral moderna, às teorias morais em geral e ao emprego exclusivo de expressões conexas ao conceito de “obrigação moral”, não defendemos uma visão particularista da ética. Como se verá, a proposta de um cosmopolitismo moral corrobora o desejo de universalidade. Capítulo 6 | Página 106 I. Uma maneira de responder a estas questões é justamente apontar para a ausência de uma “noção moral mais ampla” onde ações e escolhas não sejam tomadas de maneira isolada e onde a moralidade não seja considerada unicamente através dos apelos feitos à compreensão da “linguagem moral.” Se o objetivo das teorias morais modernas está principalmente voltado para a sistematização de uma teoria normativa e para o desenvolvimento de uma metateoria,5 então considerações alternativas devem partir de um ponto de vista mais inclusivo, onde “inclusivo” pode mesmo significar uma “visão total da vida.”6 Murdoch e Diamond compartilham neste sentido a necessidade de uma abordagem onde a “ação” não seja suficiente para qualificar, em qualquer sentido que seja, a amplitude da “vida moral.” Aqui, considerações que caracterizam aquilo que Murdoch chama de “textura do ser” (“texture of being”) englobam também traços culturais e sociais que compõem, na ética, uma “maneira de viver” – em oposição, por assim dizer, a uma “maneira de agir.” Diamond tem aqui outras pretensões igualmente: servir-se da compreensão de uma visão total da vida para vincular filosofia moral e literatura – algo de que voltaremos a falar posteriormente. A limitação do alcance das teorias morais modernas torna-se assim mais clara diante da seguinte descrição de Murdoch, onde o que distingue o âmbito das nossas reflexões morais é a complexidade de sua “textura” e não um único “problema prático” a ser presentemente decidido: When we apprehend and assess other people we do not consider only their solutions to specifiable practical problems, we consider something more elusive which may be called their total vision Dois pontos centrais para a crítica à filosofia moral moderna. Novamente de acordo com os autores do Toward Fin de siècle Ethics: Some Trends, estes dois aspectos da teoria moral podem ser definidos – e desde aí mesmo criticados – da seguinte maneira: “normative theory (the effort to bring some system or unity to the multiplicity of particular moral assessments and commonsense moral principles by developing – some might say discovering – a highly general set of normative principles or procedures to organize them) and metatheory (understood broadly as the effort to develop – or discover – a systematic understanding of what morality is, or purports to be). (Darwall, Gibbard, & Railton 1997, p.31). 5 6 A ética das virtudes é neste sentido “inclusiva” ao considerar o caráter de um agente como um todo – e não apenas as suas ações no mundo; mas ela talvez não seja tão inclusiva quanto a abordagem das autoras a seguir ou quanto a noção de “inclusão” tal como utilizada por Ackerly. Ver a terceira seção abaixo. Capítulo 6 | Página 107 of life, as shown in their mode of speech or silence, their choice of words, their assessments of others, their conception of their own lives, what they think attractive or praiseworthy, what they think funny: in short, the configurations of their thought which show continually in their reactions and conversation. These things, which may be overtly and comprehensibly displayed or inwardly elaborated and guessed at, constitute what, making different points in the two metaphors, one may call the texture of a man’s being or the nature of his personal vision. (Murdoch 1956, p.39) Da maneira como é posta, esta descrição não advoga por nenhuma “ética” em particular, mas apresenta aquilo mesmo para o que a filosofia moral como um todo deve estar atenta. Evidentemente, a questão à qual uma tal caracterização da vida moral deve responder não diz respeito àquilo que devemos ou não fazer diante de uma determinada circunstância, como também não diz respeito à qualquer definição do dever em si mesmo, mas refere-se antes ao modo como a vida deve ser vivida em sua totalidade e em todos os seus detalhes. E, neste sentido, a esfera moral não é estabelecida através da pergunta “o que devemos fazer?”, mas antes “como viver?” E é então apenas a partir da consideração desta totalidade que elementos próprios à ação poderão também ser acessados: a efetivação da ação não é, neste caso, senão uma pequena parte da maneira total de viver ou de ver a vida e não pode ser tomada à parte à “textura do ser.” Mas uma maneira mais concreta de compreender porquê as teorias morais modernas, tais como voltadas para questões de dever e de obrigação moral, possuem um alcance e uma efetividade limitados, sendo incapazes de abranger significativamente os vários aspectos de uma vida moral, é considerar uma questão prática contemporânea a ser por meio delas resolvida. Para que a crítica geral se torne então mais clara, eu gostaria de tomar como exemplo as discussões de uma ética global de assistência para a qual a questão da responsabilidade moral pelo “outro” passa pelo discurso dos direitos, dos deveres e da obrigação moral. Dado o conhecimento que temos de que há pessoas urgentemente necessitadas ao redor do mundo, de que as fronteiras globais tornam-se cada vez mais fluídas, e de que podemos de alguma forma estar aptos a “ajudar” ou a “assistir” aqueles que precisam, qual é o âmbito da nossa responsabilidade moral e até onde vão as nossas obrigações morais de “assistência”? O cerne deste debate é assim resumido de maneira crítica Capítulo 6 | Página 108 por Judith Lichtenberg em seu texto Absence and the unfound heart: why people are less giving than they might be: Almost everyone believes it is a very bad thing that hundreds of millions of people in the world suffer from crushing poverty, malnutrition, disease, and lack of education. The question is what these bad states of affairs imply for those in a position to relieve them. Philosophers have framed the issue in different ways. Mainly they have distinguished between justice and charity, and between obligation and supererogation. Do we have a moral duty or obligation to help distant strangers in need, or are such actions morally optional, however desirable they might be? Does justice require that the rich assist the poor, or is assistance a matter of charity? (Lichtenberg 2004, p.78-9). O ponto principal da crítica a ser aqui observada reside justamente no modo como estas questões são colocadas, na linguagem aí empregada e na perspectiva a partir da qual o problema como um todo é considerado. As questões morais exemplares que aparecem neste parágrafo são dadas desde um ponto de vista bastante específico, especialmente quando os “filósofos” em questão falam dos deveres e das obrigações morais que possuem os países ocidentais (ricos e liberais) – ou os seus membros individuais, evidentemente – relativamente aos países não-ocidentais – uma divisão ela mesma já questionável. O problema prático a ser resolvido refere-se ao modo como a ajuda dada aos “outros” pode ser tornada muito mais efetiva através de princípios e de leis morais os quais podem algumas vezes atingir um nível político-legal. Este é o caso, por exemplo, de Peter Singer e de seu princípio de benevolência (“If one can prevent some significant bad from occurring, without sacrificing anything of comparable moral importance, one ought morally to do so”)7 ou, de modo mais geral, o caso das teorias ato-consequencialistas. Um outro aspecto da discussão que é levado em conta é, por exemplo, a relevância da distância para as nossas ações morais e o quanto esta “ausência” pode impedir alguém de ajudar a mitigar o sofrimento de um “outro” – desta vez o caso, por exemplo, entre outros, de F. M. Kamm.8 De modo sucinto, podemos dizer que Citado desta maneira por Richard J. Arneson em seu artigo “Moral limits on the demands of beneficence?”, in The ethics of assistance. Morality and the distant needy. Chatterjee, D.K. (ed.), Cambridge University Press, 2004, p. 33. 7 8 Kamm, F.M. “The new problem of distance in morality”, in The ethics of assistance. Morality Capítulo 6 | Página 109 os debates da ética de assistência estão essencialmente voltados para aquilo que “devemos” ou “não devemos” fazer relativamente àqueles que precisam de ajuda. E, neste sentido, as soluções propostas partem de um ponto de vista ele mesmo já limitado: há “outros” cuja “estranheza” nos torna incapazes de funcionar e é isto o que precisa ser resolvido. De maneira significativa, tais discussões não tomam a perspectiva de seres humanos respondendo simplesmente a outros seres humanos – mesmo que as necessidades consideradas sejam próprias aos seres humanos; mas tomam o ponto de vista de indivíduos ocidentais respondendo (se o fazem) a indivíduos não-ocidentais, ou de povos ricos respondendo a povos pobres (em relação aos quais aqueles podem ter uma maior responsabilidade devido à exploração e colonização passadas), ou de países acolhedores respondendo aos seus imigrantes, e assim por diante. Na verdade, é em relação a esta “estranheza” do “outro” que a dúvida (dos filósofos) é colocada; não fosse este o caso, as questões mostradas por Lichtenberg (“The question is what these bad states of affairs imply for those in a position to relieve them (…) Do we have a moral duty or obligation to help distant strangers in need” (…)) não deveriam sequer aparecer em nosso horizonte. Mas se o ponto de partida é desta forma parcial, a tentativa de estabelecer uma obrigação moral de assistência – algo que então o sofrimento do “outro” nos levaria a considerar como solução – nos leva também a levantar certos tipos de pergunta. O que exatamente significa possuir uma “obrigação moral” de assistência? Quais podem ser as implicações do nosso fracasso em agir de acordo com deveres deste tipo? Nas palavras de Judith Lichtenberg: “First, to speak of moral obligation is to speak of moral necessity. The implication is that you must act (or not act), or else. Or else what? Or else you will be punished; or else there will be consequences” (Lichtenberg 2004, p.80). E isto exige uma justificação ética – ou, de modo geral, uma teoria ética – já que não é óbvio que uma punição se siga tout court.9 Wittgenstein já dizia o mesmo no Tractatus Logico-Philosophicus ao falar de uma suposta “lei moral.” Como em Lichtenberg, a perand the distant needy. Chatterjee, D.K. (ed.), Cambridge University Press, 2004, pp.59-74. E é claro que isto é assim no contexto de uma obrigação moral, e não no contexto dos direitos humanos já legalmente garantidos, a violação dos quais resulta de fato em punição legal. No primeiro caso, no entanto, trata-se mais de uma indiferença em relação ao outro do que propriamente de uma “violação”. 9 Capítulo 6 | Página 110 gunta é óbvia diante de “uma lei ética da forma ‘você deve’ (...): e daí, se eu não o fizer?” (TLP, 6.422).10 No contexto da assistência, não parece haver sentido algum em falar sobre as “consequências” empíricas da indiferença em relação ao “outro” – e este é de fato o único modo como podemos falar de “consequências”, a saber, empiricamente. Neste sentido, para que se possa apropriadamente responder às perguntas de Wittgenstein e Lichtenberg (“Or else what?”, “e daí, se eu não o fizer?”) uma outra abordagem deveria ser levada em conta segundo a qual as “consequências” de uma ação moralmente incorreta ou da quebra de um dever moral residam na ação ela mesma ou na visão global de um indivíduo sobre a sua própria vida. Se a resposta wittgensteiniana vai em direção a uma ética estoica – onde as noções mesmas de dever e de correção fazem sentido apenas no contexto mais amplo da vivência das virtudes,11 – a resposta de Lichtenberg procura justamente enfatizar a complexidade de uma visão mais geral sobre a vida ao apontar para os possíveis traços desconsiderados pelas teorias morais para explicar porquê as pessoas não parecem estar abertas a “ajudar” aqueles que necessitam, sem colocar esta ação ela mesma em questão. Por que as pessoas consideram que a “ajuda” é aqui uma questão de opinião? Ou que a caridade é algo como uma boa ação adicional acrescentada à conduta humana correta? As razões dadas por Lichtenberg são de um tipo psicológico – tais como a nossa tendência a comparar a nossa situação com aquela de um outro, o sentimento de vergonha mais do que de culpa no que toca ao fracasso moral, e a influência dos outros como motivação para se iniciar uma dada ação; são estas razões mesmas, sugere a autora, que devem ser usadas em prol de uma maior efetividade em matéria de “assistência”: The natural motivation to give aid to distant peoples is generally weak and unreliable. (…) If we want to equalize resources and improve the well-being of the disadvantaged, we cannot rely on individuals’ altruistic impulses. Instead, we need to harness the powerful human impulse to conform: the dependence of Toda referência ao Tractatus Logico-Philosophicus será dada ao longo do texto entre parênteses com o número do parágrafo. 10 Um exemplo será dado na seção seguinte através do cosmopolitismo moral. Mas para uma interpretação detalhada da ética wittgensteiniana especificamente como estoica, ver Sattler 2011. 11 Capítulo 6 | Página 111 people’s behavior, and their desire for goods and status, on what others around them have and do. (Lichtenberg 2004, p.94)12 Podemos não concordar com as razões específicas sugeridas por Lichtenberg para instigar nas pessoas o desenvolvimento de uma responsabilidade moral pelo “outro”, ou desejar complementá-las com traços algo mais otimistas. Mas a ideia é importante segundo a qual podemos fazer uso de características propriamente humanas para contar com uma resposta efetiva que possa ir além da mera “assistência” ou que possa solapar a noção abstrata de “obrigação moral” e, com isso, participar de uma concepção mais rica da moralidade. Apenas para tornar este ponto mais claro, considere o fato de que “ajudar” ou “assistir” aqueles que precisam dá a esta ação um caráter de menor significado e essencialidade relativamente à atitude moral geral do agente. O princípio de benevolência de Singer, citado acima, carrega exatamente este sentimento: a assistência é apenas um “plus.” Claro que a proposta não é aqui a de que a “ajuda” deva ser dada em detrimento da própria vida ou mesmo em detrimento do próprio aperfeiçoamento (moral, educacional, cultural), embora possamos encontrar pessoas que estejam dispostas a fazê-lo ou ocasiões nas quais elas se vejam forçadas a agir assim (para salvar alguém da morte iminente, por exemplo). Mas a proposta é a de que a “ajuda” e a “assistência” não sejam consideradas como algo que venhamos a cumprir como um simples complemento, mas como algo que acompanha um engajamento moral de tempo integral – ou, nas palavras de Murdoch, uma visão total da vida. Considerações a respeito daquilo que devemos fazer pelos “outros” não deveriam comportar dúvidas e questões tais como aquelas mencionadas acima; elas deveriam ser parte de uma atitude moral coerente relativamente à coisa certa a ser feita; elas deveriam ser parte de um engajamento pela vida do ser humano simpliciter – e pela vida simpliciter. Ou, poderíamos também dizer que as nossas reflexões morais deveriam considerar Daí a autora propor novas formas de se pensar tais problemas (concomitantemente ao necessário aperfeiçoamento político e legal internacional em matéria de direitos humanos): “It seems to follow that we must either rely on some freethinking, free-acting individuals who set an example that others are inspired or otherwise moved to follow, or else think about new ways to design our institutions so that some of the problems I have described here can be overcome. Given the complexity and importance of the issue before us, it is almost certain that both approaches will be indispensable” (Lichtenberg 2004, p.94). 12 Capítulo 6 | Página 112 não as questões de distância, de nacionalidade, de leis ou princípios escritos, de deveres e direitos, mas o fato da vida. Até aqui, o retrato algo impressionista oferecido pelo presente texto das críticas à filosofia moral moderna não apresenta nenhum argumento concreto em prol de uma alternativa às teorias morais tradicionais e o seu uso de uma linguagem voltada para o dever e para a obrigação moral; esta alternativa será sugerida na seção seguinte dentro do contexto de uma ética das virtudes de teor estoico com a noção de um cosmopolitismo moral: o argumento visará aí mostrar que esta abordagem responde melhor às exigências de uma concepção mais rica e inclusiva da moralidade de forma a satisfazer a descrição de Murdoch (defendida também por Diamond) por uma “textura do ser” ou uma “visão total da vida” tanto quanto a proposta de Lichtenberg em prol de novas maneiras de se pensar os problemas ligados à responsabilidade moral pelo “outro” no contexto de uma ética global, ao fazer uso daqueles traços que são propriamente humanos (mas aqui eminentemente estoicos). Mas se a crítica feita no espírito de Anscombe nos leva desta maneira a reconsiderar aquilo mesmo que concebemos como próprio à moralidade ou à vida moral e a abandonar um certo tipo de discurso em prol da complexidade da vida humana, permitindo também a partir daí o desenvolvimento (ou o renascimento) da ética das virtudes como a alternativa plausível principalmente ao consequencialismo e ao kantismo, ela nos leva por outro lado a reconsiderações de caráter mais radical e anti-teórico. O espírito parece ser o mesmo no qual reflexões de teor wittgensteiniano a respeito da moralidade propõem não apenas o abandono de certas expressões morais no interesse de outras, mas o abandono da teorização moral tout court – e desde aí uma aproximação da “filosofia moral” com a literatura. Penso aqui nas leituras “não-argumentativas” da filosofia moral em Cora Diamond em particular, mas também nas interpretações “literárias” da filosofia de Ludwig Wittgenstein.13 Enquanto alternativas estas abordagens serão brevemente comentadas na terceira seção deste artigo. Evidentemente, uma tal reação (bastante explícita) às “teorias éticas” está já presente na obra de Wittgenstein ele mesmo. À parte a 13 Um compêndio significativo é neste sentido The Literary Wittgenstein. Gibson, J. & Huemer, W. (ed.), London: Routledge, 2004. Uma abordagem completa a este respeito está aquém deste trabalho. Os textos deste livro estudam tanto uma interpretação de Wittgenstein e da literatura, quanto oferecem abordagens wittgensteinianas da literatura ela mesma, como Gibson, citado pos- Capítulo 6 | Página 113 clara impossibilidade de uma construção teórica da ética nos termos da radical concepção da linguagem do Tractatus, as suas refutações de toda e qualquer “filosofia moral” são categóricas e definitivas em outras partes de sua obra igualmente. Se no Tractatus esta conclusão passa pelo fato de que as proposições não podem dizer nada de “superior” (TLP, 6.42), – sendo a linguagem representacional, e as proposições legítimas sempre bipolares, basicamente empíricas e científicas – pelo fato de que a ética é transcendental (TLP, 6.421), e por dizer respeito apenas ao sujeito da vontade enquanto limite do mundo (TLP, 6.423-6.43), a negação é manifesta tanto na Conferência sobre ética quanto nas observações anotadas por Waissman em Wittgenstein and the Vienna Circle. Aqui, esta refutação vai de encontro aos objetivos e pretensões da ética em se estabelecer como legítima disciplina filosófica ou como ciência. De uma certa maneira, uma “filosofia moral” é, para Wittgenstein, uma contradição em termos: não apenas o uso de expressões sem sentido é incapaz de alcançar aquelas pretensões de objetividade – racionalidade e universalidade – já que incapaz de se ajustar à qualidade representacional da linguagem (ou vice-versa), mas este objetivo ele mesmo é já sintoma de uma profunda incompreensão em relação à moralidade. E se esta incompreensão está indubitavelmente ligada ao funcionamento lógico da linguagem – ao fato de que ela só pode expressar “significado e sentido” naturais – ela está igualmente ligada à incompreensão daquilo mesmo que é a ética. Como o silêncio aqui reivindicado por Wittgenstein não representa de maneira alguma um desprezo, mas antes uma vontade de assegurar intacto o domínio da moralidade, uma maneira de compreendermos o que de fato está em jogo na delimitação pretendida é olharmos para as metáforas empregadas na Conferência as quais procuram mostrar justamente a “superioridade” da ética sobre os fatos do mundo e a razão pela qual ela não pode ser ciência. Mais do que a distinção tractariana entre dizer e mostrar, é a distinção entre juízos de valor relativo e juízos de valor absoluto que está aqui em causa; se os primeiros podem sempre ser analisados de forma tal que toda aparência de valor desapareça em uma simples proposição descritiva, os juízos de valor absoluto não “cabem” jamais em uma mera descrição de fatos. Eis porque, por exemplo, mesmo a descrição de um assassinato é desprovida de qualquer “proposição ética”; o assassinato, diz Wittgenstein, está teriormente. Capítulo 6 | Página 114 no mesmo nível de qualquer outro fato do mundo – como as legítimas proposições da linguagem possuem também um mesmo valor (relativo) (TLP, 6.4). Eis também porque a ética não pode ser ciência: nada daquilo que poderíamos legitimamente dizer, afirma Wittgenstein, seria de fato “a coisa” (“the thing”). E as duas metáforas conexas a seguir vêm explicitar ainda mais esta impossibilidade: That we cannot write a scientific book, the subject matter of which could be intrinsically sublime and above all other subject matters. I can only describe my feeling by the metaphor, that, if a man could write a book on Ethics which really was a book on Ethics, this book would, with an explosion, destroy all the other books in the world. Our words used as we use them in science, are vessels capable only of containing and conveying meaning and sense, natural meaning and sense. Ethics, if it is anything, is supernatural and our words will only express facts; as a teacup will only hold a teacup full of water and if I were to pour out a gallon over it. (Wittgenstein 1965, p.07). Mas tudo o que estas metáforas vêm mostrar é que o domínio da ética está para além de qualquer possibilidade de expressão significativa em um sentido que é importante para a compreensão da própria moralidade: é a estreiteza da linguagem que não a comporta. Neste sentido, todas as tentativas teóricas de se pensar a ética estão a priori fadadas ao fracasso e é desta tendência filosófico-metafísica que Wittgenstein pretende libertar a moralidade. As delimitações e distinções estabelecidas desde o Tractatus visam portanto um objetivo bastante específico – e não um silêncio absoluto sobre aquilo que nós enquanto indivíduos podemos expressar:14 salvar a moralidade de toda a “tagarelice” da “filosofia moral”, de sua pretensão de fundamentação, de justificação e de explicação. É neste sentido que a ética não pode ser ensinada ou que ela não pode constituir uma “doutrina” ou um “manual” filosófico qualquer (cf. TLP, 4.112). Se isto se segue do Tractatus para todas as pretensas “disciplinas” da filosofia, uma tal impugnação é claramente imposta à ética em Wittgenstein and the Vienna Circle. Tomando Heidegger como sua premissa, Wittgenstein fala aqui desta tendência humana de se jogar contra os limites da linguagem como aquilo mesmo que constitui a ética, – tendência à qual Wittgenstein já se havia referido, com “profun14 Algo que alguns autores parecem às vezes sugerir – e mesmo Diamond. Ver, por exemplo: Diamond 2000; Pinto 1998. Capítulo 6 | Página 115 do respeito”, ao final da Conferência15 – mas também da necessidade de se colocar um fim à sua teorização e tentativa de explicação legítima, à tagarelice sobre a ética:16 (…) whether intuitive knowledge exists, whether values exist, whether the good is definible. In ethics we are always making the attempt to say something that cannot be said, something that does not and never will touch the essence of the matter. It is a priori certain that whatever definition of the good may be given – it will always be merely a misunderstanding to say that the essential thing, that what is really meant, corresponds to what is expressed (Moore). (Wittgenstein 1979, p.69). Poderíamos ver nesta descrição a natureza mesma de uma filosofia moral moderna e de seu método analítico de investigação na busca pela fundamentação de termos especificamente morais. Mas o ensejo de Wittgenstein vai para além da crítica aos termos particulares aí empregados. Se o exemplo passa pela epistemologia moral, pela tentativa de fundamentação dos valores, pela tentativa de definição do bem, a rejeição é na verdade global e nenhuma teoria alternativa poderia vir substituir esta ética enquanto disciplina filosófica e oferecer de uma vez por todas a abordagem correta. Não se trata de recusar os ensaios da filosofia moral devido à sua incapacidade de explicação justificada (e definitiva); trata-se de recusar toda e qualquer tentativa de explicação e de justificação enquanto tais. Como Wittgenstein já o dizia na Conferência, não é porque nenhuma “expressão correta” não foi ainda encontrada dos valores absolutos que os juízos morais constituem contra-sensos, mas porque esta é a sua própria essência: “(...) not only that no description that I can think Tendência a qual, afirma Wittgenstein, Kierkegaard havia também percebido e tratado semelhantemente como uma “corrida contra o paradoxo”: “This running up against the limits of language is ethics” (Wittgenstein 1979, p.68). Na Conferência o mesmo é dito da seguinte maneira: “My whole tendency and I believe the tendency of all men who ever tried to write or talk Ethics or Religion was to run against the boundaries of language. This running up against the walls of our cage is perfectly, absolutely hopeless. Ethics so far as it springs from the desire to say something about the ultimate meaning of life, the absolute good, the absolute valuable, can be no science. What it says does not add to our knowledge in any sense. But it is a document of a tendency in the human mind which I personally cannot help respecting deeply and I would not for my life ridicule it” (Wittgenstein 1965, p.11-12). 15 16 E um de seus exemplos retoma aqui igualmente uma das experiências éticas par excellence tais como dadas na Conferência, a saber, o espanto diante do fato de que o mundo existe. A pergunta metafísica clássica é, neste sentido, “por que há um mundo e não antes nada?”, algo que na verdade não constitui uma questão legítima, não comportando nenhuma possibilidade de resposta. Tal espanto, diz Wittgenstein, se pretensamente posto em termos da linguagem, é a priori um contra-senso. Capítulo 6 | Página 116 of would do to describe what I mean by absolute value, but that I would reject every significant description that anybody could possibly suggest, ab initio, on the ground of its significance” (Wittgenstein 1965, p.11). Significativamente, a mesma coisa é dita em Wittgenstein and the Vienna Circle novamente com referência às expressões do “bom”, do “valor” e do “dever”, mas apenas para cortar pela raiz toda e qualquer tentativa semelhante de teorização. Ao comentar a ética de Schlick sobre a distinção teológica da concepção do “bem” entre aquilo que é bom porque Deus o quer e aquilo que Deus quer justamente porque é bom, Wittgenstein vai na contramão da segunda interpretação considerada a mais profunda do bem ao dizer que ela aborta imediatamente: any explanation “why” it is good, while the second interpretation is the shallow, rationalist one, which proceeds “as if” you could give reasons for what is good.The first conception says clearly that the essence of the good has nothing to do with facts and hence cannot be explained by any proposition. If there is any proposition expressing precisely what I think, it is the proposition “What God commands, that is good. (Wittgenstein 1979, p.115)17 Também aquilo que constitui o “valor” não pode passar de uma descrição sociológica que nada tem a ver com a ética enquanto tendência teorética. A crítica diz ainda aqui respeito à Schlick e à sua compreensão dos valores como “fatos que existem na realidade da consciência humana”, dando à ética o caráter de uma “ciência de fatos” morais. Wittgenstein não poderia discordar mais enfaticamente, e não apenas devido à explicação particular de Schlick e à confusão feita entre os domínios 17 O espaço deste texto não comporta uma leitura sobre o papel religioso de Deus nesta passagem, mas isto não parece de modo algum interferir na compreensão do ponto em questão: que Wittgenstein prefere a primeira interpretação do bem porque ela impede toda e qualquer construção da filosofia moral em termos legitimamente proposicionais. No entanto, uma concepção religiosa parece de fato amalgamar-se à concepção da ética em Wittgenstein e a “criação divina” do mundo é mencionada em mesma data em Wittgenstein and the Vienna Circle. Capítulo 6 | Página 117 dos fatos e dos valores, mas devido à pretensão mesma da explicação; a rejeição de uma “teoria ética” é aqui categórica e definitiva: I would reply that whatever I was told, I would reject, and that not because the explanation was false but because it was an explanation. If I were told anything that was a theory, I would say: No, no! That does not interest me. Even if this theory were true, it would not interest me – it would not be the exact thing I was looking for. (…) If I could explain the essence of the ethical only by means of a theory, then what is ethical would be of no value whatsoever. (Wittgenstein 1979, p.117). Assim, explicitamente negadas a teoria e a explicação para a ética, como então seria possível falar de “dever” ou de “obrigação moral” no sentido pretendido pelas “filosofias morais”? Ou antes, da mesma forma que em relação ao “bem” e ao “valor”, como é que uma “lei ética” poderia estar vinculada a consequências factuais? Como é que uma “proposição normativa” poderia de qualquer maneira que fosse estar ligada a consequências “empíricas”? Em si mesmo, diz Wittgenstein, um “dever” é um contra-senso; e enquanto condutor de uma ação ele só pode ter sentido se “punição” e “recompensa” se reportarem à ação ela mesma e não a qualquer fato do mundo que se suponha um seu resultado. Ora, se a distinção estabelecida por Wittgenstein entre aquilo que pode ser dito e aquilo que se mostra corresponde de alguma maneira à distinção entre fatos e valores e à distinção entre juízos de valor relativo e juízos de valor absoluto, uma “lei ética” não pode ser pensada como uma proposição legítima da linguagem e não pode servir como guia senão ao referir-se ao sujeito moral ele mesmo; ela não pode, portanto, estabelecer de maneira “dizível” aquilo que deve ou não ser feito, mas apenas indicar ou mostrar uma certa conduta. A pressão, neste caso, não é exercida por uma explicação das consequências – desvinculando deste modo a necessidade mesma de qualquer “teoria moral” em prol de uma justificação do dever – mas pela apresentação de uma determinada vivência moral. É claro que há um sentido segundo o qual um “dever” leva alguém a fazer alguma coisa, mas este sentido só pode residir no cumprimento da ação ela mesma e no seu Capítulo 6 | Página 118 valor intrínseco, e não em uma justificação teórica de sua correção. Mas, então, pergunta Wittgenstein, o que pode significar a palavra “dever”? A child ought to do such-and-such means that if he does not do it something unpleasant will happen. Reward and punishment. The essential thing is that the other person is brought to do something. “Ought” makes sense only if there is something lending force and support to it – a power that punishes and rewards. Ought in itself is nonsensical. (Wittgenstein 1979, p.118). Que fique claro, esta “pressão” e este “poder” não podem absolutamente residir “fora” da ação ela mesma; neste sentido, punição e recompensa não devem ser compreendidas apropriadamente como “consequências”: TLP, 6.422 – O primeiro pensamento que nos vem quando se formula uma lei ética da forma “você deve...” é: e daí, se eu não o fizer? É claro, porém, que a ética nada tem a ver com punição e recompensa, no sentido usual. Portanto, essa questão de quais sejam as consequências de uma ação não deve ter importância. - Pelo menos, essas consequências não podem ser eventos. Pois há decerto algo de correto nesse modo de formular a questão. Deve haver, na verdade, uma espécie de recompensa ética e punição ética, mas elas devem estar na própria ação. (E também é claro que a recompensa deve ser algo de agradável, a punição, algo de desagradável.) A maneira como podemos compreender esta recompensa e esta punição ética será esclarecida na seção seguinte ao associarmos o seu valor à felicidade ou à infelicidade – ambas em seu caráter estoico. O que mais nos interessa neste momento são as implicações desta forma de se pensar o “dever” no contexto não-teórico aqui imposto. Se há um sentido em falar de punição e de recompensa e se há também um sentido em falar da condução à ação através de uma “lei ética”, isto na verdade só pode ser feito “em primeira pessoa.” É justamente desta maneira que Wittgenstein caracteriza uma possível expressão ética normativa logo após haver refutado para a ética toda e qualquer explicação e teoria em Wittgenstein and the Vienna Circle. Ao referir-se neste ponto retrospectivamente à Conferência, podemos supor que Wittgenstein tome como ponto de partida a distinção que perpassa o seu texto desde o Tractatus: se não pode haver da ética qualquer proposição legítima, qualquer teoria ou qualquer “ciência”, mas se por outro lado isto não significa um silêncio absoluto sobre a moralidade ela mesma, tudo o que nos resta fazer é expressar de maneira Capítulo 6 | Página 119 pessoal, coerentemente às características do próprio caráter, aquilo que ainda pode ser aqui chamado de “juízo moral.” O que Wittgenstein parece querer dizer aqui, é que as expressões que devem ser banidas da nossa fala são aquelas cuja pretensão é proposicional, ou bem metafísica, teórica ou científica, ou seja, aquelas pseudo-proposições do tipo empregado pela “filosofia moral”; mas apenas estas. Não havendo uma tal pretensão, os juízos morais podem mesmo vir a ser obrigatórios diante de uma requerida circunstância e são, neste caso, autorizados enquanto expressões de “primeira pessoa.” Assim, a única “justificação” possível para a expressão reside assim na pessoa ela mesma: At the end of my lecture on ethics I spoke in the first person: I think that this is something very essential. Here there is nothing to be stated any more; all I can do is to step forth as an individual and speak in the first person. (Wittgenstein 1979, p.117). Mas é claro que com isto a expressão perde todo e qualquer caráter de “argumento.” Na ética, diz Wittgenstein, como agora em todo o domínio da filosofia, já não se trata de fornecer argumentos. O único tipo de convencimento ao qual se pode agora proceder é um “apelo”: por um lado, ele é passível da mesma qualidade encontrada em um juízo normativo do tipo exemplificado na Conferência, onde um mau comportamento não pode, na verdade, passar ileso diante de um agente plenamente responsável (pelo outro como pela consistência do seu próprio caráter); por outro lado, ele se qualifica também como uma espécie de “apelo jurídico.” Assim, se diante de um comportamento condenável alguém disser que realmente não quer comportar-se melhor, a nossa reação enquanto espectador não pode ser nem conivente nem indiferente. Nós não podemos, de acordo com Wittgenstein, dizer algo como “ah, então tudo bem”, mas devemos certamente dizer algo como “bem, você deveria querer comportar-se melhor.” A expressão deste imperativo não é mais, no entanto, do que a expressão daquele que se coloca à frente “enquanto pessoa” para falar em “primeira pessoa.” Neste sentido, a sua capacidade de convencimento está estreitamente ligada ao retrato da sua personalidade: de fato, o termo original utilizado por Wittgenstein – “Persönlichkeit” – carrega o significado de uma individualidade singularmente caraterizada por um certo “Charakter.” Claro que não se trata do sentido psicológico do termo em questão. Nos aproximamos talvez mais do sentido ordinário segundo o qual uma “personalidade” é alguém que carrega traços notáveis e que Capítulo 6 | Página 120 se destaca dos outros. O termo é notadamente seguido no texto por “hervortretten” o qual, se pode significar “aparecer”, pode também significar “colocar-se à frente, destacar-se ou colocar-se em evidência.” Certamente, como no caso da ética estoica, o que deve ser distinguido ou posto em evidência é a personalidade enquanto critério: aquele que expressa um juízo moral visando conduzir o outro a uma certa maneira de viver, de querer ou de agir, serve concomitantemente de exemplo ao destacar-se desta mesma maneira. Mas, se aparecer “enquanto pessoa” e expressar juízos morais em “primeira pessoa” é tudo quanto podemos fazer em matéria de “argumento”, o limite do convencimento se reduz a um “esclarecimento das circunstâncias” para além do qual, diz Wittgenstein, nada mais resta a fazer. A verdade é que o outro deve, por assim dizer, sentir-se cativado pelo exemplo e pelo juízo expresso para efetivamente sentir-se convencido do “apelo” feito; e isto já não equivale a uma “argumentação filosófica” de alguma maneira fundamentada ou justificada, mas a uma maneira de chamar a atenção ou o olhar do outro para alguma coisa de importante. Em suma, o convencimento em prol de uma visão, de uma maneira de ver a vida ou, mais especificamente, de uma maneira de agir, não é alcançado por meios argumentativos, mas por maneiras pessoais de apelar ao outro “como a um juiz.” Esta é a maneira como Moore relata as observações de Wittgenstein sobre a natureza das “razões” na ética (e na estética):18 (…) Reasons, he said, in Aesthetics, are ‘of the nature of further descriptions’, e.g., you can make a person see what Brahms was driving at by showing him lots of pieces by Brahms, or by comparing him to a contemporary author; and all that Aesthetics does is ‘to draw your attention to a thing’, to ‘place things side by side’. He said that if, by giving ‘reasons’ of this sort, you make the other person ‘see what you see’ but ‘still doesn’t appeal to him’, that is ‘an end’ of the discussion; and that what he, Wittgenstein, had ‘at the back of his mind’ was ‘the idea that aesthetic discussions were like discussions in a court of law’, where you try to ‘clear up the circumstances’ of the action which is being tried, hoping that in the end what you say will ‘appeal to the judge’. And he said that 18 Lembremos: “Ética e estética são uma só” (6.421). Capítulo 6 | Página 121 the same sort of ‘reasons’ were given, not only in Ethics, but also in Philosophy. (Wittgenstein 1993, p.106). O convencimento é então alcançado quando o outro vê o que vemos e é por isto mesmo convencido. É claro que estas “razões” não explicam “porquê” este juízo está sendo emitido ou “porquê” este ou aquele apelo é importante; as “razões” são antes maneiras de mostrar, de exemplificar, de “esclarecer” ou de persuadir. Tendo agora esta imagem de um dos aspectos da ética de Wittgenstein como pano de fundo, voltemo-nos de novo para aquela maneira multifacetada de caracterizar o âmbito da moralidade tal como visto em Murdoch. Desde aí poderíamos dizer que o modo como o “apelo” é feito para o outro em prol de uma determinada “visão” moral, – ainda que seja simplesmente para fazê-lo ver aquilo que ele deve, nesta circunstância, querer – é estreitamente conexo àquilo que caracteriza a resposta de alguém em relação à sua “visão global pessoal” sobre a vida, e aquilo que caracteriza, então, esta visão ela mesma. É neste sentido que Murdoch fala, por exemplo, de uma atenção particular do agente que é posta sobre aquilo que é visto “to express the idea of a just and loving gaze directed upon a particular reality” (Murdoch 1970, p.34). Supostamente, este não pode ser um olhar típico da filosofia moral moderna. Dada a complexidade da “textura” da vida, um “olhar justo e amoroso” sobre a realidade, uma “atenção” particular, é antes o tipo de olhar compartilhado pela literatura.19 Daí a importância que Diamond vem atribuir-lhe na consideração sobre o âmbito de uma filosofia moral: I have argued, following Iris Murdoch, that any specification of the sphere of morality, of the phenomena of interest to moral philosophy, in terms of action and choice is a limited and limiting one. How we define the sphere of the moral bears in several different ways on the relation of literature to moral philosophy. (Diamond 1995b, p.376). Mas antes de tocarmos nesta questão com mais atenção e compreendermos porquê a literatura pode ser o ponto de vista o mais inclusivo desde o qual se considerar a riqueza da vida moral – e desde o qual convencer o outro de alguma coisa de importante – devemos voltar É claro que “justo e amoroso” não comportam aqui nenhum tipo de ingenuidade; “justo” significa apenas, neste caso “conforme” à totalidade da vida e seus meandros. 19 Capítulo 6 | Página 122 o nosso olhar para aquela alternativa disponível à filosofia moral moderna em vista das críticas recém comentadas e da melhor maneira de responder àquelas questões deixadas em aberto em relação à ética de assistência. Falaremos agora do cosmopolitismo moral estoico como proposta de remédio à “estranheza” do outro e à dúvida sobre o escopo da responsabilidade moral dos indivíduos. II. Contra os problemas aqui elencados no contexto da crítica de Anscombe à filosofia moral moderna, a ética das virtudes surge de fato como uma alternativa à unilateralidade do método de análise linguistica dos termos morais, ao esvaziamento do uso destes termos em relação aos seus ambiciosos objetivos e à prioridade da ação e da escolha, ao substituir a questão sobre o modo como devemos agir no mundo pela questão sobre o modo como devemos, em cada instante de nossas vidas, viver. Neste caso, o foco não está voltado para ações particulares pensadas como soluções também particulares de problemas da ética prática (pensemos na questão: “Do we have a moral duty or obligation to help distant strangers in need, or are such actions morally optional, however desirable they might be?” ), mas para o modo global como a vida é vivida a partir de considerações sobre o caráter de um indivíduo. São as virtudes que compõem este caráter que determinam ambas a melhor maneira de viver a vida como a correção das ações que daí se seguem. A prioridade da reflexão moral é dada aí, portanto, para o aperfeiçoamento coerente das virtudes. No que se segue, alguns aspectos da ética das virtudes de qualidade estoica serão considerados em prol do argumento pelo cosmopolitismo – sem pretender, contudo, proceder a uma abordagem aprofundada de quaisquer destes elementos ou examiná-los no contexto de algum filósofo em particular. Tomando novamente como guia aquelas questões colocadas por Lichtenberg e Wittgenstein acima (“Or else what?”, “e daí, se eu não o fizer?”) no que diz respeito ao problema da responsabilidade moral pelo outro, a resposta que daremos aqui não deve partir do ponto de vista das suas consequências, mas da perspectiva da qualidade intrínseca das ações. É claro que, neste caso, as perguntas mesmas perdem o seu sentido e deixam de ser pertinentes. Ainda assim, porém, elas podem ser metodologicamente Capítulo 6 | Página 123 colocadas – e respondidas – como uma maneira de acessarmos aquilo que está em jogo nas considerações sobre felicidade, virtude e coerência. Uma possível resposta wittgensteiniana seria, neste sentido, a seguinte: “bem, se você não o fizer, você será infeliz”. Esta pode parecer uma “consequência”, mas é na verdade apenas uma “constatação” ou “afirmação” de fato. Lembremos que Wittgenstein ele mesmo caracteriza a ação como contendo em si a punição ou a recompensa e que estas correspondem a “algo de desagradável” ou a “algo de agradável” (TLP, 6.422). Se não se trata aqui de “consequências empíricas”, é claro também que “desagradável” e “agradável” não se referem a possíveis estados de coisas ou sensações físicas. Recompensa ética e punição ética dizem respeito aqui à atitude mesma do sujeito que age no mundo. Segundo Wittgenstein, o bem e o mal não podem existir no mundo dos fatos onde nenhum valor existe (cf. TLP, 6.41 e a entrada de 2.8.16 dos Notebooks 1914-1916); bem e mal são características do sujeito da vontade as quais perfazem justamente a atitude feliz ou infeliz do indivíduo perante a vida e o mundo. Este é o sentido das observações alternativamente enigmáticas do Tractatus sobre a boa ou a má volição no seguinte parágrafo: TLP, 6.43 – Se a boa ou a má volição altera o mundo, só pode alterar os limites do mundo, não os fatos; não o que pode ser expresso pela linguagem. Em suma, o mundo deve então, com isso, tornar-se a rigor um outro mundo. Deve, por assim dizer, minguar ou crescer como um todo. O mundo do feliz é um mundo diferente do mundo do infeliz.20 Isto significa dizer que a recompensa e a punição ética residem na felicidade e na infelicidade com que as ações são executadas: uma boa ação só pode “derivar” de uma boa vontade, e uma boa vontade é sempre feliz; com o que, uma boa ação é sempre uma ação feliz e a sua própria recompensa.21 Eis porquê podemos falar de uma “constatação de fato”: tudo o que podemos responder àquele que pergunta pelas “consequências” de sua inação é que a sua atitude mesma é já uma atitude 20 Observações semelhantes aparecem nos Notebooks 1914-1916 às datas 5.7.16 e 29.7.16. A maneira como Wittgenstein resolve o vínculo entre este sujeito da vontade (que é independente do mundo (6.373; 8.7.16)) e o mundo se dá através do princípio segundo o qual “querer é agir.” O ato voluntário, diz Wittgenstein, não é a causa da ação, mas a ação mesma. Ou ainda: é impossível querer sem com isso já realizar o ato voluntário. Cf. a entrada de 4.11.16 dos Notebooks 1914-1916. 21 Capítulo 6 | Página 124 infeliz. Não se trata, portanto, de uma ameaça ou de uma sanção, mas do fato de que o valor de uma ação reside na bondade ou na maldade com que é feita, e não do que dela se segue empiricamente no mundo. De forma que a apreciação deste valor não é feita sobre a execução da ação em separado, mas a partir da atitude do sujeito em sua totalidade. Neste sentido, as questões que se reportam à responsabilidade moral devem ser acessadas desde um ponto de vista “interno” ao sujeito (se o forem), e não a partir de considerações empíricas e consequencialistas, por um lado, e meramente teoréticas, por outro. Mas se esta maneira de se colocar as coisas emprega ainda o aparato técnico wittgensteiniano (específico além disso ao Tractatus), ela pode igualmente ser dada através de um vocabulário propriamente estoico. Afinal, se com Wittgenstein podemos pensar que a correção moral de uma (boa) ação reside na boa (e feliz) vontade com que é realizada, a relação estabelecida aqui parece reportar-se ao mesmo tipo de relação existente entre a felicidade (ataraxia) e a virtude. Se a felicidade é definida em termos da tranquilidade da alma, e se esta é alcançada através de sua conformidade àquilo que apenas dela depende, e se tudo o que dela depende é a virtude, esta última é condição necessária e suficiente para a felicidade. Todo o resto é sujeito às vontades do Destino (ou Deus) e está alheio ao nosso poder.22 É mais ou menos nestes termos que Diógenes Laercius oferece a sua própria definição: “Happiness consists in virtue, since virtue is soul which has been fashioned to achieve consistency in life as a whole” (Schofield 2003, p.241). É claro que esta consistência refere-se aqui tanto à consistência entre cada uma das virtudes – formando, na verdade, uma única virtude – como à consistência da alma em relação ao todo, e à consistência de um tal caráter virtuoso levado vida afora. Neste sentido, é óbvio que nenhuma ação do virtuoso pode ser realizada que não provenha da virtude, e que então todas as suas ações são sempre intrinsecamente virtuosas. E se a virtude é o que basta para a felicidade, é também manifesto que as suas ações virtuosas portam nelas mesmas a sua recompensa: uma alma tranquila e feliz. No sentido desta definição, não apenas é impossível ser feliz sem virtude, como é impossível ser virtuoso sem ser consistentemente virtu22 Evidentemente, esta é uma descrição sumária desta relação e desconsidera várias nuances e polêmicas. Ela deve servir, no entanto, para os propósitos do presente texto. Capítulo 6 | Página 125 oso. A virtude não comporta falhas como também um caráter virtuoso não comporta a “ausência” de uma virtude. E se é para esta excelência de caráter que se voltam todas as reflexões morais estoicas e suas reflexões também moralizantes, e se esta determinação é de alguma forma uma inclinação natural humana, considerações sobre uma virtude cosmopolita podem servir-se destes traços particulares – de maneira sem dúvida mais otimista que em Lichtenberg – para desenvolver uma concepção de responsabilidade moral. Ademais, como aponta Gregory Vlastos, a consistência mencionada por Diógenes Laercius é também uma consistência do indivíduo enquanto “cidadão do universo” com o todo: “When I ask myself who I am, I have to remember that I am a citizen of the universe and a part of it, and in exercising my reason, treat nothing as merely a matter of private advantage nor deliberate as though I were detached from the whole” (Schofield 2003, p.246). Assim, se o “todo” se refere aqui de modo amplo ao “universo”, ele refere-se também ao “mundo” dos seres humanos. E se este reconhecimento exige então uma resignação do indivíduo em relação àquilo que está fora do seu alcance realizar ou modificar, ele prescreve de fato, por outro lado, uma virtude cosmopolita. Agora, o cuidado é aqui apenas para que o cosmopolitismo estoico seja compreendido em sua qualidade essencialmente moral – e não, então, política. Claro que a própria expressão “cidadão de” parece sempre imediatamente carregar uma significação política no sentido de que uma “cidadania” implica em um pertencimento – e então na legitimação de direitos e deveres – a um estado. Tal significação poderia nos levar à sugestão segundo a qual um indivíduo só pode ser um “cidadão” do mundo se a sua cidadania se efetivar perante um “estado mundial único”.23 É claro, ainda, que algumas das definições encontradas em autores especificamente estóicos podem igualmente corroborar a impressão de que se trata aqui, de uma maneira ou de outra, de pensar num mundo “sem fronteiras” – ou, dito de outro modo, “sem nacionalidades”.24 Mas Martha Nussbaum tem razão ao afirmar que o cosmopolitismo tal como encontrado no estoicismo se caracteriza essencialmente por um engajamento Cf., por exemplo, as críticas ao cosmopolitismo tais como acessadas por Gertrude Himmelfarb, 1996. 23 24 Ver este trecho de Marco Aurélio, por exemplo: “(...) posto isso, somos cidadãos; posto isso, o mundo é como uma cidade. Com efeito, de que outro organismo político se dirá que todo o gênero humano participa?” (Marco Aurélio 1980, Livro IV, 4.) Claro que o que nos põem aqui sob uma mesma lei é a participção comum numa mesma Razão, que é ela mesma identificada com o Mundo. Capítulo 6 | Página 126 moral em prol de uma comunidade moral feita da humanidade de todos os seres humanos.25 E, neste sentido, esta proposta não visa absolutamente o estabelecimento de uma instância mundial única posta acima (e a despeito) de todos os povos, ou a abolição de fronteiras políticas, físicas ou culturais. Trata-se aqui simplesmente de reconhecer esta humanidade que nos faz a todos humanos, apesar das diferenças, onde quer que isto ocorra. Esta é justamente a maneira como Nussbaum caracteriza o cosmopolitismo moral estoico – ao comentar por sua vez a expressão originária encontrada em Diógenes Laercius segundo a qual o “cosmopolita” é um “cidadão do mundo”: “recognize humanity wherever it occurs”.26 E muito mais do que um pretenso estado de coisas ou um ideal político severamente (e legalmente) balizado, um cosmopolitismo de tipo estóico engendra antes uma atitude moral integral e coerente – e esta é a razão pela qual ele não implica ao mesmo tempo no abandono de peculiaridades próprias a um cidadão de uma comunidade particular. Pelo contrário, como podemos ver nesta idéia do “círculo concêntrico” tal como apresentada por Hiérocles, o ideal do cosmopolitismo não requer a desconsideração do que é próximo pelo que é distante, mas justamente a consideração daquilo que é supostamente “distante” como “próximo”. Ou, dito de outra maneira: tanto o círculo mais afastado que compreende a humanidade em sua totalidade quanto o círculo daqueles que estão ao alcance da nossa mão deve ser considerado desde um mesmo e único ponto de vista moral – ou a partir de uma mesma atitude, a qual deve ser então coerente com aquilo mesmo que nos faz a todos igualmente humanos. Assim, diz 25 “A moral community made up by the humanity of all human beings” (Nussbaum 1996, p.07). Esta continua sendo uma bela maneira de definir o cosmopolitismo moral, embora Nussbaum tenha recentemente afirmado uma mudança em sua própria posição. Na introdução à edição de 2009 de The Therapy of Desire Nussbaum diz: “At present, I do not even accept cosmopolitanism as a fully comprehensive ethical view, since I think it gives too little space for a nonderivative loyalty to family, friends, loved ones, even nation. I have changed my mind on this point. Without such attachments, life becomes empty of urgency and personal meaning. (…) then we cannot base political principles on any single comprehensive view, not even cosmopolitanism, much though we may personally favor it. Such a view contradicts the teachings of at least some of the major religions, so it could not be the object of a Rawlsian ‘overlapping consensus’ in a pluralistic society. Cosmopolitanism, then, is a comprehensive ethical doctrine. For any one like me who makes a sharp distinction between the comprehensive and the political, it therefore cannot be (at least the whole of it cannot be) the basis of a political doctrine. My own normative political view, the capabilities approach, is, therefore, not a form of cosmopolitanism” (Nussbaum 2009, pp. xv-xvi). 26 Capítulo 6 | Página 127 Hiérocles, o objetivo assumido com esta atitude é de certo modo trazer o traço de todos os círculos em direção ao centro: Once these have all been surveyed, it is the task of a well tempered man, in his proper treatment of each group, to draw the circles together somehow towards the centre, and keep zealously transferring those from the enclosing circles into the enclosed ones… It is incumbent on us to respect people from the third circle as if they were those from the second, and again to respect our other relatives as if they were those from the third circle. For although the greater distance in blood will remove some affection, we must still try hard to assimilate them. The right point will be reached if, through our own initiative, we reduce the distance of the relationship with each person. (Long & Sedley 1995, p.349.) Desde esta perspectiva e tendo esta imagem em mente, podemos dizer que são dois os aspectos (conexos) mais importantes em prol de uma atitude cosmopolita: em primeiro lugar, o fato de que este tratamento apropriado do “outro” que é incumbente a todo ser humano não o é “isoladamente”; não se trata aqui de seguir um princípio ético estabelecido alhures, mas de cumprir uma tarefa própria ao ser humano qua ser humano. Este é o sentido das seguintes palavras de Cícero em relação ao estoicismo: a sociabilidade é natural no ser humano e é parte dos seus impulsos e de sua “função própria”27 (justamente enquanto ser humano) colocar o bem comum acima do seu. E ele acrescenta: Hence it follows that mutual attraction between men is also something natural. Consequently, the mere fact that someone is a man makes it incumbent on another man not to regard him as alien. (…) The Stoics hold that the world is governed by divine will: it is as it were a city and state shared by men and gods, and each one of us is a part of this world. From this it is a natural consequence that we prefer the common advantage to our own… This explains the fact that someone who dies for the state is praiseworthy, because our country should be dearer to us than ourselves. Furthermore we are driven by nature to desire to benefit as many people as possible, 27 “Kathēkon”, noção importante para a filosofia estoica em seu conjunto: “Just as ‘nature’ and ‘value’ in Stoicism extend from animal life quite generally to the specifically rational and moral, so it is with the central concept kathēkon, translated ‘proper function’. The breadth of reference of this term is indicated by the fact that it includes, at one extreme, activities of animals or even plants as well, and that utterly rare class of ‘right actions’ which are the peculiar province of the completely and unfailingly wise or virtuous man” (Long & Sedley 1995, p.365). Capítulo 6 | Página 128 and especially by giving instruction and handing on the principles of prudence. Hence it is difficult to find anyone who would not pass on to another what he himself knows; such is our inclination not only to learn but also to teach. (idem, p.348.). Mas é claro que esta visão necessita de um complemento. Se por um lado é da natureza humana saber dividir o mundo com os seus iguais, devido justamente ao fato de que este é o desejo de Deus (ou, o que vem a dar no mesmo, da Razão ou da Natureza), donde também o sentido do termo “incumbência”, por outro lado o cumprimento da “função própria” do ser humano é inteiramente dependente da realização de sua virtude. Para os estóicos, aquilo que é incumbente ao ser humano não o é meramente no sentido de uma força natural inescapável (ou cega), mas o é principalmente em relação à sua racionalidade – e, portanto, à sua humanidade. E, assim, a tarefa envolvida em uma atitude cosmopolita é a tarefa de um ser humano qua ser humano virtuoso (ou como diz Hiérocles, “the task of a well tempered man”). Ulteriormente, a virtude é a tarefa ou a “função própria” a ser realizada pelo ser humano, porque esta é também a sua natureza. Neste sentido, o cumprimento da tarefa de trazer para o centro as linhas mais distantes do círculo de nossas relações bem como a tarefa de ensinar aos outros os mesmos princípios,28 é o cumprimento de um dos traços da integralidade do caráter do sábio ou o cumprimento de uma das virtudes que compõem o todo de uma vida virtuosa. Mas é sobretudo este duplo aspecto da incumbência tal como esboçado acima, que nos permite caracterizar a atitude cosmopolita como uma virtude: o reconhecimento da humanidade onde quer que ela ocorra é um traço inescapável da perfeição do caráter que não comporta nenhuma exceção – e, assim, a própria dúvida em relação àquilo que devemos (ou não) fazer pelo “outro” é já uma falha. A vida virtuosa é uma vida vivida de acordo com a Natureza, – ou de acordo com o Mundo tal como ele nos é dado – englobando aí igualmente, como podemos ver, aquilo que a Natureza exige. Deste modo, se um ser humano é “estranho” aos olhos de um outro ser humano isto significa que este não é sequer capaz de reconhecer a sua própria humanidade – e com isso a sua “função própria” ou a sua Tarefas portanto complementares: eis porque os trechos citados acima, provenientes de Hiérocles e de Cícero, devem ser igualmente lidos desta maneira. 28 Capítulo 6 | Página 129 tarefa moral – em si mesmo. A falha não é meramente epistemológica, mas sobretudo moral: a realização da virtude em todos os seus aspectos, na plenitude de todas as suas virtudes, é no indivíduo a realização de sua própria humanidade.29 Portanto, é incumbente ao ser humano enquanto ser humano, dotado de razão e dotado de virtude, que ele seja um cidadão do mundo e que ele reconheça em todos os outros aquilo mesmo que o caracteriza como cidadão do mundo: dentro deste contexto, enfim, o cosmopolitismo moral é uma virtude e uma tarefa. E esta é a razão pela qual podemos falar aqui de uma atitude e de um engajamento moral, já que é de um mesmo ponto de vista, o ponto de vista da vida virtuosa, que o indivíduo considera a si mesmo e ao “outro” (mas este não como “estranho”); mas é também este mesmo ponto de vista que exige do ser humano a tomada de uma responsabilidade moral. Um caráter virtuoso deixa imediatamente de sê-lo sob a mera consideração do que pode ou não ser de sua responsabilidade. Assim, “reconhecer a humanidade onde quer que ela ocorra” é já parte de uma responsabilidade moral compartilhada que solapa em sua base toda questão do tipo “quem deve fazer o quê por quem.”30 De fato, o engajamento aí envolvido se expressa muito mais num “fazer o que for preciso” independentemente de qualquer noção isolada de “obrigação moral”. O apelo do cosmopolitismo não é então um apelo ao “dever” tout court, nem um apelo a um argumento ético ou filosófico qualquer que seja derivado de uma teoria ou doutrina específica, mas um apelo à integralidade do caráter com tudo o que isto implica, e um apelo, portanto, à uma atitude: cada falha traz consigo, ao mesmo tempo, a desconsideração da humanidade em E é por isso que em Epiteto, por exemplo, a “pessoa moral” ou a “dignidade pessoal” ou a “própria consciência” (mas também, segundo Dragona-Monachou (2007, p.112), “the autonomous inner disposition and attitude, volition, moral choice, moral purpose, moral character and so on, and, particularly, basic free choice”) é designada pelo termo “prohairesis” que é igualmente empregado pelo filósofo para caracterizar o cumprimento daquilo que significa ser “homem”. De acordo com Epiteto, o ser humano é prohairesis, e é aí que reside a perfeição propriamente “humana” ou sua “função própria” naquilo que ela tem de livre e autônoma – mas, por isto mesmo, “incumbente”. Ver, por exemplo, Epiteto 2004, III, 1, 40. 29 Uma abordagem que permitiria também complementar a noção de “responsabilidade moral compartilhada” tal como pensada por Iris Marion Young em Responsibility for Justice (Young 2001), onde a autora argumenta pela participação de todos os envolvidos – mesmo então as “vítimas” de injustiça – na busca por uma vida mais justa. Mas, neste sentido, a responsabilidade das “vítimas” parece igualmente depender de uma sua visão como parte integrante do mundo para que seja capaz de fazer as reivindicações morais em seu próprio nome. Esta é uma sugestão a ser desenvolvida a longo prazo. 30 Capítulo 6 | Página 130 si mesmo e a exposição da consequente e incoerente “irresponsabilidade”. Poderíamos mesmo dizer que, neste sentido, ele é um apelo ao óbvio. Ora, se desde aí já não faz sentido falar de “dever” e de “obrigação moral” para com o outro, também já não faz sentido falar de “assistência.” Poderíamos dizer que uma “ética de assistência” parte de um ponto de vista que é exterior ao círculo, enquanto as considerações morais de uma atitude cosmopolita abandonam a dúvida central ela mesma desta perspectiva. Desde o centro do círculo concêntrico já não faz sentido perguntar pela extensão da responsabilidade moral, – que se estende de fato até a última linha – como também não faz sentido perguntar pelas consequências da inação, já que a compreensão plena deste ponto de vista engendra a compreensão do valor intrínseco das ações. Mas se tudo isto se dá em prol de uma universalidade e de uma igualdade ideal de tratamento moral a despeito das diferenças, o que fazer com as diferenças? Ou bem, como integrá-las em uma abordagem cosmopolita, sendo isto de fato possível? A desconsideração das diferenças no que diz respeito ao humano, bem como então a idealidade deste projeto, contam justamente como possíveis objeções ao cosmopolitismo moral. No que se segue, um vislumbre de solução é sugerido através das deliberações inclusivas de Brooke Ackerly. III. É uma consideração mais antropológica das diferenças e de um mundo imperfeito e repleto de desigualdades que é levada em conta na construção de uma crítica ética e social feminista de Terceiro Mundo tal como proposta por Brooke Ackerly. “Third World feminist social criticism” é o nome que a autora utiliza para esta proposição de ativismo coletivo que desafia “valores, práticas e normas” por uma mudança social de teor democrático deliberativo.31 Sem poder de fato fazer jus a todos os desdobramentos de sua proposta, o que nos interessa aqui são algumas de suas observações soAckerly 2000, p.05 – Ou como Ackerly ela mesma descreve o seu objetivo: “The book is organized to give theoretical coherence to Third World women activists’ practice of social criticism and to propose this feminist theory of social criticism as a necessary complement to contemporary deliberative democratic theory, a development of feminist theory, and an improvement over Walzer’s and Nussbaum’s theories of social criticism. Third World feminist social criticism offers a comple- 31 Capítulo 6 | Página 131 bre a importância de uma “deliberação educativa” para a tomada de decisões sociais no contexto de uma “variedade de perspectivas” críticas. Desde um ponto de vista anti-essencialista, Ackerly enfatiza a necessidade do diálogo entre pessoas vindas de realidades (e culturas) (ainda que apenas ligeiramente) diferentes para a efetividade das mudanças sociais, até mesmo a nível institucional. No mundo real, diz Ackerly, “inequalities are too pressing, or too invisible, for the implied social criticism of ideal political theory to be relevant” (Ackerly 2000, p.09). Neste caso, se às teorias deliberativas cabe ainda aperfeiçoar os processos de crítica social de forma tal que a deliberação ela mesma se torne mais acessível, a participação consciente dos indivíduos é de extrema importância para a concretude dos avanços alcançados, legitimados por suas próprias exigências (idem, p.27). É neste sentido que são “particularmente informativas” as diferenças entre as pessoas e a variedade de suas experiências, com o que o diálogo é então uma forma eficiente de se fazê-las conhecer.32 São as informações locais e particulares e as reivindicações de grupos específicos que contribuem então para este processo “educativo” que é levado coletivamente à cabo. E são também estas informações coletivamente verificadas que permitem reavaliar e modificar as práticas de crítica social e ativismo em vista de coerções e desigualdades tão ou mais reais do que o desejo de inclusão e igualdade. Sendo as coisas assim, a participação, o compartilhamento e a inclusão tornam-se concretos apesar das diferenças, ou mesmo concomitantemente a elas. Contudo, é também devido às diferenças que a crítica dialogada a respeito da qualidade de vida dos indivíduos e a respeito das mudanças aí requeridas atinge a sua maior efetividade ao constantemente reavaliar aquilo que constitui “uma boa vida humana”: Activists from a range of critical perspectives guide their specific criticisms with a method: deliberation as a means of inquiry; skeptical scrutiny of coercive or potentially exploitative values, practices, and norms; and a working list of guiding mentary model of social criticism that enables political theory to be experientially grounded and relevant in a variety of contexts” (idem, p.28). “Political theory needs to be practically and experientially grounded so that its critical relevance is concrete and its critical implications realizable. The Third World feminist model of social criticism is an important complement to democratic theory and, because it is an extrapolation from the real world activism of Third World women, is realizable” (Ackerly 2000, p.27). 32 Capítulo 6 | Página 132 evaluative criteria consisting of capabilities essential to living a good human life. (idem, p.32). Daí também a importância, no contexto deste diálogo, da pluralidade das formas de “argumentação” capazes de incluir sempre novas perspectivas, soluções e propostas de mudança – bem como as diferentes capacidades individuais de “participação e influência deliberativa” (idem, p.43): For feminists, informed argument cannot be based solely or even principally on accepted forms of reasoning and argumentation. Informed argument is based more importantly on broad and ever-expanding sources of information and understanding. Thus, informed argument is inclusive. (idem, p.37, ênfase minha). Isto parece novamente excluir do nosso horizonte o tipo de argumentação filosófica ou teórica baseada em princípios lógicos da linguagem e em fundamentações éticas unilaterais. O âmbito do diálogo ganha em alcance e plasticidade ao permitir práticas não-argumentativas de convencimento, persuasão e informação, e por isto mesmo passíveis de um compartilhamento entre os diferentes.33 Ackerly considera, por exemplo, três diferentes alternativas as quais permitiriam a participação e o desenvolvimento de práticas deliberativas por parte daqueles normalmente excluídos dos debates filosóficos morais a respeito mesmo da própria deliberação. Lynn Sanders, em seu artigo Against Deliberation, propõe que nas instâncias deliberativas se leve em conta o relato de testemunhos pessoais; Iris Marion Young, por sua vez, que sejam aí inclusos os seguintes tópicos: “1) flattery and body language in discourse, 2) emotion and figurative language (...) and 3) ‘storytelling,’ for revealing experiences and sources of values for individuals and revealing the social position they share with others” (Ackerly 2000, p.44). Por fim, James Tully vem completar criticamente estas opções ao afirmar que mesmo a formação do respeito próprio depende de um diálogo intercultural decidido em termos de perspectivas amplamente diversas, opostas assim ao “terreno comum da razão” tal como pretendido pelo constitu- Até porque, admite Ackerly, a partir de ambos Sanders e Young, processos tradicionais de argumentação e justificação na verdade não são “universalmente praticáveis”, incorporando antes as normas racionais de indivíduos masculinos brancos, ocidentais e educados. Cf. Ackerly 2000, p.43. 33 Capítulo 6 | Página 133 cionalismo liberal. A crítica de Tully a este discurso racional abstrato é a de que ele é incapaz de trazer paz e concretude às questões em causa: (…) descriptions in the abstract language of modern constitutionalism occlude the ways of reasoning that actually bring peace . . . [Abstract language] shackles the ability to understand and causes us to dismiss as irrelevant the concrete cases which alone can help to understand how the conciliation is actually achieved. The perspicuous representation of the reasoning that mediates the conflicts over cultural recognition consists of dialogical descriptions of the very language used in handling actual cases. (Apud Ackerly 2000, p.45.). Mas se uma possível objeção levantada pelos teóricos deliberativos contra o uso de uma linguagem descritiva e particular – como também contra os testemunhos pessoais, a persuasão advinda da emoção e a imprecisão de relatos de tipo literário – é a de que tal diversidade de expressão vai contra o processo “racional sério e cuidadoso” de deliberação, Tully oferece como contra-exemplo um processo igualmente racional, sério e cuidadoso que não se ajusta porém às normas comumente aí requeridas, através das tratativas empenhadas por séculos entre a Coroa, os povos indígenas e o Canadá: Each negotiator participates in his or her language, mode of speaking and listening, form of reaching agreement, and way of representing the people, or peoples for whom they speak . . . [In these negotiations] elaborate genres of presentation, speaking in French, English and Aboriginal languages, exchanging narratives, stories and arguments, translating back and forth, breaking off and starting again, striking new treaties and redressing violations of old ones have been developed to ensure that each speaker speaks in her or his cultural voice and listens to others in theirs. (ibidem). E é então em prol de uma participação conjunta “de todos” que Tully propõe admitirmos em nossos processos deliberativos tudo aquilo que possa torná-lo amplamente inclusivo: “(...) narratives, stories, and arguments presented in the variety of styles people choose are appropriate (…).” Esta abertura à diversidade nos diálogos e reflexões morais permite assim a participação daqueles que de outro modo não saberiam fazer uso das expressões racionais sérias e cuidadosas, da linguagem abstrata e legalizada da filosofia moral ou do vocabulário de uma cultura ou instância dominante. Ela permite então dar voz àqueles cujos interesses podem ser Capítulo 6 | Página 134 mostrados e compartilhados alternativamente. É isto o que significa, então, de acordo com Ackerly, que um argumento informado seja inclusivo: Each of these proposals contributes to a more comprehensive account of how to make democratic use of deliberation where disrespect and obstacles to equality exist and persist despite existing fora for public dialogue. These proposals assume that deliberation does not meet standards of knowledge, but rather that through deliberation participants determine what they know. According to the critics of deliberative democratic theory, deliberation sets an exclusionary epistemological standard. (Ackerly 2000, p.53).34 À guisa de conclusão poderíamos dizer que as vantagens das propostas aqui examinadas com Brooke Ackerly respondem ao mesmo tempo a várias das questões levantadas ao longo deste texto. Como podemos ver, o seu alcance é também político e social mais do que simplesmente moral. Dentro dos limites aqui apresentados, no entanto, as respostas que nos interessam dizem respeito especificamente ao domínio da ética. Em primeiro lugar, esta abordagem nos permite integrar as diferenças concretas de perspectivas individuais humanas no contexto ainda assim universal de um compartilhamento dialogado das diferenças elas mesmas. As maneiras diversificadas de expressão propostas para este diálogo corroboram também esta leitura. Com isto, ousaríamos mesmo dizer que uma perspectiva cosmopolita de respeito pela diversidade no cerne de uma única humanidade persiste como possibilidade de um engajamento moral pelo outro. A “autorização” da participação global em uma prática deliberativa é neste sentido já um engajamento deste tipo. O que está em pauta é a consideração do outro como igual merecedor de 34 Ackerly lida mais tarde com os possíveis problemas e objeções desta alternativa ao pensar sobre os desacordos que podem aí também surgir (p.182, por exemplo), ou ao pensar as propostas algo mais restritas da mesma ideia (ainda que ambígua), tal como, por exemplo, na crítica específica de Benhabib à Young: “Greeting, storytelling, and rhetoric, although they may be aspects of informal communication in our everyday life, cannot become the public language of institutions and legislatures in a democracy for the following reason: to attain legitimacy, democratic institutions require the articulation of the bases of their actions and policies in discursive language that appeals to commonly shared and accepted public reasons. In constitutional democracies such public reasons take the form of general statements consonant with the rule of law . . . some moral ideal of impartiality is a regulative principle that should govern not only our deliberations in public but also the articulation of reasons by public institutions.” (Ackerly 2000, p.187 e seguintes). Capítulo 6 | Página 135 respeito, de interesse e de espaço para a fala, traço essencial da noção de cosmopolitismo moral tal como desenvolvida aqui. Em segundo lugar, esta abordagem inclusiva, bem como então o compartilhamento mútuo das diferenças e a abertura às suas expressões, nos permite também acessar aquela caracterização multifacetada da moralidade tal como descrita por Murdoch: a “textura do ser” ou a “visão global sobre a vida” podem portanto incluir noções múltiplas de valores e práticas, experiências locais e reivindicações particulares, mas também testemunhos, gestos, emoções e histórias. Se não podemos limitar a riqueza da moralidade ao discurso normativo da filosofia moral moderna, também não podemos limitar as expressões das exigências morais à imposição de um “diálogo” unilateral como dado impositivamente por uma teoria deliberativa “racional e abstrata”. Finalmente, ao se permitir à reflexão e ao diálogo moral uma pluralidade de expressões que escapam ao discurso do dever e da obrigação moral, podemos pensar a compreensão da responsabilidade moral também dentro deste contexto não-argumentativo e não-teórico para o qual a literatura adquire uma importância capital. Ela pode, neste sentido, servir concomitantemente a estas vantagens aqui apresentadas, ao disponibilizar imagens de correção moral, de sabedoria, de exemplos pessoais de virtude cosmopolita, bem como imagens de valores e práticas que definem um certo tipo de vida ou um certo traço humano particular universalmente compartilhado o qual vem apelar à própria visão do leitor sobre a vida e à sua capacidade de empatia – persuadindo-o às vezes de que uma mudança é necessária seja em seu comportamento seja basicamente em sua atitude geral para com o mundo. Cora Diamond fala, neste sentido, de um apelo ao coração como de um apelo àquilo que compartilhamos enquanto humanos, onde à literatura incumbe um tipo de convencimento que não procede àquela argumentação considerada típica da filosofia moral – envolvendo fatos, justificação e princípios gerais. Em Anything but Argument? este modo de conceber o pensamento moral é considerado não apenas “falso”, como incapaz de mostrar “a força moral de muitos tipos de literatura” (Diamond 1995a, p.291). É claro que a crítica de Diamond não pretende revestir a literatura de um poder de convencimento ilimitado, ou dizer que a melhor forma de convencer o outro é apelar sempre para as suas Capítulo 6 | Página 136 emoções ou para a expressão concreta de suas convicções morais. Assim como alguns são incapazes de seguir um argumento (filosófico) e ser por isto mesmo convencidos, a literatura pode ser moralmente convincente sem que o seja “para todos”. Alguém pode ter uma imaginação moral demasiado estreita, diz Diamond, ou “uma inteligência inadequadamente treinada e incapaz de reconhecer a ironia” para que possa de fato engajar-se no processo de convencimento de uma obra literária (idem, p.293). Trata-se, portanto, simplesmente de ver que em matéria de moralidade os “argumentos” não são tudo. De uma certa maneira, a literatura possui de fato um apelo mais universal ao mostrar visões de mundo, características humanas e histórias que são compartilhadas interculturalmente, e que não se restringem, como lembram Sanders e Young, às normas racionais do discurso tais como acessadas por indivíduos eruditos – especialmente ocidentais. Mas o ponto importante, para Diamond, reside não tanto na universalidade da literatura, como no tipo de apelo que é feito, voltado para o desenvolvimento de uma resposta imaginativa ao mundo e aos outros e, então, para o desenvolvimento das capacidades do coração “that are the basis for the moral life by deepening our emotional life and our understanding of it” (idem, p.299). Neste sentido, é claro que a oposição da literatura aos procedimentos da filosofia moral não se explica em termos de uma “mera conversão” do leitor. Estão aí envolvidas considerações e reavaliações da nossa própria capacidade de compreensão sobre o domínio da moralidade como também sobre comportamentos humanos específicos. Tomando David Copperfield de Charles Dickens como um exemplo paradigmático de um apelo moral feito em prol de uma certa visão da infância, Diamond insiste em que se o alvo é de fato o coração do leitor, isto não significa porém que um “pensamento sério” não esteja aí compreendido: “(…) he aims to convince and not simply to bring it about that the heart goes from bad state 1 to good state 2. He does not aim at mere conversion, if I may put it so” (idem, p.294). E isto porque o tipo de convicção alcançado através da literatura não pode estar separado: from an understanding of oneself, from an acknowledgment of certain capacities of response in oneself as appropriate both to their object and to one’s own nature. (…) In a sense, someone who has not learned to respond with the heart in such ways has not Capítulo 6 | Página 137 learned to think (…); for thinking well involves thinking charged with appropriate feeling” (idem, p.298). Se a literatura é assim capaz de convencer o leitor em prol de uma visão particular sobre o mundo e sobre a vida, é porque o seu apelo não é feito unilateralmente às justificativas e às razões que residem sob esta visão, mas antes à pluralidade da “textura do ser” a partir da qual somos capazes de compreender e de simpatizar com o ponto do vista alheio, seus gestos e ações, sofrimentos, benesses, e assim por diante. É desta textura que se serve a literatura ao retratar a complexidade dos personagens de tal forma que os possamos identificar em nós mesmos, ou na maneira como gostaríamos ou não de ser vistos. Este é o teor do exemplo oferecido por Diamond através da obra de Tolstoi sempre ainda no espírito de Murdoch: The opening chapters of Anna Karenina what do they give us so much as the texture of Stiva’s being? His good-hearted, silly smile when he is caught at something shameful, his response to the memory of the stupid smile, the failure of his attempt to look pathetic and submissive when he goes back to Dollywhat he blushes at, what he laughs at, what he gives an ironical smile at, what he turns his eyes away from: this is Stiva. (Diamond 1995b, p.374). Neste sentido, o convencimento se dá então através de um engajamento muito particular e pessoal da imaginação que é compartilhado com o autor literário ele mesmo. E este convencimento é efetivo se, como no caso de Dickens novamente, chegamos a modificar a nossa visão moral a respeito daquilo que constituem as necessidades, desejos, medos e afeições de uma criança (por exemplo): The moral significance of the kind of attention given by Dickens to the things he writes about is not a matter of its leading us to grasp facts of which we had previously been unaware. The attention which we see directed towards the lives and thoughts of children has a characteristic emotional color, the result of its combining great warmth, concentration of energy, and humor; it expresses a particular style of affectionate interest in human things and imaginative engagement with them (Diamond 1995a, p.300). E é destas “coisas humanas” que se faz o reconhecimento comum de um leitor com a literatura. O objetivo de Diamond é, neste caso, mostrar que o alcance da literatura pode servir à compreensão da moralidade – ou, mais particularmente, à compreensão da vida e do Capítulo 6 | Página 138 mundo e das nossas relações para com ele – de uma maneira que não o pode a filosofia moral: One reason, then, why a theme of the papers on ethics is the relation between moral philosophy and literature is that literature shows us forms of thinking about life and what is good and bad in it, forms of thinking which philosophical requirements on the character of thought, mind, and world may lead us to ignore (Diamond 1995, p.24). A literatura é, em suma, uma forma inclusiva de compreensão da realidade, da moralidade e das nossas capacidades de reivindicação e mudança. E ela é, portanto, uma ferramenta cosmopolita de educação deliberativa que responde às necessidades de uma visão mais ampla da nossa vida moral. Sem que isto possa ser considerado como um ponto final da investigação em causa, poderíamos contudo dizer que a abertura está posta através das alternativas aqui sugeridas para uma verdadeira efetivação e concretude substitutas da abstração da filosofia moral moderna. Se o trabalho por vir é ainda extenso, a tentativa de diálogo aqui estabelecida me parece compreensivamente promissora. Referências ACKERLY, B.A. Political Theory and Feminist Social Criticism. Cambridge University Press, 2000. ANSCOMBE, G.E.M. “Modern Moral Philosophy”, Philosophy 33 (1958), pp. 1-19. ARNESON, R.J. “Moral limits on the demands of beneficence?”, in The ethics of assistance. Morality and the distant needy. D K Chatterjee (ed.), Cambridge University Press, 2004, pp.33-58. BAIER, A. Postures of the Mind. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1985. CLARKE, G.S. & Simpson, E. (ed.) Anti-Theory in Ethics and Moral Conservatism. Albany: State University of New York Press, 1989. CRISP, R. & SLOTE, M. (ed.). Virtue Ethics. Oxford: Oxford University Press, 1997. Capítulo 6 | Página 139 CURRIE, G. “The Moral Psychology of Fiction”. Australasian Journal of Philosophy 73 (1995), pp.250-259. DARWALL, S., GIBBARD, A., & RAILTON, P. “Toward Fin de siècle Ethics: Some Trends”, in Moral Discourse and Practice. Some Philosophical Approaches. Darwall, S., Gibbard, A., & Railton, P. (ed.). New York: Oxford University Press, 1997. DIAMOND, C. The Realistic Spirit: Wittgenstein, Philosophy and the Mind. MIT Press, 1995. DIAMOND, C. “Anything but Argument?”, in The Realistic Spirit: Wittgenstein, Philosophy and the Mind. MIT Press, 1995a. DIAMOND, C. “Ethics, Imagination and the Method of Wittgenstein’s Tractatus”, in The New Wittgenstein. Crary, A. & Read, R. (ed.). London: Routledge, 2000, p.149-173. DIAMOND, C. “Having a Rough Story about What Moral Philosophy Is”, The Realistic Spirit: Wittgenstein, Philosophy and the Mind. MIT Press, 1995b. DIAMOND, C. The Realistic Spirit: Wittgenstein, Philosophy and the Mind. MIT Press, 1995c. DICKENS, C. David Coperfield. Penguin Red, 2007. DRAGONA-MONACHOU, M. “Epictetus on Freedom: Parallels between Epictetus and Wittgenstein”, in The Philosophy of Epictetus. Theodore Scaltsas & Andrew S. Mason (ed.), Oxford University Press, 2007. EPITETO, Entretiens. Livres I à IV. Trad. de Joseph Souilhé, col. de D’Amand Jagu. Gallimard, 2004. FOOT, P. Virtues and Vices. Los Angeles: University of California Press, 1978. GARCIA, J.L.A. “Modern(ist) Moral Philosophy and MacIntyrean Critique”, in Alasdair MacIntyre. Murphy, M.C. (ed.). Cambridge University Press, p.94113, 2003. GIBSON, J. “Reading for life”, in The Literary Wittgenstein. Gibson, J. & Huemer W. (ed.). London: Routledge, 2004, pp.109-124. GIBSON, J. & Huemer, W. (ed.). The Literary Wittgenstein. London: Routledge, 2004. Capítulo 6 | Página 140 HIMMELFARB, G., “The illusions of cosmopolitanism”, in For love of country: debating the limits of patriotism. Nussbaum, M. C. & Cohen, J. (ed.), Beacon Press, Boston, Massachusetts, 1996, pp.72-77. HUTCHINSON, P. Shame and Philosophy. An Investigation in the Philosophy of Emotions and Ethics. New York: Palgrave Macmillan, 2008. KAMM, F.M. “The new problem of distance in morality”, in The ethics of assistance. Morality and the distant needy. Chatterjee, D.K. (ed.), Cambridge University Press, 2004, pp.59-74. LICHTENBERG, J. “Absence and the unfond heart: why people are less giving than they might be”, in The ethics of assistance. Morality and the distant needy, Chatterjee, D.K. (ed.), Cambridge University Press, 2004, pp.75-97. LONG, A.A. & Sedley, D.N. The Hellenistic Philosophers: Translations of the Principal Sources with Philosophical Commentary, vol.1, Cambridge University Press, 1995. MACINTYRE, A. Depois da Virtude. São Paulo: Edusc, 2004. MARCO AURÉLIO. “Meditações”, in Antologia de textos. São Paulo: Abril Cultural, 1980. (Os Pensadores). MURDOCH, I. The Sovereignty of Good. London, 1970. MURDOCH, I. “Vision and Choice in Morality”, Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Vol. 30 (1956), pp. 32-58. NUSSBAUM, M. “Patriotism and cosmopolitanism”, in For love of country: debating the limits of patriotism. NUSSBAUM, M. C. & Cohen, J. (ed.), Beacon Press, Boston, Massachusetts, 1996, pp.02-17. NUSSBAUM, M. The therapy of desire. Theory and Practice in Hellenistic Ethics. Princeton & Oxford: Princeton University Press, 2009. PINTO, P.R.M. Iniciação ao Silêncio: uma análise do Tractatus de Wittgenstein como forma de argumentação. São Paulo: Loyola, 1998. SANDERS, L.M.. “Against Deliberation”. Political Theory 25, (1997) 3: 347-76. SATTLER, J. Non-sens et stoïcisme dans le Tractatus Logico-Philosophicus. Tese de doutoramento. Université du Québec à Montréal, 2011. Capítulo 6 | Página 141 SCHOFIELD, M. “Stoic Ethics”, in The Cambridge Companion to the Stoics. Inwood, B. (ed.) Cambridge University Press, 2003. STATMAN D. Virtue Ethics. A Critical Reader. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1997. STOCKER, M. Plural and Conflicting Values. New York: Oxford University Press, 1990. TULLY, J. Strange Multiplicity: Constitutionalism in an Age of Diversity. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. YOUNG, I.M. “Communication and the Other: Beyond Deliberative Democracy”, in Democracy and Difference: Changing Boundaries of the Political, Benhabib, S. (ed.). Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996, 120-35. YOUNG, I.M. Responsibility for Justice. Oxford University Press, 2001. WALLACE, J. Moral Relevance and Moral Conflict. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1988. WILLIAMS, B. Ethics and the Limits of Philosophy. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985. WITTGENSTEIN, L. “A Lecture on Ethics”, The Philosophical Review, Vol. 74, No. 1 (1965), pp. 3-12. WITTGENSTEIN, L. Notebooks, 1914-1916. G.E.M. Anscombe & George-Henrik von Wright (ed.), 2ed. University of Chicago Press, 1984. WITTGENSTEIN, L. Philosophical Occasions, 1912-1951. James Carl Klagge & Alfred Norman (ed.), Hackett Publishing, 1993. WITTGENSTEIN, L. Tractatus Logico-Philosophicus. Introd. e trad. Luiz Henrique Lopes dos Santos. São Paulo: Edusp, 1994. WITTGENSTEIN, L. Wittgenstein and the Vienna Circle. Waismann, F. & McGuinness, B. (ed.). Wiley-Blackwell, 1979. Capítulo 6 | Página 142 Uma Concepção Quantitativa Da Mesotês Em Aristóteles?* Prof. Dr. João Hobuss UFPEL - Brasil Introdução O presente artigo buscará mostrar que a notável e clássica análise de J. O. Urmson sobre a mediedade aristotélica, definindo-a em termos quantitativos, não expõe o que ela realmente significa no interior da ética aristotélica. Em dois momentos distintos1, Ursom analisa a excelência de caráter, ou seja, a virtude moral, apresentando uma tese que tem suscitado controvérsia, mas que apresenta uma interessante e bem argumentada concepção sobre a doutrina aristotélica da mediedade. Urmson começa sua análise da virtude moral2 indicando como ela, para Aristóteles, é adquirida, ou seja, por treinamento. Ele utiliza ‘treinamento’ pelo fato de não concordar com as traduções correntes que designam ethos por hábito, na medida em que a excelência de caráter não é uma simples questão de hábito (conforme algumas traduções deixam transparecer), pois a mesma tem de ser desenvolvida, já que supõe o fato de que os indivíduos devem ter nascido “com as capacidades relevantes” no sentido de adquirir virtudes, sejam elas morais ou inte- 1 No livro Aristotle’s ethics e no artigo “Aristotle’s doctrine of the mean”. Segundo Urmson, a concepção aristotélica da virtude, no interior da qual surge a doutrina da mediedade, independente de alguns pequenos problemas que pode apresentar, é “interessante e ousada” e “possivelmente verdadeira” (“Aristotle’s doctrine of the mean”, p. 157). 2 lectuais3. No que se refere à aquisição de um bom caráter, da virtude moral, é necessário a “prática e a repetição” que, no final, tornar-se-á uma segunda natureza4. Esta segunda natureza fará com que o virtuoso, o homem bom, aja sem nenhum tipo de fricção interna, sem conflito, sem esforço, pois é assim que ele deseja agir, agir em conformidade com a virtude, de modo que esta virtude moral é aquela que fará com que o homem tenha a vida mais feliz, a vida que é a mais desejada5. Desta forma, “a virtude é uma disposição determinada para querer agir de um modo apropriado à situação”6, isto é, às circunstâncias em que esta ação acabará por se desenrolar. E o modo apropriado de agir é determinado pela razão. Esta virtude tem dois objetos que lhes são próprios: (a) a virtude se refere às ações e emoções, o que denota o fato de que toda ação vai sempre manifestar alguma emoção; (b) a virtude também refere-se a gostos e desgostos (na tradução de Urmson, pois hedonai e lupai normalmente são traduzidas por prazeres e dores). O fato de a virtude moral concernir às ações e às emoções não implica na existência de dois espaços distintos, mas antes sugere (a), isto é, que cada ação pode ser vista como “manifestando e encarnando alguma emoção”7, seja desejo, medo, inveja, alegria etc., tudo que pode implicar gosto ou desgosto (prazer ou dor), de modo que toda vez que algum indivíduo age de um modo que manifesta caráter, ele “estará manifestando uma ou outra destas emoções similares”. I. É verdade, reconhece Urmson, que alguma confusão pode advir, especialmente quando levamos em consideração uma virtude tal como a temperança8, que tem relação com tipos específicos de prazeres, os 3 Aristotle’s ethics, p. 25 4 Idem, p. 26. 5 Idem, p. 27. 6 Idem. 7 “Aristotle’s doctrine of the mean”, p. 159. 8 Sobre a temperança ver também o artigo de Urmson, “Aristotle’s doctrine of the mean”, p. 159- Capítulo 7 | Página 146 prazeres de natureza corporal9. De fato, o temperante gosta, quer e aproveita os prazeres que são os prazeres sensuais, mas de modo apropriado, bem como não foge da dor quando a circunstância em que está inscrito o exige, pois ao fazê-lo ele está livre de qualquer conflito ou fricção interna. É por isto que Urmson sublinha que é bem mais interessante utilizar, do ponto de vista terminológico, palavras tais como ‘gostos’, ‘gozos’, ‘desejos’ e seus opostos do que prazer e dor, especificamente no caso em que a virtude moral é o objeto de análise10. É neste contexto, segundo Urmson, que surge algo absolutamente imprescindível no que se refere à definição da virtude moral, algo de suma importância segundo suas palavras, “a celebrada doutrina da mediedade”, doutrina que tem sido grosseiramente incompreendida, incompreensão que faz com que alguns a entendam como uma simples doutrina da moderação11, “a tese que extremos devem ser evitados e que o caminho do meio é o mais seguro”12. Conforme Urmson, “ou Aristóteles é culpado de um erro bastante sério, básico e não em detalhe, ou esta interpretação deve estar completamente equivocada”13. Ora, a virtude moral é uma disposição para agir segundo as prescrições da razão prática, e a própria definição da virtude moral no livro II da EN afirma de maneira evidente que a mediedade, que é parte fundamental da definição formal da virtude moral, é ‘racionalmente determinada’. Mas a doutrina da moderação, interpretada em detalhe, é claramente um princípio determinando qual ação é apropriada em cada ocasião e “como tal, ela é claramente, se correta, um juízo do pensamento prático e não um atributo do caráter. Assim, se a doutrina do meio fosse uma tese da moderação, ele seria culpado de confundir excelência de 160. As virtudes têm campos diferentes, pois a temperança tem a ver com prazeres corporais e dores, gostos e desgostos, enquanto outras têm a ver com emoções tais como raiva e medo (idem, p. 159-160). 9 10 Aristotle’s ethics, p. 28. 11 Idem, p. 28. 12 Medio tutissimus ibis (“Aristotle’s doctrine of the mean”, p. 161). 13 Aristotle’s ethics, p. 29. Capítulo 7 | Página 147 caráter com a sabedoria prática a qual - Aristóteles diz repetidamente deve guiar nossas deliberações e nossas ações”14. Uma doutrina da moderação15 poderia até ser razoável se interpretada de modo um tanto cru16 do ponto de vista prático, como no exemplo no utilizado por Urmson, qual seja, ‘mantenha-se calmo’, mas parece frágil se tomada de um ponto de vista estritamente filosófico. Isto porque não é possível que em toda e qualquer ocasião em que se aja, devamos reagir sempre de modo moderado no que tange às nossas emoções, pois poderiam existir determinadas situações em que poderia até mesmo existir um nível inexpressivo de emoção resultante de dada ação, ou mesmo inexistir qualquer intensidade de emoção, pois existem situações em que não nos é exigido, pela própria natureza da circunstância, reagir com alguma emoção, da mesma forma que não podemos reagir sempre de modo moderado, já que a situação pode eventualmente comportar determinada leveza, ou, ao contrário, pode estar recheada de componentes que nos choquem intensamente. Reagir com moderação a uma provocação jocosa de um amigo ou a uma agressão física a um idoso parece não fazer nenhum sentido, da mesma maneira que não faz sentido definir a doutrina da mediedade como uma doutrina da moderação17. Deste modo, “nem a teoria da moderação, nem qualquer outra interpretação de que a doutrina do meio é um conselho de como agir” pode ser encontrado na ética aristotélica18. Excluída terminantemente a identificação da doutrina da mediedade como uma doutrina da moderação, Urmson retorna à doutrina da mediedade lembrando que esta é parte da definição da virtude moral e não “uma peça de conselho moral”19. Ora, a virtude moral é uma disposição e 14 Idem. Segundo Urmson, Aristóteles acreditava na doutrina da moderação, desde que sensatamente interpretada, mas isto não é consequência da doutrina da mediedade, embora perfeitamente compatível com ela. A doutrina da moderação é uma doutrina sobre onde o meio encontra-se; como tal é um esboço parcial de como o homem de sabedoria determinaria onde o meio pode ser encontrado, o que é uma coisa bem diferente da doutrina de que a excelência está num meio para ser determinada pelo homem sábio (talvez fazendo uso da doutrina da moderação) (“Aristotle’s doctrine of the mean”, p. 162). Para uma discussão sobre a posição de Urmson, ver R. Kraut, Aristotle on the human good, p. 339-341. 15 Se interpretada estritamente, é absurda; se interpretada de maneira caridosa é uma doutrina da moderação (“Aristotle’s doctrine of the mean”, p. 161). 16 17 Aristotle’s ethics, p. 29 18 Idem. 19 “Aristotle’s doctrine of the mean”, p. 157. Capítulo 7 | Página 148 este é o gênero da virtude moral. A disposição é um determinado estado de caráter, mas esta constatação não basta, na medida em que existem outros estados de caráter (disposições) que também se referem a sentimentos e emoções, embora haja tão somente uma virtude moral (ou excelência de caráter). Assim, de que modo esta disposição referente à virtude moral se diferencia das outras disposições (ou estados de caráter) humanas?. Isto se dá a partir do momento em que é estabelecida a diferença específica da virtude moral. O gênero da virtude é a disposição e a sua diferença específica é a concepção aristotélica da mediedade20. Dando sequência à sua análise, Urmson vai afirmar que Aristóteles reconhece (EN VII) a existência de seis estados de caráter, divisíveis em três pares contrários21: 1. excelência sobre-humana (heroica e atribuída somente aos deuses) x bestialidade sub-humana (indicativa de doença ou loucura); 2. excelência de caráter (virtude moral) x maldade de caráter; 3. autocontrole x fraqueza da vontade. Deixando de lado a análise de Urmson sobre cada um destes três pares, é necessário que nos concentremos, para atender os propósitos do autor, naquele indivíduo possuidor da excelência moral, o virtuoso que age bem, sem esforço, sem conflito interno22, já que ele age de modo próprio, sem fricção, manifestando e respondendo à emoção de modo conveniente, gostando, aproveitando, sentindo prazer, pois “ele gosta de agir de modo apropriado, sentindo emoções as quais pode manifestar com prazer, desde que não haja embate interno”23. E esta característica do virtuoso, do homem bom, serve para deixar claro que “nenhuma emoção é, nela mesma, boa ou má, pois o que é bom ou mau, é a disposição de exibir emoções apropriada ou inapropriadamente”24, disposição submetida à sabedoria prática. Desta forma, a virtude moral permitirá que apresentemos uma disposição de sentir e exibir o grau correto no 20 Aristotle’s ethics, p. 30-31. 21 Cf. também “Aristotle’s doctrine of the mean”, p. 158. 22 Aristotle’s ethics, p. 31-32. 23 “Aristotle’s doctrine of the mean”, p. 159. 24 Aristotle’s ethics, p. 32. Capítulo 7 | Página 149 que se refere às emoções, na ocasião certa e do modo que a ocasião solicita, sendo que esta disposição está no meio entre estar bastante disposto e pouco disposto a sentir e exibir cada emoção. No meio alguém sentirá e exibirá cada emoção no tempo certo, e não muito seguidamente ou muito infrequentemente, com referência aos assuntos corretos, tendo em vista as pessoas certas, pela razão correta e pelo modo correto25. O excesso dirige-se no sentido exatamente inverso. Aliás, excesso e deficiência (falta) significam, tão somente, demasiado (too much) e demasiado pouco (too little)26. Em função desta forma breve de apresentar os extremos, o excesso e a deficiência (ou a falta), é o que pode ter levado os incautos a identificar a doutrina da mediedade como uma mera, e medíocre, doutrina da moderação27. Mas este engano pode ser afastado dos incautos quando a virtude moral é identificada por Urmson de uma maneira que afasta ad eternum a identificação da doutrina da mediedade com uma doutrina da moderação. De que modo opera Urmson para atingir tal objetivo? Afirmando que “a virtude moral é dita explicitamente ser uma disposição intermediária concernente à ação (1106b 31), e não uma disposição para a ação intermediária”28. Em outras palavras, “o que está primariamente no meio é um determinado estado de caráter (disposição) (...) assim uma emoção ou ação está no meio se exibe uma disposição que está em um meio”29. Por isto, O homem cujo caráter é tal que ele sente somente um suave aborrecimento em um menosprezo trivial e é enraivecido pela tortura, tem um caráter que está em um meio entre um que exibe 25 Idem, p. 32-33. Aqui Urmson remete para 1106b 19-23: “Por exemplo, há o temor, a audácia, o apetite, a cólera, a piedade, e, em geral, em todo sentimento de prazer e dor, encontramos o muito e o pouco, e ambos não são bons; ao contrário, sentir emoções quando se deve, no caso e a respeito das pessoas que convêm, com que fim, e como se deve, é o meio termo e o melhor, o que justamente é marca da virtude”. 26 27 Idem, p. 33 Aristotle’s ethics, p. 34. Em “Aristotle’s doctrine of the mean” ocorre uma afirmação similar: “Aristóteles toma a excelência de caráter (virtude moral) como sendo um meio ou uma disposição intermediária concernente às emoções e ações, e não que é uma disposição que visa um meio ou emoções e ações intermediárias. (p. 161). A novidade aqui é o acréscimo das emoções ao lado das ações. O problema é que a referência, 1106b 31, não faz alusão ao que Urmson defende. 28 29 “Aristotle’s doctrine of the mean”, p. 161. Capítulo 7 | Página 150 raiva tanto em ocasiões triviais quanto importantes e um que pode tranquilamente contemplar os maiores ultrajes”30. Esta argumentação demonstraria que, por vezes, ações extremas poderão ser efetivadas pelo virtuoso, desde que as circunstâncias particulares assim o demandem31. O virtuoso sempre responderá de modo adequado à importância do evento, enquanto o deficiente e o excessivo o farão inapropriadamente e de variadas maneiras, pois “estar demasiado irado ou não irado o suficiente em dada ocasião é somente um dos modos pelo qual excesso e deficiência podem ser exibidos”32. Divergir do meio é dirigir-se seja para a falta, seja para o excesso, pois é mais do que evidente para Urmson que a doutrina da mediedade não pode ser resumida a uma equivocada ideia de que a virtude moral “é uma disposição de exibir a quantidade própria de emoção”, na medida em que o caráter de um indivíduo pode errar de dois modos contrários: Pode exibir uma emoção muito seguidamente ou muito raramente, sobre demasiadas ou demasiado poucas coisas; em vista de demasiadas ou demasiado poucas pessoas; por muitíssimas ou muitíssimo poucas razões; quando é desnecessário e até mesmo quando não é requerido33. Desta forma, meio, excesso e deficiência estão perpassados inelutavelmente pelas circunstâncias. Estas circunstâncias estarão sempre presentes, o que é facilmente detectado na definição da virtude em 1106b 36-1107a 2, quando ele afirma ser a mediedade pros hêmas34, relativa a nós, isto é, às circunstâncias particulares em que nossas ações estão envolvidas35: o excessivo e o deficiente estão relacionados ao pros hêmas, isto é, devemos nos ater às circunstâncias, às necessidades de cada pessoa, ou seja, o meio é relativo a cada uma delas (das pessoas e 30 Idem. Outros exemplos sustentando a mesma intenção, segundo Urmson, podem ser encontrados (Aristotle’s ethics, p. 34). 31 Idem. 32 Idem. 33 “Aristotle’s doctrine of the mean”, p. 161. 34 Aristotle’s ethics, p. 35 “Sobre cada ocasião sua reação exibe um mean state, e assim suas ações estão, em cada ocasião, num meio (...) ter emoções e ações num meio, diz Aristóteles, é alguém sentir e manifestar cada emoção em tal tempo, sobre tais assuntos, concernente a tais pessoas, e de um modo adequado” (“Aristotle’s doctrine of the mean”, p. 161). 35 Capítulo 7 | Página 151 das ações) tomadas na sua particularidade36, como bem demonstram os exemplos relativos à alimentação e ao exercício. E tudo isto está relacionado com outra parte da definição da virtude moral, qual seja, a prohairesis. O que Urmson define como choice in a mean, diferencia a excelência de caráter (virtude moral) de outras excelências humanas, pois ela é a única disposição humana que diz respeito à escolha deliberada37. Logo, “exibir mean choice somente pode ser aplicada àquelas disposições humanas que são excelências de caráter, e isto caracteriza todos estas”38. A virtude moral é indissociável da escolha deliberada, pressupondo uma mesotês relativa a nós, e esta mediedade só pode ser determinada a partir da atividade racional daquele que serve de critério moral em Aristóteles, ou seja, o detentor da sabedoria prática ou prudente (phronimos)39. Urmson termina por afirmar, como o faz Aristóteles, que não é fácil atingir a mediedade40, e isto caracteriza os assuntos de natureza prática, pois não existem regras gerais por si só evidentes para determinar o meio41, pois ele somente pode ser explicitado nas circunstâncias particulares, e nestas devemos lançar mão da percepção, mesmo que aparentemente Aristóteles lance mão de casos, de interdições, que não 36 Urmson, “Aristotle’s doctrine of the mean”, p. 162-163, enfatiza que seria completamente equivocado acreditar que Aristóteles pense que devemos agir em ocasiões particulares a partir dos extremos. Neste caso, Aristóteles estaria abraçando a tese de que a virtude seria uma disposição que visa o meio, não uma mean disposition). Ora, a decisão de como agir em dadas circunstâncias deve-se à phronêsis, que envolve habilidade de planejamento, experiência, habilidade para apreciar a situação e habilidade executiva (deinotês). 37 Idem, p. 35. Não é o caso da excelência teorética que lida com o necessário (onde não há espaço para a prohairesis). 38 Idem, p. 36. 39 Cf. também “Aristotle’s doctrine of the mean”, p. 158. Para Urmson, a doutrina da mediedade não começa a responder a questão de como devemos agir racionalmente. Isto só teria lugar em EN VI. 40 Até porque, segundo Urmson, a preocupação que subjaz à análise aristotélica da virtude moral e, por conseguinte, da doutrina da mediedade, é essencialmente teórica, não prática, na medida em que o objetivo ali buscado é especificar uma definição. Portanto, a preocupação prática estará alijada até o fim da EN II, onde Aristóteles oferecerá alguns conselhos práticos de como atingir o meio, ressaltando as dificuldades inerentes a este intuito (Aristotle’s ethics, p. 36). 41 Capítulo 7 | Página 152 permitem mediedade, que não estão submetidos às circunstâncias, e que são sempre extremos42. A compreensão geral de Urmson sobre como Aristóteles entenderia a virtude moral, ou excelência de caráter, é a seguinte43: I. toda ação direta ou indiretamente exibe alguma emoção; II. para cada virtude específica que reconhecemos haverá alguma emoção específica que lhe diz respeito; III. no caso de tal emoção é possível estar disposto a exibir a quantidade correta: isto é excelência de caráter; IV. no caso de toda emoção é possível estar disposto a exibi-la de modo excessivo ou deficiente, e cada uma destas disposições é um defeito de caráter; V. “excessivo” inclui “em muitíssimas ocasiões” e possibilidades similares, como “muito violentamente”; “deficiente” inclui “em pouquíssimas ocasiões (demasiado poucas)” e possibilidades similares, como “muito fracamente”; VI. a quantidade correta deve ser determinada pela razão; VII. então, a excelência de caráter (virtude moral) pode ser definida como uma disposição determinada de escolha em um meio relativo a nós, tal como o prudente determinaria; VIII. não há emoção que nunca deva ser exibida. II. A posição ursomniana alicerça-se, então, sobre três aspectos fundamentais: (a) atribui à mediedade um caráter quantitativo; (b) afirma que a virtude é uma disposição intermediária no que se refere à ação e à emoção, e não uma disposição para a ação (ou emoção) intermediária, ou seja, o que está precipuamente no meio é uma determinada disposição de caráter. Ao item (b) é acrescentado, e lhe serve 42 Estes casos precisos, por si só, não atenuam o papel das circunstâncias na argumentação aristotélica. 43 Aristotle’s ethics, p. 37; “Aristotle’s doctrine of the mean”, p. 163. Capítulo 7 | Página 153 de pretexto, (c) reduzir a doutrina da mediedade a uma doutrina da moderação é um equívoco imperdoável. A investigação tentará estabelecer que (a) e (b) não podem ser consideradas teses aristotélicas, e (c) está correta, embora não pelas razões apontados pelo autor. (a) Após ter estabelecido o gênero da virtude, isto é, o fato de ser uma disposição, Aristóteles começa a construir a diferença específica da virtude, ou seja, consistir num meio (meson) relativo a nós (pros hêmas), que não é mais que suficiente, nem deficiente (mête pleonazei mête elleipei) - da mesma forma que não é a mesma para todos -, e não relativo ao objeto44. Esta elaboração antecede o que mais precipuamente interessa para que se possa desvelar o real sentido que Aristóteles dá no que concerne ao tipo de disposição que está em questão, se uma disposição intermediária de caráter ou, antes, uma disposição para uma ação intermediária. O interesse suscitado tem origem na argumentação aristotélica de que se faz obrigatório buscar o meio, evitando o excesso e a falta, o que acabará por determinar a virtude (moral), na medida em que esta está intimamente ligada às ações e emoções, “e estas admitem excesso, falta e meio”45, como de resto é o caso no temor, na audácia, no apetite, na cólera, na piedade, ou seja, em tudo aquilo que experimentamos prazer e dor, já que no que se refere a estes últimos, sempre é encontrado o que é “demasiado” e o que é “demasiado pouco” (kai mallon kai hêtton), sendo que nenhum deles, e isto forçosamente, é bom.46 “Demasiado” e “demasiado pouco” servirão, como será visto mais adiante, para a empreitada de Urmson no intuito de construir uma concepção quantitativa da doutrina da mediedade, embora ele ignore a passagem imediatamente a seguir a qual parece explicitar num sentido antes qualitativo do que quantitativo à referida doutrina, quando Aristóteles afirma que: Sentir estas emoções como se deve, pelos motivos e a respeito das pessoas devidas, pelo fim que se deve e da maneira que se 44 A discussão específica sobre este ponto foi levada a termo no capítulo anterior. 45 EN 1106b 16-18. 46 EN 1106b 18-21 Capítulo 7 | Página 154 deve é, ao mesmo tempo, meio e excelência (meson te kai ariston), e isto é próprio da virtude47. Esta passagem parece acrescentar algo mais do que um viés marcado pela quantidade. Ela, na verdade, deixa entrever uma concepção que prima claramente pela qualidade, pois estabelece que o que é próprio da virtude, ou seja, o fato de ser meio e excelência, somente poderá ser atingido em função das circunstâncias em que se desenrola a ação, ou naquelas onde alguém experimenta uma emoção, tudo isto sob as prescrições da reta razão. Não é simplesmente porque sentimos determinada emoção seguidamente ou raramente, ou em relação à demasiadas ou poucas coisas ou pessoas, por muitas ou poucas razões, violentamente ou demasiado parcimoniosamente, é que um indivíduo incorre em excesso ou falta. Um agente incorre no vício quando, nas circunstâncias atinentes, ele não enfrenta a situação de modo adequado, próprio, devido. E o que seria este modo próprio? Agir nas circunstâncias em que está inserido, segundo os ditames estabelecidos pela razão, buscando o que fará a ação ser virtuosa. Este agir bem será qualitativamente especificado pelo pesar razões nas circunstâncias, buscando estabelecer o que é correto, ou seja, o que é excelente, a mediedade entre o excesso e a falta. Este parece ser o sentido da doutrina da mesotês, pois associa o modo próprio de agir, que deve ser racionalmente determinado, às circunstâncias citadas na passagem acima. Da mesma forma, não faz sentido afirmar que sentir certa emoção implica um comportamento virtuoso pelo simples fato de que de dada ação resulta certa emoção na quantidade correta, sendo que tal quantidade correta determina uma mediedade entre o “demasiado” e o “demasiado pouco”. O “demasiado” e o “demasiado pouco” são o preâmbulo que antecede a explicitação do caráter qualitativo das circunstâncias associadas à razão que determina o modo correto de agir. A correção provém das prescrições da reta razão observadas as circunstâncias. Isto estabelece o caráter virtuoso da ação, consistindo numa mediedade entre o excesso (huperbolê) e a falta (elleipsis), mediedade qualitativa, o que parece evidente na definição da virtude moral, onde não há, por 47 EN 1106b 21-23. Capítulo 7 | Página 155 maior esforço que se faça, nada que configure uma alusão a uma concepção quantitativa da tão discutida doutrina. Urmson tem plena consciência do papel das circunstâncias e da necessidade de exibir emoções de maneira apropriada, no tempo adequado, nos assuntos devidos, pelas razões corretas. O problema é que ele subsome tudo isto a uma interpretação excessiva do papel de mallon e hêtton na argumentação aristotélica, esquecendo o cerne da questão que será apresentado imediatamente. Estes (mallon e hêtton) servem apenas como referências extremas no interior das quais se move a virtude. O acento deveria estar voltado para a concepção da mediedade enquanto algo relativo a nós (às circunstâncias) e que é determinada pela reta razão. Afirmar, como ele o faz, que existe uma disposição que estaria no meio entre “estar bastante disposto” e “pouco disposto”48 não faz sentido na ética aristotélica, e não pode definir o real significado da doutrina da mediedade. (b)-(c) Logo após a passagem que deu origem à discussão acima, Aristóteles retoma a ideia de que a virtude tem relação com as emoções e ações, e ambas estão sujeitas ao excesso e à falta - sujeitos à repreensão -, e meio (meson), sendo que este último é o que é correto e digno de louvor, características intrínsecas à virtude. Assim, a virtude “é uma espécie de mediedade, na medida em que visa um meio”49. Ora, Urmson entende tal passagem no sentido inverso do que está ali evidenciado. Como foi visto acima, ele pretende conceber a virtude moral como sendo uma disposição intermediária no que concerne à ação e à emoção, e não uma disposição para a ação intermediária. O único modo de compreender isto, segundo ele, é que a virtude, ao con- 48 Aristotle’s ethics, p. 32-33. 49 EN 1106b 27-28. Capítulo 7 | Página 156 trário do que diz o texto da EN, não visa um meio, mas antes é uma disposição intermediária à ação e emoção. Duas observações devem daí advir: (i) do ponto de vista da argumentação aristotélica, a ideia de uma “disposição intermediária” para a ação, ou emoção, como algo que define a virtude é um tanto quanto deslocada; (ii) há uma discrepância entre a concepção ursomniana e o texto da EN. Antes de tentar compreender o que sustenta Urmson a respeito de (i), é importante esclarecer (ii). Por que há uma dissonância entre a defesa de uma suposta “disposição intermediária” e o texto aristotélico? Respondendo de maneira bastante direta, há um problema quanto à referência mencionada por Urmson quando ele coloca a questão. Na passagem citada (1106b 31) não se pode encontrar nada que possibilite tal tese. Ali, Aristóteles está explicando que a correção (katorthoun) pode ser atingida de um só modo, enquanto o erro se apresenta de diversas formas; sendo um fácil de atingir e outro difícil de efetivar. Talvez seja um equívoco de edição, o que é mais provável. O que Urmson deve ter em mente é a passagem imediatamente anterior (1106b 27-28). Nesta passagem, o texto afirma: mesotês tis ara estin he aretê, stokhastikê ge ousa tou mesou (a virtude é uma espécie de mediedade, na medida em que visa o meio). A evidência textual nega claramente a idéia de uma “disposição intermediária” pela segunda parte da frase (stokhastikê ge ousa tou mesou), “na medida em que visa um meio”. Além disto, para complementar, não parece ser a intenção de Aristóteles definir a mediedade enquanto “disposição intermediária” no que se refere às ações e emoções. A virtude, é verdade, diz respeito a ações e emoções, mas enquanto tal ela é uma mediedade, na medida em que visa o meio, o que torna, ao menos terminologicamente, inexequível a argumentação do autor50. Em função disto, a 50 Mas uma concessão pode ser feita. A ideia de uma disposição intermediária poderia ser aceita, rejeitando qualquer acento quantitativo, se a disposição de caráter do agente reagisse de modo adequado às circunstâncias em que inserido. O fato de possuir esta disposição de caráter implicaria que sua ação (ou emoção) consistiria sempre em uma mediedade. Mas isto não mudaria nada se disséssemos que esta disposição é uma disposição que visa o meio, a não ser se quiséssemos, como Urmson, fugir da concepção de mediedade como moderação, o que não parece ser necessário, pois a não aceitação da doutrina da mediedade como sendo uma doutrina quantitativa não implica a Capítulo 7 | Página 157 afirmação de que “a virtude é dita explicitamente ser uma disposição intermediária concernente à ação”, não pode ser compreendida enquanto uma afirmação aristotélica, mas uma leitura, dificilmente palatável de uma provável intenção de Aristóteles que, finalmente, não tem como encontrar guarida na EN. No que tange à (i), Urmson nos dá alguns exemplos para tornar consistente sua sustentação da tese da “disposição intermediária”: (a) o homem cujo caráter é tal que ele sente somente um suave aborrecimento em um menosprezo trivial e é enraivecido pela tortura, tem um caráter que está em um meio entre um que exibe raiva tanto em ocasiões triviais quanto importantes, e um que pode tranquilamente contemplar os maiores ultrajes; (b) o homem de boa têmpera, estará suavemente irado sobre coisas insignificantes e enraivecido por ultrajes; enquanto o irascível ficará demasiado indignado a respeito de coisas insignificantes e o homem plácido, ou impassível, poderá estar pouco ou moderadamente enraivecido pelos piores excessos; (c) “o esquentado”, estará tão sujeito à raiva pela ausência de ajuda da telefonista, quanto pela pessoa responsável por deixá-lo esperando, enquanto o impassível encolherá os ombros. Desta forma, o irascível e o impassível representam dois dos muitos modos de demonstrar excesso e falta, enquanto o indivíduo de boa têmpera, exemplificado em (a) e (b), sempre, e inelutavelmente, apresentará uma disposição intermediária, em toda e qualquer situação, de forma que suas ações (e emoções) estarão sempre num meio, consistindo numa mediedade (quantitativa) entre o excesso e a falta. Isto faculta a Urmson pressupor que o homem de boa têmpera, em outras palavras o virtuoso, poderá agir de modo extremado se a situação assim se lhe apresentar, respondendo adequadamente a esta, ou seja, estará submetido à raiva diante da tortura e do ultraje, o que deno- aceitação da primeira como uma doutrina da moderação. Capítulo 7 | Página 158 taria a falta de sentido de atribuir à doutrina da mediedade o estigma de ser uma simples doutrina da moderação. O problema evoca a argumentação já apresentada em (i), pois o virtuoso é compreendido em termos quantitativos, já que diante de cada situação ele deve apresentar a quantidade correta de emoção, quantidade esta determinada pela razão. Assim, a “disposição intermediária” garantiria o estar no meio tanto às emoções quanto às ações. Isto desloca, e mesmo inverte, o eixo da argumentação aristotélica, porque o ponto não está no fato de que o virtuoso deva exibir tal emoção na quantidade correta, em dada situação, segundo a razão, como consequência de uma disposição intermediária concernente ao meio. A reta razão não determina a quantidade correta, o que depauperaria seu papel, mas ela antes estabelece o modo correto de agir e sentir emoções diante das circunstâncias em que está inserido o agente. A quantidade correta é o resultado de um processo qualitativo construído de uma forma que envolve variáveis diversas, e é a partir desta diversidade de variáveis que passa a fazer sentido a doutrina da mediedade, pois não se deve esquecer que esta mediedade relativa a nós, ou às nossas circunstâncias, está inserida em um processo o qual pressupõe, como já foi mencionado, a reta razão, bem como a experiência e a percepção da relevância moral das particularidades em que está envolvida a ação. No fim deste processo, encontra-se o meio, a mediedade. Por isto, não é possível falar em “disposição intermediária”, o que o próprio Aristóteles não faz. O possível é compreender a existência evidente de uma disposição, de uma hexis, de agir de um modo deliberado, de tal modo que, pelo hábito, seja adquirida uma segunda natureza51 disposta à efetivação do meio, mas cuja efetivação dependerá das circunstâncias e de todo o processo que isto envolve. Deste modo, também, é impossível conceber a doutrina da mediedade como uma simplória doutrina da moderação, mas não nos termos de Urmson, onde o virtuoso, que possui uma “disposição intermediária” entre o eternamente irado e o permanentemente impassível, poderá responder à ocasião de modo extremado se, segundo o exemplo, alguém estiver sendo submetido à tortura. Sua reação será sempre compatível com o evento. É verdade que isto coerentemente afasta uma 51 EN 1152a 32-33. Capítulo 7 | Página 159 concepção da mediedade como moderação, mas apenas nestes termos. O virtuoso não apresenta uma “disposição intermediária” concernente a dois viciosos, o enraivecido e o plácido, mas sim uma mediedade relativa à emoção e à ação, entre o excesso e a falta, em dada situação. Por exemplo, o corajoso enfrentará a morte na guerra, de modo apropriado e pelas razões corretas, pois se não enfrenta incorre em covardia e, se enfrenta, mas não de modo apropriado e pelas razões corretas, recebe o nome de temerário. Certamente quem enfrenta os perigos da guerra como deve não poderia ser exemplo de uma doutrina da moderação. Como ele comportar-se-ia durante a guerra? Deveria o corajoso não ferir extensamente o inimigo, pois poderia conduzi-lo à morte, nem muito levemente, já que este poderia lhe causar danos futuros? III. Parece claro, portanto, que a concepção de Urmson não parece estar em conformidade com a evidência textual que podemos discernir na ética aristotélica, pois embora não completamente descartada, o viés quantitativo é claramente secundário na interpretação da doutrina da mediedade, pois o que parece daí emergir com força é o seu viés preponderantemente qualitativo. Referências bibliográficas ARISTÓTELES. Ethica Nicomachea (I. Bywater, ed.). Oxford: Oxford Classical Texts, 1942. URSOM, J. O. “Aristotle’s doctrine of the mean”. In: Essays on Aristotle’s ethics (A. O. Rorty, ed.). Berkeley: University of California Press, 1980, p. 157-170. URMSON, J. O. Aristotle’s ethics. Oxford: Basil Blackwell, 1988. ZINGANO, Marco. Ethica Nicomachea I 13 – III 8. Tratado da Virtude Moral. São Paulo: Odysseus, 2008 Capítulo 7 | Página 160 Linguagem: Entre Norma e Natureza Prof. Dndo. Juliano do Carmo UFPEL - Brasil Introdução Diversos filósofos contemporâneos têm argumentado que a normatividade semântica é um dos requisitos fundamentais para sustentar a relação entre “compreender” e “seguir uma regra”, por um lado, e afastar por completo a possibilidade do “erro semântico”, por outro. Pensada nestes moldes, a normatividade semântica tem sido amplamente considerada como uma espécie de requisito pré-teórico para a avaliação de teorias razoáveis do significado. A origem deste debate pode ser encontrada na tese de que “o significado é uma noção intrinsecamente normativa”, defendida por Kripke em Wittgenstein on Rules and Private Language (1982). Com efeito, este parece ser o novo lema da filosofia da linguagem contemporânea, cuja pretensão é mostrar que a normatividade impõe restrições intransponíveis a alguns modelos semânticos (em especial aos modelos de semântica naturalizada). A consequência imediata desta posição é bastante conhecida: qualquer teoria semântica que não puder acomodar a tese da normatividade intrínseca deve ser completamente abandonada, pois não conseguirá garantir a conexão adequada entre uma regra (um significado) e sua aplicação. O objetivo de Kripke parece ser, portanto, garantir um critério de correção robusto para a aplicação de expressões na linguagem. Meu objetivo neste trabalho é mostrar que a tese de Kripke1 não é certamente obrigatória, pois, 1 KRIPKE, S. Rules and Private Language. Cambridge: Harvard University Press, 1982. em primeiro lugar, é possível mostrar (como Wittgenstein o fez) que não existe nenhum abismo entre compreender uma regra e sua aplicação e, em segundo lugar, não parece necessário supor algo como “uma normatividade intrínseca do significado” para garantir a correção na utilização da linguagem. Procurarei defender, portanto, que é um erro supor que a normatividade seja o critério decisivo para avaliar teorias razoáveis. A Tese da Normatividade Intrínseca do Significado A ideia de que o significado é uma noção intrinsecamente normativa é apresentada em meio a várias considerações sobre a possibilidade de uma resposta ao suposto ceticismo semântico que Kripke atribui ao Wittgenstein das Investigações Filosóficas. A tese é exposta para garantir a correção do uso de expressões na linguagem e, principalmente, para afastar completamente a possibilidade de se oferecer qualquer teoria do significado como uso puramente disposicional. A suposição de Kripke, compartilhada por muitos filósofos contemporâneos2, é que a questão da normatividade é um obstáculo intransponível para teorias descritivistas, disposicionalistas e naturalistas. Observe a famosa passagem do texto de Kripke. Suponha que eu signifique a adição por “+”. Qual é a relação desta suposição com a questão de como eu responderia ao problema “68+57”? O disposicionalista oferece uma consideração descritiva desta relação: se “+” significa adição, então eu responderia “125”. Mas esta não é a consideração adequada da relação, que é normativa e, não, porém, descritiva. O ponto não é que, se eu significo a adição por “+”, eu responderia “125”, mas que, se eu pretendo estar de acordo com meu significado passado de “+”, eu deveria responder “125”. Erros de cálculo, a finitude de minhas capacidades, e outros distúrbios podem levar-me a não estar dis- Refiro-me aqui a uma ampla gama de filósofos que, além da tese wittgensteiniana a respeito da natureza do significado, assumem também uma noção substancial de intencionalidade e normatividade. Dentre os principais teóricos destacam-se: Baker and Hacker (1985) Saul Kripke (1982), Hans-Georg Glock (1996), Robert Brandom (1994), John McDowell (1998), Tim Thorton (2007), Jaroslav Peregrin (2012), Daniel Whiting (2002), Alan Millar (2000) e, de algum modo, também Anandi Hattiangadi (2010) e Paul Boghossian (2008). 2 Capítulo 8 | Página 162 posto a responder como eu deveria (...). A relação do significado com a intenção de agir no futuro é normativa e, não, descritiva3. O que parece estar por trás dessa suposição é o seguinte: se S significa verde pela expressão “verde”, então, Kripke argumenta, S deve usá-la de determinadas maneiras e não de outras. Caso S não utilize a expressão “verde” das maneiras requeridas, então ele cometeu um erro, ou seja, utilizou “verde” de modo incorreto. O que torna essa tese particularmente intrigante é o fato de que ela tem sido suposta como um critério decisivo para a avaliação ou adequação de teorias razoáveis do significado: qualquer teoria que não conseguir acomodar a restrição de normatividade deve ser completamente rejeitada4. Minha hipótese inicial é que Kripke assume aqui desnecessariamente uma espécie de “relação interna” entre uma regra e sua aplicação. Ora, não é difícil perceber que este ponto vai de encontro ao que Wittgenstein combateu fortemente na segunda fase de seu pensamento. Na discussão proposta por Wittgenstein nas Investigações Filosóficas sobre as noções de compreensão e seguir uma regra, encontramos indícios decisivos para um tipo peculiar de naturalismo, algo que tem sido chamado de “naturalismo pragmático” ou de “naturalismo social”5 (de todo modo, um naturalismo não-reducionista). Com efeito, a ideia de que a compreensão é uma habilidade adquirida (e não um evento interno, ou ainda um processo mental, ou qualquer tipo de experiência) nos permite perceber que os aspectos “internos” são completamente excluídos da explicação sobre a determinação do significado. Na verdade, se o significado dependesse de qualquer determinação interna, então, argumenta Wittgenstein, nada poderia deter a possibilidade de um regresso, pois se o sig- 3 KRIPKE, S. Wittgenstein on Rules and Private Language. Cambridge: Harvard U. Press, 1982. p.37. (tradução nossa). Sobre este ponto ver: GLÜER, K., WIKFORSS, A. Es Brauch Die Regel Nicht: Wittgenstein on Rules and Meaning. In: The Later Wittgenstein on Language, ed. Daniel Whiting, Palgrave 2009. 4 Ver: STRAWSON, P. Ceticismo e Naturalismo: Algumas Variedades. São Leopoldo: Unisinos, 2008.; MEDINA, J. Wittgenstein’s Social Naturalism. In: The Third Wittgenstein. Burlington: Ashgate, 2004. 5 Capítulo 8 | Página 163 nificado dependesse de uma interpretação, então poderíamos meramente substituir uma interpretação por outra, ou ainda uma regra por outra6. Ao invés disso, a proposta do filósofo é muito mais radical: a compreensão é uma habilidade (uma técnica), basta notar que a compreensão da regra de uso da expressão “verde”, por exemplo, é evidenciada na sua aplicação a partir de nossa inclinação natural para “seguir regras”. Isso quer significar que “compreender” e “seguir uma regra” são atividades “imediatas”. Tudo o que os agentes podem fazer é oferecer respostas melhores ou piores ao ambiente de acordo com o treinamento recebido. Se alguém perguntar: ‘por que você segue a regra de utilizar “verde” para coisas verdes e não para coisas amarelas?’, então a resposta não poderia ser outra: “fui treinado para reagir assim, é isso que sei fazer, e não há mais nada que eu possa fazer.”7. O que é particularmente evidente na abordagem de Wittgenstein é a defesa de que em última análise seguimos regras cegamente, ou seja, sem qualquer justificação. Quanto a isso, Baker e Hacker são enfáticos: é um princípio central da filosofia de Wittgenstein o fato de que nada é suficientemente capaz de justificar a gramática por referência à realidade, a gramática (lógica) antecede a verdade8. Se a “compreensão” é uma habilidade e “seguir uma regra” é uma disposição natural, uma espécie de inclinação, então em que medida parece necessário supor algum tipo de normatividade neste processo? O que Kripke parece supor é que somente poderíamos garantir as corretas utilizações de expressões na linguagem se supormos que a relação entre “compreensão” e “seguir uma regra” for de fato uma relação intrinsecamente normativa. Ora, se este é o principal papel reservado à normatividade semântica, então podemos defender que o significado (uma regra) NÃO é intrinsecamente normativo, pois não há nenhuma relação interna a ser investigada entre compreender e seguir a regra. Ou ainda: a relação entre “compreender” e “seguir uma regra” não é normativa porque tal relação de fato não existe, pois não há nenhum abismo entre aquelas noções que necessite a suposição de algo que as relacione. Não 6 WITTGENSTEIN, L. Philosophical Investigations. Oxford: Basil Blackwell, 2009, §§ 201-202. 7 WITTGENSTEIN, L. Philosophical Investigations. Oxford: Basil Blackwell, 2009, §217. BAKER, G. P., HACKER, P.M.S. Scepticism, Rules and Language. Oxford: Blackwell, 1984, p. 99. 8 Capítulo 8 | Página 164 há e nem pode haver algum intermediário entre compreender e seguir uma regras, elas são, como já mencionei, atividades imediatadas. Como, portanto, entender a sugestão de que a relação entre uma intenção e a ação futura deve ser normativa, ao invés de puramente descritiva? Seria possível pensar, por exemplo, que Kripke estaria assumindo a existência de certas normas associadas às intenções: se S pretende dirigir um automóvel, então seria razoável que ele obtivesse uma concessão (ou habilitação). Note, porém, que tais normas (semelhante ao caso dos imperativos hipotéticos kantianos) especificam os intermediários entre a intenção de S e sua realização: “se S deseja p ele deve q”. Sendo assim, seria difícil imaginar que a falha em realizar q implique em falhar completamente em seu desejo de alcançar p. Isso não parece, contudo, ser o que Kripke tem em mente aqui. A ideia geral parece ser a seguinte: existe uma “relação interna” entre as intenções de S e suas ações futuras, essa relação não pode ser apenas descritiva, mas, antes, normativa. Dito de outro modo, se S pretende dirigir um automóvel, então o que satisfaz sua intenção não é “viajar no tempo”, mas, ao invés disso, é “dirigir um automóvel”. Ocorre, no entanto, que “viajar no tempo” ao invés de “dirigir um automóvel” não implica necessariamente que S tenha falhado em fazer o que ele deveria fazer. Logo, dizer que a relação entre “68+57” e sua resposta “125” é interna, não parece garantir que o significado de “68”, “57” e “+”, sejam de fato intrinsecamente normativos. O máximo que poderíamos dizer é que se S oferecer outra resposta que não “125”, então ele não está de fato realizando uma adição (pode de fato estar realizando outra coisa). É altamente enganador, no entanto, pensar que a correção depende da descrição de um estado anímico (interno)9, pois julgamos se S utilizou corretamente seus significados na medida em que ele realiza suas aplicações. A aplicação permanece, contudo, um critério da compreensão10. Por outro lado, parece pouco provável que a relação interna suposta por Kripke entre intenções e ações futuras seja de fato prescritiva. O que poderia ser argumentado aqui é que a relação interna suposta por Kripke é constitutiva11, desde que somar “68+57” e obter o resultado “125” parece ser 9 WITTGENSTEIN, L. Philosophical Investigations. Oxford: Blackwell, 2009, § 180. 10 WITTGENSTEIN, L. Philosophical Investigations. Oxford: Blackwell, 2009, § 146. 11 Este parece ser o ponto que Hannah Ginsborg e Adrian Haddock sugerem em GINSBORG, H., Capítulo 8 | Página 165 uma indicação da própria natureza da soma, pois obter outro resultado, digamos “5”, por exemplo, envolveria reconhecer que “68+57” não representa uma soma. Em outras palavras: ela diz o que é e o que não é propriamente realizar uma soma. Em todo caso, tudo o que podemos antever aqui é que a sugestão de que o significado é intrinsecamente normativo não parece ter nada a ver com normatividade, mas sim com características constitutivas de algumas operações. Nada impede, portanto, que S esteja disposto a oferecer respostas adequadas ao problema “68+57”. O problema é que Kripke pensa que as disposições poderiam determinar os significados das expressões na linguagem, quando na verdade o que fixa os significados não é outra coisa que não a multiplicidade de aplicações, ou seja, significar verde por “verde” depende de um uso regular, um hábito, e não da disposição dos agentes12. O que isso evidencia é que um tipo de comportamento é o que determina um significado, ou seja, o comportamento é anterior ao que se passa na mente dos sujeitos e, como tal, o que é interno não parece interessar para explicar nossas ações (o que Wittgenstein toma por algo externo). Este parece ser o resultado da defesa da tese de que o que é interno não determina o que é externo, o que já evidencia de certo modo a recusa de Wittgesntein à solução comunitarista de Kripke, pois embora haja um apelo explícito ao caráter público da regra (“público” como “não-individual”), ela não depende exclusivamente da comunidade para garantir sua correta aplicação (já que Kripke parece entender “público” como “social”). Contra a tese de Kripke seria possível também assumir que o ceticismo sobre a noção de seguir uma regra, assim como outras formas de ceticismo, surge de uma distorção da noção de relações internas13. O que exatamente significa dizer que há uma relação interna entre regras e ações? Wittgenstein, como bem observam Baker e Hacker, destacou duas características essenciais das relações internas: (1) a relação entre duas entidades é interna somente se é inconcebível que as duas não HADDOCK, A. The Normativity of Meaning. Proceedings the Aristotelian Society, 2012. MCGINN, C. Wittgenstein on Meaning: An Interpretation and Evaluation. Aristotelian Society Series, Oxford: Blackwell, 1984, pp. 74-5. 12 13 Esta é de fato a solução sugerida por Baker e Hacker na análise que estes fazem da obra de Kripke. Para maiores detalhes ver: BAKER, G. P., HACKER, P.M.S. Scepticism, Rules and Language. Oxford: Blackwell, 1984, pp. 106-110. Capítulo 8 | Página 166 estejam nesta relação14 (é necessariamente verdadeiro que elas estejam em tal relação (uma tautologia), ou ainda que seria auto-contraditório supor que elas não estejam nesta relação); e (2) uma relação interna entre duas entidades não pode ser decomposta ou analisada em um par de relações com alguma terceira entidade independente15. É evidente que nada externo às duas entidades relacionadas poderia realizar a mediação entre elas, desde que isso seria tornar a existência de uma relação interna dependente da existência de uma terceira entidade e suas relações com cada uma das entidades do par. Ou bem essa terceira entidade é externamente relacionada aos relata da relação interna, neste caso a natureza da relação interna é distorcida, ou ela é internamente relacionada à elas, caso em que temos uma redundância. Parece realmente difícil conceber a normatividade como uma relação interna, pois ou bem ela é tautológica (trivial) ou não temos como concebê-la como relacionada às ideias de intenção e aplicação futura. De todo modo, a tese da normatividade intrínseca parece mais uma tentativa de recusar a conexão imediata sugerida por Wittgenstein entre compreensão e seguir uma regra, pois nenhum dos problemas que temos elencado até aqui seriam problemas genuínos se assumíssemos que nossos significados são completamente determinados pelos usos que fazemos deles na interação linguística e, que, a fixação de tais significados se dá através da multiplicidade de aplicações. Ou seja, a multiplicidade de aplicações acaba por tornar compreensíveis (através de nossa habilidade de reconhecer respostas bem sucedidas ao ambiente) as regras de uso de nossas expressões. Como seguimos estas regras? Ora, temos uma tendência natural para seguir regras, se preferirem, somos seres dotados com esta inclinação natural, ao captar a regra de uso passamos a utilizá-la cegamente. Segundo Baker e Hacker, “compreender” e “seguir uma regra” são atividades internamente relacionadas e, portanto, não exigem uma terceira entidade. A própria formulação da regra deveria ser ela mesma exibida apenas em seu uso. A compreensão de uma regra e sua “posterior” utilização somente poderia ser exibida na própria ação. Ou seja, nenhuma terceira entidade é necessária aqui. O que faz como que se estabeleça uma relação 14 WITTGENSTEIN, L. Tractatus Logico-Philosophicus. São Paulo: Edusp, 2004, §4.123. 15 WITTGENSTEIN, L. Wittgenstein’s Lectures: Cambridge1930-32. Oxford: Blackwell, 1980, p. 57. Capítulo 8 | Página 167 interna entre regra e aplicação é a própria gramática16. O uso (e não a normatividade) é quem une as duas entidades (regra e aplicação). Note que aqui o argumento é semelhante àquele exposto no Tractatus: o isomorfismo lógico é uma espécie de relação interna entre linguagem e mundo, porém, esta relação é algo que a “figuração não pode afigurar: ela a exibe”17. É importante notar que o caráter imediato das noções de “regra” e “aplicação” não nos autoriza a pensar que “compreender” uma regra seja análogo a compreender uma “relação interna”. Talvez o modo mais correto de se captar o poder explicativo das noções de regras e aplicações seria pensar que não existe aí uma separação. Convém lembrar que Wittgenstein recusou fortemente diversos modelos que sugeriam de algum modo uma ligação entre regras e aplicações. Com efeito, o filósofo nega a tese difundida de que o que liga a regra e sua aplicação seja algo de ordem mental (um ato, estado ou um processo mental, o que implica necessariamente que “compreender” não pode ser algum tipo de tradução mental ou interpretação)18. Resta-nos pensar, portanto, que regras e aplicações possuem uma relação direta (imediata), que se define na prática de utilizá-las cotidianamente sem a necessidade de nenhum intermediário explicativo. Caracterizar corretamente a relação entre uma regra e sua aplicação como interna é negar a possibilidade de se falar com sentido de qualquer entidade intermediária entre uma regra e suas aplicações. Nem ações do significado, nem interpretações cimentam uma regra às suas consequências. Mas também não é uma regra lógica de uma máquina estranha que contém suas aplicações antes de serem aplicadas. As relações internas não são explicadas por recurso aos mistérios da mente, nem são explicadas por invocar algum mecanismo super-físico de um tipo platônico. Relações internas são produtos da gramática, de convenções linguísticas19. Para Wittgenstein, seguir uma regra é um hábito, um costume, e, não algum tipo de processo mental ou mesmo algum tipo de experiência. 16 “É um princípio central da filosofia de Wittgenstein o fato de que não existe nenhuma coisa como justificar a gramática por referência a algo na realidade. A gramática (lógica) antecede a verdade. Ela delimita os limites de sentido; desde que qualquer descrição da realidade invocada para justificar a gramática pressupõe regras gramaticais (...). A Gramática é autônoma”. Ver: BAKER, G. P., HACKER, P.M.S. Scepticism, Rules and Language. Oxford: Blackwell, 1984, p. 99. 17 WITTGENSTEIN, L. Tractatus Logico-Philosophicus. São Paulo: Edusp, 2004, §2.172. 18 WITTGENSTEIN, L. Philosophical Investigations. Oxford: Blackwell, 2009, §201. 19 BAKER, G. P., HACKER, P.M.S. Scepticism, Rules and Language. Oxford: Blackwell, 1984, Capítulo 8 | Página 168 Daí sua famosa afirmação: “compreender uma sentença significa compreender uma linguagem, compreender uma linguagem significa dominar uma técnica”20. Compreender, neste caso, é uma atividade absolutamente natural e automática, pois é uma característica de uma forma de vida, é uma característica do modo como estamos equipados para reconhecer comportamentos bem sucedidos e reproduzí-los. Pensada nestes moldes, a compreensão é um produto biológico e cultural. O naturalismo evidente aqui é sustentado a partir de nossas próprias práticas linguísticas comuns e do papel que elas desempenham em nosso cotidiano. De acordo com o temos visto, portanto, é razoável pensar que se a tese da normatividade intrínseca é suposta para garantir a conexão entre “compreender” e “seguir uma regra”, então, ela deveria ser completamente descartada, pois, em última análise, ela não faz mais do que tentar construir uma ponte para conectar dois extremos que já se encontram inevitavelmente conectados. De qualquer modo, tudo o que podemos concluir até aqui é que se a normatividade possui algum papel no processo de significação, então não deve ser o de conectar “regra” e “aplicação”. Ocorre, no entanto, que há uma segunda suposição que é tomada como um dos pilares centrais da tese de Kripke, a saber: a tese de que a normatividade intrínseca do significado seria a única maneira de garantir a correção do uso de nossas expressões. Vejamos, então, em que medida ela é suficientemente capaz de garantir este propósito. A Hipótese do Erro Semântico Uma das sugestões mais populares21 é que a natureza normativa do significado é proposta por Kripke a partir da constatação da necessidade de se conectar significado e verdade, pois assim teríamos um modo de garantir as aplicações corretas de uma expressão na linguagem. Pelo menos parece ser este o modo que Kripke conduz o seu argumento: se S significa verde por “verde”, então isso parece implicar um conjunto completo de verdades normativas que condicione de algum modo o pp. 123-4. 20 WITTGENSTEIN, L. Philosophical Investigations. Oxford: Blackwell, 2009, §201. Este é o ponto central na análise que Boghossian faz da tese de Kripke. Ver: BOGHOSSIAN, P. The Rule-Following Considerations. Mind 98, 1989. 21 Capítulo 8 | Página 169 comportamento de S com relação a seus usos da expressão “verde”22. Em outras palavras, se S compreende o significado de “verde”, então ele apenas poderia aplicá-la verdadeiramente. Ora, parece difícil entender esta suposição, pois a relação entre verdade e normatividade assim concebida está longe de ser completamente imediata. A mera constatação de que “verde” seja aplicada verdadeiramente em alguns casos e falsamente em outros não parece implicar que ela deva ser utilizada apenas de um modo em particular (verdadeiramente), ou ainda, que exista isso que chamamos de “verdades normativas” no parágrafo anterior. É perfeitamente possível compreender o significado de “verde” e ainda assim não utilizá-la apenas para coisas verdes. Uma hipótese seria supor que a normatividade que está sendo sugerida por Kripke é derivada da intenção que S tem de falar a verdade. Decorre daí que se S deseja falar a verdade, e ele significa verde por “verde”, então seria natural que ele utilizasse “verde” apenas para coisas verdes. Se nosso raciocínio estiver correto, então parece trivial pensar que aquela constatação não nos mostra (sozinha) que o significado seja intrinsecamente normativo. Pelo contrário, tudo o que parece possível concluir é que o significado seria um dos fatores relevantes para a verdade de certos enunciados. Diversos fatores poderiam ser elencados como relevantes para garantir a verdade de nossas aplicações de expressões na linguagem, mas nada os torna imediatamente normativos. Note que notícias negativas sobre a crise econômica mundial podem ser extremamente relevantes para a decisão de S em realizar ou não uma viagem, ou comprar um automóvel, mas estes fatos não são intrinsecamente normativos. Não está claro, também, se a noção de normatividade que Kripke requer é de fato uma noção exclusivamente semântica ou não, ou seja, se o “deve” em questão possui alguma relação com outros tipos de normatividade, como ocorre no caso da obrigação moral ou epistêmica de falar apenas a verdade. Esta é uma observação que deveria chamar nossa atenção, pois dela depende a própria noção de correção. Cometer um erro de aplicação da expressão “verde” é cometer um erro epistêmico, moral, semântico, ou pragmático? Considere o seguinte exemplo: S diz “esta bola é verde”, quando não está de posse da informação de que na verdade a bola está sendo iluminada por uma lâmpada da cor verde. Note que S 22 BOGHOSSIAN, P. The Rule-Following Considerations. Mind 98, 1989. Capítulo 8 | Página 170 está justificado em crer que a bola é verde mesmo quando enuncia uma proposição falsa. Neste caso, porém, qual é a norma semântica que S violou? É fácil perceber que S utilizou adequadamente a regra de uso da expressão “verde” sem violar qualquer norma semântica. Ou seja, a partir da compreensão de que “verde” significa verde, o uso que S faz está semanticamente correto ao expressar sua crença de que a bola é verde. Ao que tudo indica, portanto, parece necessário supor que a utilização de significados pode acarretar em uma falsa declaração, por um lado, e que a aplicação de palavras na linguagem não envolve necessariamente a violação de uma norma semântica. É óbvio que certas normas regulam a utilização de certas expressões que estão necessariamente ligadas à noção de verdade. O problema é concluir a partir disso que o significado seja intrinsecamente normativo. Alguém poderia supor, ainda assim, que a normatividade do significado é importante para tornar possível a própria comunicação, pois se os agentes usam as palavras sem algo que os impulsione a utilizá-las de um modo em particular, então a linguagem seria um “salto no escuro” e nada poderia garantir o sucesso na comunicação. Note, porém, que esta não é uma norma essencialmente semântica, mas sim, pragmática, isto é, ela não mostra que o significado é uma noção intrinsecamente normativa. O que ela mostra é justamente que (1) é perfeitamente possível realizar falsos julgamentos sem violar normas semânticas, (2) é perfeitamente possível realizar falsos julgamentos sem violar normas pragmáticas, (3) parece possível realizar julgamentos verdadeiros e violar tanto normas semânticas, como normas pragmáticas. A sugestão de Kripke torna-se ainda mais problemática quando percebemos que seu objetivo é mostrar que quando S significa verde por “verde”, o que ocorre é que existe algo que guia seus usos, ou seja, que o instrui a utilizar “verde” assim e assim. Isso é particularmente evidente quando Kripke diz “Eu suponho que, ao calcular ‘68+57’ como eu faço, eu não dou simplemente um salto no escuro. Eu sigo direções que eu previamente dei a mim mesmo para determinar que nesta nova instân- Capítulo 8 | Página 171 cia eu deva dizer ‘125’”23. Compreender o significado de “verde” neste caso é estar sujeito a um tipo de normatividade, a um tipo de prescrição. Ora, parece óbvio que este modo de conceber o uso de expressões significativas não parece representar nossa concepção intuitiva de significado. Hannah Ginsborg24, por exemplo, tem sugerido que esse modelo de pensamento parece antes uma consideração filosófica do significado, ou ainda, uma consideração “constitutiva” do significado. É claro que além disso é possível perceber, de acordo como nossa discussão anterior, que supor que algo “diga” a S como ele deve utilizar suas palavras parece comprometer a análise de Kripke com um regresso ao infinito de razões, já que parece difícil pensar no modo como “algo” poderia dizer a S o que fazer em determinadas ocasiões de uso de expressões sem a pressuposição de alguma característica a priori do significado (ou ainda, sem a pressuposição de um fato semântico). Outra maneira usual de tentar compatibilizar a tese de Kripke é procurar delimitar o que extamente se entende por “dever” semântico. Este é um dos pontos que tem sido amplamente destacado na análise contemporânea da concepção semântica de Kripke, principalmente, como bem destaca Ginsborg25, no sentido de encontrar uma maneira de entender este tipo “dever” onde suas formulações não sejam apenas verdadeiras, mas, que sejam verdadeiras de um modo disposicionalista e naturalista. Parte da discussão está voltada a oferecer uma resposta satisfatória à ameaça da tese de Kripke ao naturalismo, pois se o significado é intrinsecamente normativo, então ele implica um tipo de dever e, sendo assim, seria possível transpor os desafios que o naturalismo moral enfrenta para o âmbito semântico (um exemplo disso é a famosa falácia naturalista). É verdade, no entanto, que negar a tese de Kripke não envolve assumir necessariamente algum tipo de naturalismo. Rejeitar a normatividade semântica, no entanto, envolve a principio a adoção de uma concepção onde a determinação do significado se dá de modo inteiramente não-prescritivo. Esta é uma consequência re- 23 KRIPKE, S. Wittgenstein on Rules and Private Language. Cambridge: Harvard U. Press, 1982, p. 10 GINSBORG, H. Meaning, Understanding and Normativity. Proceedings the Aristotelian Society, 2012, p. 129. 24 GINSBORG, H. Meaning, Understanding and Normativity. Proceedings the Aristotelian Society, 2012, p. 130. 25 Capítulo 8 | Página 172 conhecida por diversas correntes teóricas na semântica contemporânea, não apenas naturalistas, descritivistas, disposicionalistas e construtivistas, mas, inclusive, para algumas posições realistas26. Para o realismo semântico de Anandi Hattiangadi, por exemplo, as condições para o uso correto de uma expressão devem ser entendidas como as condições que S deve estar sujeito para que possa referir, denotar, ou predicar verdadeiramente algo de algo. A expressão “aplicar corretamente” é reservada para diversas relações semânticas. Observe os seguintes exemplos (onde x é uma expressão, F é um significado, o é um objeto [ou um referente] para x, e f é uma característica [ou um conjunto de características]): (a) Correção: x significa F → (o) (x é aplicado corretamente à o ↔ o é f); (b) Referência: x significa F → (o) (x faz referência a o ↔ o é f); (c) Denotação: x significa F → (o) (x denota o ↔ o é f); (d) Verdade: x significa F → (o) (x é verdadeiro de o ↔ o é f); Observe que nenhuma dessas expressões é em si mesma normativa (correção, referência, denotação, verdade), pelo menos não no sentido em que Kripke parece requerer. Agora é verdade também que dizer que o significado não é intrinsecamente normativo, não elimina a possibilidade de tomá-lo como extrinsecamente normativo, ou ainda, derivadamente normativo. Na verdade, esta última posição tem sido amplamente defendida por Paul Horwich27 e por Glüer e Wikforss28. Alguém poderia supor aqui que o termo “normatividade” é equívoco e, que, portanto, a tese da normatividade intrínseca poderia ser pensada através de duas maneiras distintas: (1) a normatividade poderia ser suposta como uma espécie de norma-relativa (o metro padrão, por exemplo) e, (2), como essencialmente prescritiva (como a bula de um medicamento, por exemplo). Na verdade, toda a controvérsia contemporânea entre os normativistas reside justamente em assumir um ou outro destes modelos de normatividade. Como veremos a seguir, ne- 26 HATTIANGADI, A. Oughts and Toughts: Rule-Following and the Normativity of Content. Oxford University Press: New York, 2007, p. 63. 27 HORWICH, P. Meaning. Oxford: Oxford University Press, 1998. GLÜER, K., WIKFORSS, A. Es Brauch Die Regel Nicht: Wittgenstein on Rules and Meaning. In: The Later Wittgenstein on Language, ed. Daniel Whiting, Palgrave 2009. 28 Capítulo 8 | Página 173 nhum deles, porém, é suficientemente capaz de garantir a tese da normatividade intrínseca do significado. Conceber a normatividade como uma espécie de norma-relativa seria análogo a defender que ela só pode ser considerada no sentido de garantir a correção do uso de nossas expressões. Neste caso, é uma norma-relativa que se “verde” significa verde, então “verde” apenas é corretamente aplicada para coisas verdes. Ou seja, o significado aqui é tomado como derivadamente normativo, pois funciona apenas como um critério de correção, uma palheta de cores, onde observamos se “verde” foi utilizada de modo correto ou não. Isto é, podemos supor uma espécie de normatividade semântica sem assumir que o significado seja uma noção intrinsecamente normativa. (1) w significa F → ∀x (w é aplicado corretamente à x ↔ x é f). Por outro lado, se a normatividade semântica é tomada no sentido de “prescritividade” (o sentido requerido por Kripke), então se o significado é intrinsecamente normativo ele deveria “dizer” o que S deveria fazer a cada nova instância de uso de uma expressão. É importante notar que, em geral, enunciados prescritivos são enunciados essencialmente práticos29, pois eles orientam (guiam) uma ação (dizem o que fazer, o que evitar, a quem admirar ou a quem culpar). Enunciados não-normativos, por outro lado, como enunciados de fato, por exemplo, não dizem o que fazer, nem quais atitudes tomar, mas, antes, eles são enunciados que “dizem” como as coisas estão. Por exemplo, “chove” é um enunciado sem qualquer conteúdo normativo, ao passo que “não deves matar” é um enunciado, a princípio, repleto de conteúdo normativo. Se, por hipótese, o significado linguístico fosse realmente normativo no sentido defendido por Kripke, então o significado de um enunciado do tipo “Pedro está sentado” não deveria nos dizer como as coisas estão, mas, sim, o que deveríamos fazer quando alguém enuncia um conjunto semelhante de signos. Diferentemente de enunciados morais, que incluem exemplos paradigmáticos onde a normatividade é bastante explícita, os enunciados de fato não mostram de forma alguma qualquer traço de nor- 29 HATTIANGADI, A. Oughts and Toughts: Rule-Following and the Normativity of Content. Oxford University Press: New York, 2007. pp. 39-42. Capítulo 8 | Página 174 matividade30. É óbvio que por trás desse cenário existem outras questões fundamentais que tornam a tese da normatividade intrínseca impraticável. Uma delas é o dilema sobre a possibilidade ou impossibilidade de existir “fatos semânticos” que possam corresponder a enunciados normativos. Existe certo consenso a respeito da ideia anti-realista de que é impossível existir fatos morais objetivos, por que nada no mundo determina o que se deve fazer, ou quais atitudes se deve tomar. É por isso que se os enunciados semânticos são normativos do mesmo modo como os enunciados morais o são (prescritivos), então seria possível defender, contra Kripke, que não existem fatos normativos objetivos. Desse modo, as teorias que se comprometem com a existência objetiva de fatos semânticos enfrentam um dilema: se os fatos semânticos são “fatos naturais”, então elas se comprometem com a falácia naturalista (derivam de um enunciado de fato, um enunciado de dever). Ora, se os fatos semânticos não são fatos naturais, então eles seriam o contrário dos fatos empíricos ordinários, e, assim, seriam incognoscíveis. Perceba que há ainda outra questão por trás destas distinções: o modelo ético naturalista, por exemplo, pressupõe que os enunciados morais são verdadeiros ou falsos em função de fatos naturais. Embora seja difícil distinguir precisamente os fatos naturais dos demais fatos, é usualmente suposto que os “fatos naturais” são aqueles que descrevem estados de coisas (procuram descrever o que é o caso). É, no entanto, uma trivialidade dizer que estes fatos não são, por assim dizer, inerentemente normativos. Todos os enunciados observacionais e teóricos das ciências naturais são descritivos e preditivos, portanto, enunciados completamente não-normativos. O resultado é relativamente óbvio: não há como defender a tese da normatividade intrínseca do significado se por “normatividade” os filósofos entendem “prescritividade”31. Além disso, é bastante intuitivo dizer que a palavra “verde” não prescreve nada, pois ela não diz o que fazer ou evitar, a quem admirar ou condenar. Ao que parece, sequer é possível oferecer uma distinção rígida entre enunciados normativos e HATTIANGADI, A. Oughts and Toughts: Rule-Following and the Normativity of Content. Oxford University Press: New York, 2007. p. 40. 30 31 Este ponto também é defendido por Hattiangadi em: HATTIANGADI, A. Oughts and Toughts: Rule-Following and the Normativity of Content. Oxford University Press: New York, 2007. p. 2. Capítulo 8 | Página 175 não-normativos se assumirmos a tese de Kripke. Entender o significado como intrinsecamente normativo, portanto, é proliferar entidades desnecessariamente. De todo modo, parece difícil perceber como a restrição de normatividade poderia ser essencial para a natureza do significado. Como temos visto, o mero fato de que “verde” signifique verde não implica necessariamente que S deva utilizar “verde” para coisas verdes, pelo contrário, para obtermos o consequente deste condicional seria necessário incluir restrições sobre o modo como S está disposto a utilizar suas palavras. Ocorre, no entanto, que tais restrições excedem a mera normatividade semântica, ou seja, elas não são derivadas unicamente da noção de significado. Isso quer significar que existem diversas razões pelas quais S deva ter disposições para utilizar “verde” para coisas verdes ao invés de utilizar para coisas amarelas. Se S deseja ser facilmente compreendido, então seria trivial pensar que se ele está no Brasil, ele deveria estar disposto a utilizar “verde” para coisas verdes. Mas é importante notar que o “dever” implícito aqui não parece surgir unicamente em função do significado de “verde”. Como alternativa, seria possível defender que não existe uma divisão rígida entre semântica e pragmática, mas isso também não parece esclarecer a questão aqui. O que deveríamos perceber aqui é que julgamentos falsos não poderiam ser considerados como erros semânticos. Novamente, contra Kripke, o problema do erro não parece realmente impor a necessidade de se conceber que o significado seja de fato intrinsecamente normativo. Em outras palavras, a restrição de Kripke não parece atingir o seu alvo, pois permance em aberto a possibilidade descritivista de se conceber a determinação do significado a partir do modo pelo qual S usa ou está disposto a usar as expressões da linguagem. Diversos são também os motivos pelos quais alguém pode cometer um erro semântico (erros de má aplicação) e um deles pode ser justamente o fato de que é perfeitamente possível possuir um entendimento limitado do significado de uma expressão, ou mesmo de um conceito. Note que S poderia facilmente cometer erros de aplicação quando pensa, por exemplo, que “dor” pertence ao escopo do conceito “prazer”. Neste caso, S possui um entendimento parcial a respeito do conceito “prazer”. Em casos limites, seria possível pensar também que dois agentes poderiam utilizar a expressão “prazer” de um mesmo modo, mas ainda assim não compartilharem o mes- Capítulo 8 | Página 176 mo conceito (os dois podem concordar sobre o uso da expressão “prazer”, porém um deles pensa que “dor” também é “prazer”). Não existe, portanto, nenhuma razão forte para pensar que se o significado fosse intrinsecamente normativo, a hipótese do erro semântico estaria eliminada. Considerações Finais O que fizemos até aqui foi mostrar que a tese da normatividade intrínseca do significado defendida por Kripke e por uma série de filósofos contemporâneos (Brandom, Peregrin, Millar, Glock, Boghossian, Haddock, Whiting, etc) é problemática em múltiplos sentidos. Não há, evidentemente, como compatibilizar a tese de Kripke se ela estiver assentada sob os dois principais pilares avaliados aqui: a conexão entre uma regra e sua aplicação, por um lado, e, a hipótese do erro semântico, por outro. Sob estes aspectos não há como concluir que o significado seja intrinsecamente normativo e, portanto, é um erro supor que a normatividade semântica seja de fato uma restrição pré-teórica para a avaliação de teorias razoáveis. Resta-nos dizer algumas palavras a favor de um tipo de normatividade semântica que é altamente compatível com vários modelos teóricos, a saber: a normatividade extrínseca (ou derivada). Um modo de conceber a ideia de normatividade (sem pressupor a tese de Kripke) seria pensar que a normatividade semântica é uma consequência da própria aquisição primitiva de linguagem, pois é fato que ao aprendiz é exigido ao menos que (1) ele obedeça a certas regras da gramática e (2) que compreenda que certos significados estão associados a certas palavras. Assim, por exemplo, uma das regras do português brasileiro para o uso da palavra “leão” é que ela esteja associada a um animal da família dos felinos. Nesse caso, seria possível tornar explícita a implicação normativa de um enunciado ao proferir a seguinte sentença: (a) S deveria significar leão por “leão”. Perceba, no entanto, que a explicitação de uma implicação normativa de forma alguma sugere que a proposição ‘S significa leão pela palavra “leão”’, seja intrinsecamente normativa; a única proposição com implicações evidentemente normativas seria ‘S deveria significar leão pela palavra “leão”’. É importante salientar, também, que não existe razão para pensar que a explicação da “implicação normativa” mostre de Capítulo 8 | Página 177 alguma forma que o significado de qualquer uma das expressões envolvidas em (a) seja em si mesmo intrinsecamente normativo. Existe ainda outra razão para considerarmos como amplamente aceitável a tese da normatividade extrínseca: existem benefícios práticos associados ao uso de palavras em conformidade com as regras ou convenções estabelecidas. Dito de outro modo, pode-se dizer que é bom para qualquer brasileiro dar às suas palavras os significados que em geral são dados em português porque é isso que os membros de sua comunidade fazem, e ele enfrentará dificuldades práticas se não o fizer. Considere novamente o caso das falsas declarações: em situações normais, diríamos que S não deveria deliberadamente realizar falsas declarações32. Na verdade, “não mentir” é uma norma ética: ela revela que existem modos corretos de utilizar a linguagem e modos incorretos (isto é, moralmente corretos ou incorretos). Poderíamos dizer que o que parece estar subscrito em uma norma ética é que mentir é errado porque essa atitude pode levar um ouvinte a assumir uma crença falsa. Além disso, mentir é errado porque em geral há prejuízos práticos para quem age assim. Nesse caso, o erro de mentir deveria poder ser explicado do mesmo modo que a aplicação da palavra “verde”. Isto é, por ser indesejável aplicar “verde” para coisas que não são verdes, e assim por diante. Desse modo, é perfeitamente possível defender um tipo de normatividade semântica compatível inclusive com alguns modelos de naturalismo, pois é possível realizar a redução dos aspectos normativos da linguagem a aspectos inteiramente não normativos. O desejo prático pela conformidade ao significado geral de uma palavra poderia ser explicado na medida em que a conformidade facilita a obtenção de comportamentos bem-sucedidos. Ou seja, a convicção de que a utilização das palavras do modo como elas foram convencionalmente projetadas para ser utilizadas facilita mais a realização dos objetivos de um agente do que nas utilizações alheias ao significado geral. Fica fácil agora perceber que podemos explicar a aparente necessidade normativa do significado sem fazer qualquer consideração a respeito da natureza do significado. E, a partir disso, podemos explicar o motivo 32 Para uma análise detalhada deste aspecto da normatividade, ver HORWICH, P. Meaning. Oxford: Oxford University Press, 1998; e para contrastar esta posição ver: BRANDOM, R. Making it Explicit. Cambridge: Harvard University Press, 1994. Capítulo 8 | Página 178 pelo qual qualquer palavra que signifique leão deva ser aplicada a leões, e, em geral, por que elas deveriam ser aplicadas somente àquelas coisas que são verdadeiras. Portanto, dado que “devemos aplicar leão para leões” (a partir do ponto de vista pragmático), estaríamos autorizados a derivar “x significa leão → x deveria ser aplicado somente a leões” e assim por diante. Referências BOGHOSSIAN, P. The Rule-Following Considerations. Mind 98, 1989. BRANDOM, R. Making it Explicit. Cambridge: Harvard University Press, 1994. FODOR, J. Psychosemantics: The Problem of Meaning. Cambridge: MIT Press, 1987. GIBBARD, A. Meaning and Normativity. In Truth and Rationality: Philosophical Issues, 1994. GINSBORG, H. Meaning, Understanding and Normativity. Proceedings the Aristotelian Society, 2012. GINSBORG, H., HADDOCK, A. The Normativity of Meaning. Proceedings the Aristotelian Society, 2012. GLOCK, H. Dicionário Wittgenstein. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998. GLÜER, K., WIKFORSS, A. Es Brauch Die Regel Nicht: Wittgenstein on Rules and Meaning. In: The Later Wittgenstein on Language, ed. Daniel Whiting, Palgrave 2009. HATTIANGADI, A. Oughts and Toughts: Rule-Following and the Normativity of Content. New York: Oxford University Press, 2007. HORWICH, P. Meaning. New York: Oxford University Press, 1998. _____, Reflections on Meaning. Clarendon Press: Oxford, 2005. KRIPKE, S. Rules and Private Language. Cambridge: Harvard University Press, 1982. LEWIS, D. Conventions: a Philosophical Study. Oxford: Blackwell Publishers, 2002. MCGINN, C. Wittgenstein on Meaning: An Interpretation and Evaluation. Oxford: Blackwell, 1984 Capítulo 8 | Página 179 MEDINA, J. Wittgenstein’s Social Naturalism. In: The Third Wittgenstein. Burlington: Ashgate, 2004. MILLIKAN, R. G. Language: a Biological Model. New York: Oxford University Press, 2005. _____, Language, Thought and Other Biological Categories. Cambridge: MIT Press, 1984. _____, White Queen Psychology and Other Essays. Cambridge: MIT Press, 1993. STRAWSON, P. Ceticismo e Naturalismo: Algumas Variedades. São Leopoldo: Unisinos, 2008. THORTON, T. Wittgenstein: on Language and Thought. Edinburgh: EUP, 1998. WHITING, D. The Normativity of Meaning Defended. Analysis 67.2, 2007. WITTGENSTEIN, L. Philosophical Grammar. Oxford: Blackwell, 2004. _____, Philosophical Investigations. Oxford: Basil Blackwell, 2009. _____, Wittgenstein’s Lectures: Cambridge1930-32. Oxford: Blackwell, 1980. _____, Tractatus Logico-Philosophicus. São Paulo: Edusp, 2004. Capítulo 8 | Página 180 Limites da Teoria Computacional da Mente: Divergências com a Psicologia Evolucionista 1 Prof. Dr. Kleber Bez Birolo Candiotto PUCPR-Brasil Introdução Jerry Alan Fodor (1932- ), em seu texto The Mind doesn’t Work that Way, editado em 2000, procura apresentar os limites da síntese entre a Teoria Computacional de Mente e a biologia evolucionista, denominada por ele de Nova Síntese. Conhecida por psicologia evolucionista, esta síntese congrega a concepção de que a mente é composta por faculdades que se especializaram em solucionar problemas adaptativos específicos, o que resulta no entendimento de que a mente é constituída por um sistema de módulos com funções específicas centradas na sobrevivência e na reprodução. A psicologia evolucionista é defendida pelo psicólogo e cientista cognitivo Steve Pinker, em sua obra How the mind works2, publicada em 1997. Para este, a mente é um sistema de órgãos resultantes da seleção natural que funcionam computacionalmente. Ao ressaltar os aspectos múltiplos do processamento mental humano diretamente ligados à moldagem da seleção natural, Pinker procura sustentar a ideia de que a mente humana segue basicamente um padrão de funcionamento Este texto é uma reorganização da publicação CANDIOTTO, K. B. B. “Nova Síntese”: um diálogo inacabado entre Pinker e Fodor. Rev. Filosofia Aurora, Curitiba, v. 22, n. 30, p. 153-177, jan./jun. 2010. 1 Tomaremos em nosso trabalho a tradução Laura Teixeira Mora, com o título Como a Mente Funciona, publicada em 1998. 2 com origens ancestrais implementado nos cérebros humanos como um programa de computador (software) ao longo do processo adaptativo. Esta concepção inatista de mente defendida por Pinker também é, de certa forma, compartilhada pelo filósofo Jerry Fodor. Contudo, Fodor rechaça a aceitação, segundo ele, exacerbada da biologia evolucionista na explicação do funcionamento da mente. Para Fodor, há limitações da Nova Síntese tanto no seu emprego da Teoria Computacional de Mente quanto no seu exagerado compromisso darwinista. A teoria darwinista, segundo Fodor, não seria uma explicação adequada e definitiva do funcionamento da mente humana, tão pouco haveria uma correspondência entre a explicação teleológica da biologia evolucionista e a ciência cognitiva. Estas oposições entre Pinker e Fodor marcam parte de seus interesses atuais de pesquisa, resultando em um debate ainda inacabado quanto aos fundamentos da psicologia evolucionista. Neste texto, pretendemos o apresentar o debate entre esses autores e avaliar os resultados do emprego da psicologia evolucionista na compreensão dos processos cognitivos, bem como os atuais desafios para a filosofia da mente e para a ciência cognitiva. Devido à prevalência das abordagens da reflexiologia e do behaviorismo, a psicologia, nas primeiras décadas do século XX, passou a adotar como objeto de estudo apenas os reflexos ou o comportamento dos humanos, sem levar em conta a mente. No entanto, com o advento da teoria computacional a partir da década de 1940, num contexto de recusa das pesquisas sobre os processos cognitivos, houve uma significativa mudança no cenário científico. O matemático Alan Turing propôs, neste período, uma nova teoria da máquina ao elucidar a noção de manipulação concreta de símbolos: “manipular” passa a ser concebido como “executar” da maneira de uma máquina3. Nesta máquina hipotética, os símbolos de inputs e outputs poderiam equivaler, de acordo com sua programação, a qualquer uma dentre numerosas interpretações sensatas. Em Syntactic Structures de Noam Chomsky (1957), com sua reformulação na maneira como a linguagem é entendida, a perspectiva cognitiva passa a se fortificar e se tornar um campo de pesquisa próprio. 3 Para um esclarecimento sobre como “funciona” a máquina de Turing, ver ANDLER, 1988, p.35. Sobre o teste de Turing, ver TURING, A. Computing Machinery and Intelligence. In: ANDERSON, A. (Editor) Minds and Machines. Contemporary perspectives in philosophy. New Jersey : Prentice Hall NJ, 1964. Capítulo 9 | Página 182 Ao contrário de Skinner, para quem a linguagem e o pensamento são operantes verbais, Chomsky sustenta a tese de que há uma base inata que possibilita o aprendizado de uma língua: a gramática profunda e gerativa da linguagem. Destaca-se, em Chomsky, o aspecto sintático da linguagem, com a asseveração que há um sistema abstrato de regras que permite as combinações e organizações das palavras. Chama a atenção de Chomsky a capacidade criativa própria dos humanos no que diz respeito à linguagem, uma vez que as combinações de palavras permitem um número possivelmente infinito de sentenças. Isso tudo resulta numa perspectiva inatista da linguagem, da gramática profunda que permite o aprendizado de uma língua. O ambiente teria, assim, um papel de “disparador” da linguagem, mas as regras de sua operacionalização são inatas. Tal posição chomskeniana enfraquece a visão behaviorista do aprendizado, permitindo o fortalecimento da abordagem cognitiva. As pesquisas sobre a cognição se consolidaram na década de 60, tendo como pilares Turing e Chomsky. Tanto a tese da gramática gerativa de Chomsky quanto a da máquina combinatória de Turing influenciaram o meio intelectual das décadas seguintes, concebendo o pensamento como um processamento lingüístico. A abordagem inatista da capacidade lingüística adotada por Chomsky o leva a conceber a linguagem como um “órgão” específico da mente. Tal noção foi fundamental para tese da modularidade da mente de Fodor (1983), na qual o filósofo se propõe a explicar a estrutura mental. A elaboração desta tese teve origem em um curso sobre Teoria da Cognição, desenvolvido juntamente com Chomsky, em 1980 no MIT4. A perspectiva modular da mente apresentada por Fodor, contrário à visão associacionista, compreende a mente como um complexo heterogêneo, com diferentes funções ou noções mentais, tais como “sensação e percepção, volição e cognição, aprendizagem e memória, linguagem e pensamento” (FODOR, 1983, p.01). Sua visão mentalista é corroborada pela afirmação de que a estrutura do comportamento é dependente da estrutura da mente5. É importante destacar que a abor- Fodor, em The Modularity of Mind, destaca na apresentação da obra a importância da parceria com Chomsky. Autores como H. Gardner (2003) até nomeiam Fodor como “o filósofo de Chomsky”. 4 5 “A estrutura do comportamento está para a estrutura da mente, assim como o efeito está para a causa” (FODOR, 1983, p.02). Capítulo 9 | Página 183 dagem de Fodor se refere especificamente à psicologia cognitiva, desconsiderando tanto a psicologia das emoções quanto a psicologia social. Sua teoria modular é uma descrição global representativa da organização cognitiva humana. Para tanto, Fodor propõe um modelo hierárquico da arquitetura da mente que inclui transdutores, um conjunto de módulos especializados e um processador central6. O autor concebe os módulos como órgãos mentais que cumprem funções específicas e independentes, evoluídos para processar determinado conjunto de informações peculiares a sua função. Seu funcionamento é independente do processador central, operando de forma rápida e eficiente. Assim como Chomsky, sua abordagem é inatista, ou seja, a forma de operacionalização destes módulos mentais possui um princípio de organização inato, conforme discutiremos mais a frente. Fodor reconhece a existência de processos não-modulares (mediado por faculdades horizontais), tais como pensamento ou fixação de crenças. No entanto, as estratégias nas pesquisas desses processos praticamente não progrediram. Sendo assim, “os argumentos pela não-modularidade devem ser acolhidos com considerável pessimismo” (Fodor, 1983, p.38). A partir da década de 1970, os estudos sobre a mente passaram a contar com o ressurgimento de uma nova tendência de pesquisa, a psicologia evolucionista. Embora tenha sido concebida na década de 70 a partir do trabalho de E. O. Wilson, Sociobiology: The New Synthesis, a psicologia evolucionista se consolida como uma agenda de estudos propriamente dita apenas na década de 90, com a publicação de The Adapted Mind - The Psychological Foundations of Culture de John Tooby e Leda Cosmides. Desde então, o cenário científico passa a contar com a renovação do interesse pelas bases biológicas do comportamento humano. A psicologia evolucionista estabelece uma síntese entre duas revoluções científicas, a saber, a ciência cognitiva (ou, como alguns preferem, ciências cognitivas7) e a biologia evolucionista. Com a ciência cognitiva ressurgiu o interesse pela explicação do pensamento mediante aspectos internos, porém traduzidos em termos de informação e computação. Já a biologia evolutiva reascendeu os argumentos darwinistas, 6 Para uma apresentação dos fundamentos da teoria modular de mente, ver CANDIOTTO (2008). 7 Sobre o uso no singular ou no plural, ver Andler (1988, p.25). Capítulo 9 | Página 184 mas com acréscimos da genética, concebendo os aspetos adaptativos das espécies mediante a seleção entre replicadores. Segundo Buss (1999), a psicologia evolucionista, uma das mais recentes abordagens psicológicas, pressupõe que os indivíduos estão “programados” pela evolução para se comportarem, pensarem e aprenderem segundo formas que favoreceram a sobrevivência ao longo de várias gerações (princípio de seleção natural). Pressupõe também genes relacionados a comportamentos facilitadores da sobrevivência que passam de geração a geração por que se adaptam aperfeiçoando a forma de sobrevivência e o sucesso reprodutivo (princípio de seleção sexual). Pressupõe ainda que, quanto à aprendizagem, sem negar as influências das forças sociais e culturais sobre o comportamento humano, o ser humano é moldado, na maior parte de seu desenvolvimento, pelo meio ambiente biológico. Na busca de respostas a tais questões, a psicologia evolucionista, ancorada na teoria da evolução, vale-se de pesquisas de outras disciplinas que incluem comportamento animal, ecologia comportamental, biologia nuclear e genética. Entretanto, a constituição do que se chama por “psicologia evolucionista” está sustentada fundamentalmente nos estudos da cognição que, como já apontado acima, abordam os processos cognitivos como sistema de processamento de informação. Com base nas contribuições de Chomsky quanto à compreensão da linguagem, de Turing (e seus continuadores) na modelização da inteligência e da biologia evolucionista quanto à identificação dos motivos adaptativos da linguagem e da inteligência, surgem dois autores contemporâneos que têm produzido teorias próprias sobre a mente humana: Jerry A. Fodor e Steven Pinker. Embora com muitos pontos convergentes, suas teorias divergem em algumas questões, gerando um profundo debate, ainda não acabado, que aqui apresentaremos. Assim como Fodor, Pinker herda muitos elementos teóricos do pensamento de Chomsky. A noção chomskiana de uma gramática profunda de aspecto inato influenciou Pinker a conceber a linguagem como resultante da evolução da espécie humana, como pode ser notado em O Instinto da Linguagem8. No entanto, Chomsky, embora tenha identifi8 “A linguagem não é um artefato cultural que aprendemos da maneira como aprendemos a dizer a hora ou como o governo federal está funcionando. Ao contrário, é claramente uma peça do da constituição biológica do nosso cérebro. A linguagem é uma habilidade complexa e especializada, Capítulo 9 | Página 185 cado um órgão da linguagem, recusava a explicação darwinista de sua origem, questão que Pinker vai além de seu mentor, ao afirmar que a linguagem é decorrente de uma adaptação evolutiva, destinada a desempenhar importantes funções para a espécie humana (PINKER, 2002, p.17). Pinker procura identificar as conseqüências de aspectos de processamento em situações corriqueiras das relações humanas, como a reflexão sobre espaço, número, probabilidade, lógica, objetos físicos, seres vivos, artefatos ou outras mentes, também sobre emoções, religiões, arte, enfim, de tudo o que é dito como propriamente humano, mas que na verdade é resultado do processo evolutivo. Seu ponto de apoio, portanto, é essencialmente a psicologia evolucionista, a fusão entre ciência cognitiva e biologia evolucionista (a primeira procura entender o que é a mente e como funciona, enquanto a segunda se esforça em explicar os motivos que oportunizaram sua existência). Os processos evolutivos operam nos diversos níveis de adaptações, desde os mais simples, como a adaptação visual (percepção), até as mais complexas, como a de representação e compreensão do mundo (descrição e informação) ou os sistemas psicológicos emocionais e, ainda, aquelas mais sutis, como interação social (estratégias de convivência). A singularidade do cérebro humano e de suas capacidades, na perspectiva evolucionista, é fruto de adaptação a seu próprio nicho ecológico. Nos milhões de anos de seleção natural, o desenvolvimento extremo de estruturas corticais, córtex cerebelar e o acúmulo de áreas de associação no neocórtex passaram a estabelecer aspectos específicos da constituição humana. As capacidades cognitivas, por vezes consideradas especiais, para a psicologia evolucionista desenvolveram-se a partir de adaptações individuais e isoladas. Na tentativa de compreender como o cérebro funciona, as adaptações cognitivas cerebrais humanas devem ser consideradas como mecanismos estruturais físicos, neurais. Sendo assim, a mente foi projetada pela seleção natural para solucionar problemas de engenharia e, por isso, é equipada com vários sistemas, entendidos como os órgãos de computação, especializados em resolver seus respectivos desafios. A mente, deste modo, é o resultado da ação que se desenvolve espontaneamente na criança, sem qualquer esforço consciente ou instrução formal, que se manifesta sem que se perceba sua lógica subjacente, que é qualitativamente a mesma em todo indivíduo, e que difere de capacidades mais gerais de processamento de informações ou de comportamento inteligente” (PINKER, 2002, p. 9). Capítulo 9 | Página 186 cerebral, sendo esta ação um processamento de informações. Por isso Pinker afirma que pensar é um tipo de computação. Para tanto, o autor recorre à Teoria Computacional da Mente (daqui em diante TCM), que tem como base Turing, mas referencia Fodor como um de seus fundadores (cf. 1998, p.35). Nesta teoria, crenças e desejos são tomados como informações e estão na forma de símbolos definidos como estados físicos de bits de matéria: os neurônios. Esta equiparação entre neurônios e chips como condutores de símbolos para cérebros e computadores é o pilar da TCM. Se, para Pinker (1998, p.35), a mente é o que o cérebro faz, seu conteúdo é obtido pelos padrões de conexões e das atividades dos neurônios. Assim, a mente é um sistema de órgãos, e não um único órgão, concebidos como faculdades psicológicas9 ou módulos mentais, os quais não estão necessariamente isolados um dos outros, tal como afirmava Fodor (1983, p.71). Os módulos se definem, então, pelas capacidades de ações a partir das informações que estão à sua disposição e não apenas pelos tipos de informações que dispõem. Portanto, mesmo que a mente possua uma complexa estrutura inata fornecida pelo programa genético, Pinker também leva em conta o aprendizado. Cada módulo possui uma forma de aprendizagem própria, de acordo com uma lógica específica. Esta conclusão leva o autor advertir quanto à necessidade de rever antigas metáforas sobre o aprendizado10. Para sustentar a tese adaptacionista de mente, Pinker esclarece que o comportamento humano não deve ser entendido, em sua totalidade, como adaptativo no sentido darwiniano. A psicologia evolucionista entende que o objetivo da seleção natural não é garantir um comportamento biologicamente mais adequado possível11, mas sim 9 Fodor também entende módulos mentais como faculdades psicológicas. Para Fodor, fazendo alusão ao neuroanatomista e fisiologista alemão Franz Gall (1758-1828), as faculdades mentais devem ser abordadas de forma vertical. As faculdades verticais possuem as seguintes características: são específicas para cada domínio; são determinadas geneticamente; encontram-se associadas a estruturas neurais distintas; e são computacionalmente autônomas. Mais detalhes são obtidos em Fodor (1983, p.16-19). Para uma explanação detalhada da necessidade de revisão das antigas metáforas sobre o aprendizado, ver Pinker (2004). 10 11 “Até bem pouco tempo atrás, os cientistas com inclinações evolucionistas sentiam-se na obrigação de justificar atos que se afiguravam um suicídio darwiniano, como por exemplo o celibato, a adoção e a contracepção” (PINKER, 1998, p.52). Capítulo 9 | Página 187 garantir a maximização do número de cópias de seus replicadores: os genes. A seleção natural, portanto, acumula as vantagens obtidas pelos diferentes replicadores, ou seja, “seleciona os replicadores que replicam melhor” (1998, p.419). São os genes que replicam, não os corpos; egoístas, portanto, são os genes, e não os corpos12. Outra linha argumentativa na definição de mente adotada por Pinker é, como se disse, a TCM. Os processos cognitivos são concebidos como processamento de símbolos, em uma forma de linguagem interna (linguagem do pensamento) chamada por Pinker de “mentalês”13. Estes símbolos são disposições de matéria dotados de propriedades representativas e causais, possibilitando a existência de crenças, desejos, imagens, planos e objetivos. Uma representação é, assim, um conjunto de símbolos com correspondentes no mundo e, assim, a mente pode interagir com a matéria. Para ele, a vida dos humanos conta necessariamente com a existência dos estados mentais: crenças, desejos, etc. O otimismo de Pinker em relação à teoria da seleção natural é demonstrada pela afirmação de que esta é a única explicação atualmente possível para a complexidade da vida14. A seleção natural, alerta Pinker, é incoerente para explicar a evolução cultural. A evolução biológica é cega, enquanto na evolução cultural as mutações são dirigidas. A capacidade cognitiva humana é resultado da seleção natural, mas seu produto, a cultura, não segue as leis Este argumento de Pinker é embasado em Dawkins (2001). Para evitar possíveis interpretações equivocadas, Pinker chama a atenção para a distinção entre os objetivos do comportamento humano e os objetivos dos genes. A afirmação de Dawkins de que os genes são egoístas não implica na afirmação de que as ações humanas são necessariamente egoístas. Por isso, a ciência e a moralidade devem ser tratadas em esferas distintas (1998, p.67). “O DNA, evidentemente, não tem sentimentos; ‘egoísta’ significa ‘agir de modos que tornam mais provável a própria replicação’. A maneira de um gene fazer isso em um animal portador de cérebro é programar as conexões do cérebro para que os prazeres e sofrimentos do animal levem-no a agir de modos que um animal aprecie os estados que lhe permitem sobreviver e reproduzir-se” (PINKER, 1998, p.420). 12 Notam-se, neste argumento de Pinker, as influências de Chomsky que, de certa forma, também se estendem a Fodor, nomeadamente em sua obra The Language of Thought de 1975, onde o autor também defende a ideia de uma linguagem inata. 13 14 “A seleção natural continua sendo a única teoria que explica como a complexidade adaptativa, e não apenas uma complexidade qualquer, pode emergir, por que é a única teoria não milagrosa, orientada para frente, na qual o grau em que uma coisa funciona bem tem um papel causal no modo como essa coisa veio a existir” (PINKER, 1998, p.175-176). Capítulo 9 | Página 188 da seleção natural. Para Pinker, “os produtos da evolução não têm de parecer com a evolução” (1998, p.226). A teoria de Pinker lhe impõe uma questão: como as crenças que os humanos têm sobre o mundo correspondem de fato com o mundo? A busca pela verdade, argumenta Pinker, representada pela empreitada científica, não é inteiramente compatível com a forma de pensar natural dos humanos. Para explicar a capacidade intuitiva humana, Pinker retoma novamente sua noção modular de mente, mas ressalta que a mente não é necessariamente equipada com teorias intuitivas inatas ou módulos para as principais formas de entendimento do mundo. De fato, os módulos realizam funções especializadas, mediante uma estrutura especializada obtida pela seleção natural, “mas não necessariamente vêm em pacotes encapsulados” (1998, p.334-335). Inatos, portanto, são os modos de conhecer, mas não o conhecimento, o qual, segundo Pinker, requer aprendizagem. O aprendizado não se define exclusivamente por registros da experiência, mas inclui sobretudo os motivos para serem registrados, a saber, a possibilidade destes registros fornecerem generalizações úteis para o indivíduo que os registra. Por isso, a capacidade intuitiva humana é, para Pinker, produto da evolução, uma vez que as generalizações foram úteis para identificar rapidamente tanto questões visíveis quanto invisíveis. As visíveis, como animais, plantas ou artefatos, geraram uma física, uma biologia e uma matemática intuitivas, úteis, por exemplo, para identificar predadores, alimentos, etc. Já as questões invisíveis, a saber, as crenças e desejos de outras mentes, originaram por sua vez uma psicologia intuitiva útil, por exemplo, para identificar altruístas ou desonestos. As crenças e desejos são indiretamente identificados de forma visível pelo comportamento das outras pessoas, em manifestações como expressões faciais. O comportamento é causado por crenças e desejos nem sempre conscientes, tendo as emoções como suas propulsoras. “As emoções são mecanismos que ajustam os objetivos de mais alto nível do cérebro. Uma vez desencadeada por um momento propício, uma emoção desencadeia a cascata de subobjetivos e subsubobjetivos que denominamos pensar e agir” (PINKER, 1998, p.394). Baseado no argumento de custo/benefício evolutivo de Tooby e Cosmides, Pinker propõe que as emoções sejam compreendidas como universais, trazendo à tona uma série de exem- Capítulo 9 | Página 189 plos, tanto negativos, como medo, repugnância ou ódio, quanto positivos, como felicidade, fidelidade e amizade. Ao se valer da psicologia evolutiva, Pinker (1998, p.543) tem por objetivo associar o que há de específico à natureza humana (seu computador neural naturalmente selecionado) ao conhecimento sobre como o mundo funciona, para entender questões como arte, entretenimento, religião ou humor, que até então não se reconhecia nenhum valor adaptativo, mas que provavelmente favoreceram a aptidão biológica em meios ancestrais. Entretanto, aspectos cruciais que permeiam a explicação sobre como a mente funciona, tais como a consciência, a experiência subjetiva, o livre-arbítrio, a moralidade, entre outros, são colocados por Pinker como enigmas. O autor, ao evitar as tradicionais “soluções” a estes problemas, prefere recorrer à noção de fechamento cognitivo, reconhecidamente a posição adotada por Colin McGinn. Para este autor, os problemas filosóficos centrais contêm uma complexidade tão difícil que são inacessíveis à capacidade cognitiva humana. McGinn (1993, p.55) procura sustentar que há fechamento cognitivo para determinados problemas, tomando como exemplos crianças e animais, os quais não conseguem resolver problemas que, para um humano adulto, são passíveis de solução. Entretanto, McGinn15 não aborda uma questão fundamental: crianças e animais não apenas são incapazes de resolver tais problemas, como sequer conseguem formulá-los. O humano adulto às formula, e tenta resolvê-los, mesmo que para isso tenha que se defrontar com muitos tropeços. Pinker vê com bom grado esta conclusão de McGinn e salienta que a consciência, o eu, a vontade e o conhecimento são enigmas que causam complexidade aos humanos em decorrência da “incompatibilidade entre a própria natureza desses problemas e o aparato computacional com que a seleção natural nos equipou” (1998, p.590). Embora Pinker dê um passo à frente de McGinn quanto à explicação sobre o que nos levou à capacidade de formularmos tais problemas, o fechamento cognitivo parece mais uma daquelas soluções fáceis: desviar-se do problema. “A mente é um computador neural, equipado pela seleção natural com algoritmos combinatórios para o raciocínio causal e probabilístico Podemos usar um argumento do próprio Pinker para evidenciar certo exagero de McGinn quanto à exemplificação do fechamento cognitivo com relação às crianças, ao tratá-las no capítulo 5, como “cientistas” inatos. Para uma exposição completa de McGinn sobre o problema da consciência, ver McGinn (1996, p.40ss). 15 Capítulo 9 | Página 190 sobre plantas, animais, objetos e pessoas” (PINKER, 1998, p.549). Esta tese, sustentada a partir de uma conjunção entre os resultados da teoria da seleção natural no contexto da biologia evolucionista e a TCM da ciência cognitiva, é contestada por Fodor em seu texto The Mind doesn’t Work that Way. Nesta obra, Fodor procura apresentar as incoerências e insuficiências da fusão destas duas teorias, nomeada por ele de Nova Síntese16. Para Fodor, houve uma confiança exagerada de Pinker quanto à relação entre a explicação adaptacionista das estruturas mentais inatas e a teoria da modularidade da mente. Em sua concepção modular de mente, Pinker não leva em conta a existência de um processador central, tal como é a tese apresentada inicialmente por Fodor (1983). Esta Nova Síntese, afirma Fodor, concebe a modularidade de forma maciça17, tendo como base a teoria computacional de Turing: estados mentais têm forma lógica e a função causal de um estado mental depende da identificação de sua forma lógica, a qual pode ser reconstruída mediante a sintaxe de uma representação mental que a expresse (FODOR, 2001, p.16). Com isso, há a necessidade de identificar o mecanismo que permite às formas lógicas possuírem poderes causais, uma vez que a forma lógica do pensamento não está constituída pelas relações associativas entre seus constituintes. Fodor afirma que a solução da Nova Síntese é recorrer ao modelo clássico da TCM de Turing, que entende que a forma lógica de um pensamento sobrevém à sintaxe da correspondente representação mental18. Sendo assim, os processos cognitivos são concebidos como computacionais, onde computação é uma operação formal sobre representações sintaticamente estruturadas. Fodor argumenta que as propriedades sintáticas das representações mentais são constituídas por partes e, por isso, são locais, o que leva os representantes da Nova Síntese a aderirem ao inatismo. Com base no argumento de Chomsky da Fodor denomina por Nova Síntese a abordagem em ciência cognitiva inaugurada pelas publicações de Steven Pinker (Como a Mente Funciona) e Henry Plotkin (Evolution in Mind). Nesta pesquisa, abordamos exclusivamente as teses de Pinker, pois é com este que Fodor tem debatido as questões da psicologia evolucionista. 16 17 “Os psicólogos da Nova Síntese são muitas vezes defensores da tese de que a arquitetura cognitiva é ‘maciçamente modular’ e [...] sua adesão a esta tese lhes levam frequentemente ao adaptacionismo e suas especulações sobre a filogênese da cognição” (FODOR, 2001, p.19-20). 18 Na base da TCM está a constatação de que cada atitude proposicional com uma função causal em uma vida mental existe uma representação mental correspondente (cf. FODOR, 2001, p.18). Capítulo 9 | Página 191 “pobreza de estímulo”19, a mente cognitiva passa a ser abordada mediante uma arquitetura “turingiana” inata de representações mentais sintaticamente estruturadas e de operações mentais sintaticamente guiadas, definidas em função dessas representações. Esta concepção constitui, na visão de Fodor, metade dos fundamentos da abordagem da Nova Síntese. A outra metade é formada pela noção de modularidade maciça e a afirmação de que a arquitetura cognitiva é uma adaptação darwiniana. Contudo, de acordo com Fodor, a concepção do conhecimento como um fenômeno computacional, em sua completude, é insustentável, uma vez que antes de tudo, os processos mentais não são todos modulares. Além disso, na concepção clássica de Turing, a propriedade essencial de uma representação é sua sintaxe e, se houver uma alteração nesta sintaxe, alterar-se-á também a representação. Na teoria de Turing, os processos mentais, por serem sintáticos, são insensíveis às propriedades dependentes do contexto das representações mentais. Fodor se opõe a esta concepção, pois, segundo ele, a complexidade do conhecimento20 não é algo intrínseco, mas depende do contexto, o que invalida o uso da TCM clássica nas explicações dos processos mentais. Não é possível determinar, de acordo com Fodor, qual crença influi na valorização de alguma outra, uma vez que a pertinência de alguma coisa sobre outra depende de sua situação no mundo, ou seja, do contexto. Por isso, a explicação computacional clássica da arquitetura mental impõe limites à ciência cognitiva, pois não dá conta das características globais dos sistemas de crenças e sua inegável relação com os processos cognitivos. Neste sentido, Fodor (2001, p.36) ressalta que há uma contradição na argumentação de Pinker, uma vez que apresenta uma explicação de como é o funcionamento da mente, mas tropeça ao admitir a atual incapacidade de se construir um robô prático. Esta incapacidade se justifica pelo fato de que as representações mentais são sensíveis ao contexto e este é indispensável para a realização de inferências abdutivas cotidianas. Fodor Esta afirmação está em concordância com as idéias de Chomsky, para o qual competência lingüística é, como já dissemos, a capacidade que o falante tem de, a partir de um número finito de regras, produzir um número infinito de frases. Está noção sustenta a tese da gramática universal: a capacidade do ser humano de produzir e compreender um número infinito de sentenças sem, na maior parte dos casos, nunca antes ter ouvido ou produzido, mesmo perante uma escassez de estímulos verbais do ambiente ao qual estão expostas, sem terem recebido instruções formais sobre tal língua. 19 Neste caso, Fodor se refere à complexidade de conhecimentos obtidos por inferências globais, abdutivas, holísticas (2001, p.27). 20 Capítulo 9 | Página 192 pretende esclarecer que, para um robô realizar tais inferências, o problema do modelo ou “frame problem”21 deveria ser superado, questão que segundo o autor não é abordada por Pinker22. Fodor identifica que esta relação se mostra ainda mais problemática quando tal psicologia do tipo “turingiano”, visando impedir a dependência da representação ao contexto e sustentar a noção sintática dos processos mentais como locais, torna-se refém da tese da modularidade maciça, para a qual todo ou a maior parte do conhecimento é arquitetonicamente modular. Fodor (1983) concebe módulo como encapsulado informacional, ou seja, caracteriza-se por ser um corpo de conhecimento (conteúdos proposicionais) inato processado especificamente por mecanismos cognitivos encapsulados. Melhor definindo, módulos são mecanismos inatos de processamento cognitivo encapsulados em relação à informação, sem necessidade de buscar suas razões evolutivas. Assim, procurando rechaçar as conclusões de Tooby e Cosmides quanto à modularidade maciça e à tese de que cada módulo foi selecionado para cumprir uma dada função específica, Fodor observa que não são os órgãos aptos resultantes da pressão evolutiva, mas sim os organismos aptos. Portanto, a evolução selecionou um mecanismo para aquisição de crenças que possibilita atuar adequadamente no mundo (crenças verdadeiras). Tal mecanismo se adaptou mediante interações com outras faculdades do organismo que, enquanto tais, não estão diretamente vinculadas às crenças adquiridas pelo mecanismo. A mente, no entanto, possui uma arquitetura selecionada para conter a capacidade de identificar verda- 21 Um sistema cognitivo, para interagir com o mundo, precisaria atualizar constantemente seu conjunto de crenças decorrentes dos efeitos dessa interação. Entretanto, se tal conjunto de crenças for representado proposicionalmente e tais representações possuem de natureza lógica, atualização do sistema implicaria numa “explosão combinatória”, o que dificultaria ainda mais o sistema executar ações futuras. “‘The frame problem’ é o nome de um aspecto da questão que se refere a como conciliar uma noção local da computação mental com o aparente holismo da inferência racional” (FODOR, 2001, p.42). 22 A afirmação de que o frame problem não foi abordado por Pinker é equivocada. Já no início de sua obra (1998, p.25), Pinker apresenta a premência da questão: “Este problema escapou à observação de gerações de filósofos, tornados complacentes pela ilusória falta de esforço de seu próprio bom senso. Só quando os pesquisadores da inteligência artificial tentaram duplicar o bom senso em computadores, a suprema tabula rasa, o enigma, atualmente denominado ‘problema do modelo’ [frame problem] veio à luz, entretanto, de algum modo, todos nós resolvemos o problema do modelo quando usamos nosso bom senso”. Em seu artigo de 2005 intitulado Reply to Steven Pinker ‘So How Does The Mind Work?’, Fodor reconhece sua falha em uma nota de esclarecimento ao final do texto. Capítulo 9 | Página 193 des, sendo que tal arquitetura cognitiva só é selecionada caso tenha também muitos outros componentes (2001, p.68). Além dessa sua abordagem sobre a modularidade, Fodor ainda procura abalar outro pilar da psicologia evolucionista: a aceitação de que a explicação teleológica própria da biologia é indispensável para a compreensão da cognição. Assim como a computação clássica requer a modularidade para se manter como premissa válida na Nova Síntese, assim também a modularidade necessita do adaptacionismo. Para Fodor, não há razões concretas para afirmar que o darwinismo seja a explicação correta da evolução da mente humana e, por isso, os adeptos desta afirmação estariam apenas comprometidos com uma “irritante visão científica de mundo”23. Esta crítica de Fodor não implica em uma recusa total ao darwinismo, mas na advertência de que, embora possa explicar um pouco das nossas propriedades inatas, a teoria darwinista não consegue esclarecer toda a arquitetura cognitiva. Se para os próprios biólogos este enfoque biológico darwinista da mente é excessivamente especulativo, para os psicólogos, adotar este enfoque é um erro metodológico. Este erro, identifica Fodor (2001, p.82), decorre da inadequada exigência de que as diversas ciências devam possuir coerências e relevâncias mútuas. De fato, as ciências biológicas e as psicológicas são coerentes, todavia, argumenta Fodor, isso não implica que sejam mutuamente relevantes e que, consequentemente, a tese da arquitetura cognitiva seja resultado da adaptação darwiniana. Assim como a teoria da mitose celular, exemplifica Fodor, não depende da geografia lunar, da mesma forma a psicologia não depende a priori da biologia evolutiva. O fato de dois campos serem coerentes ou consistentes não implica que sejam mutuamente significativos e, por isso, as restrições impostas pela biologia evolutiva à psicologia cognitiva, na concepção de Fodor, não derivam de nenhum princípio metodológico (pelo menos nenhum ainda identificado pela filosofia da ciência, muito embora esta ainda não esteja finalizada). Por conseguinte, a aceitação de que a arquitetura da mente evoluiu por pressão seletiva não se justifica por algum “decreto metodológico” (FODOR, 2001, p.84), mas sim por motivos empíricos. Por isso, uma teleologia natural, na conclusão de Fodor, Com esta declaração, Fodor está questionando a aceitação incondicional da teoria da seleção natural como um modelo básico da ciência (2001, p.90-91). 23 Capítulo 9 | Página 194 não tem bases metodológicas seguras, pois pauta-se em especulações e suposições, mas sem provas empíricas passíveis de demonstração24. Por isso, seria um equívoco pressupor que sem uma teleologia natural não há biologia nem ciência cognitiva. Segundo Fodor, esta relação de dependência entre campos científicos é um dos maiores obstáculos para a compreensão dos processos mentais. Posto assim, não há muito sentido em tentar compreender a função de um órgão buscando respostas na evolução por pressão seletiva, entendendo tal função como produto de uma adaptação. Por isso, Fodor (2001, p.81-82) sugere uma abordagem sem o aporte histórico da mente. Assim como a explicação aerodinâmica do vôo das aves pode ser obtida sem recorrer ao conhecimento de como elas chegaram a voar ao longo da história evolutiva, da mesma forma é possível encontrar uma explicação de como sobrevive à mente ao cérebro desconsiderando a evolução de ambos. Tal abordagem seria, ao ver de Fodor, muito mais promissora para integrar a mente na ordem causal, contribuindo de fato para a compreensão do lugar da mente na natureza. 25 Fodor entende que a história da seleção não contribui significativamente à ciência cognitiva, uma vez que as funções da mente não são determinadas pela pressão seletiva. Não é adequado o nexo entre função de um órgão e sua história, estabelecido pela tradição darwinista. Isso implica em uma pretensa e infértil busca de alguma outra função da mente que não seja a fixação de crenças verdadeiras, o que Fodor designa por “anti-intelectualismo darwinista” (2001, p.67). Buscar esclarecimentos para o funcionamento da mente no adaptacionismo implica em tornar a ciência cognitiva mais problemática e distante de uma explicação razoável, ressalva Fodor. A capacidade humana de abduzir, ou inferir a melhor explicação para uma dada situação de contexto, parece um grande limite às pesquisas sobre a cognição. O apelo é demasiado controverso, pois não há indícios concretos em rela“[...] as evidências relativas ao funcionamento atual de um sistema são muito mais acessíveis que as referentes à história de sua seleção. Particularmente, é difícil realizar experimentos com seres extintos” (FODOR, 2001, p.86). 24 25 Cabe esclarecer que a concepção darwiniana de função é sempre diacrônica. Por isso, leva em conta a função dos órgãos intrinsecamente atrelados a sua história evolutiva. No entanto, Fodor observa que é possível pensar outras concepções não darwinianas de função, tomando como exemplo o coração: é possível identificar sua função (bombear o sangue) sem recorrer a seu histórico evolutivo. Capítulo 9 | Página 195 ção à quantidade de alteração genotípica exigida para o humano ter evoluído de um símio antropomorfo. Argumentar que pequenas mudanças fisiológicas foram capazes de gerar tal disparidade de capacidade cognitiva vai contra os princípios darwinistas, que prega o gradualismo. Mas mesmo contrariando estes princípios e adotando a teoria da “evolução aos saltos”26, isso não favorece uma melhor explicação, uma vez que não existem ainda evidências quanto às relações específicas existentes entre as alterações das estruturas cerebrais e as das estruturas cognitivas. Fodor alega que, em absoluto, não há conhecimento algum sobre “as leis pelas quais a cognição sobrevém às estruturas cerebrais, nem mesmo a que estruturas cerebrais lhes sobrevém” (2001, p.89). Fodor, ao revisar as principais bases da Nova Síntese, indica que ela é incapaz de abordar satisfatoriamente processos globais da cognição como a abdução ou a capacidade de inferir a melhor explicação. Deixar tais questões de lado, segundo Fodor, é deixar os aspectos mais importantes e peculiares da capacidade cognitiva humana, pois, “ao que parece, grande parte do que a mente sabe fazer de melhor é abduzir ou inferir a melhor explicação” (2001, p.97). O debate entre Fodor e Pinker quanto à pertinência da biologia evolucionista nas explicações sobre a cognição humana ganhou mais consistência com suas publicações no volume 20 da revista Mind & Language, em 2005: o artigo So How Does the Mind Work?, de Pinker, e a réplica de Fodor. Em So How Does the Mind Work?, Pinker procurou identificar as possíveis falhas dos argumentos contrários à psicologia evolucionista alvitrados por Fodor em The Mind Doesn’t Work That Way. A primeira delas é quanto ao emprego da TCM, que aparece com interpretações distintas entre estes autores. Pinker concebe a computação de forma genérica e ampla, levando em conta sistemas analógicos, paralelos e até mesmo operando por lógica difusa. Por outro lado, Fodor remete-se a abordagem clássica do modelo computacional de mente identificando-o com a Máquina de Turing. Neste sentido, parece que Pinker é bem sucedido ao lembrar que uma Máquina de Turing, por não ter sido jamais erigida de 26 Esta teoria, também conhecida por “equilíbrio pontuado”, foi proposta pelo biólogo evolutivo e paleontólogo Stephen Jay Gould, a qual postula que a evolução ocorreu em inexplicáveis mas progressivos “saltos”, contrariando o gradualismo de Darwin. Capítulo 9 | Página 196 fato, foi apenas uma construção matemática conveniente e não um protótipo de um computador operacional, muito menos um modelo adequado para a compreensão da mente humana. Além disso, máquinas de Turing, observa Pinker, não são sensíveis à estrutura de representações, uma vez que se limitam a identificar apenas um símbolo por vez. Pinker se mostra tão contrário ao emprego da Máquina de Turing como modelo de compreensão da mente que se opõe até mesmo a uma questão simpatizada Fodor: que a versão da TCM de Turing toma processos mentais como operações definidas em representações mentais sintaticamente estruturadas muito semelhantes a sentenças. A crítica de Fodor é quanto à limitação deste modelo, pois seu processamento informacional é de aspecto local, como a informação no interior de uma proposição, apresentado limitações práticas como responder a propriedades globais de um conjunto completo de proposições. Mas Pinker menciona que esta premissa é irrelevante, uma vez que o modelo computacional de mente aludido em Como a Mente Funciona não diz respeito à versão clássica, relembrando seu esforço nesta obra em diferenciá-la das demais versões atuais de computação. Um ponto desta defesa de Pinker é que Fodor, ao atacá-lo, não reconhece a capacidade dos computadores reais quanto a alcances mais globais e flexíveis, como os mecanismos de busca da internet. Segundo Pinker, este seria um caso adequado para indicar a capacidade global dos computadores, uma vez que ao buscar palavras-chave no “procurador”, o processamento não se dá diretamente na totalidade da Rede, mas procura responder a propriedades globais como a página mais relevante para o item da procura, por exemplo. Pinker, portanto, acusa Fodor de omissão ao tomar uma TCM ultrapassada, não considerando os atuais (e reais) os sistemas de produção, redes semânticas, linguagens de representação do conhecimento, sistemas de unificação, sistemas simbólicos conexionistas híbridos, entre outros. Mesmo que Fodor tenha realmente omitido estes avanços na teoria computacional, sua crítica se torna mais desafiadora para Pinker ao ter trazido à luz os problemas da “abdução” e do “frame” como o principal motivo da inadequação dos enfoques computacionais como modelo da cognição. Para Fodor, a principal crise da ciência cognitiva está na constatação da incapacidade de sistemas computacionais serem compatíveis com as produções da abdução humana. Mas Pinker contrapôs, afirmando que os cientistas cognitivos já possuem uma compreensão Capítulo 9 | Página 197 aproximada (e não total) do tipo da arquitetura cognitiva que explicaria a inferência abdutiva, como as redes de satisfação-restrição, não levada em consideração por Fodor. Os resultados obtidos pelas redes de satisfação-restrição, segundo Pinker, podem contribuir significativamente para a explicação tanto dos raciocínios de senso comum quando da percepção, levando certas propriedades como direcionalidade de conteúdo e complementação de padrões (cf. 2005, p.13), que complementariam teoricamente a insuficiência dos modelos clássicos alegada por Fodor (a incapacidade de sustentar um sistema de crenças que contemple alguma propriedade global mediante computações estritamente locais). Ao considerar as redes de satisfação-restrição, Pinker faz menção não ao clássico modelo conexionista, mas aos sistemas simbólicos conexionistas híbridos que “conseguem” manter a direcionalidade de conteúdo e a capacidade de complementação de padrões, conjugado-as com a sensibilidade à estrutura de arquiteturas de processamento de símbolos. Isso, ao ver de Pinker, invalida o argumento de Fodor quanto à exclusividade humana de abdução da melhor inferência. Entretanto, Fodor (2005, p.27) responde esta acusação de Pinker e considera-o demasiadamente otimista com relação aos resultados atuais da ciência cognitiva. Para Fodor, Pinker não apresentou nenhum exemplo evidente de sistema computacional que tenha alcançado de fato a capacidade abdutiva humana. A questão que se coloca com relação à satisfação-restrição é que, para alcançar globalidade, deve fazê-lo mediante o preço do holismo. Mas, para Fodor, os modelos holistas de pensamento carecem de todos os tipos de propriedades que são marcadamente característicos da cognição humana. Pinker menciona que Fodor não consegue apresentar provas de que os seres humanos possuam uma capacidade confiável de inferências abdutivas, e por isso a natureza das inferências do senso comum é a heurística. Entretanto, Fodor não está convencido de que, até o momento, houve de fato um experimento que tenha alcançado êxito quanto aos problemas da cognição do senso comum. Por isso, a heurística, ao ver de Fodor, não resolve a questão, pois restaria saber o que determina uma Capítulo 9 | Página 198 pista ser útil e o que leva a tomada de decisão de um humano. Parece que esta questão ainda está aberta. Outro item desta discussão é quanto ao emprego da modularidade nos argumentos de Pinker, interpretada por Fodor como maciça. Pinker, como vimos, entende a mente como algo que possui um conjunto de subsistemas dedicados a raciocínios e metas peculiares para um conjunto de problemas específico, distinguindo-se parcialmente da concepção de módulo mental fodoriano como um processador encapsulado informacionalmente. Entretanto, Pinker não inclui em sua arquitetura da mente o conceito de processador geral, o qual, para Fodor, daria conta dos aspectos globais da cognição humana, como a abdução. Para se aproximar a esta ideia, Pinker remete-se a uma distinção entre módulos enquanto processadores encapsulados (os de Fodor) e módulos com um aspecto mais genérico, como subsistemas, voltados a uma organização funcional específica de domínios (sua concepção). Entretanto, Fodor menciona que a noção adotada por Pinker não explicaria suficientemente a capacidade abdutiva humana, pois um número restrito de módulos seria incapaz de realizar processos globais. Estes subsistemas de Pinker, os módulos, podem ser comparados aos órgãos do corpo, embora tal comparação se apresente de forma vaga. Pinker parece fazer esta analogia para se referir ao funcionamento especializado dos módulos. Segundo Pinker, retomando a tese de Tooby e Cosmides, os problemas dos ancestrais humanos não eram gerais, mas específicos. Por isso, os módulos se especializaram para resolver problemas específicos. Até mesmo as interações sociais (altruísmo, identificação de desonestos, etc...) que parecem ser problemas gerais, seriam, no entender de Pinker, reflexos de problemas específicos. Para Fodor, os argumentos de Pinker quanto às interações sociais são exemplos superficiais, uma vez que a tese da modularidade (maciça ou não) é uma afirmação empírica sobre como a cognição realmente funciona. Para tanto, continua Fodor, sua plausibilidade depende de quão bem representa as propriedades empíricas de que a cognição de fato exibe, especialmente, sobre a forma como representa a globalidade e a integração dos sistemas de crença. O debate dos autores se debruça finalmente nas aplicações da teoria darwinista para o entendimento da cognição humana, ponto em que o discussão se torna mais polêmica. Fodor, em The Mind Doesn’t Work that Capítulo 9 | Página 199 Way, foi intensamente contra a noção de Pinker de que a teoria da evolução é uma explicação correta das habilidades cognitivas, a qual também se estende aos vários aspectos da natureza humana. Fodor, por outro lado, não vê significativas vantagens na relação entre biologia evolucionista e ciência cognitiva. Como vimos, Fodor, mediante uma comparação entre psicologia e botânica para se referir a irrelevância entre psicologia e biologia evolucionária, argumenta que não há motivos metodológicos claros para que duas áreas coerentes entre si sejam mutuamente relevantes. Tal argumento de fato é frágil e, por isso, não foi poupado por Pinker. Realmente, nem todos os pares de ciências têm objetos de pesquisa sobrepostos, porém isso não implica na impossibilidade de relevância mútua entre algumas disciplinas. Esta crítica de Fodor parece contrariar as propostas contemporâneas de interdisciplinaridade que visam buscar melhores respostas para certos objetos de pesquisa complexos. Mas Fodor se defende ao salientar que ele tinha em mente a questão da “relevância mútua”, da consiliência, isto é, a ideia de que a concordância de duas ou mais induções retiradas de diferentes grupos de fenômenos seja uma condição a priori para a adequação das teorias científicas (FODOR, 2005, p.30). Esta observação de Fodor é importante, pois propõe uma postura crítica quanto ao emprego da interdisciplinaridade, questão que não ficou clara em The Mind Doesn’t Work that Way. Quanto ao tratamento dado por Fodor ao termo função como algo independente da teoria da seleção natural, Pinker acusa-o de ter se rendido ao tradicional e superficial argumento da circularidade27. Para Pinker, é inaceitável que um cientista cognitivo aborde a funcionalidade sem se valer da seleção natural, uma vez que não há como recorrer atualmente a alguma outra teoria que dê melhores resultados. Vale ressaltar que Pinker não menciona em momento algum que a teoria da evolução é definitivamente a única para a explicação da mente, mas que é a melhor até o momento, e é falsificável (como toda teoria científica deve ser) quanto ao surgimento de uma funcionalidade biológica. Assim sendo, prevalece a defesa de Pinker ao destacar o papel positivo da seleção natural para as descobertas científicas, na busca de novas hipóteses que levam a novos experimentos sobre a funcionalidade de determinadas habilidades humanas vistas até o momento A ideia de que a seleção natural leva à sobrevivência do mais apto conduz ao questionamento de como constatar que os que sobreviveram são, de fato, os mais aptos. A resposta poderia ser o fato de terem sobrevivido, ou seja, “aquele que sobreviver sobreviverá”. Tal argumento é, portanto, circular. 27 Capítulo 9 | Página 200 sem função ou com alguma sobrecarga culturalista. Mas, somada com a crítica de Fodor, podemos afirmar então que a seleção biológica é uma forma de abordar a funcionalidade, mas não a única, e que ela fornece mais especificamente uma contribuição heurística para a psicologia. Sem dúvidas, há limitações da TCM frente a sua conjunção com a biologia evolucionista. Entre elas, temos a insuficiência da posição-padrão do darwinismo para a compreensão das capacidades cognitivas humanas; ainda não é possível obter explicações completas (e conseqüentes reproduções) sobre certos processos cognitivos, como a capacidade de tomar decisões holisticamente. Não obstante, contrariando Fodor (2001, p.52), tais limitações não representam motivos de estagnação da ciência cognitiva. Mesmo que os atuais resultados sejam incapazes de fornecer uma resposta completa sobre o funcionamento da mente, os estudos sobre os processos cognitivos e suas possíveis simulações devem ser vistos como desafios. Em relação a tal debate, Pinker traz uma série de afirmações; Fodor, uma série de negações. A síntese é o que temos: uma psicologia que atualmente está entre a ciência biológica e a ciência cognitiva, mas que ainda resiste a se entregar totalmente a uma delas. Referências ANDLER, D. (org). Introdução às ciências cognitivas. São Leopoldo: Ed. Unisinos, 1988. BUSS, David M. The great struggles of life: Darwin and the emergence of evolutionary psychology. American Psychologist. Vol 64(2), Feb-Mar 2009, 140-148 CANDIOTTO, K. B. B. Fundamentos epistemológicos da Teoria Modular da mente de Jerry A. Fodor. Trans/Form/Ação, São Paulo, vol.31, n.2, 2008, pp. 119-135. CHURCHLAND, P. M. Matéria e consciência: uma introdução contemporânea à filosofia da mente. São Paulo: Editora UNESP, 2004. DAWKINS, R. O Gene Egoísta. (Col. O Homem e a Ciência) São Paulo: EDUSP, 2001. FODOR, J. A. Reply to Steven Pinker ‘So How Does the Mind Work?’ Mind & Language, Vol. 20 No. 1, 2005. Capítulo 9 | Página 201 FODOR, J. A. The Language of Thought. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1975. FODOR, J. A. The Modularity of Mind. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1983b. FODOR, J. A. The Mind Doesn’t Work That Way: The Scope and Limits of Computational Psychology. Cambridge, Massaschusetts: The MIT Press, 2001. GARDNER, H. A nova ciência da mente. 3ªed. São Paulo: EDUSP, 2003. HODGES, Andrew. Alan Turing and the Turing Test. In: EPSTEIN, Robert & PETERS, Grace (Eds.) The Turing Test: Philosophical and Methodological Issues in the Quest for the Thinking Computer. Kluwer: Springer, 2009. MCGINN, Collin. The Character of Mind. New York: Oxford University Press Inc., 1996. PINKER, S. Como a Mente Funciona. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. PINKER, S. Do que o Pensamento é Feito. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. PINKER, S. O Instinto da Linguagem: como a mente cria a linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2002. PINKER, S. So How Does the Mind Work? Mind & Language, Vol. 20 No. 1 February 2005. PINKER, S. Tabula Rasa: a negação contemporânea da natureza humana. São Paulo: Cia das Letras, 2004. VIGNAUX, G. As ciências cognitivas. Lisboa: Instituto Piaget, 1991. Capítulo 9 | Página 202 Algunas Insuficiencias de la Democracia Competitiva para Superar Patologías Sociales Prfª. Luciana Soria1 UDELAR - Uruguai Introducción Este trabajo pasa revista a algunos de los principios centrales de la Democracia Competitiva expuestos por Kaare Strom y Cox y McCubbins, para posteriormente identificar algunos aspectos deficitarios en dicha comprensión. A partir del diagnóstico habermasiano de la Modernidad y la consiguiente distinción entre sistema y mundo de la vida, se conceptualiza a la democracia competitiva como un discurso sospechosamente ideológico al no contemplar patologías sociales como las de la apatía política de las actuales sociedades civiles, que podría ser eventualmente superada por el modelo de democracia deliberativa. Si bien aquí no nos comprometemos con un modelo específico de deliberación, sostenemos que las propuestas deliberativas, más allá de algunas diferencias, contienen un potencial normativo adecuado para la reconstrucción de los lazos sociales solidarios y el reconocimiento intersubjetivo. 1 Licenciada en Filosofía por Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE), Universidad de la República Oriental del Uruguay (UdelaR). Maestranda del Programa “Maestría en Ciencias Humanas”, opción “Filosofía Contemporánea”, UdelaR- PUCRS. Algunas nociones de la democracia competitiva: la maximización de votos y el partido-cartel El auge de la libre competencia de diversas organizaciones y grupos de interés en el espacio público excluye a la ciudadanía del ámbito de las decisiones colectivas, ello revela el liderazgo de la democracia competitiva en el escenario político. El funcionamiento de los partidos políticos es el ejemplo paradigmático de dicha competitividad. Según lo define la literatura preponderante de la Racional Choice en la Ciencia Política: el objetivo fundamental de los partidos es mantenerse en el poder y en este sentido su acción es estratégica, se dirigen a maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas electorales. Kaare Strom ditingue tres modelos teóricos del Racional Choice: 1) El modelo de la maximización de votos (The vote-seeking party), inspirado en la obra de Downs, sostiene que los partidos son asociaciones que buscan maximizar su apoyo electoral con el fin de controlar el gobierno. 2) El modelo de la maximización de cargos (The office-seeking party) sostiene que los partidos buscan obtener cargos para controlar el diseño de las políticas públicas, el acceso de los partidos a las políticas, aumenta los cargos de gobierno y potencia de los recursos en su manejo del control y del poder. 3) El modelo de la maximización de políticas (The policy-seeking party) sostiene que los partidos buscan controlar el proceso e implementación de las políticas públicas. A diferencia de los otros dos modelos teóricos, este último afirma la importancia de las disposiciones ideológicas de los partidos a la hora de acordar el diseño de las políticas públicas. Kaare Strom, señala que los tres modelos, conciben a los partidos como entidades aisladas e independientes, y cuestiona la ausencia de una comprensión del marco institucional y del contexto en que juegan los partidos. En esta línea, sostiene que ningún partido es estrictamente maximizador de votos, de cargos o de políticas, sino que diversas estructuras institucionales promueven en diversos momentos la maximización de ciertos objetivos o su simultaneidad. Por ejemplo, la conquista de la influencia política y los beneficios del cargo son objetivos compatibles. En suma, Strom propone un análisis “más completo” del comportamiento de Capítulo 10 | Página 204 los partidos, que incluya la comprensión de sus aspectos organizacionales, así como el marco institucional en el que juegan. En este sentido, define a los partidos como maximizadores de votos, de cargos y de políticas.2 En la misma línea, Cox y McCubbins sostienen que la Cámara Legislativa es un ámbito desordenado y difuso de interacciones, donde fuerzas políticas iguales confrontan entre sí. En este ámbito de absoluta imprevisibilidad, los legisladores no están seguros de que mañana puedan perder los beneficios electorales que les fueron conferidos hoy. La ausencia de una organización partidaria que regule acuerdos mínimos en el ámbito legislativo, y el predomino de la búsqueda del bien individual, refuerza la inseguridad y la impredecibilidad del orden del día. En este contexto, los partidos se enfrentarán a los problemas de acción colectiva, particularmente al problema de aquellos actores (free riders) que maximizando su interés personal, no están dispuestos a votar medidas partidarias que no los beneficien en algún sentido (ya sea aumentando las posibilidades de su reelección, mejorando su status, etc). Frente al estado de naturaleza hobbesiano con el que los partidos deben lidiar, y para hacer frente a la imprevisibilidad y los problemas de acción colectiva, los partidos asumen la estructura organizacional de los cárteleles (al estilo de cárteles económicos). El partido-cártel produce coaliciones duraderas (procedural coalitions) y garantiza cierta seguridad y organización a los partidos. A través de la organización cartelizada, los partidos se organizan al estilo empresarial gerencial (accountancy firms) y crean una marca de partido (brand name). Al estilo de un bufet de abogados, los socios más antiguos (senior partners) dan las directrices estratégicas y tácticas de la dirección de la firma. En este marco, los líderes de partido político buscan reducir los costos de transacción y mejorar los problemas de acción colectiva. De este modo, sostienen Cox y McCubbins, los partidos políticos tienden a resolver los problemas de acción colectiva, y eliminar la competencia monopolizando el ámbito de poder. La estrategia de establecer un partido cartelizado exige un comportamiento coordinado a través de un acuerdo implícito entre sus miembros al estilo de un cártel económico. Al igual que en la esfera económica, Cox y McCubbins, utilizan el término “cártel” en la arena polítiCfr. Kaare, Strom, A Behavioral Theory of Competitive Political Parties, en American Journal of Political Science, University of Minnesota, 1990, Vol. 34, No. 2, p.p. 565-98. 2 Capítulo 10 | Página 205 ca, para referirse “al monopolio colectivo de un recurso particular”, (en este caso, en el poder de fijar agenda.). Los líderes centrales del partido político trazan las estrategias y tácticas para maximizar el beneficio mutuo y buscan aumentar el prestigio y la reputación del partido frente a la ciudadanía. El interés común de los integrantes del partido mayoritario es el poder de agenda a partir del cual determinan qué proyectos de ley serán considerados y bajo qué procedimientos. Por lo tanto, el partido funciona como un cártel cuando los legisladores tienen incentivos para actuar de forma coordinada, para ello buscan monopolizar los cargos que cuenten con poder de agenda positivo o negativo para controlar el orden del día del Poder Legislativo. Un partido o coalición tiene el poder de agenda cuando es capaz de definir al presidente y a los presidentes de las comisiones más relevantes, controla los procedimientos para confeccionar la agenda del plenario, controla la selección de sus propios miembros en las comisiones permanentes, y obtiene en la acción colectiva la porción de beneficios legislativos disponibles. Cuando el partido está cartelizado los legisladores del partido mayoritario regulan los resultados legislativos bajo el mandato de que no se apoyarán proyectos de ley que puedan provocar una división interna dentro del partido, y que se deberán apoyar los proyectos de ley que la mayoría del partido vota. 3 Siguiendo las líneas generales de su libro “Legislative Leviathan” Cox y McCubbins desarrollan algunos de sus principios que regulan el procedimiento cartelizado de los legisladores: el interés de los miembros del Congreso para ser reelegidos, la influencia de la reputación individual de los integrantes del partido en la reputación colectiva, el poder de los líderes para fijar la agenda legislativa, entre otros. En síntesis, un partido cartelizado es para Cox y McCubbins una coalición de legisladores que logran la mayoría de la Asamblea y unidos por un “common label” están dotados de fijar poderes agenda de gobierno siguiendo ciertas estrategias básicas. 3 Cfr. Cox, W. Gary, Setting the agenda, Responsable Party Government in the U.S. House of representative, San Diego, University of California: Cambridge University Press, 2004, p.p. 17-36. Capítulo 10 | Página 206 Supuestos de la de la democracia competitiva A partir de la exposición de las nociones de los partidos como maximizadores de votos (Kaare Strom) y como organizaciones cartelizadas (Cox y McCubbins), podemos vislumbrar que los análisis predominantes en la Ciencia Política destacan la preocupación de los partidos por el triunfo electoral y la conservación del poder. Las descripciones del campo político de la Escuela del Racional Choice parecerían estar incrustadas en algunos presupuestos básicos del paradigma de la economía empresarial: así como las empresas compiten por las preferencias en el mercado, los partidos políticos compiten por las preferencias ciudadanas en un escenario carente de cualquier normatividad. Pero esta afirmación requiere de mayor demostración.4 Muchos fenómenos que nos pueden resultar inquietantes desde la mirada filosófica, resultan totalmente aproblemáticos en el paradigma de la democracia competitiva. Entre ellos podemos subrayan, el desinterés y desinformación generalizada de la ciudadanía por los asuntos políticos, junto con un empobrecimiento cada vez mayor del debate y la discusión pública. En este trabajo tenemos interés de presentar a la apatía como un problema creciente en el subsistema de la política y en las sociedades contemporáneas. Antes de presentar la apatía política como una patología social, voy a exponer, algunos supuestos de la democracia competitiva para analizar su problematicidad. En este diagnóstico, me voy a basar en algunos análisis de la corriente neo-republicana, que liderada por Philpps Pettit, Sunstein y Skinner, realizan fuertes cuestionamientos a los que definen como una visión liberal de la política.5 (1) El problema de las preferencias: la democracia competitiva parte de la comprensión de que las preferencias individuales se presentan como un “hecho puro” y/o realidad dada. El individuo es un ser constituido y autónomo. En virtud de ello se restringe la función de los partidos políticos a la competencia por captar el Uno de los objetivos de mi investigación radica en indagar sobre las raíces teóricas del Racional Choice en la economía y su traslación hacia algunas corrientes teóricas de la Ciencia Política. 4 5 Cfr. Ovejero, Félix, Marti, Jose Luis, Gargarella, Roberto, Philip, Pettit, Republicanismo, una teoría sobre la libertad y el gobierno, Barcelona: Paidós, 1999. Capítulo 10 | Página 207 mayor número de preferencias ciudadanas, no se pone en juego ningún proceso de discusión o análisis de las mismas. (2) La brecha entre espacio público y el espacio privado: también se parte del distanciamiento entre el espacio público y la vida privada de los individuos. El campo de lo político es monopolio de ciertos agentes, cuyo conocimiento especializado los faculta para el ejercicio del poder. (3) La reducción de la libertad: se comprende a la libertad en términos negativos; las libertades negativas son el límite infranqueable para la definición de la identidad: el sujeto puede ejercer plenamente las potencialidades de su personalidad en tanto no se le presenten obstáculos externos.6 A partir de los supuestos de la democracia competitiva podemos vislumbrar que profundizan algunos problemas del “déficit de socialidad”7, producto de la ruptura del vínculo social al que asistimos actualmente. De cada uno de los supuestos planteados se deriva cierto malestar o desviación: (1) La concepción de las preferencias como una realidad dada, sin ningún tipo de análisis acerca de cómo se produce su constitución, parte de una idealización del sujeto político que no corresponde con la subjetividad encarnada en las situaciones concretas. La concepción competitiva considera que las preferencias ya formadas son variables exógenas y conforman el trasfondo pre-político para la lucha política (background jurídico-político). El objetivo del sistema es asegurar que los diversos inputs se reflejen con claridad en la legislación, volviéndose un sistema que agrega las preferencias.8 Sunstein sostiene que el atractivo de esta concepción (que él denomina pluralista) se sostiene en su fundamentación utilitarista, su esfuerzo por respetar las preferencias existentes y el deseo de evitar los riesgos de la tiranía. Pero estos argumentos se debilitan mucho, sostiene Sunstein, si se demuestra que “algunas preferencias son objetables o el producto de 6 Ibídem., p.p. 117-121 Concepto que Bauman usa en el sentido de estar con otros en la perspectiva de responsabilidad con los otros. 7 Cfr. Sunstein, Cass, Más allá del resurgimiento Republicano, en Republicanismo, una teoría sobre la libertad y el gobierno en Republicanismo, una teoría sobre la libertad y el gobierno, Barcelona: Paidós, 1999, p.p. 141-144. 8 Capítulo 10 | Página 208 instituciones preexistentes injustas”. En este sentido, quizá, el objetivo de la política sea identificar las “preferencias distorsionadas” o “problemáticas” mediante procesos de discusión y debate público. La democracia competitiva presupone subjetividades potentes para la elección y la decisión, de modo tal que idealiza a los individuos como seres “autosuficientes” y “autoconfiados”, por ello no considera la vulnerabilidad y la fragilidad de los individuos en las sociedades contemporáneas.9 Para superar estos estados de “disonancia cognitiva” la democracia debería generar herramientas conceptuales para analizar y evaluar cómo se constituyen esas preferencias, y contribuir a la formación de la autonomía de los individuos. (2) Si la sociedad civil está excluida de las instancias de decisión y de participación activa, el espacio público queda reducido a las acciones de ciertas organizaciones o grupos sociales que compiten por el poder: el estado gobierna el espacio público mientras que la ciudadanía se centra en sus asuntos privados. (3) Cuando los individuos no pueden decidir por sí mismos como gobernarse, se obstaculiza el logro de la autonomía en tanto cancelan la posibilidad de decisión sobre los asuntos comunes, y la igualdad en tanto refuerzan procesos de exclusión de aquellos que carecen de voz y representación en el espacio público. Los supuestos políticos y filosóficos que encarna la democracia competitiva resultan extremadamente problemáticos para la reflexión filosófica, pues tienden a reforzar algunos efectos devastadores y patológicos de la modernidad, lo cual no es proclive para la construcción de instituciones inclusivas e igualitarias. A través de la línea de análisis de la Teoría Crítica, vislumbramos que la razón instrumental se infiltra en el ámbito político sustituyendo los principios de solidaridad colectiva por los principios de reproducción sistémica. Esto produce diversos fenómenos de apatía política: el desinterés, la desinformación, la pasividad, y por último, una pronunciada neutralidad de los ciudadanos acerca de los temas de debate actual. Sin Sobre la idealización liberal del sujeto y la ausencia de reconocimiento de la vulnerabilidad humana puede verse Anderson, J. y Honneth, A. Autonomy, vulnerability, recognition and justice en Christman, J. y Anderson, J. (Eds.) Autonomy and the challenges to liberalism, Cambridge, CUP, 2005, p.129. 9 Capítulo 10 | Página 209 embargo, el paradigma de la democracia competitiva, tal como está estructurado en el paradigma del Racional Choice en la Ciencia Política, no visualiza la apatía política como un problema. Ello nos invita a pensar acerca del funcionamiento actual de la democracia y sus posibles efectos de cosificación y colonización del mundo de la vida que son ignorados por la propia teoría de la democracia competitiva. La apatía política y la cosificación del mundo de la vida. Para la evaluación del fenómeno de la apatía se recurrirá al concepto de colonización del mundo de la vida de Habermas, porque se entiende que el fenómeno de la apatía está fuertemente vinculado con el desborde de la razón instrumental en la sociedad. En tal tarea, como primer paso presentaré la tesis de la modernidad que sostiene Habermas a través del desacoplamiento entre sistema y mundo de la vida; como segundo paso señalaré las características de la colonización del mundo de la vida, para finalmente establecer la relación entre apatía política y colonización del mundo de la vida. Habermas cuestionó la concepción positivista de la ciencia y propuso una teoría hermeneútica de las ciencias sociales. En “Conocimiento e interés” (Erkenntnis und Interesse) Habermas sostiene que el papel del cientista social es la emancipación del sujeto, no su mera descripción explicativa10. Si bien el conocimiento social debe apelar a categorías universalistas y a la formulación de criterios normativos, la dimensión histórica es ineludible. En tal sentido, el análisis de Habermas parte del diagnóstico de la modernidad de la Escuela de Frankfurt basada en la “jaula de hierro” de Max Weber. Max Weber, en su diagnostico de la Modernidad, observó que todos los procesos del mundo contemporáneo avanzan hacia una racionalización creciente que impone una lógica instrumentalizada. En la “Ética Protestante” Weber sostiene que en el proceso de modernización, valores centrales de la religión protestante como el del enriquecimiento y el culto al trabajo, se independizaron de las normas morales y la espiritualidad que las originaron. Las sociedades modernas se estructurarán bajo los valores puritanos, pero eliminando el sentido espiritual de los 10 Cfr. Habermas, Jürgen, Conocimiento e interés, Madrid: Taurus, 1990, cap. III. Capítulo 10 | Página 210 mismos. Lo que para los puritanos era un “querer ser”, un “manto sutil”, en las modernas sociedades capitalistas se transforma en un “deber ser coercitivo”, esto es, una “Jaula de Hierro” que se vuelve determinante para todos los que viven en la modernidad. En este sentido las instituciones occidentales modernas, fundamentalmente la empresa y el estado moderno, se tornan extremadamente eficaces y racionales en su función, pero al mismo tiempo se vuelven tan burocratizadas que representan una amenaza constante para la libertad de los individuos. Ello produce sociedades burocratizadas, desencantadas y sin sentido para los individuos, y como consecuencia ineludible de este proceso, el mundo ha quedado atrapado en una “jaula de hierro”11. Retomando los planteamientos weberianos, Theodor Adorno y Max Horkheimer desarrollarán una “Dialéctica de la Ilustración” (Dialektik der Aufklärung). La obra tiene como escenario la agudización de los procesos sociales y los desastres históricos de la época, es decir, fundamentalmente los totalitarismos que protagonizaron el siglo XX. Esta atmósfera ensombrecida permite formular que las sociedades contemporáneas no avanzan hacia el anhelado progreso propuesto por la Ilustración. Lo contrario parece más real: un proceso de barbarie acompaña inevitablemente al devenir del mundo y la paradoja se instala cuando se observa que uno de sus instrumentos es la Razón. Una Razón esencialmente instrumental que pone en jaque su potencialidad emancipadora12. En la Modernidad, la razón comunicativa se ha disuelto en mero control tecnológico y el acuerdo de la utilización mutua. Lo que comenzó siendo emancipación se convierte en puro autocontrol del sistema de medios, y en la disolución de la libertad personal y de la comunicación interpersonal. El desarrollo histórico de la modernidad llevó a lo que Cfr. Weber, Max, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Montevideo: FC Universitaria, 1986. 11 12 Cfr. Horkheimer, Max y Adorno, Theodor, Dialéctica del Iluminismo, Buenos Aires: Sudamericana, 1944; para la generalidad de esta desconfianza en la razón en la primera generación de la Escuela de Frankfurt, véase Horkheimer, Max, Teoría Crítica, Brasil: Universidad de Sao Paulo, 1990, cap. VI; Horkheimer, Max, Crítica de la razón instrumental, Buenos Aires: Sur, 1973; Marcuse, Herbert, Eros y Civilización, Barcelona: Ariel, 2002, pp. 104-105; para una lectura convergente de este período de la Teoría Crítica véase Habermas, Jürgen, Teoría de la acción comunicativa I. Racionalidad de la acción y racionalización social, Madrid: Taurus, 2001, cap. IV; y Habermas, Jürgen, El discurso filosófico de la modernidad. Doce lecciones, Madrid: Taurus, 1989, pp. 135-162 Capítulo 10 | Página 211 Weber, Luckács y la Escuela de Frankfurt denominaron como racionalización económico-burocrática de los fenómenos sociales13. En este contexto asfixiante aparece la filosofía de Habermas. Su principal propósito es señalar que el concepto de racionalidad empleado por Weber, Lukács, Adorno y Horkheimer, obedece a una imagen parcial de la razón. Se debe tomar, en consecuencia, distancia del modelo weberiano y de aquellos postulados teóricos que se derivan de él puesto que estrecha el concepto de racionalidad. La teoría de Weber, en definitiva, descansa sobre una primacía del modelo teleológico y deja de lado otros aspectos importantes de la racionalidad, y en virtud de ello, el autor de Teoría de la acción comunicativa señala la existencia de otras imágenes del mundo que no se reducen simplemente a una racionalidad instrumental. 14 A pesar de los puntos de contacto con el diagnóstico de la escuela de Frankfurt, Habermas se distancia de ese diagnóstico desesperanzador. Su crítica no se dirige a la Modernidad en su conjunto, ni la racionalidad es interpretada solo instrumentalmente: la racionalidad moderna no es solo eficiencia industrial o burocratización administrativa, sino que también posee un potencial democratizador para la extensión de un acuerdo. 15 En contra de una visión reduccionista de la racionalidad, Habermas introduce la noción de “racionalidad comunicativa” como el conjunto de pretensiones de validez presentes en todo agente que actúa lingüísticamente con vistas a entenderse con otros. Esta, a diferencia de la razón instrumental, abandona la esfera individual y sitúa el foco de la acción en la cooperación de los sujetos. Los individuos movidos por la acción comunicativa no buscan la consecución de un fin egoísta sino la interacción simbólica a través de los actos de entendimiento, haciendo posible el reconocimiento recíproco como sujetos. La acción comunicativa, que según Habermas enlaza Cfr. Lukács, George, Historia y conciencia de clase, México: Grijalbo, 1969, pp. 90-232. El acoplamiento entre las nociones de racionalización weberiana e ideología marxista se deben al fuerte acercamiento que Lukács mantuvo en su juventud con Max Weber: Jay, Martín, La imaginación dialéctica. Una historia de la Escuela de Frankfurt y del Instituto de Investigación Social (19231950), Madrid: Taurus, 1989, pp. 418 y ss. 13 14 Así, toma el concepto husserliano de mundo de la vida y desde ahí establece la existencia de tres regiones que poseen, a su vez, modos específicos de accionar y pretensiones de validez distintas: el mundo objetivo se sostiene sobre una acción teleológica que busca la verdad, el mundo social establece una relación actor-mundo de corte normativo y su pretensión de validez es la legitimidad, y el mundo subjetivo lleva a cabo una acción dramatúrgica orientada a una búsqueda de autenticidad. 15 Fascioli, Ana, El concepto de sociedad Civil en J. Habermas, en Actio, n.11, noviembre del 2009, p. 36. Capítulo 10 | Página 212 con la “vieja idea” de Logos, tiene como núcleo fundamental las normas o reglas de acción que definen formas recíprocas de conducta y que han de ser entendidas y reconocidas intersubjetivamente. Este tipo de acción da lugar al marco institucional de la sociedad en contraposición a los sistemas de acción instrumental y estratégica. Este concepto de racionalidad comunicativa posee connotaciones que en última instancia se remontan a la experiencia central de la capacidad de aunar sin coacciones y de generar consenso que tiene un habla argumentativa en que diversos participantes superan la subjetividad inicial de sus respectivos puntos de vista y merced a una comunidad de convicciones racionalmente motivada se aseguran a la vez de la unidad del mundo objetivo y de la intersubjetividad del contexto en que se desarrollan sus vidas16. Cuando el entendimiento funciona como mecanismo de coordinación de la acción significa que las acciones se orientan hacia formas comunicativas, en las que los individuos “reconocen intersubjetivamente las pretensiones de validez con las que se presentan unos frente a otros”. Las acciones pueden orientarse por tanto, hacia el éxito según la lógica instrumental o hacia la comunicación según la lógica comunicativa. Estas dos formas de racionalidad se presentan como integradas en una doble dimensión de acción social que Habermas describe como “sistema” (System) y mundo de la vida (Lebenswelt). Una sociedad como conjunto activo de individuos que cooperativamnte pretenden reproducir, mantener, mejorar sus condiciones de vida, se constituye e integra en dos dimensiones: el conjunto funcional observable y descriptible mediante el que los miembros de una sociedad desarrollan su acción guiados por criterios racionales adecuados al control de sus circunstancias vitales (integración sistémica), y por otra, el conjunto de las estructuras comunicativas, lingüísticamente articuladas, mediante las cuales los hombres establecen el acuerdo básico que rige su cooperación en el sistema (integración intersubjetiva). Ambas fuerzas integradoras permiten el desarrollo de la vida humana en sociedad y en su medio ambiente. El mundo de la vida es aquel horizonte compartido dentro del cual los agentes se mueven e interactúan, que posibilita la acción comunicativa, y que establece los presupuestos de toda racionalidad. En el mundo de 16 Cfr. Habermas, Jürgen, Teoría de la acción comunicativa, Madrid: Taurus, 2001, p. 27. Capítulo 10 | Página 213 la vida la razón comunicativa se expresa cuando los actores sostienen pretensiones de validez, y reaccionan ante ellas con un “sí” o un “no”.17 La distinción habermasiana entre “sistemas” y el “mundo de la vida” están definidas por una perspectiva metodológica y una actitud epistemológica. Por una parte, la actitud del participante en la interacción capaz de comprender el sentido de las acciones y las interacciones comunicativas en tanto está inmersa en la comunidad del habla, y por otra parte la perspectiva del observador externo. La actitud del participante implicado, caracterizada por Habermas como la base de la aproximación hermenéutica a la realidad social, define la perspectiva metodológica para la cual la realidad social aparece como “mundo de la vida”. Sin embargo, en las modernas sociedades modernas la cultura y la tradición no son solamente contenidos lingüísticos sino también tradiciones fácticas definidas por condiciones de trabajo y dominación. La tesis de Habermas en Teoría de la Acción Comunicativa es que, desde la perspectiva del participante de la tradición, tales coacciones externas al plexo de la comunicación resultan invisibles. Por ello es necesario recurrir a otra perspectiva metodológica, sostenida por una actitud epistemológica distinta: la actitud del observador externo no implicado en el plexo de la interacción al que se aproxima. Desde la perspectiva del observador externo, las interacciones sociales aparecen no ya como acciones individuales motivadas monológicamente que generan a espaldas de las acciones significativas de los agentes, a partir de las consecuencias no-intencionadas de sus acciones, plexos funcionales con su propia dinámica y sus propios imperativos18. Es por tanto que a partir de la distinción de actitudes epistemológicas que Habermas fundamenta su teoría de la sociedad en dos niveles: sistemas y mundo de la vida, identifica a la vez dos modos de acceso al mundo social, “buscando integrar el enfoque sistémico y el hermenútico” 19. A esta doble concepción de la sociedad se le suma el proyecto habermasiano de recuperar la propuesta de la Teoría Crítica, lo que sólo puede hacerse a través del cambio de paradigma de la idea misma de 17 Ibídem, p. 146. Cfr. Romero, José Manuel, Entre Hermeneútica y teoría de Sistemas. Una discusión epistemológico-política con la teoría social de Habermas, Isegoría, N° 44, enero-junio 2011, p. 143. 18 19 Ibídem, p. 144. Capítulo 10 | Página 214 razón. Así Habermas propone un modelo que permite analizar la sociedad como dos formas de racionalidad que interactúan simultáneamente: la racionalidad del mundo de la vida y la racionalidad del sistema. El mundo de la vida representa una perspectiva interna como el punto de vista de los sujetos que actúan sobre la sociedad, mientras que el sistema representa la perspectiva externa, como la estructura sistémica. Sin embargo, Habermas nos previene del peligro de reducir el mundo de la vida a la acción comunicativa, ambos son conceptos complementarios pero no idénticos: el mundo de la vida se reproduce a través de las acciones comunicativas fundamentalmente en el uso del lenguaje orientado al entendimiento. 20 Habermas demuestra que las condiciones de reproducción material de las sociedades complejas representan un modo de coordinación superior al de las sociedades pre-modernas, y en el avance de la modernidad el sistema se independiza del mundo de la vida. Por lo tanto, en las sociedades modernas se produce una creciente diferenciación respecto al mundo de la vida y de dos subsistemas: la economía capitalista y la administración estatal. Se produce entonces un desacople entre sistema y mundo de la vida que conduce a que los mecanismos del sistema mantengan su integración independientemente del mundo vital. Los criterios instrumentales de racionalidad se imponen: el poder que se orienta al subsistema político, el dinero que se orienta al subsistema económico. El mundo de la vida también se ve afectado por esta separación: se da una descomposición y su correspondiente racionalización. Las tradiciones culturales se vuelven reflexivas a la vez que sacrifican su validez sobreentendida y se abren a la crítica. Las personas adquieren un control posconvencional respondiendo a decisiones autónomas y proyectos individuales de vida. A nivel institucional, los principios morales universales y los procedimientos legislativos sustituyen los valores y las normas heredados, mientras las reglamentaciones políticas de la vida en común se hacen más dependientes, tanto de las estructuras deliberativas del Estado constitucional como de los procesos de comunicación que tienen lugar en la sociedad civil y en la esfera política pública. Si bien el mayor grado de diferenciación de los sistemas produce mayor libertad para los Cfr. De Oliveira, Nythamar, Ethos democrático e Mundializacao: A Democracia Deliberativa segundo Habermas, Dospontos, Curitiba, São Carlos, vol. 5, n. 2, outubro, 2008, p. 3. 20 Capítulo 10 | Página 215 individuos, este fenómeno trae aparejado el desarraigo social y nuevos tipos de coerciones. La extensión de un tipo de ciertas libertades para los individuos expone al sujeto a las variaciones de los ciclos económicos coyunturales, la disciplina laboral y el desempleo, las reglamentaciones administrativas uniformadoras, etc. Según el diagnóstico de Habermas, la razón instrumental se extiende de manera dominante produciendo la cosificación. Los mecanismos de control social de la interacción social han abandonado el ámbito comunicativo, y han sido asumidos por una economía monetarizada y una administración pública regida por una administración burocrática, sin otro fin que el mantenimiento mismo del sistema. El avance de la racionalización produce efectos alienantes, así lo expresa Gustavo Pereira: Estas patologías codificadoras se presentan cuando los ámbitos de la vida que dependen funcionalmente de orientaciones de valor, normas vinculantes y procesos de entendimiento son monetarizados y burocratizados, es decir, son reducidos a la lógica unificadora de los sistemas de acción dirigidos por el dinero y el poder21. Insertada en la pragmática del lenguaje la racionalidad comunicativa puede ejercer su función liberalizadora, ésta es la que posibilita la comunicación y el entendimiento entre los hombres en sus relaciones diarias en el mundo de la vida, y permite la sociabilidad de los individuos a través del entendimiento. Dado que el sistema queda totalmente distanciado del mundo de la vida, ésta ahora se reducirá al ámbito de la sociedad civil, en tanto es el ámbito de la racionalidad comunicativa. Tras la publicación de la Teoría de la Acción Comunicativa Habermas sostiene que el poder como subsistema de la administración estatal, al recibir la legitimidad de las fuerzas de la soberanía popular puede ser recuperado por la sociedad civil. Entonces la democracia será el ámbito en el que se puede dar esta reintegración de la funcionalidad sistemática en el marco de un consenso comunicativo, explicitado en la opinión pública.22 La reproducción del mundo de la vida encontrará en los procesos decisorios de la democracia deliberativa la clave para el proyecto emancipador de la modernidad, por lo cual la acción coCfr. Pereira, Gustavo, Sujeto Liberal y Patologías Sociales, en Areté Revista de Filosofía, Vol. XX, n. 2, 2008, p.p. 271-272. 21 22 Cfr., Habermas, Jürgen, Facticidad y Validez, Madrid: Trotta, p.p.451-452. Capítulo 10 | Página 216 municativa podrá reactivarse en la sociedad civil.23 En Facticidad y Validez (Faktizität und Geltung), Habermas presenta un concepto de Democracia Deliberativa donde la sociedad civil y la opinión pública tendrán un papel crítico fundamental en oposición a los poderes del mercado y de la burocracia estatal. 24 La democracia competitiva como ideología y las patologías sociales. El diagnóstico habermasiano de la modernidad y del avance de la racionalización del mundo de la vida anteriormente expuesto, se formuló con el objetivo de sembrar la sospecha acerca de la democracia competitiva como una ideología que podría invisibilizar ciertas patologías sociales. Cuando la lógica sistémica del Estado y de la economía se imponen en el mundo de la vida, las relaciones de reconocimiento recíproco se tornan relaciones estratégicas, y la alteridad tiende a ser cosificada y en tanto tal pasible de instrumentalización.25 La instrumentalización del poder a través de las organizaciones partidarias y la cosificación de los ciudadanos como meros votantes son síntomas claros de esta racionalización que produce el deterioro de los lazos sociales y la comunicación intersubjetiva. 26 La concepción teórica de la democracia competitiva parte del funcionamiento empírico de las democracias occidentales actuales y pretende anclarse en este contexto. En este sentido, considero que no cuenta con criterios normativos adecuados para corregir problemas sociales. Esta modelización parte de una fuerte separación del poder gubernamental y la sociedad civil: por una parte, la clase política muchas veces auxiliada por expertos (denominados tink tanks o policy makers en el lenguaje de la Ciencia Política), dotados de las competencias y el conocimiento adecuado para el ejercicio del poder, y por otra, la ciudadanía que despojada de los saberes adecuados para el ejercicio de la 23 Cfr. De Oliveira, Habermas o Mundo da Vida e a “Tercera via” dos Modernos en TractatusEthico-Politicus, Genealogia do ethos moderno, Porto Alegre: Edipucrs,1999. 24 Cfr., Habermas, Jürgen, Facticidad y Validez, p.p.440-468. 25 Cfr. Pereira, Gustavo, Sujeto Liberal y Patologías Sociales, p.275. Este es el objetivo central que pretendo demostrar en una instancia más avanzada de mi investigación. 26 Capítulo 10 | Página 217 política queda relegada al ámbito de su vida privada. En el espacio público regiría la voz autorizada del saber experto y en el ámbito privado susurran las diversas voces ciudadanas. Vale aclarar que muchas veces el “saber experto” se restringe al conocimiento de los juegos estratégicos de poder, pues la discusión política se empobrece de argumentación y pretensiones de objetividad. 27 Esta escisión agrava aún más el deterioro del tejido social en términos de lazos de solidaridad y cooperación de las sociedades contemporáneas, favoreciendo prácticas apáticas, autorreferentes, e individualistas. La creciente tendencia de la democracia competitiva robustece subjetividades apáticas frente a la política, desinteresados de discutir o debatir sobre los asuntos comunes y más aún frente al diseño de un plan de vida conjunto. Incapaces de entablar compromisos colectivos, pero expuestos a la ineludibilidad de la vida social, las sociedades modernas padecen cierto malestar que oficia de trasfondo para la interacción social. El malestar revela una falla del sistema político para promover la discusión y el compromiso de los ciudadanos y los políticos con el bienestar social. Ciertamente el concepto de “patología social” fue heredado por la Escuela de Frankfurt de la reflexiones de Hegel. En este contexto la colonización del mundo de la vida se presenta como una patología social en la medida en que socava las condiciones mínimas de autorrealización al alimentar psicopatologías a nivel del desarrollo de la personalidad, anomia al nivel de la socialización, y sufrimiento por indeterminación semántico-vital en la esfera de la cultura. Estas esferas son las que constituyen los ámbitos de reproducción de la racionalidad comunicativa en el mundo de la vida, interrumpida, justamente, por tal colonización. Ahora bien ¿por qué esta colonización constituye una patología social? La tradición de la Teoría Crítica heredó de Hegel la convicción de que en la actual sociedad capitalista se propagan a lo largo del tejido social una serie de prácticas intersubjetivas fallidas que deterioran los lazos de solidaridad, la reproducción comunicativa, y en suma, las condiciones mínimas de para vida buena. En este sentido estas prácticas fallidas se leen como prácticas patológicas emergentes de una sociedad enferma, cuya superación depende de una crítica capaz de reactivar aquella racionali27 En este sentido puede verse la entrevista realizada a Zygmunt Bauman por Seminário Fronteiras do Pensamento: http://www.cpflcultura.com.br/2011/08/16/dialogos-com-zygmunt-bauman/. Capítulo 10 | Página 218 dad comunicativa parcializada emancipadora. Siguiendo a Honneth, la tradición de la Teoría Crítica nos ha dejado como “legado intelectual” un concepto como el de patología social, sostenido sobre la bases de tres supuestos fuertemente compartidos. El primero de estos supuestos atañe a la convicción del carácter patológico de las sociedades contemporáneas, cuya causa es referida a una obstaculización del desarrollo histórico de la racionalidad. A esta convicción diagnóstica subyace una fuente de normatividad presente en aquello que no es patológico y que implícitamente da sustancia a una concepción de vida buena, especialmente entendida como las condiciones de posibilidad de la autorrealización humana. Como un segundo supuesto aparece la atribución de tal déficit de racionalidad al sistema capitalista, mientras finalmente, la idea de crítica de tal estado patológico de las sociedades capitalistas, así como también las fuentes de resistencia y motivación para la superación de tal estado, constituyen el tercer supuesto cuyo foco se ciñe en la naturaleza del malestar, encontrando en este una manifestación de aquel reservorio de fuerzas emancipadoras presentes en la misma racionalidad cuyo desarrollo ha sido parcializado28. Prácticas como la alienación, el consumismo, la reificación e incluso las preferencias adaptativas29, pueden entenderse como diferentes praxis patológicas que se desprenden de aquella contaminación sistémica sobre el mundo de la vida que socavan las condiciones mínimas de autorrealización, y en este contexto el creciente fenómeno de la apatía ciudadana por la participación pública bien merece ser clasificado como una patología social. La apatía cívica y política se presenta como un fenómeno totalmente desapercibido por la democracia competitiva, y en virtud de ello esta última es digna de ser alarmantemente sospechosa de ideológica, Cfr. Honneth, Axel, Pathologies of Reason. On the Legacy of Critical Theory, New York: Columbia University Press, 2009, pp. 19-42. 28 29 Sobre la alienación véase la teoría marxista del fetichismo de la mercancía: Marx, Karl, El Capital. Crítica de la Economía Política, t. I, Buenos Aires: Cartago, 1956, pp. 61-71; Marx, Karl, Manuscritos: filosofía y economía, Madrid: Alianza, 1993, pp. 107-123; sobre la reificación véase Lukács, George, Historia y conciencia de clase, pp. 90-232; también a actual reformulación de Honneth en Honneth, Axel, Reificación. Un estudio en la teoría del reconocimiento, Buenos Aires: Katz, 2007; respecto del consumismo véase Pereira, Gustavo, “Sujeto Liberal y Patologías Sociales”, p. 276; finalmente, sobre las preferencias adaptativas véase Cfr. Elster Jon, Uvas amargas. Sobre la Subversión de la racionalidad, Barcelona: Península, 1988; y también Cfr. Pereira G., Vigorito, A., Fascioli, A., Reyes, A., Modzelewski, H., Burstin, V., Preferencias adaptativas. Entre deseos, frustración y logros, Montevideo: Fin de Siglo, 2010 Capítulo 10 | Página 219 esto es, un discurso que pasa por alto problemáticos fenómenos sociales de participación pública concibiéndolos, en su lugar, como meros datos de la realidad estáticos, obliterando, justamente, el malestar patológico social generado por aquel rechazo sistémico en la participación del debate y discusión sobre temas de interés general. Desde este diagnóstico social, la democracia competitiva es sospechosamente ideológica, y más aún si partimos del supuesto aristotélico del hombre como un animal político (zoon politikón), esto es, un animal que solamente se realiza en la esfera pública: “en su inserción social el hombre desarrolla las competencias que lo convierten en persona”.30 La praxis política significa el encuentro con otros y con los asuntos de la comunidad, y por lo tanto, la enajenación de esta práctica refuerza el distanciamiento del individuo con aquello que le es propio. Los fenómenos socio-patológicos que oblitera la democracia competitiva, emergen del malestar que produce el distanciamiento entre los individuos y los asuntos públicos de la comunidad. A pesar del sentimiento generalizado de malestar reina una pasividad inmodificable, a lo que se le agregan instancias de cosificación de la ciudadanía como “botín ideológico” para los partidos, y para sí mismos. 31 Como apoyo de esta lectura, en Facticidad y validez Habermas cuestiona algunas nociones de la democracia empirista, e indaga a mi entender, sin ponerlo en éstos términos, algunos de sus aspectos ideológicos. A partir de su evaluación de La Libertad que queremos de Becker, sostiene que la concepción empirista del poder se basa en la estabilidad del orden institucional que logra mantener, en donde la legitimidad democrática se evaluaría por el reconocimiento fáctico con que cuenta por parte de quienes se someten a él. Según esta idea, la democracia se sostiene en la competencia de los partidos y en el voto mayoritario de la ciudadanía que empodera a los representantes del poder. En definitiva, la voz última de la legitimidad está dada por el pronunciamiento de la mayoría ciudadana. Habermas objeta a la visión empirista de la democracia que apoyada en el “subjetivismo ético” funda la validez de las nor- 30 Cfr. Habermas, Jürgen, Entre naturalismo y Religión, Paidós: Barcelona, 2006, p. 21. 31 Cfr., Habermas, Jürgen, Facticidad y Validez, p.369. Capítulo 10 | Página 220 mas en la voluntad misma de los individuos (“comprensión voluntarista de la validez”). La democracia queda reducida a la fuerza de la mayoría. Pero si la fuente del poder democrático se reduce a la fuerza de la mayoría entonces existe una amenaza permanente del “partido numéricamente más fuerte o, por lo menos, simbólicamente más fuerte”, sobre el resto de la población, lo que podría conducir a una guerra civil. Esta amenaza permanente no garantiza a las minorías una protección sólida frente el poder de la mayoría por más benevolente que sea. Si bien Becker recurre a las libertades fundamentales para justificar la protección a las minorías, del principio de la “rotación en el poder” de la concepción empirista podemos inferir, sostiene Habermas, que las mayorías respetan esas libertades por el miedo que tienen de formar parte en el futuro de las minorías. Aunque el “subjetivismo ético” parte de la idea de que todos los sujetos tienen igual poder, Habermas sostiene que esta comprensión “voluntarista de la validez normativa” de la democracia empirista termina justificando el poder en la fuerza de la mayoría. Pero, desde el punto de vista objetivo, la lucha de los partidos políticos en el poder carece de toda dimensión de validez práctica.32 Este análisis habermasiano de la democracia empirista es útil para destacar, no solamente la insuficiencia conceptual que encierra la competencia para justificar la democracia (pues la competencia partidaria carece de cualquier dimensión de validez), sino también la instrumentalización de los individuos que esta noción apoya. El electorado es el “botín ideológico”33 de los partidos y en esta práctica la ciudadanía aparece instrumentalizada. Como mencionamos anteriormente, Habermas sostiene que la política moderna no puede reducirse a la lógica del poder, porque corre el riesgo de una creciente crisis de legitimidad y una pérdida de sentido. Por ello debe incorporar la dimensión normativa y ésta no puede provenir de las elites burocráticas sino sólo de la sociedad civil. De estas críticas parecería derivarse la defensa habermasiana de la democracia deliberativa. Su “tercer modelo” se funda en la idea de los derechos humanos liberales y en la eticidad concreta de una comunidad particular, donde el autor presenta su propuesta como 32 Ibidem. p. 371. 33 Ibidem. p. 369 Capítulo 10 | Página 221 la realización de la teoría del discurso en el ámbito de la democracia. La democracia deliberativa contiene “connotaciones normativas más fuertes que el modelo liberal pero más débiles que el modelo republicano”, y en este sentido la propuesta habermasiana supera las carencias del liberalismo y del republicanismo, al mismo tiempo que integra aspectos de ambas concepciones. 34 ¿La democracia participativa, una salida a los fenómenos patológicos? Hacia una nueva democracia. Luego de haber levantado fuertes sospechas ideológicas sobre el discurso de la democracia competitiva, ciego a los efectos cosificadores y alienantes de la participación cívica que alimenta en la sociedad civil, pretendo, en lo que sigue, indagar en las potencialidades de la democracia deliberativa como superación de los déficits del modelo anterior. La democracia competitiva no brinda criterios para el logro de una sociedad igualitaria y para justificar la legitimidad de sus resoluciones. Ello nos obliga a reflexionar sobre la democracia bajo otros criterios. Aunque el término democracia deliberativa fue acuñado en los años 70 por Joseph Bessette para combatir interpretaciones elitistas y aristocráticas de la Constitución americana,35 fue recién hacia finales de los años 80 que se produjo “el giro deliberativo” en la filosofía política. Desde entonces diversos autores sostienen que la democracia deliberativa es el modelo más adecuado para el logro de la justicia y la igualdad social. En la antigüedad griega Aristóteles definía a la deliberación como el contraste exhaustivo de razones a favor o en contra de un determinado curso de acción.36 Pero la razón deliberativa implica para el filósofo griego, ciertas virtudes ciudadanas que no todos los hombres poseen, pues algunos padecen ciertas limitaciones cognitivas o materiales y por ello no están en condiciones de deliberación. Siguiendo a Aristóteles, Cfr. Habermas, Jürgen, Tres Modelos de Democracia: sobre el concepto de una política deliberativa, Episteme, 1994, p. 14. 34 35 Cfr. De Oliveira, Habermas o Mundo da Vida e a “Tercera via” dos Modernos, p.65 36 Aristóteles, La Política, Buenos Aires: Ed. Libertador, 2003, Libro III y Cáp IV. Capítulo 10 | Página 222 solo aquellos sujetos virtuosos que pueden razonar de manera desinteresada abrigan la capacidad de elección prudencial. 37 Si bien la deliberación racional trae aparejada en sus orígenes clásicos cierta carga elitista de rechazo hacia algunas políticas plebeyas o populares, los actuales defensores de la política deliberativa subrayan la impronta democrática del concepto.38 Así sostienen que la legitimidad de las decisiones colectivas se produce en el seno de la deliberación pública de los ciudadanos, quienes en pie de igualdad con otros deciden acerca de los asuntos públicos, con independencia de su poder numérico o de negociación: (…) en una democracia bien ordenada, [señala Joshua Cohen] el debate político está organizado en torno a concepciones alternativas del bien público. Por tanto, resulta inadecuado para una sociedad justa un esquema pluralista ideal en el que la política democrática se reduce a la negociación equitativa entre grupos cuya preocupación es perseguir su interés particular o sectorial. Los ciudadanos y las partes que operan en el foro político no deben «adoptar un punto de vista estrecho o basado en el interés de grupo39 La visión presentada por Cohen tiene su raíz en el ideal intuitivo de “una asociación democrática” en la que la justificación de los términos y las condiciones de la asociación se realizan por medio de la argumentación pública entre ciudadanos libres e iguales. Partiendo del esquema de un procedimiento deliberativo ideal (“concepción formal”) Cohen busca abrazar una concepción más sustantiva de la democracia deliberativa, y para ello parte de cinco principios reguladores: 1) la estabilidad del régimen democrático; 2) el compromiso de los individuos para coordinar sus actividades dentro de las instituciones; 3) la pluralidad de la asociación democrática; 4) la publicidad de los términos de la asociación; 5) la igualdad de sus miembros para realizar el intercambio público de razones. En virtud de estos principios, la democracia deliberativa es una asociación de individuos iguales que comprometidos con 37 Ibídem, Cáp. Libro III, Libro IV Cfr. Gallardo, Javier, Elogio modesto a la deliberación política, en Revista de Ciencia Política, Vol. 18 n. 1° octubre-2009, p.p. 90-93. 38 39 Cohen, Joshua, Deliberación y Legitimidad Democrática, en The Good Polity, Oxford: Blackwell, 1989, p.128. Capítulo 10 | Página 223 las instituciones democráticas que están dispuestos al intercambio dialógico de razones publicitadas en el foro público. Sobre una línea ciertamente convergente a Cohen, Habermas define a la democracia deliberativa como un proceso comunicativo dirigido a lograr acuerdos en relación a las decisiones colectivas, y en este contexto toda decisión debe tomarse como si fuese un acuerdo de todos sus involucrados. Habermas define a la democracia a la luz de una comunidad ideal de diálogo, es decir, una comunidad de individuos que dialoga bajo ciertas condiciones que garantizan una argumentación plenamente racional de todos sus participantes. Estas condiciones ideales de diálogo implican que los participantes de la comunidad comunicativa deben reconocerse recíprocamente como interlocutores iguales, y cada uno debe tener derecho a exponer sus propios argumentos; y también implica la obligación de escuchar a los ajenos, así como respetar la lógica de la mejor argumentación. A partir de los presupuestos de la teoría del discurso Habermas sostiene que cualquier individuo que pretenda llegar a un acuerdo racional debe actuar bajo la suposición de la comunidad ideal de diálogo. Por su lado John Rawls también realiza contribuciones importantes a la concepción de la democracia deliberativa. En Political Liberalism el autor destaca la importancia del diálogo y la comunicación en el contexto del pluralismo razonable de las sociedades democráticas. A través del intercambio de razones los ciudadanos pueden alcanzar el “consenso sobrepuesto” (overlaping consensus) sobre “las doctrinas comprehensivas razonables” para reglar la estructura básica de la sociedad. 40 Más allá de las diferencias conceptuales y metodológicas que separan las diversas teorías esbozadas acerca de la democracia deliberativa, y de las críticas particulares que ellas han recibido, todas confluyen en: 1) el valor epistémico de la democracia deliberativa: la validez de su procedimiento legitima la validez de los resultados, porque en el proceso deliberativo prosperan los juicios más razonables ; 2) la concepción racional del sujeto: la deliberación requiere de ciertas capacidades cognitivas y argumentativas, pues en la deliberación ideal “sólo se ejerce la fuerza del mejor argumento” ; 3) las potencialidades inclusivas de la deliberación: en un diálogo en pie de igualdad con otros, todos los sujetos tienen igual capacidad de plantear su posición, por ellos todos los 40 Rawls, John, El Liberalismo poítico, Barcelona: Ed. Critica, 1996. p. 79. Capítulo 10 | Página 224 ciudadanos deben contar con condiciones iguales para expresar su voluntad en el diálogo. Desde esta perspectiva la democracia deliberativa parece tener presente la necesidad de buscar fortalecer los lazos sociales a través de la reconciliación del sujeto con la política. Y en este sentido podría prestarse a análisis sus fortalezas para superar algunas de las deficiencias de la democracia competitiva en tanto: 1) sostiene que las preferencias se construyen en el proceso deliberativo; 2) busca la inclusión de la sociedad civil en los procesos de decisión y acción colectiva; 3) y sostiene que las libertades positivas, objetivadas en capacidades ciudadanas tienen un papel fundamental en la democracia. Conclusión Luego de pasar revista a las categorías de partido-cártel y de partido-maximizador de votos a partir de algunas lecturas preponderantes de la escuela de la Racional choice, vislumbramos cierta cercanía del paradigma de la economía empresarial con la democracia competitiva. En esta conexión observamos cómo la ciencia política parte de una concepción instrumental del poder y de la cosificación de los ciudadanos, vaciando de contenido el espacio público. La “naturalización” que presenta el discurso de la democracia competitiva frente a la creciente apatía cívica experimentada en las actuales sociedades civiles, nos condujo a elevar fuertes sospechas, no sólo sobre sus alcances, sino en especial sobre su cualidad de ocultación, esto es su contenido ideológico. Fundamentalmente el diagnóstico habermasiano de la modernidad y la racionalización del mundo de la vida nos valieron de herramientas conceptuales para dar cuenta de este fenómeno. Y en este contexto, la exposición conceptual de las patologías sociales nos puso sobre una fuerte línea crítica sobre la ceguera que muestra democracia competitiva, frente a las patologías sociales fácilmente enmarcables en los fenómenos de la creciente despolitización de las sociedades civiles. Luego, explicitando varios de los supuestos de la democracia competitiva observamos la problematicidad e insuficiencia de sus principios para la reparación del tejido social, la igualdad y la autonomía, en definitiva para la resolución de problemas contemporáneos. Por el contrario, observamos que la democracia competitiva Capítulo 10 | Página 225 refuerza la desintegración social y el individualismo preponderante en las sociedades actuales. Finalmente, como alternativa a tales déficits se ha propuesto a la democracia deliberativa como procedimiento para la superación del malestar social. A partir de Habermas, Cohen y Rawls, se reconstruyó un concepto de deliberación que apuesta a la cooperación, la solidaridad y el diálogo mutuo. Naturalmente, en esta exposición varios aspectos quedaron inconclusos, ¿cómo conducir a la ciudadanía hacia un modelo deliberativo? ¿Cómo articular la pluralidad de la sociedad civil en instancias institucionales de discusión y deliberación? ¿Cómo introducir procedimientos deliberativos en el contexto institucional de la competitividad? Tales interrogantes, de suma importancia para la concreción de un modelo democrático renovado, deben ser fruto de futuras investigaciones. Bibliografia ARISTÓTELES. La Política, Buenos Aires: Ed. Libertador, 2003. COHEN, J. Deliberación y Legitimidad Democrática, en The Good Polity, Oxford: Blackwell, 1989. COX, W. Gary. Setting the agenda, Responsable Party Government in the U.S. House of representative, San Diego, University of California: Cambridge University Press, 2004, p.p. 17-36. FASCIOLI, A. El concepto de sociedad Civil en J. Habermas, en Actio, n.11, noviembre del 2009. GALLARDO, J. Elogio modesto a la deliberación política, en Revista de Ciencia Política, Vol. 18 n. 1°, 2009. HABERMAS, J. Conocimiento e interés, Madrid: Taurus, 1990, cap. III. _____. El discurso filosófico de la modernidad. Doce lecciones, Madrid: Taurus, 1989. _____. Entre naturalismo y Religión, Paidós: Barcelona, 2006. _____. Teoría de la acción comunicativa I. Racionalidad de la acción y racionalización social, Madrid: Taurus, 2001. Capítulo 10 | Página 226 _____. Tres Modelos de Democracia: sobre el concepto de una política deliberativa, Episteme, 1994. HONNETH, A. Autonomy, vulnerability, recognition and justice en Christman, J. y Anderson, J. (Eds.) Autonomy and the challenges to liberalism, Cambridge, CUP, 2005, p.129. HONNETH, A. Pathologies of Reason. On the Legacy of Critical Theory, New York: Columbia University Press, 2009. HORKHEIMER, M; ADORNO, T. Dialéctica del Iluminismo, Buenos Aires: Sudamericana, 1944. HORKHEIMER, M. Teoría Crítica, Brasil: Universidad de Sao Paulo, 1990. LUKÁCS, G. Historia y conciencia de clase, México: Grijalbo, 1969. OLIVEIRA, N. Ethos democrático e Mundializacao: A Democracia Deliberativa segundo Habermas, Dospontos, Curitiba, São Carlos, vol. 5, n. 2, outubro, 2008. OLIVEIRA, N. Habermas o Mundo da Vida e a “Tercera via” dos Modernos en Tractatus- Ethico-Politicus, Genealogia do ethos moderno, Porto Alegre: Edipucrs, 1999. OVEJERO, F. Republicanismo, una teoría sobre la libertad y el gobierno, Barcelona: Paidós, 1999. PEREIRA, G. Sujeto Liberal y Patologías Sociales, en Areté Revista de Filosofía, Vol. XX, n. 2, 2008. RAWLS, J. El Liberalismo poítico, Barcelona: Ed. Critica, 1996. ROMERO, J.M. Entre Hermeneútica y teoría de Sistemas. Una discusión epistemológico-política con la teoría social de Habermas, Isegoría, N° 44, enero-junio 2011. STROM, K. A Behavioral Theory of Competitive Political Parties, en American Journal of Political Science, University of Minnesota, 1990, Vol. 34, No. 2, p.p. 565-98. SUNSTEIN, C. Más allá del resurgimiento Republicano, en Republicanismo, una teoría sobre la libertad y el gobierno en Republicanismo, una teoría sobre la libertad y el gobierno, Barcelona: Paidós, 1999, p.p. 141-144. WEBER, M. La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Montevideo: FC Universitaria, 1986. Capítulo 10 | Página 227 “Quem” Quer o Eterno Retorno do Mesmo? Sujeito, subjetividade, moral e amor fati em Nietzsche Prof. Dr. Luís Rubira UFPEL - Brasil Introdução É a partir de uma hipótese cosmológica de repetição cíclica de todos os acontecimentos que Nietzsche pode pensar em um novo (e, para ele, no maior) desafio ético para o homem. Todavia, levando-se em conta a teoria das forças, a vontade de potência e a própria reflexão sobre o eterno retorno do mesmo, o filósofo destrói a concepção de sujeito com a qual a história da filosofia lidava até então por compreendê-la como uma concepção vinculada à metafísica. Neste sentido, se não há mais um “sujeito” em Nietzsche, para “quem”, então, é colocado o desafio ético apresentado na seção 341 de A gaia ciência? A abordagem deste problema requer uma investigação em torno do núcleo que estrutura a filosofia nietzschiana. Em seu livro Nietzsche e a metafísica (Nietzsche et la metaphysique), Michel Haar intitula o quinto capítulo como “Crítica e subversão da subjetividade”. A título de introdução e problematização do tema da subjetividade no filósofo alemão, lancemos um olhar no que o intérprete francês escreve no referido capítulo desta obra que, lamentavelmente, ainda não recebeu tradução em nosso país: Que o “eu” [moi] (compreendido como a consciência individual) não forma o centro ou o núcleo do sujeito, nem o princípio que determina o pensamento, que o eu não pode servir de fundamento à um sistema de conhecimento, que ao contrário ele se descobre sempre já inextrincavelmente fundido nas coisas, no mundo e nos outros eus, enfim que o eu [moi] da reflexão, que pretende à universalidade, à independência, ao domínio e à certeza de si, não é senão uma frágil e ilusória construção metafísica, eis aqui temas que, depois de Freud, Heidegger ou Merleau-Ponty, são familiares e como que “evidentes” à nossa modernidade. Nós não acreditamos mais, após a psicanálise, na autonomia do eu, “pobre coisa”, segundo a expressão de Freud, esmagado entre as exigências contraditórias do isso e do superego. Heidegger, entre outros, nos ensinou que o “próprio” não nos chega primeiramente senão sob a figura abstrata de uma “possessividade” [jemeinigkeit] impessoal, e não é jamais adquirido nas primeiras palavras ou nos primeiros gestos, totalmente prisioneiros dos estereótipos e dos usos do “se” impessoal. Nós sabemos que em relação ao ser-no-mundo e ao Cuidado – essa grife da temporalidade – o eu não é uma estrutura fundamental do ser-homem. O eu pode ser compreendido, por exemplo, como um efeito linguístico do Cuidado: “com o ‘eu’ o Cuidado se exprime, inicialmente e na maioria das vezes no dizer eu da preocupação”. Nós sabemos também que Merleau-Ponty reabilitou a abertura anônima da percepção, esta coação silenciosa onde ainda não há nenhum sujeito, mas onde cada eu fixa suas raízes pré-individuais e compartilha com todos os outros uma afinidade mais profunda que toda a “luta de consciencias”, que somente intervêm numa etapa posterior. E, após construir esta reflexão justamente na abertura do quinto capítulo, conclui em relação a Nietzsche: Ora, parece evidente que em suas análises da subjetividade, Nietzsche não somente pertence plenamente a esta modernidade mas a ultrapassa em diversos aspectos1. Na interpretação de Michel Haar Nietzsche analisou a subjetividade, antecipando as abordagens de Freud, Heidegger e Merleau-Ponty. O autor de Para além de bem e mal, ademais, teria não somente realizado a análise da subjetividade, mas, tal como diz mesmo o título do capítulo, a sua “subversão e ultrapassamento”. Mas, embora durante todo o quinto capítulo de seu livro Haar faça uma excelente abordagem do problema do eu e do sujeito em Nietzsche, 1 HAAR, Michel. Nietzsche et la métaphysique. Paris: Éditions Gallimard, 1993, p. 127-128. Capítulo 11 | Página 230 julgamos que ele estava por demais próximo das interpretações heideggerianas quando pensava em termos de “subjetividade”. Recentemente, Marilena Chaui publicou o texto intitulado Um anacronismo interessante, no qual acaba por concluir que é a obra kantiana que representa a “certidão de nascimento da subjetividade propriamente dita”2. Segundo Chaui, “a descoberta da subjetividade é um feito do idealismo alemão”, levado a termo pelas análises de Kant e Hegel, e não se poderia falar em subjetividade em Descartes, nem em Leibniz, nem em Espinosa. Ainda segundo a autora, o próprio Heidegger, em “A época da imagem do mundo” teria se valido das análises de Hegel (nas Lições de História da Filosofia), e de Husserl (nas Meditações Cartesianas), e teria retomado “o leitmotiv de Hegel e de Husserl, isto é, [que] a filosofia moderna nascida com Descartes é uma filosofia do sujeito, ou melhor, da subjetividade”3. Não cabe, aqui, analisarmos com mais vagar este texto. Todavia, iremos adotar a mesma estratégia que a autora para pensar se em Nietzsche existe uma crítica do sujeito ou da subjetividade: algo que abrirá o caminho para que, depois, possamos refletir sobre este tema em relação ao eterno retorno do mesmo, pensamento que está no núcleo da filosofia nietzschiana. Em seu texto, Marilena Chauí vale-se da estratégia de apresentar dois trechos do primeiro axioma da parte V da Ética de Espinosa, nos quais ele utiliza o termo “sujeito” para, em seguida, mostrar que dois intérpretes do filósofo “incorrem num anacronismo, aliás, perfeitamente compreensível em historiadores da filosofia contemporânea. Esse anacronismo consiste em tomar o termo sujeito, empregado por Espinosa, como sinônimo de subjetividade”4. A julgar pela abordagem de Haar, tal como vimos, parece que Nietzche foi vítima do mesmo engano. Nietzsche, por certo, possui uma crítica do sujeito mas, em relação à subjetividade, o tema, em sua obra tardia, somente aparece em dois fragmentos póstumos dos anos de 1887 e 18885. Que escreve Nietzsche nestas anoCf. CHAUI, Marilena. “Um anacronismo interessante”. In: MARTINS, A.; SANTIAGO, H., ORIVA, L. (Orgs). As ilusões do eu: Espinosa e Nietzsche. Rio de Janeiro: Civilização brasileiro, 2011, capítulo XV, p. 321-348. 2 3 Idem, ibidem. 4 Idem, ibidem. Antes de 1887, o termo subjetividade somenta aparece nos Fragmentos póstumos do jovem Nietzsche, a saber, em KSA VII, 7(116) – Fim de 1870 – Abril de 1871; GT 5; VII, 32(14) - Fim de 1874 – Primavera de 1875. 5 Capítulo 11 | Página 231 tações sobre a subjetividade (subjektivität)? Na primeira delas, do ano de 1887, ele reflete: Que as coisas tenham uma constituição nelas-mesmas, abstração feita de toda interpretação e de toda a subjetividade, eis uma hipótese perfeitamente ociosa [müssige]: o que suporia que o fato de interpretar e de ser subjetivo não seria essencial, que uma coisa, desembaraçada de todas as relações, seria ainda coisa. Inversamente: o caráter aparentemente objetivo das coisas: não se reduziria ele simplesmente a uma diferença de grau inerente ao subjetivo? – Ao fato que, por exemplo, isto que lentamente-muda [Langsam-Wechselnde] se manifestaria à nós enquanto que “objetivamente” durável, sendo, “em si” – que isso que é objetivo não seria mais que um falso conceito de espécie [Artbegriff] e uma falsa antinomia inerente ao subjetivo? (XII, 9(40) – Outono de 1887). Como se percebe, nessa anotação, Nietzsche está problematizando que as coisas possuam uma “constituição nelas-mesmas”, que elas possuam um “caráter (...) objetivo”, insistindo que isto é uma “hipótese perfeitamente ociosa [inútil]”, que exista algo a que se possa chamar de “coisa”, mas que é o processo subjetivo e interpretativo, que percebe aquilo que “lentamente-muda”, com graus de diferença, como “objetivamente durável (...), em si”. Esta mesma crítica ao caráter objetivo das coisas é trazida também na anotação de 1888, na qual comparece, por última vez, o termo subjetividade: Eu me admiro de ver que a ciência, ainda hoje, resigna-se a se confinar no mundo da aparência: um mundo verdadeiro – ele pode ser como ele quer, nós não temos certamente órgãos que nos permitam conhecê-lo. Aqui, nós poderíamos já perguntar: graças a qual órgão do conhecimento é colocada esta mesma oposição? Se um mundo é acessível a nossos órgãos, é igualmente conhecido como dependente desses órgãos, se nós [concebemos] esse mundo como subjetivamente condicionado: isto não quer dizer portanto que um mundo objetivo [seja] realmente possível. O que nos impede de pensar que é a subjetividade que é real, essencial? (XIII, 14(103) – Primavera de 1888). Em ambas as anotações, portanto, Nietzsche critica o caráter objetivo do mundo, e coloca a percepção do mundo, por meio de nossos órgãos, como “subjetivamente condicionada”. Todavia, o emprego, como Capítulo 11 | Página 232 se vê, raro, que ele faz do termo subjetividade, remete mais propriamente a algo próprio do sujeito, tal como normalmente é compreendido, ou seja, como “caráter daquilo que pertence ao sujeito”, ou, “domínio das realidades subjetivas, da consciência, do eu”6. Mas se nós aqui, ao pensarmos em subjetividade em Nietzsche, voltarmos ao “eu”, ao “sujeito”, então, talvez, ingressemos num círculo vicioso. É o próprio Michel Haar quem, diversas vezes no capítulo supra-mencionado de seu livro cita trechos da obra do filósofo alemão, retirados, sobretudo, dos fragmentos póstumos, nos quais existe a crítica ao sujeito: A “consciência de si” é uma ficção. O conceito de substância, consequência do conceito de sujeito, e não o inverso! Se nós renunciamos à alma, ao “sujeito”, a condição prévia de uma substância desaparece totalmente. O sujeito é uma multiplicidade que constrói uma unidade imaginária. O homem não é somente um indivíduo, mas a totalidade do orgânico que continua a viver nele.7 Ora, se em Nietzsche o “sujeito é uma multiplicidade”, então a própria “subjetividade”, da qual ele trata nos dois fragmentos póstumos de 1887 e 1888, não é fruto do “sujeito”, mas da “multiplicidade”. Para adentrar no tema do “sujeito” como “multiplicidade”, e compreendermos a distância nietzschiana do “sujeito lógico”, do sujeito metafísico, que funda e garante uma unidade, nós podemos partir de uma primeira questão: no caso da possibilidade cosmológica do eterno curso circular, para “quem” é colocado o desafio implicado no pensamento do eterno retorno do mesmo? Após ter o pensamento do eterno retorno nas altas montanhas da Engandina, na Suíça, Nietzsche faz uma anotação, provavelmente na segunda quinzena de agosto de 1881. Trata-se de uma anotação em que Como exemplo, veja-se o Dicionário Etimológico da Língua Francesa, o Petit Larousse. Nele pode-se encontrar a seguinte definição para a palavra “subjetividade”: “1801; de subjectif : 1. Philos. Caractère de ce qui appartient au sujet*, et spécialt au sujet seul (à l’individu ou à plusieurs). « Éliminer la subjectivité en réduisant le monde, avec l’homme dedans, à un système d’objets » (Sartre). La subjectivité d’une analyse, d’un jugement. — Spécialt État d’une personne qui considère les choses d’une manière subjective en donnant la primauté à ses états de conscience. « son désir, d’autant plus légitime qu’il ne dépendait pas d’une subjectivité capricieuse » (Queneau). 2. Domaine des réalités subjectives; la conscience, le moi. « saisir autrui dans son être vrai, c’est-à-dire dans sa subjectivité » (Sartre). CONTR. Objectivité”. 6 7 Cf. HAAR, Michel. Nietzsche et la métaphysique. Paris: Éditions Gallimard, 1993, p. 127-167. Capítulo 11 | Página 233 ele usará o conceito de força para pensar a possibilidade do retorno do mesmo8. Tal conceito, sabemos, vinha sendo pensado desde Helmholtz (que formulara o “princípio de conservação da força”), estava na base do primeiro princípio da termodinâmica (“a energia do universo é constante”), e era objeto de reflexão por parte de outros cientistas. Por meio da leitura de Caspari, Nietzsche também tomara contato com as idéias de Gustav Vogt, que se colocara contra o problema do espaço vazio, tão caro às teorias atomistas, e via na força um substrato contínuo e homogêneo, o qual constituiria todo o cosmos9. É porque o conceito de força lhe permite refletir sobre a possibilidade do eterno retorno, que, logo em seguida à leitura de Caspari, Nietzsche utiliza pela primeira vez a expressão “o mundo das forças” (Die Welt der Kräfte). Por meio dela pensa o mundo como eterno, constituído por uma totalidade de forças finitas em movimento incessante que, num tempo infinito, alcançam todas as suas combinações possíveis10. Algo que, por sua vez, leva a um processo eterno de repetição do mesmo: O O mundo das forças não é passível de nenhuma diminuição: pois senão, no tempo infinito, se teria tornado fraco e sucumbido. O mundo das forças não é passível de nenhuma cessação: pois senão esta teria sido alcançada, e o relógio da existência pararia. O mundo das forças, portanto, nunca chega a um equilíbrio, nunca tem um instante de repouso, sua força e seu movimento são Para uma análise do conceito de força em Nietzsche remeto a MARTON, S. Nietzsche. Das forças cósmicas aos valores humanos. São Paulo: Brasiliense, 1990, em especial p. 50-57. 8 9 Cf. VOGT, G. Die Kraft. Eine real-monistiche Weltanschauung. Leipzig: Haupt & Tischler 1878. Nietzsche considera o tempo como real e infinito, embora possa ser percebido de forma diferente por cada tipo de ser: “Ao curso real das coisas deve corresponder um tempo real, prescindido absolutamente da sensação (gefühle) de extensão ou brevidade própria aos seres que o conhecem. Provavelmente o tempo real é indizivelmente mais lento que nós, seres humanos, o sentimos: percebemos muito pouco, ainda que uma jornada nos pareça muito longa comparada à extensa jornada no sentimento de um inseto” (IX, 11(184) – Primavera – outono de 1881). Ao reunir diversas de suas reflexões sobre o eterno retorno para Lou Salomé, e sob o título “Princípios”, ele escreve: “O espaço é, como a matéria, uma forma subjetiva. Não o tempo” (X, 1(3) – Julho – agosto de 1882). Se o espaço é uma forma subjetiva e não existe espaço vazio, pois tudo é força, o tempo não é subjetivo, pois seu passar é o dado mais imediato de nossa percepção: “Nossa dedução da sensação do tempo (Zeitgefühls) etc. pressupõe sempre o tempo como absoluto” (XI, 25(406) – Primavera de 1884). Para uma compreensão do tempo em Nietzsche, remeto aos seguintes textos: WAHL, J. “The Problem of Time in Nietzsche”, in Revue de Métaphysique et morale, n. 3, Juillet-Septembre 1961; WHITLOCK, G. “Examining Nietzsche’s ‘Time Atom Theory’ fragment from 1873”, in Nietzsche-Studien, n.o 26 (1997); MOLES, A. Nietzsche’s Philosophy of Nature and Cosmology, Peter Lang, 1990; SMALL, R. “Nietzsche, Dühring ant Time”, in Jounal of the History of Philosophy, 28:2 – April 1990; e ainda do mesmo autor: “Nietzsche, Spir and Time”, in Journal of Philosophy – 32:1 – January 1994. 10 Capítulo 11 | Página 234 de igual grandeza para cada tempo. Seja qual for o estado que esse mundo possa alcançar, ele tem de tê-lo alcançado, e não uma vez, mas inúmeras vezes. Assim este instante: ele já esteve aí uma vez e muitas vezes e igualmente retornará, todas as forças repartidas exatamente como agora: e do mesmo modo se passa com o instante que gerou este, e com o que é filho do de agora. Ora, porque na compreensão nietzschiana o mundo é uma totalidade de forças, o homem, por conseguinte, como parte integrante do “mundo das forças”, também é um conjunto de forças finito, que num tempo infinito, retornará inúmeras vezes à mesma condição. É por esta razão que Nietzsche formula, na seqüência da mesma anotação: HHomem! Tua vida inteira, como uma ampulheta, será sempre desvirada outra vez e sempre se escoará outra vez, – um grande minuto de tempo no intervalo, até que todas as condições, a partir das quais vieste a ser, se reunam outra vez no curso circular do mundo (Kreislaufe der Welt). E então encontrarás cada dor e cada prazer e cada amigo e inimigo e cada esperança e cada erro e cada folha de grama e cada raio de sol outra vez, a inteira conexão de todas as coisas. Esse anel, em que és um grão, resplandece sempre outra vez. E em cada anel da existência humana em geral há sempre uma hora, em que primeiro para um, depois para muitos, depois para todos, emerge o mais poderoso dos pensamentos, o pensamento do eterno retorno de todas as coisas (ewigen Wiederkunft aller Dinge): – é cada vez, para a humanidade, a hora do meio-dia (Mittags). (IX, 11(148) – Primavera – outono de 1881. Trad.: RRTF). Vê-se, portanto, como a hipótese cosmológica do mundo compreendido como totalidade finita de forças, que num tempo infinito realiza todas as suas possibilidades de combinação, e após o ciclo inteiro conduz à repetição dos mesmos eventos, condiciona a interpretação de que o homem, como parte do mundo das forças, também irá retornar para sempre o mesmo na ordem dos encadeamentos. Esta anotação realizada em agosto de 1881, como sabemos, é a base para que Nietzsche possa formular a seção 341 de A gaia ciência, na qual apresenta ao público pela primeira vez o seu pensamento do eterno retorno do mesmo. Nietzsche tem, então, o cuidado de mostrá-lo mediante uma formulação hipotética: “E se um dia ou uma noite um Capítulo 11 | Página 235 demônio se esgueirasse em tua mais solitária solidão e te dissesse”11, escreve, e na seqüência, entre aspas, apresenta primeiramente, por intermédio de uma personagem, o aspecto cosmológico do eterno retorno, seguindo, assim, a própria estrutura de suas anotações pessoais: “Esta vida, assim como tu a vives agora e como a viveste, terás de vivê-la ainda uma vez e ainda inúmeras vezes; e não haverá nela nada de novo, cada dor e cada prazer e cada pensamento e suspiro e tudo o que há de indizivelmente pequeno e de grande em tua vida há de te retornar, e tudo na mesma ordem e seqüência – e do mesmo modo esta aranha e este luar entre as árvores, e do mesmo modo este instante e eu próprio. A eterna ampulheta da existência será sempre virada outra vez – e tu com ela, poeirinha da poeira!” – E, na sequência, após apresentar a versão cosmológica do retorno como um eterno curso circular no qual todos os acontecimentos eternamente se repetiriam, Nietzsche retoma a palavra e pergunta ao leitor/ ouvinte, algo que visa testar sua reação: Não te lançarias ao chão e rangerias os dentes e amaldiçoarias o demônio (Dämon) que te falasse assim? Ou viveste alguma vez um instante descomunal, em que lhe responderias: “Tu és um deus, e nunca ouvi nada mais divino!”. Se esse pensamento adquirisse poder sobre ti, assim como tu és, ele te transformaria e talvez te esmagasse (zermalmen); a pergunta, diante de tudo e de cada coisa: “Quero isto ainda uma vez e ainda inúmeras vezes?” pesaria como o mais pesado dos pesos sobre teu agir! Ou então, como terias de ficar de bem contigo mesmo e com a vida, para não desejar nada mais do que essa última, eterna confirmação e chancela? (FW/GC §341. Trad.: RRTF) Observe-se, em primeiro lugar, como existe o cuidado na formulação: “Se (wenn) esse pensamento adquirisse poder (Gewalt bekäme) sobre ti”. É somente a partir da crença no pensamento do eterno retorno, no levar a sério a hipótese do retorno cosmológico, que realmente tal pensamento pode apresentar-se como um desafio (e o maior de todos, na concepção do filósofo) para aquele que com ele se depara. Através dos recursos que Nietzsche utiliza para apresentar seu “pensamento dos pensamentos” torna-se claro que, num primeiro momento, ele não está dizendo que o eterno retorno ocorre, mas que Devo a compreensão da formulação hipotética a Scarlett Marton (Cf. MARTON, S. “O eterno retorno do mesmo – tese cosmológica ou imperativo ético?”, In Nietzsche: uma provocação. Chistoph Türcke (coordenador). Porto Alegre: Editora da Universidade, 1994). 11 Capítulo 11 | Página 236 é uma possibilidade. Nietzsche tem ciência de que não há como provar se a repetição ocorre no nível cosmológico, embora tenha se dedicado durante anos ao estudo atento e a tentativas de formulação de uma cosmologia do eterno retorno12. Se esse esforço está presente nos fragmentos póstumos, na obra publicada o filósofo jamais desenvolve a versão cosmológica – e é por essa razão que pensamos que o mais significativo é abordar o pensamento do eterno retorno do mesmo a partir de seu viés ético intrinsecamente vinculado à possibilidade do retorno cosmológico, tal como veio a público em A gaia ciência. A partir da reflexão sobre o pensamento do eterno retorno do mesmo, recoloquemos a questão em relação ao tema da subjetividade. Ora, quando voltamos aos dois momentos em que Nietzsche emprega o termo subjetividade nos fragmentos póstumos do período tardio de sua obra, pode-se perceber que, se ele escreve que não se pode falar que as coisas possuam uma “constituição nelas mesmas”, nem do caráter “objetivo do mundo”, é porque ele já pensa, há muito tempo, que o eterno retorno não é um fato cosmológico. Aliás, e é importante insistir neste ponto, como muito bem observou o próprio Michel Haar (e aqui sim, contra Heidegger)13, o pensamento do eterno retorno sustenta-se numa hipótese. Hipótese esta que, para Nietzsche, é o “pensamento dos pensamentos”, o “pensamento abissal”, “o pensamento experimental” mais desafiador produzido até então, o qual não teria uma correspondência “real”, posto que não se pode falar em “mundo objetivo”. Mas, diante dessa compreensão, perguntemos: afinal “quem” é testado diante desta hipótese se não existe mais “sujeito” em Nietzsche, e sim, multiplicidade? A resposta à questão passa por uma reflexão em torno de temas como a teoria das forças, o pensamento do eterno retorno do mesmo e a vontade de potência. No que tange à vontade de potência, ela nos permite pensar o rompimento que Nietzsche realiza com a metafísica, e por conseguinte, com o conceito de substância, de átomo, alma, vontade e sujeito14. 12 A carta a Peter Gast de 14 de agosto de 1882, já mencionada anteriormente, foi escrita após a publicação de A gaia ciência. Nela, Nietzsche informava: “Guardei aproximadamente uma quarta parte do material originário (para um tratado científico)”. 13 HAAR, Michel. Nietzsche et la métaphysique. Paris: Éditions Gallimard, 1993, p. 163. Para uma compreensão inicial do tema, que aqui seria impossível reconstruir, remeto o leitor a obra de MÜLLER-LAUTER, Wolfgang. Nietzsche: sua filosofia dos antagonismos e os antagonismos de sua filosofia. Tradução de Clademir Araldi. Apresentação de Scarlett Marton. São Paulo: Editora Unifesp, 2009. 14 Capítulo 11 | Página 237 Afinal não é ele mesmo quem nos dá o caminho para isso, quando escreve num póstumo de 1885: “sujeito e objeto – como interpretação – vontade de potência” (XII, 2(147) – Outono de 1885 – outono de 1886), ou quando escreve também num póstumo de 1886, para falar da interpretação, do perspectivismo, das forças e da vontade de potência: Como surgem a esfera perspectivista e o erro? Na medida em que, mediante um ser orgânico, não um ser senão a luta mesma quer conservar-se, crescer e ser consciente de si. O que chamamos “consciência” e “espírito” é somente um meio e uma ferramenta mediante “a qual” se quer conservar não o sujeito, mas sim uma luta. O homem é testemunha das enormes forças que podem ser postas em movimento por um pequeno ser de conteúdo múltiplo” (XII, 1(124) – Outono – Primavera de 1886). Ao tratarmos da vontade de potência vê-se que aquilo que manifesta-se, no limite, não é um ser, uma substância, uma alma, da qual possa derivar um sujeito, mas forças. Ou para ser mais preciso, tal como Nietzsche escreve num póstumo de 1887: “condições-de-conservação-e-aumento” que constituem “formações complexas de duração relativa da vida dentro do vir-a-ser”. (XIII, 11(73) – Novembro de 1887 – março de 1888). Neste sentido, então, se o “sujeito” é expressão das forças, da vontade de potência; se ele depende do momento em que uma determinada “condição de conservação e aumento” está em atividade no mundo do vir-a-ser; se o próprio “sujeito” têm, por tudo isto, uma formação temporária no seio do vir-a-ser, nem por isto este “sujeito” é, todavia, fluxo e mudança permanente, pois ele está constituído duplamente por “conservação e aumento”. Mas mais radicalmente: se não existisse “sujeito”, ainda que não seja o velho sujeito da metafísica, então todo o pensamento do eterno retorno do mesmo, tão caro a Nietzsche, não teria sentido algum. É a reflexão sobre as “formações complexas de duração relativa da vida dentro do vir-a-ser”, sobre a compreensão da vontade de potência como constituída do duplo aspecto de “conservação e aumento”, que Nietzsche pode refletir sobre a própria constituição do mundo, na qual ser e vir-a-ser estariam entrelaçados, desde que esta reflexão esteja associada com o pensamento do eterno retorno do mesmo: “Que tudo retorne é a mais Capítulo 11 | Página 238 extrema aproximação de um mundo do vir-a-ser ao mundo do ser: cume da consideração. (XII, 7(54) – Final de 1886 – primavera de 1887). O modo como Nietzsche pensa o “mundo das forças”, sobretudo com base em uma de suas primeiras anotações posteriores àquela do pensamento do eterno retorno, ou seja, o fragmento 11(148) da Primavera – Outono de 1881, faz ver que, segundo a interpretação nietzschiana, o homem, sendo parte do mundo, é constituido não de uma substância, mas de forças, que agrupam-se e desagrupam-se temporariamente, movidas pela caráter intrínseco da vontade de potência. Se tívessemos que pensar o “sujeito” em Nietzsche, ele somente poderia ser resultado de uma determinada “formação temporária de potência”. Assim, se o “sujeito” é uma “multiplicidade”, se o próprio “eu” não é senão um efeito do jogo de forças que atua no homem, então não cabe mais falar que é um “sujeito” que quer, que “eu quero”. Ora, na medida em que Nietzsche pensa o “sujeito como multiplicidade”, é sempre um determinado regime de forças, que é colocado diante da afirmação ou da negação do eterno retorno do mesmo, ou seja, o que é testado, é sempre a qualidade de um determinado regime de forças. O próprio Nietzsche já escrevia, em dois fragmentos dos anos 1883-1884: O pensamento do retorno como princípio seletivo (auswählendes Princip), a serviço da força. (X, 24(7) – Inverno de 1883 – 1884). Eu proponho a grande prova: quem resiste (aushält) ao pensamento do eterno retorno? (XI, 25(290) – Primavera de 1884). Aquele que resiste ao pensamento do eterno retorno do mesmo não é, propriamente falando, nenhum sujeito, mas o regime de forças em vigência no homem. Deste ponto de vista, a pergunta sobre aceitar ou não aceitar o eterno retorno, precisa ser colocada a cada instante: “diante de tudo e de cada coisa (‘Quero isto ainda uma vez e ainda inúmeras vezes?’)”. Como diz Michel Haar, e neste ponto concordamos com ele, não é mais o sujeito aqui que elege, mas sim é a totalidade ela mesma, o “fatum” quem assume esse desejo ou essa vontade (...) a afirmação sem reserva do fatum significa que o Capítulo 11 | Página 239 fatum se afirma através de “mim” (...) esta reinversão transfigura a vontade (...), suprimindo o primado [do sujeito]15. É por tudo isto que o pensamento do eterno retorno do mesmo, essa “fórmula suprema de afirmação”, vem se colocar como o “pensamento dos pensamentos”, o “experimento radical do pensar”, o desafio maior: pois ele implica, em última análise, em amar aquilo que é necessário. Cuja fórmula Nietzsche sintetiza na expressão amor fati, ou seja: “Tomar a si mesmo como um fatum, não se querer ‘diferente’ (...) isso é a grande sensatez” (EH/EH, “Por que sou tão sábio, §7). Não foi por coincidência, portanto, que dois anos depois ter o pensamento do eterno retorno do mesmo (o qual ocorreu em 1881), Nietzsche escreveu: “determinismo: ‘eu sou para todas as coisas vindouras um fatum!’ – esta é minha resposta para o determinismo!” (X, 16(64) – Outono de 1883). Em última análise, para Nietzsche, a hipótese cosmológica do eterno retorno, que se assenta em sua compreensão de que o mundo é uma totalidade de forças, não coloca um problema entre o determinismo e a vontade do homem. Sendo o homem parte do mundo, o destino tanto o determina quanto ele mesmo determina o destino. É por esse motivo que o filósofo já escrevia quando tratava do determinismo: “eu mesmo sou um fatum e condiciono a existência desde eternidades” (X, 21(6) – Outono de 1883), repetindo a mesma compreensão tempos depois: “se todas as coisas são um fatum, eu também sou um fatum para todas as coisas” (XI, 29(13) – Outono de 1884 – fim de 1885). Na compreensão nietzschiana do eterno retorno do mesmo não há mais a separação entre homem e mundo, entre a vontade humana e a necessidade das forças que nele atuam: “fatalismo (ego – fatum) (forma mais extrema: ‘o eterno retorno’)” (XI, 27(67) – Verão – outono de 1884). Parece, então, que isso vem explicar porque todo o problema diante do pensamento do eterno retorno consistia, para Nietzsche, em amar aquilo que era necessário. O conceito de “sujeito” no autor de Crepúsculo dos ídolos, portanto, não está mais vinculado à metafísica e a idéia de substância, mas precisa ser pensado a partir da vontade de potência, da teoria das forças e da hipótese cosmológica do retorno. Se ele tem uma duração e uma formação Colocamos sujeito entre aspas pois Haar ali fala em subjetividade. Todavia, fica clara nossa discordância dele neste ponto, como vimos ao início do texto. 15 Capítulo 11 | Página 240 temporária no mundo do vir-a-ser, o problema para o “sujeito” se coloca quando ele está diante da possibilidade do eterno retorno do mesmo. Pela hipótese cosmológica nós temos, por certo, uma duração temporária, e, simultaneamente, eterna, pois, é importante destacar novamente: o encadeamento de causas em que sou tragado retornará – e tornará a criar-me! Eu mesmo pertenço às causas do eterno retorno. / Retornarei com este sol, com esta terra, com esta águia, com esta serpente – não para uma nova vida ou uma vida melhor ou semelhante – / Eternamente retornarei para esta mesma e idêntica vida, nas coisas maiores com nas menores, para que eu volte a ensinar o eterno retorno de todas as coisas. Acreditando e aceitando este pensamento, ou pelo menos pensando nas consequências trágicas que estão implicadas nele (caso ele não fosse tão somente uma hipótese), então, a cada momento, um “sujeito” escolhe e existe num ponto do tempo, o qual retornará eternamente, na mesma ordem e sequência. A partir desse momento parece, então, dissolvida a cisão entre homem e mundo, entre um “sujeito” que quer, e um mundo que quer através do “sujeito”. Aquele que pensou de forma radical o pensamento do eterno retorno, que refletiu sobre o encadeamento de todas as coisas, que pensou-se como um elo no encadeamento, um elo necessário, no qual não um determinado homem vem afirmar o anelo ao “anel dos anéis”, mas é o próprio mundo, por meio do homem, que afirma-se a si mesmo, somente a este caberia, sem reservas Não querer nada de outro modo, nem para diante, nem para trás, nem em toda a eternidade. Não meramente suportar o necessário, e menos ainda dissimulá-lo (...) mas amá-lo...” (EH/ EH, “Por que sou tão inteligente”, §10. Trad.: RRTF). Uma última reflexão sobre o tema, ainda que introdutória, a partir do alter-ego do filósofo e a respeito do próprio Nietzsche. Cabe lembrar de um trecho em que a “Hora mais silenciosa” visita Zaratustra e faz a ele uma exigência: Que importa a tua pessoa, Zaratustra! Fala a tua palavra e despedaça-te!”. E eu respondi: “Ah, é acaso a minha palavra? Quem sou eu? Aguardo alguém mais digno; eu não mereço, sequer, des- Capítulo 11 | Página 241 pedaçar-me contra ele”. Então, voltaram a falar-me sem voz: “Que importância tens tu?” (Za/ZA, II, A hora mais silenciosa). Zaratustra, nós sabemos, afirmou o eterno retorno do mesmo após invocar seu “pensamento abismal” em “O convalescente”. “Despedaçou-se” após enfrentar “seu último abismo”, anelar-se ao vir-a-ser, incorporar o próprio niilismo e ultrapassá-lo. Nietzsche, é nossa tese, também mostra-se afirmativo diante da possibilidade do eterno retorno do mesmo ao realizar a transvaloração de todos os valores16. Se acaso o próprio filósofo “despedaçou-se” poucos meses depois de empreender a tarefa da transvaloração, ou seja, teve um colapso psíquico, isto poderia ser interpretado, segundo sua própria filosofia (e não em compreensões posteriores da psicanálise ou oriundas de determinados intérpretes de Nietzsche)17 que um determinado conjunto de forças dominantes entrou em colapso. Afinal, se Nietzsche foi acusado de já não responder com coerência sobre sua pessoa, o mesmo não se pode dizer sobre o regime de forças que entrou em cena após o “colapso psíquico” e que mantinha uma, sim, coerência com a filosofia nietzschiana ao fazer Nietzsche escrever: “no fundo eu sou todos os nomes da história” (KSB, Carta a Burckhardt, de 06 de janeiro de 1889). Mas isto é assunto para uma outra abordagem. Referências CHAUI, Marilena. “Um anacronismo interessante”. In: MARTINS, A.; SANTIAGO, H., ORIVA, L. (Orgs). As ilusões do eu: Espinosa e Nietzsche. Rio de Janeiro: Civilização brasileiro, 2011. HAAR, Michel. Nietzsche et la métaphysique. Paris: Éditions Gallimard, 1993. MARTON, Scarlett. Nietzsche. Das forças cósmicas aos valores humanos. São Paulo: Brasiliense, 1990. _____. “O eterno retorno do mesmo – tese cosmológica ou imperativo ético?”, In Nietzsche: uma provocação. Chistoph Türcke (coordenador). Porto Alegre: Editora da Universidade, 1994. Este tema foi desenvolvido em RUBIRA, Luís. Nietzsche: do eterno retorno do mesmo à transvaloração de todos os valores. São Paulo: Discurso Editorial/Editora Barcarolla, 2010. 16 Tal como é o caso, por exemplo, de: PODACH, E.F. L’effondrement de Nietzsche. Traduit de l’Allemand par Andhrée Vaillant et Jean R. Kuckenburg. Paris : Gallimard, 1978. 17 Capítulo 11 | Página 242 MOLES, A. Nietzsche’s Philosophy of Nature and Cosmology, Peter Lang, 1990 MÜLLER-LAUTER, Wolfgang. Nietzsche: sua filosofia dos antagonismos e os antagonismos de sua filosofia. Tradução de Clademir Araldi. Apresentação de Scarlett Marton. São Paulo: Editora Unifesp, 2009. NIETZSCHE, Friedrich. Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe. Edição organizada por Giorgio Colli e Mazzino Montinari. Berlin/Munique: Walter de Gruyter & Co., 1967-78. 15 vol. _____. Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe em 8 volumes, Berlin/Munique, Walter de Gruyter & Co./DTV, 1986. _____. Obras Incompletas. Col. “Os Pensadores”. Seleção de textos de Gerárd Lebrun; tradução e notas de Rubens Rodrigues Torres Filho. Col. “Os Pensadores”. 4ª ed. São Paulo: Nova cultural, 1987. PODACH, E.F. L’effondrement de Nietzsche. Traduit de l’Allemand par Andhrée Vaillant et Jean R. Kuckenburg. Paris : Gallimard, 1978. RUBIRA, Luís. Nietzsche: do eterno retorno do mesmo à transvaloração de todos os valores. São Paulo: Discurso Editorial/Editora Barcarolla, 2010. SMALL, R. “Nietzsche, Dühring ant Time”, in Jounal of the History of Philosophy, 28:2 – April 1990 _____. “Nietzsche, Spir and Time”, in Journal of Philosophy – 32:1 – January 1994. VOGT, G. Die Kraft. Eine real-monistiche Weltanschauung. Leipzig: Haupt & Tischler 1878. WAHL, J. “The Problem of Time in Nietzsche”, in Revue de Métaphysique et morale, n. 3, Juillet-Septembre 1961. WHITLOCK, G. “Examining Nietzsche’s ‘Time Atom Theory’ fragment from 1873”, in Nietzsche-Studien, n.o 26 (1997). Capítulo 11 | Página 243 Computerethik – Praktische Ethik des ´Informationszeitalters´? Prof. Dr. Marcel Niquet Goethe-University - Alemanha Der Begriff einer ´Computerethik´, 1985 von dem amerikanischen Philosophen James H. Moor in die Diskussion eingeführt1, ist systematisch mehrdeutig.2 Man könnte denken, es handele sich um die Konzeption einer Ethik für Computer, ähnlich wie z.B. die Medizinische Ethik eine Ethik für Mediziner und Ärzte darstellt oder Wirtschaftsethik eine Ethik für Unternehmen oder unternehmerisch tätige Personen formuliert. Dem ist aber nicht so. Computerethik, verstanden einfach hin als Ethik für Computer, würde voraussetzen, dass Computer oder computergestützte informationelle Systeme den Stellenwert von – in einem moralisch relevanten Sinn – selbstbestimmt handelnden bzw. handlungsfähigen Aktoren besitzen, vergleichbar mit menschlichen Personen. Zwar hat I. Asimov in einer seiner frühen Science-Fiction-Geschichten drei sog. ´Gesetze der Robotik´ formuliert, Regelungen, die sich ausdrücklich an Roboter als autonom handlungsfähige ´Computer-Personen´ richten. Nur: Asimovs Kontext ist eben der einer Science-Fiction-Geschichte, nicht der einer sozialen Wirklichkeit, mit der wir es hier und jetzt zu tun haben. Vergleichbares zeigt sich auch in dem Film ´2001 – Space Odyssey´ am Beispiel des intelligenten Bordcomputers HAL, der, um seiner primären Pflicht der Sicherung der Flugmission Genüge zu tun, ´be1 Vgl. Moor 1985. 2 Zum Begriff der ´Informationsethik´ vgl. Severson 1997. denkenlos´ zwei menschliche Astronauten umbringt, und deshalb folgerichtig – eindrucksvoll inszeniert in Form einer ´kognitiven´ Bestrafung – von dem überlebenden dritten Astronauten in seinen ´höheren Funktionen´ abgeschaltet wird. Ähnlich hat H. Moravec3 Ergebnisse seiner experimentellen Forschung an ´autonomen´ Robotersystemen im Sinne der Voraussage einer ´postbiologischen´ Zukunft projiziert, in der superintelligente Roboter die Herrschaft über Menschheit und Erde übernehmen könnten, es also für Roboter zu einem moralischen – oder moralanalogen? – Problem werden könnte, wie ihresgleichen und menschliche Personen zu behandeln seien; aber auch hier ist klar, dass es sich um einen narrativen Kontext handelt, der – noch? – nichts mit der gegebenen sozialen Wirklichkeit eines realen Verhältnisses von Computern und menschlichen Personen zu tun hat. Computerethik muss anders verstanden werden. Ich möchte folgende Formulierung als eine erste Orientierungsformulierung vorschlagen: (a) Computerethik ist eine normative Ethik des Umgangs mit Computern und computergestützten informationellen Systemen im Hinblick sowohl auf Exposition wie auch Rechtfertigung entsprechender moralischer Regeln oder Normen eines derartigen Umgangs. Eine solche Ethik richtet sich an Menschen als Primärsubjekte des Umgangs mit Computern, nicht an Computer selbst. (b) Computerethik in dieser Bedeutung ist keine philosophische Metaethik: sie beschäftigt sich nicht mit der semantischen Klärung von Ausdrücken wie ´gut´ oder ´sollen´ oder ´geboten´ und auch nicht mit der Rekonstruktion von Formen praktisch-moralischen Schließens. Computerethik setzt solche analytischen Bestände entweder explizit voraus und/oder nimmt diese implizit in Anspruch. (c) Computerethik ist auch keine theoretische normative Ethik: allgemeine und hochstufige Normen oder Prinzipien einer moralisch ausgezeichneten menschlichen Lebensweise sind nicht Gegenstand ihrer Überlegungen. (d) Computerethik ist eine normative praktische Bereichs-Ethik: ihr geht es um die Konstruktion, Rekonstruktion und Rechtferti3 Vgl. Moravec 1988. Vgl. auch: Moravec 1996 – 1 sowie Moravec 1996 – 2. Capítulo 12 | Página 246 gung von Regeln und Normen, die den sozio-historisch realen Umgang von Menschen mit Computern oder computationellen Systemen in der ganzen Breite entsprechender moderner Lebenswelten – der realen Lebenswelten von Informationsgesellschaften – je schon prägen, charakterisieren oder doch – zumindest – bestimmen könnten oder sollten; als praktische Ethik steht Computerethik deshalb auf einer logischen Stufe mit anderen Formen praktischer Ethik4, z.B. Medizinethik, Naturethik, Medienethik usf. Weiterhin möchte ich vorschlagen, Computerethik als praktische Ethik deontologischen Typs in der Tradition einer Kantischen Pflichtethik zu verstehen. Neuere Formen deontologischer Ethik – ich denke hier an die Diskursethik von K.-O. Apel und J. Habermas – haben zu Formulierungen der Gültigkeit moralischer Normen geführt, die sich einer Computerethik als praktischer Ethik umstandslos eingliedern lassen. Normen einer solchen praktischen Ethik können als gültig angesehen werden, wenn die Konsequenzen und Nebenfolgen ihrer allgemeinen Befolgung im Hinblick auf die rationalen Interessen aller Betroffenen von allen diesen als Teilnehmer an entsprechenden praktischen Diskursen zwanglos akzeptiert werden könnten. In diesem Sinne lässt sich dann Computerethik als eine Form praktisch-deontologischer Diskursethik verstehen. Ich zweifle nun nicht daran, dass sich entsprechende utilitaristische Formulierungen finden lassen könnten, die die praktische Akzeptabilität computerethische Handlungsweisen an den Ausgang von entsprechenden Nutzen –oder Präferenz-Kalkülen binden – ohne ein Verfahren praktischer Diskurse aller Handlungsbetroffenen ins Spiel zu bringen. Klar ist aber, und hier für meine Zwecke entscheidend: ein derartiger Streit zwischen deontologischen und utilitaristischen Rekonstruktionen praktischer Computerethik hat erst dann Aussicht auf Entscheidung, wenn hinreichend viele und situationsangemessene Rekonstruktionen der zwar faktischen, aber normativ imprägnierten Praxis von Computeranwendern –und benutzern in den verschiedensten Kontexten computationell vermittelten Handelns angegeben werden können. Gerade dies nämlich ist ein auszeichnendes Merkmal jeder praktischen Ethik: situationsange- 4 Vgl. die Übersicht in: Nida-Rümelin 1996. Capítulo 12 | Página 247 messene Normenrekonstruktionen sind datengetrieben (bottom-up) und nicht im theoretischen Vorgriff zu leisten. Praktische Ethiken sind gewissermaßen experimentelle Ethiken, und Computerethik bildet hier keine Ausnahme. Deshalb ist es ratsam, die vorstehend angeführte allgemeine Erläuterung von Computerethik als praktischer Ethik des Umgangs mit computationellen Systemen – quasi vom Desktop-PC bis zur intelligenten Überwachungskamera, vom Mikrochip bis zum ´autonomen´ Gefechtsfeldroboter – durch die Angabe der folgenden drei Bereiche oder Anwendungsdimensionen einer praktischen Computerethik zu ergänzen bzw. zu konkretisieren. Diese sind: (1) Computerethik als professionelle -oder Berufsstands-Ethik (2) Computerethik als politische Ethik des öffentlichen Umgangs mit Computern oder Informationstechnologien (3) Computerethik als private Ethik der persönlichen Verwendung von Computern oder Informationstechnologien im Rahmen einer Ethik privater Lebensstile und Lebenssinn-Entwürfe Erst in dieser dreifachen Bedeutung gewinnt Computerethik die Konkretion einer praktischen Ethik. Es handelt sich freilich um idealtypische Abgrenzungen. Wie wir sehen werden, sind alle drei Bereiche einer solchen Ethik problemgetrieben oftmals ineinandergeschoben und ohne Verlust an Problemschärfe gar nicht voneinander zu trennen. Bevor ich mich nun der ersten Bestimmung zuwende – Computerethik als professionelle Ethik –ist noch folgendes zu betonen. Computerethik als praktische Ethik zu verstehen, heißt, diese als wesentlich unfertige, unabgeschlossene, eben experimentelle Ethik zu verstehen. Und als solche ist Computerethik nicht nur negative, d.h. Unterlassungs-Ethik. Computerethik ist insbesondere auch positive Ethik der experimentellen Realisierung von Wagnischancen (H. Jonas) sowohl im öffentlichen Raum der Entwicklung und Fortentwicklung von Informationsgesellschaften wie auch im privaten Bereich der wesentlich individuell geprägten Lebensstile und Lebenssinnentwürfe. Computerethik verdient erst dann ihren Namen als praktische Ethik, wenn sie sich in allen diesen Dimensionen für neue, noch nicht festgestellte Entwicklungen offen hält. Capítulo 12 | Página 248 I. Als professionelle oder Berufsstandsethik ist Computerethik eine Ethik für Inhaber und Ausüber von Computerberufen im weitesten Sinne, also z.B. für Hard –und Softwareentwickler, Netzwerkadministratoren, Webmasters, Datenbankenentwickler –und pfleger usw. Da sich entsprechende Beschäftigungsprofile und Berufsfelder - ´den´ Beruf ´des´ Informatikers gibt es nicht – noch nicht herausgebildet und organisatorisch sedimentiert haben, lässt sich Computerethik nicht im strengen Sinn als berufsständische Ethik ausformulieren – im Gegensatz etwa zu traditionellen Okkupationen wie Medizinern, Juristen oder Ingenieuren, die über entsprechende Berufsethiken verfügen. Ich werde mich daher im folgenden als Beispiel für eine hinreichend spezifizierte, normative professionelle Computerethik auf den ´Code of Ethics and Professional Conduct´ der US-amerikanischen ´Association of Computing Machinery´ (ACM) in der Fassung von 1992 beziehen5. Zugleich aber deckt dieser Ethikkodex nicht den ganzen Bereich des professionellen Umgangs mit Computern bzw. computationeller Technik ab. Als professionelle Computerethik ist weiterhin auch die sog. Hacker-Ethik zu berücksichtigen, die zum ersten Mal von Hackern bzw. ´computer science´- Studenten am amerikanischen MIT Ende der fünfziger resp. Anfang der sechziger Jahre formuliert und praktiziert worden ist.6 Ohne Zweifel handelt es sich auch hier um eine Ethik des professionellen Umgangs mit Computern, nur eben nicht angeschlossen an ein berufsständisches Selbstverständnis der Computeranwender qua Hacker. Der ACM - Kodex zerfällt in drei Abschnitte; der erste Abschnitt enthält allgemeine moralische Imperative, die für jedes ACM - Mitglied gelten, der zweite Abschnitt enthält Imperative, die spezifischere berufliche Verantwortlichkeiten für Computerfachleute darlegen, und der dritte Abschnitt richtet sich an solche Personen - ´organizational leaders´- , denen Gruppen von Programmierern oder Entwicklern unterstehen. Der ACM - Kodex umfasst nicht nur die entsprechenden Prinzipienformulie- 5 Vgl. Johnson 1994, S. 165 ff. sowie Kizza 1998, S. 18 ff. 6 Vgl. die Darstellung in: Levy 1984, S. 26 ff. sowie auch die Ausführungen in: Johnson 1994, S. 103 ff. Capítulo 12 | Página 249 rungen, sondern auch ausführliche Kommentierungen jedes einzelnen Imperativs, also eine Art Kasuistik der praktischen Computerethik. Allgemeine Imperative sind nun z.B.: Als ACM - Mitglied werde ich: 1. zur Gesellschaft und der menschlichen Wohlfahrt beitragen 2. es vermeiden, andere zu schädigen 3. ehrlich und vertrauenswürdig sein 4. fair sein und diskriminierende Handlungen unterlassen 5. Eigentumsrechte einschließlich Copyrights und Patente respektieren 6. die Privatsphäre anderer respektieren7 7 Vgl. Kizza 1998, S. 19. Capítulo 12 | Página 250 Diese allgemeinen Normformulierungen sollen zum Ausdruck bringen, dass Computerethik als professionelle und praktische Ethik allgemeine moralische Prinzipien, z.B. solche der Fairness, des Respekts für Personen und für die Rechte von Personen, voraussetzt und als Leitprinzipien der entsprechenden beruflichen Praxis anerkennt. Spezifischere berufliche Verantwortlichkeiten des zweiten Abschnitts lauten: Als ACM - Mitglied und “computing professional” werde ich: 1. mich um die höchste Qualität, Effektivität und Würde sowohl in den Verläufen wie auch den Produkten meiner beruflichen Arbeit bemühen 2. professionelle Kompetenz erwerben und erhalten 3. existierende Rechtsregelungen hinsichtlich der Ausübung meiner beruflichen Fähigkeit respektieren 4. umfassende und gründliche Auswertungen von Computersystemen samt deren Auswirkungen einschließlich der Analyse möglicher Richtungen ihres Einsatzes vornehmen 5. Verträge, Übereinkünfte und mir zugeteilte Verantwortlichkeiten einhalten 6. mich bemühen, das öffentliche Verständnis von computationellen Anwendungen und deren Konsequenzen zu verbessern 7. mir zu Computern und Kommunikationsresourcen nur dann Zugang verschaffen, wenn ich dazu autorisiert bin8 8 Vgl. ebenda. Capítulo 12 | Página 251 An Vorgesetzte und Teamchefs ´einfacher´ Entwickler nun richten sich folgende ´Imperative der Organisationsführerschaft´: 1. Ich werde die sozialen Verantwortlichkeiten der Mitglieder von Betriebseinheiten klarstellen und diese ermutigen, denselben gerecht zu werden 2. Ich werde geeignete und autorisierte Verwendungen der Computer –und Kommunikationsresourcen eines Betriebes anerkennen und unterstützen 3. Ich werde mich darum bemühen, dass die Bedürfnisse der Anwender und all derjenigen, die durch den Einsatz eines computationellen Systems betroffen werden, während der Entwurfsphase des Systems klar herausgestellt werden. Das System muss später an diesen Bedürfnissen gemessen werden 4. Ich werde Maßnahmen entwickeln und unterstützen, die die Würde der Anwender und anderer Personen, die durch ein Computersystem betroffen sind, schützen.9 Der ACM - Kodex schließt mit der Verpflichtung, diese Prinzipien nicht nur einzuhalten, sondern auch deren Verletzung als unvereinbar mit weiterer Mitgliedschaft in der ACM zu betrachten. Als praktische Berufsstands-Ethik muss nun aber Computerethik nicht nur verschiedene Arten von Normen berücksichtigen, die sich für ´computer professionals´ aus der Zugehörigkeit zu Unternehmen ergeben; die Bandbreite an sozialen Beziehungen, in denen diese ´professionals´ stehen, geht weit darüber hinaus. Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnisse sind sicherlich auch im Computerbereich Kontrakt-Verhältnisse, die mit allgemeinen Fürsorge –und Sorgfaltspflichten schon rechtlich beladen sind. Aber schon Verhältnisse von Auftraggebern (´Klienten´) und Auftragnehmern (´computer professionals´) besitzen zusätzliche Komplexität, da hier Asymmetrien konstitutiv eingebaut sein können. Solche Verhältnisse10 können (a) nach dem agency – Modell strukturiert sein: der Fachmann handelt quasi als Agent des Auftraggebers; er tut nur das, was dieser in einer Pflichtenheftspezifikation von ihm 9 Vgl. ebenda, S. 20. 10 Vgl. Johnson 1994, S. 45 ff. Capítulo 12 | Página 252 verlangt. Sind Klient-Fachmann-Verhältnisse (b) nach dem paternalistischen Modell angelegt, dann trifft der Fachmann entlang einer groben Spezifikation des vom Klienten Gewünschten alle Entscheidungen; er vertritt den Auftraggeber in allen wesentlichen Belangen. Einzig (c) fiduziäre, also Vertrauensmodelle der Klient - Fachmann-Beziehung haben symmetrische Struktur, zumindest in der Hinsicht, dass Auftraggeber und Auftragnehmer sich die Entscheidungsfindung teilen. Eine noch höhere computerethische Komplexität weist dagegen das Verhältnis auf, in dem Computerfachleute zur allgemeinen, sie gewissermaßen umgebenden Gesellschaft stehen.11 Allein durch die Tatsache ihres nicht allgemein geteilten Wissens bzw. Könnens (also von Macht) wächst ihnen eine Verantwortung zu, die nicht in Verpflichtungen gegen Arbeitgeber oder Klienten aufgeht. Paradigmatisch hat D. Parnas, einer der Chefentwickler am US-amerikanischen SDI-Projekt, dies deutlich gemacht, indem er aus moralischen Gründen einer Sorge um die Menschheit unter Bedingungen eines unter dem Schutzschild von SDI möglicherweise einseitig führbaren Nuklearkrieges die weitere Mitarbeit aufgekündigt und sich informierend und alarmierend an die allgemeine politische Öffentlichkeit gewandt hat.12 Freilich mag man Parnas´ Handlungsweise als extremes Beispiel für computerethisches Handeln betrachten. Es macht aber auch – und gerade – deutlich, dass sich derartiges ´berufsständisches´ Handeln nicht auf binnen-institutionelle Verhältnisse im Rahmen von Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnissen beschränken lässt. Unzweifelhaft haben dies die Hacker immer schon gespürt! – und dem mit der Entwicklung einer Hacker-Ethik Rechnung getragen. Diese Ethik ist natürlich nicht expliziert kodifiziert, aber durchaus als eine Form praktisch-professioneller Computerethik beschreibbar, steht doch außer Frage, dass Hacker als Computerfachleute gelten können. Die implizite Ethik der ersten Hackergeneration Ende der fünfziger Jahre am MIT lässt sich in 5 Prinzipien zusammenfassen:13 11 Vgl. ebenda, S. 48 – 50. 12 Vgl. Parnas 1986 sowie allgemein: Ennals 1986, bes. S. 78 ff. 13 Vgl. Levy 1984, S. 27 – 36. Capítulo 12 | Página 253 1. Zugang zu Computern muss für jeden uneigeschränkt möglich sein 2. Information muss frei sein 3. Misstraue jeder Form von Autorität – Fördere Dezentralisierung! 4. Mit Computern kann man Schönheit und Wahrheit erzeugen 5. Computer können das Leben positiv beeinflussen Diese ´Prinzipien´ stellen sicherlich eine recht heterogene Gruppe dar; aber es sollte ja auch deutlich sein, dass diese Art der ´professionellen´ Computerethik keine Ansprüche auf die Form einer ´berufsständischen´ Ethik erhebt. Weitere ´Grundsätze´ einer ´moderneren´ Hackerethik im Zeichen der allgemeinen Verfügbarkeit von leistungsfähigen Personalcomputern und allgemeinem Internetzugang könnten sein:14 1. Richte keinen Schaden an! 2. Schütze die Privatsphäre! 3. Verschwende keine Ressourcen! 4. Verteidige das Recht auf freie Kommunikation 5. Jeder besitzt ein Recht auf (computationelle) Selbstverteidigung 6. Hacken sollte zur Sicherheit von Computersystemen beitragen 7. Computer sollten Spaß machen! In der Linie dieser ´Grundsätze´ liegt die Interpretation einer berufsfreien, aber aus ´Berufung´ oder einer Art von Sucht erfolgenden Konstruktion von Computerprogrammen als Form der Erschaffung von Kunstwerken. So verstanden schlägt professioneller Umgang mit Computern – quasi ´programmier-ästhetisch´ – die Brücke zu einer anderen Art von Computerethik – einer Ethik, die sich in Zusammenhänge einer Ethik der Konstitution privater Lebensstile, wie wir sehen werden, eingliedert. Festzuhalten aber bleibt, dass es ein Verdienst der ersten Hacker gewesen ist, darauf aufmerksam gemacht zu haben. 14 Ich stütze mich hier auf ein Thesenpapier von F. Wals im Rahmen eines Seminars über Computerethik im WS 1997/98 an der RWTH Aachen. Capítulo 12 | Página 254 II. Computerethik ist nicht nur professionelle oder berufsständische Ethik, sondern auch und wesentlich politische Ethik des öffentlichen Umgangs mit Computern und Informationstechnologie. David Parnas hat seinen Entschluss, die Mitarbeit am SDI-Projekt einzustellen, nicht damit begründet, er verdiene nicht genug Geld oder seine Vorgesetzten seien zu engstirnig. Parnas hat wieder und wieder darauf verwiesen, niemand könne für das notwendig fehlerfreie Funktionieren der hochkomplexen Steuerungssysteme des SDI-Waffenkomplexes eine Garantie übernehmen; die ungeheuren Investitionen in dieses – einseitig wirkende – Sicherheitssystem seien daher nicht verantwortbar – ganz zu schweigen von den politischen Implikationen eines Projektes, das darauf angelegt sei, einen nuklearen Erstschlag in den Rang einer realistischen Möglichkeit zu erheben.15 Solche Argumentationen überschreiten evidentermaßen den enggezogenen Bereich einer Ethik fachmännischen Handelns. Ähnliches zeigt sich an zwei weiteren Beispielen: dem Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichtes zum Problem eines basalen Rechtes auf informationelle Selbstbestimmung der politischen Bürger einer im Entstehen begriffenen, rechtsförmig verfassten Informationsgesellschaft, und der Ende 1997 im Internet publizierten “Erklärung der Menschenrechte im Cyberspace”. Das Bundesverfassungsgericht hat dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung zwar nicht ausdrücklich den Stellenwert eines Verfassungsrechts, eines Grundrechtes also, zugewiesen. Als solches ist dieses “nur” die Weiterführung der Rechtssprechung dieses Gerichts zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht.16 Aber es ist klar, dass dieses Recht nicht berufsständig gebunden ist, sondern für jeden politischen Bürger gilt – wie die verfassungsseitig geschützten Grundrechte auch. Die Erklärung der Menschenrechte im Cyberspace17 ergänzt die universale Erklärung der Menschenrechte der UN von 1948: so tritt z.B. mit Artikel 11 der Erklärung das Recht auf Zugang zu Informationen 15 Vgl. Parnas 1986. Allgemein dazu: Ennals 1986. 16 Vgl. Denninger 1984, S. 291. 17 Vgl. Gelman 1997. Capítulo 12 | Página 255 über öffentliche Institutionen oder ´service provider´ dem ´klassischen´ Menschenrecht auf Gewissens –und Redefreiheit an die Seite. Die politisch-öffentliche Natur dieses Unterbereichs der Computerethik tritt noch schärfer ans Licht, wenn man sich – ohne den zahlreich anzutreffenden Übertreibungen zu viel Gewicht beizumessen – den soziologisch grundlegenden Charakter des Umbaus bzw. der Umwandlung moderner Gesellschaften in Informationsgesellschaften vor Augen führt. Sicher: wie sich die sozialen Architekturen derartiger Gesellschaften ausgestalten werden, lässt sich nicht antizipieren. Aber klar ist doch, dass sich die normative Ethik gegenüber solchen Entwicklungen offenhalten muss. Ich möchte im folgenden vier Problembereiche einer politischen Computerethik, verstanden als praktische Ethik eines ´beginnenden Informationszeitalters´, kurz darlegen. Es handelt sich 1. um das Projekt einer nationalen Informations-Infrastruktur, 2. um den Problembereich der allgemeinen Verfügbarkeit “harter” Verschlüsselungstechnologien, 3. um Grundbestimmungen einer Computer-Pädagogik, deren Aufgabe es sein sollte, für “computer literacy” im weitesten Sinne im Verlauf öffentlich-staatlich organisierter Ausbildungskarrieren zu sorgen und 4. um die “kosmopolitische” Verwendung des Internet und von satellitengestützten informationellen “Netzen” zu Zwecken des – nicht nur “erst-pädagogisch” ausgerichteten – Wissens-, Fähigkeits- und Informationstransfers an “unterprivilegierte” bzw. teilweise in absoluter Armut lebende Populationen wie Slum oder favela – Kinder in Indien oder Brasilien, Indianerstämme in Kalifornien oder auch die “rural poor” in China und Teilen von Schwarzafrika. Informationell vermittelte Armutsbekämpfung und der Versuch, die ´digital divide´ nicht nur national, sondern ´kosmopolitisch´ zu bekämpfen, sind Projekte, die ja erst durch die Existenz solcher ´Netze´ ermöglicht und vorangetrieben werden können. Ad (1): Eine nationale Informations-Infrastruktur umfasst weit mehr als nur das bestehende Telefonnetz. Die Idee einer solchen Infrastruktur ist die Idee eines computerisierten Informationsnetzes, das alle Bereiche der sozialen Wirklichkeit umgreift und miteinander verbindet.18 Es integriert schon existierende Informationsinstitutionen (z.B. Bibliotheken), und greift auf kommunale und zentrale Informationsbestände und Dienstleistungsangebote aus. So sollte es z.B. möglich sein, über 18 Vgl. Williams, F., / Pavlik, J. 1994, S. 3 ff. sowie S. 139 ff. Capítulo 12 | Página 256 öffentlich zugängliche Terminals, deren Benutzung kostenlos ist, kommunale und öffentliche Dienstleistungen abzurufen, also z.B. Fahrzeuge an –oder abzumelden, Pässe oder Sozialleistungen zu beantragen, politisch relevante Informationen über die alltagspolitische Arbeit der jeweiligen lokalen Behörden, Institutionen und politischen Gremien abzurufen oder sich mit Hinweisen und Ratschlägen zu versorgen, die in persönlichen Notlagen verschiedenster Art hilfreich sein können. Der Netzzugang sollte jedem offenstehen, also auch z.B. Personen, die über keinen festen Wohnsitz verfügen oder die kostenpflichtigen Formen des Netzzugangs nicht bezahlen können. Netzzugang wäre ein Teil elementaren Menschenrechts als soziales Schutz –und Förderungsrecht. Nun ist zwar faktisch im Zuge der Privatisierung der bundesdeutschen Telefongesellschaft auch das Telefonnetz in privaten Besitz übergegangen: m. E. ist damals aber die Diskussion über die Alternative einer Überführung des Telefonnetzes in eine Art öffentlicher Trägerschaft nicht nachdrücklich genug geführt worden. Gesellschaftsstrategische Ressourcen wie diese nur unter Aspekten privater Gewinnschöpfung zu betrachten, greift m. E. zu kurz. Freilich ist noch unausgemacht, ob eine Konkurrenz der faktisch privat bewirtschafteten Netze – in Deutschland verfügen ja Bundesbahn und Ernergieerzeugungsunternehmen, erst recht auch Banken, über Netzinfrastrukturen, teilweise Hochgeschwindigkeitsnetze (Glasfaser) – nicht doch zu einem Zustand führen kann, in dem Monopole beseitigt und allgemeiner Netzzugang – u. d .h. auch: Zugang zu ´Inhalten´ – für jeden erschwinglich und möglich geworden ist. Freilich ist dann auch die Wahrung der Privatsphäre bzw. der Schutz der Kommunikationsströme, die über solche Netze geführt werden, vor unerwünschten Öffentlichkeiten ein ernsthaftes Folgeproblem. Denn: Ad (2): Wie weit darf oder muss ein Recht auf Privatheit, technisch betrachtet also auf Verschlüsselung von Nachrichten oder allgemeinen Kommunikationen, die politische Bürger über eine nationale Informations-Infrastruktur laufen lassen, reichen? Gegeben, dass es Verfahren ´sicherer´, d.h. ´harter´ Verschlüsselung gibt, Verfahren, deren Outputs entweder gar nicht oder nur unter Einsatz unrealistisch hoher Computerressourcen wieder allgemein zugänglich gemacht werden können: Sollten solche Verfahren jedem politischen Bürger im ´Cybers- Capítulo 12 | Página 257 pace´ zur Verfügung stehen, oder sollten staatliche Stellen das Recht haben, von solchen Bürgern die Hinterlegung von ´Schlüsseln´ zu ihren privaten Kommunikationen zu verlangen, Software-Schlüsseln, die es ermöglichen, entsprechende Nachrichten, z.B. verschlüsselte E-Mails, aber auch steganografierte Bilddateien, in Klartext zu verwandeln bzw. aus solchen kommunikativ Gemeintes zu extrahieren? Nun, m. E. sollte jeder ´Bürger im Cyberspace´ , wenn er oder sie das wünscht, eine Rüstung anlegen können, die ihn (oder sie) unverwundbar macht, unabhängig davon, ob nur unter dieser Bedingung erwartet werden kann, dass z.B. der elektronische Geschäftsverkehr (e-business), prosaisch: das Einkaufen im Internet, die erwarteten und so sehnlichst herbeigewünschten Umsatzsteigerungen aufweist. Wenn es nämlich ein basales Persönlichkeitsrecht auf informationelle Selbstbestimmung gibt, dann müssen dem Einzelnen, dem ´Cyber-Citizen´, auch die technischen Mittel an die Hand gegeben werden, selbst darüber zu bestimmen, mit wem er über was kommuniziert und mit wem - allen anderen möglicherweise - eben nicht. Dass dadurch auch bestimmte Formen des ´Cyber-Crime´ möglich werden, ist richtig, muss aber m. E. hingenommen werden. Entsprechend lauten auch die einschlägigen Artikel 3 und 12 der ´Declaration of Human Rights in Cyberspace´: A3: Jeder besitzt das Recht auf Privatheit, Anonymität und Sicherheit bei Online Transaktionen. A12: Jeder hat überall das Recht, eine Privatheits-Technologie (privacy technology) zum Schutz der eigenen Kommunikationen und Transaktionen zu wählen; niemand sollte deshalb irgendeiner (Straf) Verfolgung ausgesetzt werden.19 Unzweifelhaft gehört zu einer ausgebauten nationalen Informations-Infrastruktur auch die Anbindung der Schulen an das allgemeine Netz – schließlich ist es ja auch Aufgabe der Schulen, für ´computer literacy´ bei den heranwachsenden Angehörigen von Informationsgesellschaften zu sorgen. Nur: in welcher Weise sollten staatliche Schulen 19 Vgl. Gelman 1997. Capítulo 12 | Página 258 dieses Ziel verfolgen? Wie sollte eine ernsthafte ´Computer-Pädagogik´ z.B. curricular verfasst sein? Ad (3): Ist also nicht eine solche Pädagogik eine der vordringlichsten Aufgaben einer Informationsgesellschaft? Zur Orientierung ein Zitat aus H. von Hentigs Aufsatz ´Aber mit Vernunft. Der Computer ist nur Knecht. Er darf nicht zum Schulmeister werden´.20 Von Hentig schlägt dort in Replik auf Ausführungen des (ehemaligen) Bundesforschungsministers Rüttgers ein ´Gegenkonzept´ für den Einsatz des Computers in den Schulen vor: “Alle Lehrer lernen in ihrer akademischen und praktischen Ausbildung mit dem Computer und dem Internet zu arbeiten, weil der Minister recht hat, daß die Schule kein „Hort“ ist, der die Schüler gegen die böse Wirklichkeit abschirmt und weil Abstinenz aus Angst das schlechteste Motiv für den Nichtumgang mit dem Computer ist. Den Schülern gibt die Schule einen reichen Vorrat an geistigen und sinnlichen Primärerfahrungen. Sie führt die neuen mediengebundenen Kulturtechniken dann ein, wenn diese bei der Lösung eines gegebenen Problems Hilfe versprechen, wie sie eigentlich auch die anderen Kulturtechniken nur in dieser Funktion und nicht “an sich” lehren sollte. Nachdem die Schüler schreiben und rechnen gelernt haben und verstehen, wie das zugeht, kann der Computer – im vierten oder fünften Schuljahr - als “Textverarbeitungsgerät” eingeführt werden: Etwa in der gleichen Zeit wird auch der Taschenrechner benutzt, um die Schüler von den untergeordneten Rechnungen zu entlasten. Über die Medien, ihre Machart und Wirkung zu reden, geben die Kinder täglich Anlaß; der mit diesen Techniken vertraute Lehrer wird verständig darauf eingehen: daß er die Apparate im geeigneten Fall aufsucht (im Medienraum) und an ihnen veranschaulicht, worum es geht, ist pädagogisch selbstverständlich. Im Sachunterricht legt man Wert auf alles, was hilft, Probleme zu erkennen, sich Gedanken über die Lösungen und ihr Zustandekommen zu machen; das ist die beste, die eigentliche Vorbereitung auf den Computer: Der junge Mensch lernt diesen und die Kommunikations- und Informationssysteme für seine Zwecke dienstbar einzusetzen. Wer keine Probleme hat oder seine Probleme nicht versteht, kann den Knecht Computer nicht für sich arbeiten lassen, der bedient diesen nur. Der Computer wird also erst in den oberen Klassen als problem solver eingeführt, na20 Vgl. von Hentig 1997. Capítulo 12 | Página 259 chdem man selber zum problem raiser geworden ist. Die Bedienungskompetenz erwerben Schüler innerhalb von zwei Wochen (Lehrer brauchen etwas länger): Die Einübung sollte nahe am Gegenstand und am Zeitpunkt der Anwendung geschehen - das jeweils letzte Schuljahr genügt dafür. In der Grundschule beginnen heißt nicht nur Zeit verschwenden, an Geräten und Systemen lernen, die in wenigen Jahren gar nicht mehr vorhanden sind - es heißt immer auch: schon das Kind auf den Computer konditionieren. Daß man unbedingt zehn oder dreizehn Schuljahre brauche, um unbefangen mit der Medienwelt umzugehen, widerlegen die von Rüttgers angeführten Nintendo-Kids, die ohne Anleitung “kleine Computer-Experten” geworden sind. Die Schule dient nie nur der Einübung in die Gegebenheiten und Gesetze der Welt, sondern stärkt immer auch die Wahrnehmung, daß der Mensch der Herr über seine Geschöpfe ist. Das macht – nicht zum geringsten Teil - seine Würde aus.”21 Von Hentigs Computer-Pädagogik wirkt merkwürdig verzogen. Wie die empirischen Untersuchungen von S. Papert und Sh. Turkle an Vorschul –und älteren Kindern gezeigt haben22, ist es nicht nur falsch, dass ´in der Grundschule´ beginnende ´Beschäftigung mit Computern´ die Kinder ´auf den Computer konditioniert´ – wenn dies etwa bedeuten soll, dass ihnen der eigensinnige und selbstgesteuerte Umgang mit Computern dadurch zwangsläufig verunmöglicht wird. Es sind eben gerade diese ´kids´ - keinesfalls ´nur Nintendo kids´ -, die die Rechner in weitaus phantasievoll-explorativerer Weise benutzen als nur als Schreibmaschinenersatz: was ja von Hentig ihnen auch erst im vierten oder fünften Schuljahr beibringen möchte. Dass man möglicherweise, wenn man z.B. in der vergleichbar einfachen Computersprache LOGO gelernt hat, die Bildschirmschildkröte einfache Grafiken erstellen zu lassen, deswegen zu einem ´problem raiser´ werden kann, weil man eben schon über ein kreativ erweiterbares Repertoire an Techniken des computationellen ´problem solving´ verfügt, kommt von Hentig nicht in den Sinn. Die Rede vom ´Knecht Computer´ wirkt angesichts der von Sh. Turkle dokumentierten Wei- 21 Von Hentig 1997, S. 50. 22 Vgl. Turkle 1984, S. 29 ff. und S. 113 ff. Capítulo 12 | Página 260 sen eines auf Erfahrung und Selbsterfahrung angelegten Umgangs mit Computern durch ´kids´ (fast bemüht) schulmeisterlich und weltfremd. Eine Computer-Pädagogik, die den Namen verdiente, müsste wohl gerade umgekehrt verfahren: nämlich Freiräume der explorativen Erkundung computationeller Informations –und Erfahrungswelten schaffen bzw. öffnen, um so – auf eine quasi selbststeuernde Weise – zum Aufbau einer sich freilich nicht auf Computerspiele beschränkenden ´computer literacy´ beizutragen. Eine derartige Fähigkeit würde die Individuen in der Folge dann auch in die Lage versetzen, sich in einer Informations-Infrastruktur zurechtzufinden bzw. diese in einer Weise, die möglicherweise Imperativen der Gerechtigkeit genügt, aufzubauen, weiterzuentwickeln und zu benutzen. Von Hentigs ´Computerpädagogik´ scheint geradezu darauf angelegt zu sein, den Kindern den kreativen Spaß an Computern auszutreiben, also eine quasi natürliche Weise des Heran –und Umgehens mit denselben, auf die in den Lebenswelten einer Informationsgesellschaft nicht verzichtet werden kann und sollte, abzublocken und zu verunmöglichen. Ad (4): V. Hentigs ´Computer-Pädagogik´ ist zudem eine Pädagogik für Erziehungsprozesse und Institutionen, die faktisch hochentwickelte Infrastrukturen der ´Ersten Welt´ zwanglos voraussetzen und als funktional gegeben unterstellen kann. Diese – quasi ´zentrisch´ natürlichen – Unterstellungen müssen aber rückgängig gemacht werden, wenn man sich die Perspektiven von Lebensrealitäten indischer Slum-Kinder oder brasilianischer Favela -Bewohner, kalifornischer ´ghettoisierter´ Indianerstämme oder auch Landbevölkerungen Kontinental-Chinas oder Schwarzafrikas zu eigen macht. Man hat es dann mit Bedingungen massiver Armut und Unterprivilegierung zu tun, Bedingungen, die zwar sicher nicht ausschließlich, aber doch zu guten Teilen eine Funktion der globalen Ungleichverteilung gesellschaftlichen Reichtums, von Wissens-, Fähigkeits- und Informationsressourcen – und Zugängen sind. Ich möchte im folgenden kurz darlegen, in welchen Weisen eine nicht - bzw. über-nationale Informationsinfrastruktur wie das faktisch bestehende Internet in solchen Kontexten zu Zwecken der Erziehung und Primärbildung, der Vermittlung von Gesundheits- und Marktinformationen sowie der – zumindest tentativen – Alleviation von allgemeiCapítulo 12 | Página 261 nen Armutsbedingungen eingesetzt werden kann. Das indische Nationale Institut für Informationstechnologie (NIIT) mit Sitz in Neu - Dehli hat in den dortigen Slums ein wichtiges und außerordentlich aufschlussreiches Experiment durchgeführt: “Dieses Experiment basierte auf einem Konzept, das man als „minimalen pädagogischen Eingriff“ beschreiben kann. Dieser Ansatz führte zu ebenso wundersamen wie erstaunlichen Erfolgen. Der Versuch beruhte auf einem “Computer-Kiosk”, einem inmitten eines Slums in Neu - Dehli installierten Computer. Der Rechner war für Einwohner des Viertels ohne Einschränkungen zugänglich. Stellvertretend für viele Slums in Indien weist auch Neu - Dehlis Slumbevölkerung einen hohen Anteil an Kindern auf. Die meisten von ihnen haben noch nie eine Schule besucht, noch sind sie besonders mit der englischen Sprache vertraut. Nichtsdestotrotz fühlten sich die Kinder vor dem Computer “pudelwohl”. Sie begannen sofort mit verschiedenen Anwender-Programmen zu experimentieren und verstanden das Laden von Web-Sites auf Anhieb. Die Kinder erfanden ihr eigenes Vokabular, um die verschieden Eingaben und Befehle an den Computer zu beschreiben. Sie benutzten z.B. Begriffe wie “Sui” für den Kursor. “Channels” für Websites und “kaam kar raha hai” (es arbeitet) für das Sanduhr-Symbol. Sie bildeten auch informelle Lerngruppen, um ihre individuellen Fähigkeiten zu steigern und auszutauschen. Gelernte Fähigkeiten steigerten sich von Suchen/Finden über das Anlegen und Kopieren von Dateien bis hin zur Kommunikation durch kurze Memos via MS Word ohne Eingabe über Tastatur. Anfangs war den älteren Slumbewohnern absolut nicht klar, wozu der in eine Mauer eingebaute Computer-Kiosk gut sein sollte. “Ich denke nicht, dass sie verstanden, was wir vorhatten. Aber solange es ihnen keinen Platz wegnahm, kümmerten sie sich nicht darum.” Bei einer Umfrage äußerten sich die Frauen der Umgebung skeptisch: “Wird uns das Essen bringen?”, fragten sie. Versuche, die Frauen zu überzeugen, den Computer zu benutzen, prallten gegen eine Mauer. Anders bei den Kindern: “Sobald der Computer-Kiosk zur Verfügung, stand wurde er von Kindern zwischen 5 und 16 Jahren benutzt”, bemerkten Sugata Mitra und Vivek Rana vom Forschungszentrum für Lernsoftware von NITT. Bald waren die Kinder absolut gegen die Idee, dass der Computer wieder entfernt Capítulo 12 | Página 262 werden sollte. Die Eltern konnten mit dem Kiosk zwar nichts anfangen und verstanden auch nicht, wozu er gebraucht werden sollte, doch zumindest sahen sie ein, dass er gut für die Kinder war. Für die Forscher ist mit den Resultaten ein klares Argument für die Einrichtung öffentlicher Terminals in Indien gegeben.” (aus: Telepolis Online Edition 30.10.1999) Ohne explizite Unterweisung haben sich die Kinder – augenscheinlich ganz im Sinne der von Hentig´schen ´problem-raiser -und -solver´ - grundlegende Anwendungskompetenzen (´basic computational skills´) selber in Prozessen von Versuch und Irrtum beigebracht bzw. entwickelt. Freilich sind dies nur die ersten, aber eben auch notwendigen Schritte: Da keine ´Lehrer´ im herkömmlichen Sinne diese Prozesse pädagogisch begleiten können, sind die Kinder auf sich allein gestellt: aber gerade deshalb ist auch eine Perspektive ´befähigenden Wissens und Könnens´ eröffnet, die in Ergänzung durch die gleichermaßen notwendige zusätzliche Unterweisung, etwa im Sinne basaler pädagogischer Alphabetisierung, aus den Kontexten kognitiver Unterprivilegierung und entsprechender Lebensverarmung herausführen kann. Ähnliche Projekte sind auch in brasilianischen Favelas zu hause: “Mitarbeiter des Projektes Favela Bairro, mit dem Elendsviertel von Rio zu „normalen“ Stadtvierteln aufgewertet werden sollen, verweisen auf Erfolge bei der Jugendarbeit am PC. Mit der Arbeit am Bildschirm seien viele Jugendliche erheblich stärker als zum Beispiel mit Handwerksarbeiten zu motivieren, sich zu qualifizieren, um sich aus dem Elend zu befreien. Die Projekte konzentrieren sich allerdings auf übersichtliche kleine Favelas – in den großen ist die Angst der Helfer vor der Drogen- und Gewaltkriminalität zu groß. Immerhin zwei Millionen der 5,5 Millionen Einwohner Rio de Janeiros leben in Favelas oder anderen “Problemgebieten”.” (aus: C´T 15.12.2000) Das brasilianische Erziehungsministerium hat im Jahr 2001 ein Projekt lanciert, das darauf abzielt, erst einmal solche grundlegende Bedingungen zu schaffen, die es Favela - Kindern ermöglichen sollen, an derartigen – und anderen – Erziehungsprojekten teilzunehmen. Aus dem Bundeshaushalt wird den favelados pro Kind monatlich 20 Reais – ungefähr 15 bis 18 DM bzw. 10 Euro – gezahlt, damit die Kinder zur Schule gehen bzw. an entsprechenden computationell gestützten Quali- Capítulo 12 | Página 263 fizierungsprojekten teilnehmen können und nicht mehr – bettelnd oder ´arbeitend´- zum ´Familieneinkommen´ beitragen müssen. Auch hier fungiert das Internet als - oft – satellitengestützte Informationsinfrastruktur, in die sich die favelados an lokalen Terminals ´einklinken´ können. Ein weiteres interessantes, wenn auch mehr ´technisches´ Beispiel der Organisation des Zugangs zu den Ressourcen des Internet stellt das kalifornische ´High Performance and Education Network´ (HPWREN) dar: “Forscher an der University of California in San Diego (UCSD ) haben mit modernster, solarbetriebener Funktechnik zwei amerikanischen Indianerstämmen einen Hochgeschwindigkeitszugang zum Internet in ihrem Reservat ermöglicht. Das High Performance and Education NetWork (HPWREN) hat dabei geografische, soziale und technische Barrieren überbrückt. Das mit einem 45 Mbps Wireless Backbone ausgestattete HPWREN verbindet die niedrig gelegene Küstenlinie von San Diego mit den im bergigen Osten gelegenen Reservaten, in denen die beiden Stämme La Jolla und Pala leben. Der Anschluß der beiden Indianerstämme stellte die UCSD-Forscher um den Computerwissenschaftler Hans-Werner Braun und den Geophysiker Frank Vernon auf eine Probe. Größtes Problem war das zerklüftete Terrain, in dem sich die Reservate befinden und das sich von Tälern in 2000 Meter Höhe über dem Meeresspiegel bis hin zu Bergen mit 5000 Metern Höhe erstreckt. “Die installierten Funktürme hatten keinerlei Sichtverbindung” erklärt Braun. “Für den Anschluß des La Jolla Stammes stand uns auf dem Bergkamm noch nicht einmal eine Stromverbindung zur Verfügung”. (aus: C´T online 16.2.2001) Diese widrigen Umstände veranlasste das Forscherteam, ein System aus Solarzellen und Batterien für die Speicherung der gewonnenen Energie aufzustellen, um die digitalen Informationen zu senden. Zusammen mit den Stammesmitgliedern installierten die Forscher Solaranlage und Antenne, über die das Ausbildungszentrum des Reservats mit einem Hochgeschwindigkeitszugang mit dem Internet verbunden werden sollte. Nach einem Test im Herbst vergangenen Jahres haben die beiden Indianerstämme nun seit Dezember schnellen Zugriff auf Capítulo 12 | Página 264 das Internet und Jung und Alt können in den Ausbildungszentren der beiden Stämme im Internet surfen. “Die Kooperation zwischen dem UCSD und den La Jolla gibt unserem Ausbildungszentrum die Möglichkeit auf Informationen und Techniken zuzugreifen, die wir sonst hier bei uns im abgelegenen Reservat nie bekommen hätten” erklärt Jack Musick, Stammesvorsitzender der La Jolla. “Wir werden nun spezielle Lernprogramme ausarbeiten, damit unsere Kinder und Erwachsene von der Verbindung auch einen entsprechenden Nutzen haben”.” (aus: C´T online 16.2.2001) Ähnliche Projekte sind in der Volksrepublik China als Teil eines Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen ins Werk gesetzt worden: “Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) hat am Dienstag ein 2,5-Millionen-Dollar Projekt gestartet, um ländliche Gegenden in China mit Informationen zu versorgen. Das dreijährige Projekt soll die «digitale Teilung» zwischen Stadt und Land überwinden und Armut durch Wissen bekämpfen ... Per Internet soll über Marktpreise, Agrartechniken und nachhaltige Methoden informiert werden. «Verbesserter Zugang zu technischen und geschäftlichen Informationen kann wesentlich zur Reduzierung der wiederkehrenden bitteren Armut beitragen», hieß es. Ziel ist es, die bäuerliche Produktion zu steigern, Agrarprodukte zu vermarkten und die ländliche Wirtschaft auf mehrere Standbeine zu stellen.“ (aus: C´T online 16.2.2001) Ein derartiges Informationsnetz wird vermutlich ebenfalls satellitengestützt arbeiten müssen, da entsprechende lokale Infrastrukturen (Telefonnetz) nicht vorhanden sind. Dies ist auch für Projekte des sog. E-learnings in Schwarzafrika ein grundsätzliches Problem: Lusaka - Im Computerraum der sambischen Universität UNZA sitzen zwölf Professoren aus Schwarzafrika vor den Pentium-Rechnern. Gespannt blicken sie auf die blonde Frau am Flipchart. Die Trainerin von der Tele-Akademie Furtwangen ist gekommen, um den Frauen und Männern das ABC im E-Learning zu vermitteln - eine Chance im bettelarmen Schwarzafrika, den Bildungsrückstand gegenüber den Industrienationen aufzuholen. “E-Learning ist weitaus billiger als die traditionellen Lehrund Bildungseinrichtungen. Außerdem bietet es die Möglichkeit, auch Capítulo 12 | Página 265 Menschen auf dem Land, abseits der urbanen Zentren, mit Bildung zu versorgen”, meint Workshopteilnehmer Daniel Nkhuwa. Der Sambier lehrt an der Universität von Lusaka Umwelttechnologie und Stadtentwicklung. Er verbindet Internet und E-Learning auch mit der Hoffnung auf intensivere internationale Kooperation. 800 Millionen Menschen leben in Afrika. Trotz des Handy-Booms und der rasanten Ausbreitung von Internetcafés haben bisher nur rund drei Millionen (0,4 Prozent) Zugang zum Web, die meisten von ihnen in Südafrika. Zum Vergleich: In Nordamerika sind 54 Prozent der Menschen online, in Deutschland 22 Prozent. So sieht auch die Furtwanger Trainerin Mirja Mahringer in den fehlenden technischen Ressourcen die größte Hürde für den Einsatz von E-Learning. “Die Vernetzung und flächendeckende Anbindung an schnelle Datennetze ist ein Riesenproblem”, sagt die Expertin. “Das Telefonnetz ist zum Beispiel in Sambia außer in den Großstädten Kitwe und Lusaka so katastrophal, dass langfristig nicht darauf gesetzt werden kann.” Tatsächlich haben 80 Prozent der Weltbevölkerung keinen Telefonanschluss. In 35 der insgesamt 54 afrikanischen Länder teilen sich im Schnitt über 100 Einwohner eine Telefonleitung - und die ist meist von schlechter Qualität. Fürs Internet sind die Leitungen oft unbrauchbar: Mal steht die Verbindung nach zehn Minuten, mal nach zwei Stunden. Und bricht nicht selten nach zwei Minuten wieder zusammen. Einen Ausweg sieht Trainerin Mahringer in der Funk- und Satellitentechnologie. Allerdings gibt es auch da noch zahlreiche Hürden - technologische wie finanzielle. So taugt der Mobilfunk für Internetanschlüsse deshalb noch nicht, weil “die Übertragungsrate mit 9,6 Kilobit pro Sekunde zu niedrig ist”, erklärt Uwe Afemann von der Deutschen Stiftung für internationale Entwicklung. Und eine Satelliten-Verbindung, die 128 Kilobit pro Sekunde schafft, kostet im Monat Gebühren zwischen 3000 und 5000 Dollar. Professor Daniel Nkhuwa aber besteht darauf: Internet und E-Learning seien eine Form der “Hilfe zur Selbsthilfe für uns Afrikaner”. Und auch Ausbilderin Mahringer bestätigt: “Die unglaubliche Wissbe- Capítulo 12 | Página 266 gierigkeit während der fünf Tage Workshop zeigen mir, diese Trainings sind notwendig.”” (aus: Frankfurter Rundschau 13.4.2002). Möglicherweise sollte in diesem Zusammenhang auch die sog. ´Entwicklungshilfe´ der ´Ersten Welt´ neue Schwerpunkte setzen, etwa z.B. dort helfend einspringen, wo entsprechende informationelle Infrastrukturen aus ´lokalen´ Ressourcen nicht zu finanzieren sind – die erwartbaren Multiplikatoreffekte könnten sicherlich beträchtliche Ausmaße annehmen. Derartige Überlegungen sind – und damit möchte ich diesen letzten Abschnitt des Konzepts einer Computerethik als öffentlich-politischer Ethik abschließen – auch auf dem Davoser Weltwirtschaftsforum vorgetragen worden. “Computer und Internet könnten die Entwicklung armer Länder nach Ansicht von Experten durch die Verbreitung lebenswichtiger Informationen vorantreiben. Damit die Menschen davon profitieren können, müssten allerdings Computer gebaut werden, die ohne Anschluss ans Stromnetz laufen und von Analphabeten genutzt werden können.“ sagte Raj Reddy, Informatik-Professor an der Carnegie Mellon Universität beim diesjährigen Weltwirtschaftsforum in Davos. Reddy appellierte an das Weltwirtschaftsforum, die Vereinigung der rund 1000 größten Unternehmen der Welt, den Anstoß für die Entwicklung neuer Computer zu geben. Die Maschinen müssten erschwinglich und mit Spracherkennung für Analphabeten ausgestattet sein sowie störungsfrei auch dort laufen, wo es keinen Anschluss ans Stromnetz gibt. Regierungen müssten umsonst die Internet-Verbindung über Satellit zur Verfügung stellen, und Hilfsorganisationen sollten Webseiten mit Informationen für Menschen in abgelegenen Regionen schaffen. Auch John Gage, Direktor der Forschungsabteilung bei Sun Microsystems, und Anuradha Vittachi, Direktorin der britischen Menschenrechtsorganisation Oneworld, zeigten sich nach einem Bericht der Nachrichtenagentur dpa überzeugt, dass Informationstechnologie bei der Bekämpfung der Armut helfen kann. Die Mutter, die per Telefon oder Computer herausfinden könne, wie sie ihr krankes Kind behandeln muss, der Bauer, der in Erfahrung bringen kann, ob die Preise für seine Früchte auf einem entlegenen Markt hoch genug sind und sich die lange Reise dahin lohnt, die Dorfbewohner, die verfolgen können, wo das Geld Capítulo 12 | Página 267 für ihr neues Schulhaus abgeblieben ist – diese Beispiele würden eine Verbesserung der Lebensqualität zeigen.” (aus: C´T 30.1.2001) Freilich kann man nun auch immer einwenden, all dies seien wohlmeinende Ratschläge und ´edle´ Projekte: angesichts der Tatsache massiven ´verschuldungs-historisch´ bedingten Reichtumstransfers aus der sog. ´Dritten´ in die ´Erste´ Welt aber nicht recht ernst zu nehmen. Selbst wenn man dies konzediert – und wer wollte diese globalen Ungleichverhältnisse ernsthaft bestreiten – so scheint es mir doch ungerechtfertigt, die entsprechenden Projekte schon abzuschreiben. Es ist klar, dass die informationstechnologische Entwicklung und der damit einhergehende ´Fortschritt´ genuin politische Problemkontexte –und Lösungen nicht überspringen oder gar ersetzen kann. Aber wer z.B. miterlebt hat, was es für Straßenkinder in brasilianischen Favelas bedeutet, entsprechende Wissens- und Ausbildungschancen zu erhalten, wird sich einer derartigen ´groß´-pessimistischen Einschätzung nicht völlig überantworten. III. Neben den Formen einer professionell-berufsständischen und politisch-öffentlichen Ethik lässt sich Computerethik nun auch noch in einer dritten Bedeutung verstehen: als privat-persönliche Ethik der Verwendung von und des Umgangs mit Computern und Informationstechnologie im Rahmen einer umgreifenden Ethik privater Lebensstile und persönlich-existentieller Lebenssinn-Konstitutionen. Als solche ist Computerethik dann eine Individual –und Privatethik und nur auf persönliche und jeweils individuell wechselnde Konzeption dessen bezogen, was Individuen für sich als ein gutes und glückliches Leben ansehen und zu realisieren trachten. Es ist sozio-psychologisch unstrittig, dass Individuen, sofern diese in modernen Gesellschaften leben, die zunehmender und sich immer weiter beschleunigender Informatisierung ausgesetzt sind, zwangsläufig vor die Frage gestellt werden, wie sie auf diese Informatisierung und Computerisierung in den privaten und gekapselten Kontexten ihres Lebens und ihrer Lebenswelten reagieren können. N. Negroponte hat für diese Herausforderung den glücklichen Ausdruck ´being digital´ ge- Capítulo 12 | Página 268 prägt23. ´Being digital´ als Weise der Existenz von Individuen in informatisierten Lebenswelten umfasst mehr als z.B. den nur gelegentlichen Aufbruch in das Online-Universum des Internet oder die Mühen der computerisierten Konto –und Budgetverwaltung. ´Being digital´ bezeichnet gewissermaßen eine Seinsweise, die Individuen auf die Höhe der Zeit eines Informationszeitalters bringt, welches die gesamte Bandbreite der Optionen privater Lebensführung prägt und zutiefst durchdringt. Sh. Turkle hat in ihrem Buch ´Life on the Screen. Identity in the Age of the Internet´24 eindrucksvoll beschrieben, welche – oftmals verstörenden – Erfahrungen und Selbsterfahrungen Individuen unter wechselnden Online-Identitäten in den Chat-Rooms, auf den Marktplätzen, aber vor allem in den virtuellen Rollenspielwelten des Cyberspace machen können. Wer jemand ist bzw. sein möchte oder könnte, ist nicht festgelegt, sondern eine Funktion der jeweiligen Interaktionen – es bleibt der Phantasie und dem sprachlichen Interaktionsvermögen der Individuen überlassen, als was sie gelten wollen, und unter was für Identitätszuschreibungen der Spiel –und Rollenpartner interpretiert wird und sie selber interpretiert. Die Möglichkeit, mit Identitäten zu experimentieren, ist nun aber keinesfalls nur spielerischer Natur und entsprechend ´harmlos´. Im Usenet-Teil des Internets, also in dem Bereich, in dem die Newsgruppen angesiedelt sind, gibt es ein Forum für Computer –und Internet-Süchtige – die ´Internet-Addiction-Group´- , in der Individuen sich über die Probleme sog. kompulsiver Computer – bzw. Internetnutzung austauschen. In den frei für jeden lesbaren Messages ist alarmierend oft die Rede vom völligen Zusammenbruch des bisherigen sozialen Lebens des Internetsüchtigen: Freundschaften, Familien und berufliche Verpflichtungen, Selbstverständnisse und Lebensorientierungen - alles scheint sich in dem Strudel der digitalen Sucht nach online-Erfahrungen und Experimenten aufzulösen. Weniger spektakulär sind andere Problemstellungen einer Computerethik als Ethik privater Lebensstile, die z.B. den akzeptablen Grad einer Computerisierung des privaten Alltags betreffen. Wäre man bereit, in einer Wohnung oder einem Haus zu leben, das durchgängig computerisiert ist? Ein Haus, in dem nicht nur der Wecker am Morgen computer23 Vgl. Negroponte 1995. 24 Vgl. Turkle 1995, S. 177 ff. Capítulo 12 | Página 269 gesteuert zur richtigen, weil vorprogrammierten, Zeit klingelt, sondern das Badewasser vorgewärmt in die Wanne eingelassen ist, das Radio den Lieblingssender schon spielt, frischer Kaffee bereitsteht und – natürlich! – der Toaster, der über die zentrale Computersteuerung des Hauses mit dem Internet verbunden ist, den jeweils letzten, aktuellen Stand der Lieblingsaktie beidseitig in die knusprigen Weißbrotscheiben gebrannt hat? Freilich: Lebensstile und Identitäten sind nicht frei verfügbar – zumindest nicht für reale Menschen. Es ist aber m. E. unbestreitbar, dass die Informatisierung der umfassenden sozialen Wirklichkeiten nicht nur (unter normalen Bedingungen der sozialen Evolution) irreversibel ist, sondern auch zu einer Engführung des Bereichs der privaten Wahloptionen führt, die in einer so verstandenen Computerethik ebenfalls reflektiert werden muss. Welche positiven, das Spektrum der menschlichen Lebens-Möglichkeiten erweiternden Konsequenzen diese Informatisierung hat und noch haben wird, bleibt dem Leben und der gesellschaftlichen Erfindungsgabe der Individuen selber überlassen. Die drei Subdisziplinen einer praktischen Computerethik – professionelle oder berufsständige Ethik, politisch-öffentliche Ethik der Informationsgesellschaft und Privatethik der Lebensstile und Lebenssinn-Konstitutionen – stehen nun keinesfalls unvermittelt nebeneinander. Alle drei Bereiche können normativ ineinandergeschoben sein und decken als solche – gewissermaßen – verschiedene mögliche Aspekte und Konstellationen einer menschlichen Existenz in den sozialen und privaten Kontexten sich entwickelnder und entwickelter Informationsgesellschaften ab. Ihre Einheit finden sie in der normativen Verankerung an identischen Personen qua Individuen unter den wechselnden Beschreibungen als professionelle oder Wirtschaftssubjekte, als politische Bürger eines normativ verfassten Gemeinwesens und als Privatleute, die ihre individuellen Biographien und Lebensverläufe in ihren jeweiligen Lebenswelten zustande bringen müssen. Am Beispiel D. Parnas´ wird deutlich, wie die politisch empfindlichen Inhalte computerethischer Überzeugungen enge berufsständische Bindungen aufheben können; es ist ebenfalls einsichtig, dass private computerethische Entscheidungen nicht nur die Wahl von Ausbildungen oder Berufen beeinflussen, sondern auch in Positionen politischer Capítulo 12 | Página 270 Orientierung in sich entwickelnden Informationsgesellschaften ihren Niederschlag finden können. Die öffentlichen Diskurse ´in Zeiten des Internet´ und der scheinbar unaufhaltsam fortschreitenden Computerisierung und Informatisierung aller gesellschaftlichen und privaten Wirklichkeiten müssen deshalb zunehmend auch computerethische Überlegungen aufnehmen und weitertreiben. In welchem normativen Rahmen dies geschehen könnte, habe ich versucht zu skizzieren. Bibliographie DENNINGER, E., 1984, Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und Innere Sicherheit. Folgerungen aus dem Volkszählungsgesetzurteil des Bundesverfassungsgerichts. Rechtsgutachten erstattet im Auftrag des Hessischen Ministerpräsidenten, in: Symposium der Hessischen Landesregierung. Informationsgesellschaft oder Überwachungsstaat. Strategien zur Wahrung der Freiheitsrechte im Computerzeitalter, Hessendienst der Staatskanzlei, Wiesbaden. ENNALS, R., 1986, Star Wars. A Question of Initiative, J. Wiley, Chichester & New York. FORESTER, T. MORRISON, P., 1994, Computer Ethics. Cautionary Tales and Ethical Dilemmas in Computing, MIT Press, Cambridge, Mass. GELMAN, R.B., 1997, Draft Proposal: Declaration of Human Rights in Cyberspace. Web-Dokument auf: www.be-in.com/9/ten/ten.html. JOHNSON, D. G., 19942, Computer Ethics, Prentice Hall, Englewood Cliffs. KIZZA, J. M., 1998, Ethical and Social Issues in the Information Age, Springer, New York. LEVY, ST., 1984, Hackers. Heroes of the Computer Revolution, New York. MOOR, J. H., 1985, What is Computer Ethics?, in: Metaphilosophy 16, S. 266 – 275. MORAVEC, H., 1988, Mind Children. The Future of Robot and Human Intelligence, Harvard UP, Cambridge, Mass. Capítulo 12 | Página 271 MORAVEC, H., 1996 - 1, Geisteskinder. Universelle Roboter: In vierzig Jahren haben sie uns überholt, in: c´t 1996, Heft 6, S. 98 – 104. MORAVEC, H., 1996 – 2, ´Auf lange Sicht sind wir natürlich völlig obsolet´. Hans Moravec im Gespräch mit Thomas J. Schult, in: c´t 1996, Heft 6, S. 106 – 111. NEGROPONTE, N., 1995, Being Digital, New York. NIDA-RÜMELIN, J., 1996, (Hg.): Angewandte Ethik. Die Bereichsethiken und ihre theoretische Fundierung, Stuttgart. PARNAS, D., 1986, ´Die Software bleibt der Schwachpunkt bei SDI´. Gespräch mit David Parnas, in: Computerwoche 28.11.1986, S. 52. SEVERSON, R. W., 1997, The Principles of Information Ethics, New York & London. TURKLE, SH., 1984, Die Wunschmaschine. Vom Entstehen der Computerkultur, Rowohlt, Reinbek. TURKLE, SH., 1995, Life on the screen. Identity in the Age of the Internet, New York. VON HENTIG, H., 1997, Aber mit Vernunft. Der Computer ist nur Knecht. Er darf nicht zum Schulmeister werden, in: Die ZEIT 19.9.1997, S. 50. WILLIAMS, F./ PAVLIK, J.V., 1994, (eds.): The People´s Right to Know. Media, Democracy and the Information Highway, Hillsdale. Capítulo 12 | Página 272 Wittgenstein: Sobre Certeza, Regras e Normas1 Prof. Dr. Roberto Hofmeister Pich2 PUCRS - Brasil Introdução As notas de Ludwig Wittgenstein compostas em 1949-1951, compiladas e publicadas postumamente sob o título “Da certeza” (Über Gewißheit)3, reconhecidamente atestam um Wittgenstein que, independentemente de admirar o caráter e o poder do filósofo e de ter se sentido deveras estimulado pelo “paradoxo de Moore” (PU 190-192), não ficou impressionado com as tentativas mooreanas de refutar o idealismo e/ou o ceticismo. Ao que parece, os dois autores teriam discutido tais linhas de refutação em algum período anterior4, mas foi por ocasião de uma visita de Wittgenstein a Norman Malcolm, em Ithaca (New York), onde teriam discutido os ensaios de Este estudo foi originalmente publicado in: Helder Buenos Aires de Carvalho e Maria Cecília Maringoni de Carvalho (orgs.), Temas de ética e epistemologia, Teresina: Edufpi, 2011, p. 177-199. Nenhuma modificação foi feita no mesmo, à exceção de algumas poucas correções ortográficas que ali haviam ficado. Atendendo à solicitação dos editores do presente volume, acreditei que a sua publicação em outro veículo pudesse ajudar a divulgar o artigo, ao menos facilitar a sua utilização por quem o julgar útil. A única novidade constante aqui é o breve diálogo com Juliano do Carmo, que aparece como Apêndice. Em realidade, Juliano do Carmo leu a exposição com notável atenção, mas absolutamente não incomum para si. Por isso mesmo, julguei oportuno sugerir que o diálogo, iniciado em mensagens de e-mail, constasse como modesto caso de repercussão textual. 1* 2** Doutor em Filosofia, professor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUCRS. Sobre o contexto de surgimento da obra, cf. D. Moyal-Sharrock, Understanding Wittgenstein’s On Certainty, p. 1-32 (Introdução e Capítulo 1). Cf. também M. Samures, Sobre Da certeza de Ludwig Wittgenstein. Um estudo introdutório, p. 10-29. 3 4 Em 1929, em Cambridge. Moore Defense of Common Sense (1925) e, sobretudo, Proof of an External World (1939), na base, porém, do estudo Defending Common Sense, de Malcolm, que os temas do ceticismo e do fundamento do conhecimento voltaram a interessar Wittgenstein5. Assim, pois, a obra posteriormente intitulada “Da certeza” mostra influência tanto dos papers de Moore como das interpretações discutidas de Malcolm, ainda que, ao final, distancie-se do modo de abordagem – de refutação do ceticismo – desses dois autores6. Há hoje certa concordância de que o tema do ceticismo, em Da certeza, é abordado de modo muito particular por Wittgenstein, em se exigindo uma comparação, por exemplo, com as notas do Tractatus logico-philosophicus e, sobretudo, das Investigações filosóficas sobre o tema do conhecimento, assim como há contínuas discussões – e, atualmente, em maior e crescente número7 – se a atitude geral de aversão ao ceticismo, que Wittgenstein busca estabelecer, consegue mostrar-se competente nesse objetivo, ao serem consideradas versões “fortes” do ceticismo, como o ceticismo global8. De todo modo, um aspecto que nem sempre tem sido percebido, naquelas pesquisas que se autocompreendem como expositivas da atitude desabonadora de Wittgenstein acerca do ceticismo, é 5 Cf. N. Malcolm, Nothing is Hidden: Wittgenstein’s Criticism of his Early Thought, p. 201235. Uma nota sobre esses assuntos, no que tange a Moore, pode ser lida em N. Malcolm, George Edward Moore, in: N. Malcolm, Knowledge and Certainty, p. 173-182. Cf. M. Kober, Certainties of a World-Picture: The Epistemological Investigations of On Certainty, in: H. Sluga and D. G. Stern (eds.), The Cambridge Companion to Wittgenstein, p. 411-413. Para a presente exposição, sobretudo na progressão dos tópicos, balizo-me – aqui, pois, declaradamente – neste estudo de M. Kober. Cf. também H. Sluga, Ludwig Wittgenstein: Life and Work – An Introduction, in: H. Sluga and D. G. Stern (eds.), The Cambridge Companion to Wittgenstein, p. 22-23. 6 Um exemplo notável – e atual – é todo um conjunto de estudos da obra organizada por D. Moyal-Sharrock, Readings of Wittgenstein’s On Certainty, p. 142-274, com ensaios de A. Rudd, Th. Morawetz, D. Pritchard, M. Kober e E. Minar. Algo semelhante pode ser dito de D. Moyal-Sharrock (ed.), The Third Wittgenstein. The Post-Investigations Works, 2005. Cf. também D. Moyal-Sharrock, Understanding Wittgenstein’s On Certainty, p. 157-201. Cf. ainda, em língua alemã, M. Kober, Gewißheit als Norm: Wittgensteins erkenntnistheoretische Untersuchungen in „Über Gewißheit“, 1993; H.-K. Kim, Gewissheit und Skeptizismus bei Wittgenstein, Neue Untersuchungen und Einsichten zu alten Zweifeln, 2006; A. Krebs, Worauf man sich verlässt – Sprach und Erkenntnisphilosophie in Ludwig Wittgensteins „Über Gewissheit“, 2007. 7 8 M. Kober, Certainties of a World-Picture: The Epistemological Investigations of On Certainty, in: H. Sluga and D. G. Stern (eds.), op. cit., p. 412, não crê que a obra consiga cumprir esse propósito. Em uma proposta incomum, e que não será discutida neste breve estudo, R. Fogelin, Wittgenstein, p. 226234, asseverou que o movimento filosófico com o qual a filosofia tardia de Wittgenstein mais se parecia, incluindo a obra última e inacabada Da certeza, seria, apesar de toda a aparência contrária do primeiro ao último dos seus escritos, o ceticismo pirrônico. Cf. também idem, Wittgenstein and Classical Scepticism, in: S. Shanker (ed.), Ludwig Wittgenstein. Critical Assessments, Vol. 2, p. 169-175. Capítulo 13 | Página 276 que, ao oferecer um relato filosófico próprio sobre a “estrutura epistêmica dos jogos-de-linguagem” (M. Kober) em geral e, deve-se acrescentar, de alguns tipos de jogos-de-linguagem em particular – aqueles respectivos a usos e atitudes particularmente fundantes sobre o mundo exterior –, Wittgenstein acaba por teorizar novamente sobre a natureza das regras que constituem os jogos-de-linguagem9. Nesse sentido, o presente estudo deve ser visto como uma tentativa simples10 de estabelecer o próprio eixo norteador de uma obra wittgensteiniana que se apresenta como “epistemológica”, sem, no entanto, sê-lo em sentido primário ou essencial: quer-se estabelecer o conceito mesmo de certeza, perseguindo a Consideração Final de que a sua categoria é lógico-lingüística e só por esse motivo pode ele, em sentido secundário ou derivativo, servir para o inquérito da epistemologia, isto é, servir ao propósito de legitimar uma atitude de recusa ao ceticismo. Em outras palavras, quer-se aproximar a noção de “certeza” à noção de “regra” (e de “norma”) dentro da referida obra (Divisões 2, 3 e 4) e perceber o que essa aproximação oportuniza para o entendimento da natureza da linguagem, e só então – o que, de início, pareceria mais óbvio – o que ela proporciona para um relato geral do conhecimento (Divisões 1 e 4). Em verdade, é precisamente na remodelação teórica da noção de certeza que o tema do ceticismo (sobre o mundo exterior) tem espaço de tratamento, para Wittgenstein, residindo no seguinte ponto de partida o seu distanciamento face à estratégia argumentativa adotada por G. E. Moore: da revisão da natureza da linguagem como uso à rejeição teórica do ceticismo a relação é boa. Certeza e conhecimento Primeiramente, proponho explorar a tese manifestamente defendida por Wittgenstein, em Da certeza, de que “conhecimento” e “certeza” pertencem a diferentes “categorias” (ÜG 308). O proteico verbo “conhe- Cf. M. Kober, Certainties of a World-Picture: The Epistemological Investigations of On Certainty, in: H. Sluga and D. G. Stern (eds.), op. cit., p. 412. Cf., sobre o tema das “regras” e do “seguimento de regras”, P. Boghossian, The Rule-Following Considerations, in: Mind, p. 507-549; D. Bloor, Wittgenstein, Rules and Institutions, 1997 (sólida leitura “coletivista” daqueles temas); K. Puhl, Regelfolgen, in: E. von Savigny (Hrsg.), Ludwig Wittgenstein – Philosophische Untersuchungen, p. 122-142; o locus classicus do conceito de regra é L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, §§ 80-86, e o da noção de seguimento de regras é §§ 217-219. 9 10 Como uma introdução aos problemas da abordagem wittgensteiniana sobre o conhecimento. Capítulo 13 | Página 277 cer” (wissen) pode ser usado de muitas maneiras11, para expressar alegações diversas, usos que, porém, ainda que admitam diferenças, parecem poder perfeitamente se cruzar ou justapor-se, como é simples perceber que alguém que alega “Eu sei que X” pode também perfeitamente estar com isso dizendo “Estou convicto de que X” (ÜG 18, 176, 181, 591, 620 e muitos outros). O sentido contrastante interessante entre “conhecer” e “ter certeza” (sicher sein), entre “conhecimento” (Wissen) e “certeza” (Sicherheit, Gewißheit), porém, melhor aparece em casos de práticas expressando pretensões de conhecimento, às quais, segundo critérios comuns aos envolvidos, podem ser pedidas e dadas “razões” (Gründe, Begründungen) ou então se admitem “certezas”. Seja de que maneira “conhecimento” e “certeza” forem definidos, é inequívoco que, no sentido interessante à filosofia, não são “estados psicológicos” (Seelenzustände, innere Vorgänge) ou “sentimentos” afins (com palavras afins), que podem ser chamados de aspectos “subjetivos” inerentes às práticas respectivas (ÜG 38, 194, 308, 524, 563)12. “Saber” por “dar razões”, “ter certeza” e mesmo “duvidar” ou a “dúvida” (zweifeln, Zweifel) estão no domínio do “objetivo” e do “lógico”, isto é, da impossibilidade do erro e da possibilidade do dar razões, da impossibilidade do erro e da impossibilidade do dar razões, da possibilidade tanto do dar quanto do pedir razões13: todos esses, em particular a dúvida, estão no cerne de modos objetivos de comportamento ou de jogos-de-linguagem (ÜG 4, 154, 231, 251-255, 333-334, 519). Ao conhecimento vincula-se, pois, em especial, o tipo de prática que consiste em “dar razões”, a qual, como anota M. Kober com razão, é “pública” ou é um jogo-de-linguagem “de uma comunidade”14. Nesse sentido, também aquilo que contemporaneamente se toma por “justificação” de uma crença de conteúdo proposicional sobre um aspecto do mundo deve ser entendido como uma atividade regida por regras e critérios apropriados 11 Sobre os usos de “eu sei” ou “eu conheço” (“I know”, “ich weiss”) em Da certeza, cf. o estudo de Th. Morawetz, The Contexts of Knowing, in: D. Moyal-Sharrock and W. H. Brenner (eds.), Readings of Wittgenstein’s On Certainty, p. 165-183. 12 Os tópicos do “conhecimento objetivo” e da “certeza objetiva” são exaustivamente tratados por D. Moyal-Sharrock, Unravelling Certainty, in: D. Moyal-Sharrock and W. H. Brenner (eds.), Readings of Wittgenstein’s On Certainty, p. 76-99. Cf. M. Kober, Certainties of a World-Picture, in: Hans Sluga and David G. Stern (eds.), op. cit., p. 413-414; A. Stroll, Why On Certainty Matters, in: D. Moyal-Sharrock and W. H. Brenner (eds.), Readings of Wittgenstein’s On Certainty, p. 35ss. 13 14 Cf. M. Kober, Certainties of a World-Picture, in: Hans Sluga and David G. Stern (eds.), op. cit., p. 414. Capítulo 13 | Página 278 a uma dada prática “epistêmica”. Wittgenstein, a propósito, faz uso geral da expressão “justificação” (Rechtfertigung) como “dar razões”, tal como, na história da filosofia, em geral “dar razões” acompanha a pretensão de conhecimento proposicional (ÜG 192). O modo de justificar uma crença ou alegação de conhecimento deve atingir as exigências de um dado jogo-de-linguagem, podendo o próprio exercício de justificação variar, em grau de exigência, segundo a prática em questão – assim como, por exemplo, um jogo de justificação pode se vincular às regras e aos critérios de uma prática da filosofia ou de uma prática de uma ciência da natureza, como a física por exemplo. Não há por que questionar que15 regras e critérios do justificar alegações de conhecimento não estão perenemente fixados e podem variar com o tempo, na história das comunidades de praticantes, tal como nas culturas, nas sociedades e em especial nas ciências16. Efetivamente, é na consideração de práticas explicitamente “epistêmicas” – de alegar ou duvidar de algo, de argumentar acerca de algo, etc. – que, em Da certeza, “conhecimento” e “certeza” são distinguidos. Sejam quais exemplos possam ser seguidos ou construídos a partir das notas de Wittgenstein, jogos-de-linguagem epistêmicos têm, ao final, a seguinte descrição básica: “dar razões” de proposições conhecidas tem um fim, mas o fim do exercício de dar razões não são proposições verdadeiras que se revelam autoevidentes. O fim do jogo da “justificação da evidência” não é uma espécie de “visão” ou “intuição” (eine Art Sehen) da conexão de conceitos; antes, é “um modo de ação não-fundamentado” (eine unbegründete Handlungsweise), “o nosso agir [unser Handeln] que reside no fundo do jogo-de-linguagem” (ÜG 108, 110, 204)17. A partir daí, lança-se um elemento central de uma teoria filosófica sobre o conhecimento, a justificação e a dúvida. Ora, na base do jogo- ou da prática-de-linguagem, em particular da prática epistêmica, em que, de fato, alega15 Ao menos em muitos casos, ainda que não necessariamente em todos os casos. O que é ratificado ao explorar-se a anterioridade da certeza a partir da reflexão sobre contextos e descrições do aprendizado da linguagem como uso (cf. abaixo sob 3). 16 Cf. M. Kober, Certainties of a World-Picture, in: Hans Sluga and David G. Stern (eds.), op. cit., p. 414-415. De que modo, nesses termos de “certezas”, “razões” e “proposições conhecidas”, a estrutura do conhecimento como crença justificada pode ser estabelecida, dado que parece haver, ali, em última análise um espaço para crenças não-inferenciais sobre o mundo, constitui um problema a parte; cf. sobre esse assunto R. Audi, Epistemology. A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge, Capítulo 7 (“The Architecture of Knowledge”), p. 184-216, em que o autor, ademais, cf. id. ibid., p. 215, nota 11 (e também p. 207-208), alerta para o peso das certezas como forma de “metáfora fundacionista”, nas práticas epistêmicas na obra Da certeza. 17 Capítulo 13 | Página 279 ções de conhecimento podem, redutivamente e em cadeia, ser oferecidas para outras alegações de conhecimento, consta, por fim, justamente uma “certeza” (ÜG 115, 192, 204, 232, 563). A certeza dentro de um jogo epistêmico específico (como seriam aquelas de um complexo de jogos em favor de uma alegação de conhecimento mais exigente) pode ser mostrada pelo nosso agir – ou nosso comportamento –, e como tal pode, na melhor hipótese, ganhar expressão através de sentenças, dado que certezas não são grandezas proposicionais18 ou ao menos não são meras proposições empíricas. Em analogia apenas a determinadas proposições empíricas (cf. logo abaixo), na circunstância de alguém ser questionado se sabe ou não andar de bicicleta, acaba o jogo de pedir e dar razões, quando o questionado, insistindo no seu relato de que “Tais procedimentos e movimentos constituem o que é andar de bicicleta”, executa concretamente aquilo que foi solicitado. Se uma razão só pode ser dada dentro de um jogo – como o de comunicar-se sobre andar de bicicleta e/ou sobre o modo de pôr bicicletas em movimento –, a cadeia de razões chega a um fim tal como se chega à fronteira do jogo respectivo (ÜG 155, 175, 196, 219-220). Em muitos casos, itens que podem ser chamados de amostras linguísticas de tais fronteiras – novamente não as ações em si, que são inefáveis – reproduzem “proposições mooreanas” (ÜG 111, 291, 448)19: “A Terra é redonda”, “Sei que eu jamais estive na lua”, “A Terra existia há muito antes de eu nascer”, “Esta é a minha mão”, etc.20. Em segundo lugar, deve ser explicitamente enfatizado que aquilo que é considerado uma certeza, não sendo uma proposição ou asserção como tal, é antes a “competência” ou o “modo de ação” mesmo pelo qual Esse ponto é explicitamente tematizado em M. Kober, ‘In the Beginning was the Deed’, in: D. Moyal-Sharrock and W. H. Brenner (ed.), Readings of Wittgenstein’s On Certainty, p. 226-227, onde afirma, ao listar itens da descrição correta da prática de justificação, que: “3. The ‘chain of reasons (justifications, explanations, grounds)’ comes to an end that can be characterized by a peculiar status within the ‘logic’ of the respective practice; the end, however, does not consist in true propositions that are specifiable in cognitive terms”. Sobre a interpretação “proposicional” e a interpretação “não-proposicional” da natureza das certezas, cf. também E. Minar, On Wittgenstein’s Response to Scepticism: The Opening of On Certainty, in: D. Moyal-Sharrock and W. H. Brenner (ed.), Readings of Wittgenstein’s On Certainty, p. 253-260. 18 Sobre as “proposições mooreanas” em Da certeza, cf., por exemplo, E. Minar, Wittgenstein’s Response to Scepticism: The Opening of On Certainty, in: D. Moyal-Sharrock and W. H. Brenner (eds.), op. cit., p. 253-260; A. Krebs, op. cit., p. 42-83. 19 Aqui e adiante, nesta exposição, tais proposições não são exatamente reproduzidas, segundo conferimento rigoroso, mas só apresentadas de modo próximo o bastante, podendo diferir não-relevantemente em formulação. 20 Capítulo 13 | Página 280 uma dada sentença “está”, indicando as fundações constitutivas de um dado jogo-de-linguagem. Em se admitindo o método de que os termos da epistemologia – do conhecimento do mundo exterior – só ganham conteúdo se analisados a partir do e dentro do jogo epistêmico, melhor ainda a partir de um “sistema” (System) residente na essência do argumento ou a partir do “elemento vital [Lebenselement] dos argumentos”, as “certezas”, em contraste às coisas conhecidas, porque justificadas, não têm de e nem são tipos de coisas – ainda carentes de melhor definição – a serem conhecidas explícita e mesmo conscientemente. Antes, as “certezas”, nem sequer são o enunciado que é o ponto de partida de um argumento, mas no máximo a “base” (Grundlage) do agir total (ÜG 105, 360, 410-411, 414, 446). Em seguida, deverá ser visto que esse mesmo “sistema” de certezas é possuído, em si não pelo indivíduo como tal, mas pela comunidade, e, a partir daí, pelo indivíduo em uma comunidade. Em terceiro lugar, segundo a noção já assinalada de um jogo-de-linguagem epistêmico metodicamente analisado, certezas de uma dada prática não podem ser justificadas dentro da mesma prática, visto que a sua “verdade”, ali, é tida por certa, suposta a natureza mesma de um jogo-de-linguagem21. Se certezas são postas em dúvida em um jogo-de-linguagem, o jogo-de-linguagem é em realidade outro, e as certezas são na realidade, ali, meras “pretensões de conhecimento”. Não obstante isso, porém, também esse novo jogo de questionar pretensões de conhecimento ou de duvidar tem de pressupor alguma certeza (ÜG 54-56, 155-156, 232). Ora, se uma ação que constitui uma certeza de uma dada prática – como assinala a proposição “Eu tenho um corpo” (ÜG 258), em circunstâncias apropriadas de percepção visual e audição com respeito a uma comunidade de mesma língua – vem a ser posta em dúvida, deve haver motivos (eventualmente incomuns) por que aquela ação passa a ocupar, não mais o lugar da certeza, mas o de uma pretensão de conhecimento, em outra prática epistêmica. Por isso mesmo, em uma dada prática epistêmica, sempre é constitutiva ou logicamente impossível que um erro – não exatamente uma falsidade – esteja envolvido (ÜG 154-155). Dado que é logicamente impossível duvidar de uma certeza dentro de uma dada prática epistêmica, é automaticamente “absurdo” (Unsinn) duvidar de uma certeza dentro de uma dada prática epistêmica: Wittgenstein pode inclusive, a partir daí, afirmar que “há casos 21 Cf. M. Kober, Certainties of a World-Picture, in: H. Sluga and D. G. Stern (eds.), op. cit., p. 416. Capítulo 13 | Página 281 de tal tipo, em que, quando alguém dá sinais de dúvida, ali onde não duvidamos, não podemos entender, com segurança, os seus sinais como [reais] sinais de dúvida” (ÜG 154), e, “para que o ser humano se engane, ele já tem de julgar em conformidade com a humanidade” (ÜG 156), isto é, na base de alguma certeza; finalmente, “a pessoa racional [ou: razoável] não tem [em realidade] certas dúvidas” (ÜG 220, bem como 333-334)22. Assim, pois, a partir dos três pontos ressaltados, conhecimento e certeza pertencem a diferentes “categorias” (Kategorien) “epistêmicas”23 pelo fato mesmo de o conhecimento se dar através de justificações e provas, tal que, em alguns casos, bastariam, diga-se, proposições autoevidentes e/ou analíticas, se essas fossem admitidas em absoluto, ou ter-se-ia provisoriamente – ou temporariamente – de argumentar em favor de proposições cridas, dando razões gerais – e mesmo particulares – do tomar por verdadeiros certos objetos proposicionais. Por sua vez, a certeza em questão não tem justificação, mas é a condição de justificação e o fim do inquérito das razões (ÜG 308)24. Há discussão entre intérpretes sobre a possibilidade de ver nas certezas dos jogos como um todo tipos e papéis diferenciáveis, a saber, certezas de mais específicas e mutáveis até as mais universais e permanentes, tal que, vistas em um “sistema” maior, certezas explanariam não só a confiança comportamental com a qual práticas de linguagem contam, mas seriam também um fundo ou conjunto de práticas fundantes – antes constitutivas do que regulativas –, sem as quais jogo epistêmico qualquer pode haver logicamente. Caberia revisar e decidir, aqui, o papel que certas pseudoproposições empíricas, aparentes proposições empíricas ou sinais (apresentações) proposicionais empíricos(as) (Erfahrungssätze) exercem como – eventualmente então como proposições “metodológicas”25 ou “gramaticais”26 (as proposições mooreanas rein22 O que parece equivaler a dizer que, se a pessoa racional possui já sempre a linguagem e o comportamento respectivo, porque é competente para jogos-de-linguagem, há certezas que ela tem ou ao menos pode ter e dúvidas que ela em realidade ou em comportamento não tem e tampouco pode ter. E antes disso a duas categorias “gramaticais” (e constitutivo-objetivas) diferentes, como indicara ÜG 308, em que “a gramática em questão tem a ver com discurso e com usos de linguagem, ao invés de ter a ver com formas de palavras ou estruturas de frases”, onde “certo” e “errado” seriam noções meramente descritivas; cf. N. Garver, Philosophy as Grammar, in: H. Sluga and D. G. Stern (eds.). The Cambridge Companion to Wittgenstein, p. 149-150. 23 24 Cf. M. Kober, Certainties of a World-Picture, in: H. Sluga and D. G. Stern (eds.), op. cit., p. 416-417. Cf. Th. Morawetz, The Contexts of Knowing, in: D. Moyal-Sharrock and W. H. Brenner (eds.), op. cit., p. 179-183. 25 26 Cf. A. Krebs, op. cit., p. 47ss. Capítulo 13 | Página 282 terpretadas?) – ou então com respeito às “dobradiças” (hinges; Angeln; ÜG 341) ou “regras” da linguagem, isto é, da ação para com o mundo e as comunidades. Para todos os efeitos, mesmo sem maior especificação – “gramatical” ou também “proposicional” – dos tipos e papéis de tais dobradiças como “certezas”27, é possível lidar com a característica essencial das mesmas, a saber, que certezas, como os jogos-de-linguagem epistêmicos, cruzam-se e dão umas às outras mútuo suporte dentro de uma “imagem de mundo” (Weltbild)28. Bem explanada, pois, essa noção (cf. abaixo), tanto deve-se asseverar o papel fundante e irredutível das certezas nos jogos epistêmicos quanto anotar que, comparadas a um “sistema” ou “elemento vital” de argumentos, nada leva (claramente) a crer que, perguntada qual a família argumentativa à qual a noção wittgensteiniana de “justificação de evidência” ou de pretensões de conhecimento pertenceria, poderia ser apresentada aquela na forma de uma cadeia linear de razões ou de crenças simplesmente, ou mesmo de uma teia de motivos ou crenças conectadas – até mesmo de modos de ação fundantes racionalmente conectados. Como alguns estudos recentes mostraram, a “teoria da justificação de crenças” ou mesmo a “teoria do conhecimento” de Wittgenstein, incluindo a sua recusa29 – via reflexão sobre condições de inteligibilidade – ao ceticismo clássico ou respectivo ao conhecimento empírico, não se deixa rotular nem como simples “fundacionismo” (em que o slogan seria “a cadeia de razões [crenças adotadas] chega a um fim”)30 nem como tradicional “coerentismo” (ao qual serve o slogan do “sistema” ou de uma “teia” mais complexa e coerente de razões ou crenças sempre apoiadas em outras razões ou crenças). “Certezas” particularmente relevantes, que pertencem à essência dos ar- Isso é exemplarmente feito por D. Moyal-Sharrock, Understanding Wittgenstein’s On Certainty, p. 100-156. 27 28 Cf. M. Kober, Certainties of a World-Picture, in: H. Sluga and D. G. Stern (eds.), op. cit., p. 417. De fato, não uma refutação por meio de algo como uma “metafísica mais profunda”; cf. A. Rudd, Wittgenstein, Global Scepticism and the Primacy of Practice, in: D. Moyal-Sharrock and W. H. Brenner (eds.), Readings of Wittgenstein’s On Certainty, p. 147. 29 30 M. Williams, Why Wittgenstein Isn’t a Foundationalist, in: D. Moyal-Sharrock and W. H. Brenner (eds.), Readings of Wittgenstein’s On Certainty, p. 47-58, nega categoricamente que a teoria wittgensteiniana da certeza (epistêmica) preencha condições formais – sob os lemas “universabilidade”, “especificabilidade”, “autonomia” e “adequação racional” para definir “fundamento” – do fundacionismo epistêmico contemporâneo. A tipificação de um suposto “fundacionismo” da epistemologia da certeza, segundo Wittgenstein, é um dos objetivos centrais da obra importante de A. Stroll, Moore and Wittgenstein on Certainty, 1994, em especial p. 138-159. Capítulo 13 | Página 283 gumentos empíricos e são de fato atestadas por Wittgenstein em certas passagens – ÜG 105, em especial ÜG 22531 –, poderiam guardar certa semelhança estrutural com um sistema coerente, semelhança, porém, não defensável ao final. Ora, assim sugere M. Williams, se diante do “trilema de Agripa” para a justificação de crenças a opção teórica da epistemologia for o coerentismo, poder-se-á admitir, sim, contra o fundacionismo, que o acarretamento não-inferencial de proposições empíricas particulares a partir de proposições “básicas” é vedado por Wittgenstein, ao suprimir ele tal base quando nota que a “interdependência” entre juízos básicos (certezas) e juízos empíricos não-básicos é “semântica”. Se, com isso, o coerentista conclui que todo acarretamento epistêmico é, ao final, inferencial, ainda assim, em Da certeza, a “interdependência semântica é compatível com assimetrias justificacionais” – ou com incoerências entre os juízos que fazem chegar a uma dada crença32. Adotando-se o método de análise da certeza até aqui, isto é, da natureza mesma do jogo-de-linguagem, em especial o epistêmico, ali notando a alegada diferença categorial, insinua-se como devido aprofundar o estudo da categoria-título – a certeza como o fundo de uma prática – através da aproximação entre jogo-de-linguagem, “forma de vida” e “imagem de mundo”. Certezas de uma comunidade linguística Em nenhum momento de Da certeza Wittgenstein põe em suspeição a ideia de que as certezas de jogos-de-linguagem são certezas de uma comunidade, cujos membros estão envolvidos nas práticas e no aprendizado da linguagem (ÜG 279-286). Essa constatação, ligada à acepção de que toda certeza, como princípio de uma prática, é “ação” ou “modo de ação” (ÜG 204, 402), motiva intérpretes a explanar a “certeza” em associação à noção de “forma de vida” (Lebensform) – noção, a propósito, predominante nas Investigações filosóficas e utilizada sem destaque em Da certeza (ÜG 358)33. Por que, pois, essa associação? PoCf. L. Wittgenstein, Über Gewißheit, § 225: “Aquilo em que estou firmado não é uma proposição, mas um ninho [Nest] de proposições”. 31 32 Cf. M. Williams, Why Wittgenstein Isn’t a Foundationalist, in: D. Moyal-Sharrock and W. H. Brenner (eds.), op. cit., p. 55. 33 Cf., por exemplo, M. Kober, Certainties of a World-Picture, in: H. Sluga and D. G. Stern (eds.), op. cit., Capítulo 13 | Página 284 de-se contar, para o propósito de entendê-la, com uma explícita definição de “forma de vida”? Em verdade, como nota M. Kober, é embaraçoso que nem mesmo para “jogo-de-linguagem” Wittgenstein fornece uma definição clara, mas apenas traços gerais, com exemplificações (PU 2, 8, 258): jogo-de-linguagem vem a ser “o processo todo de usar palavras”, incluindo nisso, na verdade, tanto a linguagem quanto as ações de que a vida está constituída (PU 7)34, em que o usuário exibe para com os demais, não a posse e o domínio de itens de linguagem com propriedades ou traços de definição comuns, mas a posse e o domínio desses itens com “semelhança(s)-de-familiaridade” (Familienähnlichkeit, PU 65-71) que se sobrepõem35. Reconhecidamente, “jogo-de-linguagem” é expressão cunhada para destacar o fato de que o realizar concreto de uma prática linguística (das Sprechen der Sprache) faz parte de uma forma de vida (PU 23!)36. Daí que “forma de vida” pode ser tomada como “uma pluralidade de jogos-de-linguagem”, “uma rede complexa de similaridades, justapondo-se e cruzando-se” (PU 66) – não necessariamente compondo uma estrutura sistêmica em sentido estrito, perfazendo antes algo como uma “guirlanda de práticas” (garland of practices; M. Kober) “que se apoiam e complementam mutuamente”37. Novamente, forma de vida requer ou tem como elemento constitutivo uma comunidade linguística ou a vida de uma comunidade38. Certezas, tal como eixos, nem se originam nem se localizam nem têm constituição ou caracterização possível fora ou independentemente daquele mesmo entorno vivo e dinâmico (cf., por exemplo, ÜG 151-152). E é também com respeito à comunidade ou ao todo dos usuários e usos da linguagem que deve ser localizado o conceito chave de Da certeza, isto é, “imagem de mundo” (Weltbild) – só em aparência substitup. 417ss.; D. Moyal-Sharrock, Understanding Wittgenstein’s On Certainty, p. 6-7, 97-98, 152-156. 34 Cf. M. Kober, Certainties of a World-Picture, in: H. Sluga and D. G. Stern (eds.), op. cit., p. 417-418. Cf., por exemplo, G. P. Baker and P. M. S. Hacker, Essays on the Philosophical Investigations Volume 1 – Wittgenstein: Meaning and Understanding, p. 190-194 (X – Family Resemblance, p. 185-208). 35 Esse ponto também foi enfatizado por M. B. Hintikka und J. Hintikka, Untersuchungen zu Wittgenstein, p. 280-281, contra o equívoco de uma interpretação de jogos-de-linguagem – e da linguagem com uso – meramente em termos de “jogos-de-linguagem verbais”. 36 37 Cf. M. Kober, Certainties of a World-Picture, in: H. Sluga and D. G. Stern (eds.), op. cit., p. 418. Cf. H.-J. Glock, Wittgenstein Dictionary, p. 124-129. Um comentário geral – mas de contexto – sobre “forma de vida” na obra wittgensteiniana pode ser encontrado no trabalho de G. L. Daldegan de Pádua, O conceito de regras em Da Certeza: terceiro Wittgenstein?, p. 46-49. 38 Capítulo 13 | Página 285 tivo de “forma de vida”, uma vez que ele, em si, e de um modo que não se observa claramente em “forma de vida”, pertence à dimensão das “certezas”, e não das “práticas” ou dos “jogos” como um todo. Exatamente assim ele opera como um “tipo de mitologia” (eine Art Mythologie) e desempenha – ou simboliza – o papel de “regras de jogo” (Spielregeln; ÜG 95)39. Não sendo exatamente uma concepção sobre o mundo, Weltbild, como o mito e as suas características, antes aponta para o modo como regras não expressas de um jogo fundam um jogo: é um arcabouço cuja “correção” (Richtigkeit) não é medida, pois é o meio pelo qual se estabelece “correção”, guiando o comportamento linguístico como o “pano de fundo transmitido” (der überkommene Hintergrund, ÜG 94). Agir segundo a forma do “mito” mostra uma rede de “decisões” (Entscheidungen) e “convicções” (Überzeugungen) de ação, não primariamente a verdade “objetiva” ou “desvinculada” daquilo de que os praticantes se encontram convencidos. Nesse ponto, a analogia do mito permite visualizar a imagem de mundo como descritiva da “base” ou do “fundamento óbvio” (selbstverständliche Grundlage, ÜG 167) da comunidade relacionada com o mundo. Novamente, deveria haver espaço para discriminar, no Weltbild, tipologias de “dobradiças”, cujos sinais linguísticos são certas “proposições de experiência” (Erfahrungsaussagen)40, mas que estruturalmente são como que normas de ação ou reação ao mundo, em comum, assumindo papéis de condição de possibilidade da linguagem como uso (ÜG 165-167). Que o próprio Wittgenstein alcançou formulações fortes para essa dimensão de uma rede de convicções de ação fundantes, verifica-se na insistência com que fala da imagem de mundo como constituindo “o substrato de todo o meu inquirir e asserir” (das Substrat alles meines Forschens und Behauptens), e as quasi sentenças que o descrevem – descrevem-no, mas não equivalem a ele, pois modelos de ação ou reação de indivíduos em comunidade são indizíveis – Cf. também J. Schulte, Within a System, in: D. Moyal-Sharrock and W. H. Brenner (eds.), Readings of Wittgenstein’s On Certainty, p. 61s. 39 40 Em uma exposição instigante, J. A. Giannotti, Apresentação do mundo. Considerações sobre o pensamento de Ludwig Wittgenstein, p. 244-245, parece falar desse tipo de proposição como de “proposições polares”; em verdade, J. A. Giannotti estabelece, segundo o papel de desempenho, uma distinção tripla entre “proposição de essência” (“quando descreve a regra”), “proposição bipolar” (“quando é capaz de dizer sim ou não a um fato” e de “determinar o estatuto do erro”) e “proposições polares” (“quando expressam, muitas vezes tacitamente, os indubitáveis necessários a essa prática”). A meu juízo, porém, o vínculo entre “regras” e “certezas” (sendo estas regras assim entendidas porque em desempenho num jogo epistêmico), não está, ali, claramente desenvolvido. Capítulo 13 | Página 286 não são todas igualmente passíveis de tornarem-se sujeitas a reais jogos epistêmicos de teste (ÜG 162-164, 233-234, 281-284)41. Características da imagem de mundo servem também às regras de ação constituintes da mesma: sendo uma rede de diferentes modos de ação – cf. ÜG 274, em que se fala de um “conjunto de proposições conectadas” ensinadas pela experiência não isoladamente –, (i) o Weltbild não tem de ser um sistema “inventado” sob critérios e semelhante a uma “crença científica” (ÜG 167, 234-236), embora ele possa implicar práticas como teorias científicas, bem como práticas filosoficamente refletidas, etc., calcadas em “certezas” fundantes afins42. Um Weltbild, entretanto, não tem de ser assim, pois não há um tipo especial de modos de ação e de práticas que tem de lhe dar constituição. Assim, é só enquanto calcado em “certezas” em um sentido geral não justificáveis e “primitivas” que o Weltbild pode ser tomado como um “corpo de conhecimento” (Wissenskörper; ÜG 288). (ii) Ademais, a imagem de mundo assemelha-se a um “epifenômeno” (minha expressão) de um fenômeno natural – no sentido de cultural-antropológico –, a saber, aquelas experiências (Erfahrungen) comuns e partilhadas (ÜG 274-275, 281), as quais ganham voz, por exemplo, nas “proposições mooreanas” (cf. acima). Não é a imagem de mundo, portanto, que tem espaço descritivo primário – ou função explanatória – na linguagem como uso, mas as ações fundantes e intuições comuns partilhadas pelas pessoas de uma dada comunidade43. Nesse sentido, “A Terra já existia há muitas centenas de anos antes de eu nascer”, uma atitude ou um ponto de partida compartilhado a partir do aprendizado tácito e/ou treinamento44 e que está drasticamente inserido em inúmeras das – eventualmente em todas as – práticas linguísticas respectivas ao mundo exterior, mesmo que, na prática (epistêmica) da linguagem, possa ser igualmente um conteúdo proposicional empírico, é uma atitude pré-discursiva fundamental que possibilita jogos-de-linguagem. Ela se encontra junto com diversas ou41 Cf. M. Kober, Certainties of a World-Picture, in: H. Sluga and D. G. Stern (eds.), op. cit., p. 418-419. 42 Id. Ibid., p. 420. Mesmo quando age sobre elas, o Weltbild, em última análise, interage com elas e depende delas – em analogia ao que “forma de vida” é para jogos-de-linguagem, “imagem-de-mundo” é um emblema de algo estabelecido anteriormente. 43 A tipificação de pontos de partida ou dobradiças do sistema, essencialmente não proposicionais, em obediência a uma descrição do seu modo de aquisição, foi buscada por A. Stroll, Moore and Wittgenstein on Certainty, p. 158, de acordo com os lemas “instinto”, “ação” e “treinamento”. 44 Capítulo 13 | Página 287 tras acepções empíricas gerais do modo como os seres humanos agem e a partir das quais têm ou conseguem ter crenças empíricas e julgar sobre “diferentes estados de coisas” (ÜG 146, 410-411). Aquela mesma pode servir como uma “imagem simples” (einfaches Bild) da qual não cabe duvidar (ÜG 147). Bilder e Angeln simples como aquela parecem estar mesmo na base profunda45 de outras que, em conjunto, constituem a nossa “imagem de mundo”. Em passagens diversas de Da certeza, Wittgenstein alerta, pois, para o papel – já aludido, anteriormente, a silentio – hoje chamado de Doppelgänger de determinadas sentenças, não tendo de expressar conhecimento proposicional empírico, mas sinalizando uma atitude aprendida de consideração empírica46. Para o fundo epistemológico da obra em análise, mas fugindo ao propósito deste estudo sobre os elementos do conceito de certeza, segundo Wittgenstein, é uma pergunta central se, para todo e qualquer Weltbild, há certezas-dobradiças que operam como “condições de possibilidade” universais e que são “imprescindíveis” (ungiveupable)47 para estabelecer jogos-de-linguagem em geral, como, por exemplo, “A Terra já existia há muitas centenas de anos antes de eu nascer” e “Eu tenho um corpo”. Se a resposta for positiva, certezas wittgensteinianas não apenas em nada se relacionam, essencialmente, com proposições assumidas “como estando além da dúvida razoável”, por causa da sua relação “com condições privilegiadas de percepção” (sentenças protocolares) e tampouco com “instâncias não proposicionais do imediatamente ‘dado’”, tal como dados sensórios ou objetos físicos48; antes, as certezas wittgensteinianas se prestam a uma leitura transcendental da representação, da linguagem e do conhecimento49. A obra Da certeza poderia ser lida, portanto, como admitindo a conclusão de que certas regras, no fundo dos jogos e das práticas, incluindo as práticas epistêmicas, estão além – ou aquém – da no45 Sobre a tese da prioridade de certas “dobradiças”, cf. D. Moyal-Sharrock, Understanding Wittgenstein’s On Certainty, p. 150-152. Cf. D. Moyal-Sharrock, Unravelling Certainty, in: D. Moyal-Sharrock and William H. Brenner (eds.), Readings of Wittgenstein’s On Certainty, p. 90, 95. 46 47 Cf., sobre isso, D. Moyal-Sharrock, Understanding Wittgenstein’s On Certainty, p. 106-107. Cf. M. Kober, ‘In the Beginning was the Deed’, in: D. Moyal-Sharrock and W. H. Brenner (eds.), op. cit., p. 225. 48 49 Sobre a leitura transcendental das certezas e do Weltbild, cf., por exemplo, W. H. Brenner, Wittgenstein’s ‘Kantian Solution’, in: D. Moyal-Sharrock and W. H. Brenner (eds.), Readings of Wittgenstein’s On Certainty, p. 122-141. Capítulo 13 | Página 288 tória mutabilidade50 de imagens-de-mundo, as quais são complexas e por natureza posteriores aos modos de ação. Na presente seção, buscou-se simplesmente estabelecer a anterioridade lógico-linguística das certezas. Anterioridade lógico-linguística e epistêmica da certeza e descrições de aprendizado Tendo sido estabelecido que “certeza”, diferentemente de “conhecimento”, não é nem fundamentada nem justificada, a abordagem wittgensteiniana do conhecimento insiste no método de considerar problemas epistemológicos somente junto com pareceres sobre a natureza da linguagem – em especial sobre a linguagem como uso (ÜG 306, 472), a ponto de poder-se dizer: “(...) o conceito de conhecer está engatado com o de jogo-de-linguagem” (ÜG 560). Para entender, portanto, o que a linguagem como linguagem de uso é – e isso vale para a certeza que está na base do jogo-de-linguagem –, há uma tendência clara, em Wittgenstein, de analisar o “momento” ou a “circunstância” em que se adquire a linguagem ou as regras, em que se aprende a falar ou a compreender os jogos linguísticos. A analogia do ensinar e do treinar alguém para possuir o know-how do emprego de regras é um meio para descrever o emprego e a posse de regras. Esse modo analógico de estudo das regras liga argumentativa e tematicamente Da certeza com as Investigações filosóficas. Ele é o modo argumentativo, ademais, que põe em evidência a equiparação das “certezas” das práticas da linguagem – também as epistêmicas, sobre o mundo exterior – com as “regras constitutivas” da linguagem. Antes disso, porém, ressalte-se que, se as analogias do ensinar e do treinar são elucidativas das origens das “certezas” e, daí, das práticas, são em particular um esboço para uma teoria geral da origem das “regras”. A chave interpretativa tanto da origem de regras quanto da origem de certezas, assim se notará, é o princípio da ação. Passagens como ÜG 475 evidenciam que a visão wittgensteiniana do comportamento linguístico é quase primitivista51 – como o do ser humano animal, 50 Cf. M. Kober, Certainties of a World-Picture, in: H. Sluga and D. G. Stern (eds.), op. cit., p. 430-436. Aqui, o vínculo entre o “primitivo” e o “etnológico” parece ainda mais forte do que aquele que pode ser constatado nas Investigações filosóficas; cf. S. Cavell, Notes and Afterthoughts on the Opening of Wittgenstein’s Investigations, in: H. Sluga and D. G. Stern (eds.), The Cambridge Companion to Wittgenstein, p. 288: “(The primitive is in principle a far more important theme to work out for the Investigations (...). It would require accurately characterizing one’s sense of the 51 Capítulo 13 | Página 289 instintivo, independentemente de “raciocínio”. Aqui, há um espaço para conceber o princípio da ação como a posse e a execução de “habilidades inatas” e do “instinto” de “reconhecer regularidades” tanto do mundo quanto do comportamento alheio52. Assim se dá na reação das crianças face ao mundo, à comunidade e ao comportamento dos adultos. A ação dos agentes aprendizes para com o mundo e os outros é de confiança instintiva; por isso mesmo, o contexto de ensinar-treinar, aprender, imitar e tornar-se membro apto na comunidade linguística tem no seu fundamento a ação conforme a – ao que é externamente exigido, porque adotado53. Ora, a forma do jogo-de-linguagem, sob a perspectiva da origem, é que no jogo se age em conformidade com. Ali, há um treino instintivo de agir de determinada maneira ou de reagir a um sinal externo de determinado modo, “determinado modo” esse que pressupõe a existência de uma regra, de um “uso regular” (ein ständiger Gebrauch), com o qual se entra em conformidade (PU 198, também PU 199). Crianças são imagem própria da origem da aquisição de um jogo-de-linguagem: de um reagir não duvidando em absoluto, mas aprendendo ou sendo treinado, agindo conforme a. Em se cumprindo essa condição, há absorção instintiva da regra que rege o jogo, e a dúvida está logicamente excluída (ÜG 283). Nessas reflexões de origem, portanto, a natureza mesma da linguagem como uso aparece: a origem e a forma básica do jogo-de-linguagem é uma reação. Só a partir daí formas mais complexas de jogos podem surgir. A relação lógica entre o reagir originário e o aprimoramento da linguagem é de anterioridade e posterioridade (ÜG 535-538). Logicamente, ou, segundo a natureza mesma da linguagem como uso, a dúvida só pode ser posterior, ela só pode vir após alguma crença ou confiança (ÜG 150, 159-160, 472, 519, 538). Daí a tese de que ethnological perspective Wittgenstein characteristically takes toward human kind as such)”. Cf. M. Kober, Certainties of a World-Picture, in: H. Sluga and D. G. Stern (eds.), op. cit., p. 420s. Sobre esse ponto, sugiro a leitura de R. Rhees, Wittgenstein’s On Certainty: There – Like our Life, p. 93-105. Cf. também D. Z. Phillips, Wittgenstein’s On Certainty: The Case of the Missing Propositions, in: D. Moyal-Sharrock and W. H. Brenner (eds.), Readings of Wittgenstein’s On Certainty, p. 20s. 52 53 Cf. S. Cavell (falando sobre as Investigações filosóficas), Excursus on Wittgenstein’s Vision of Language, in: S. Cavell, The Claim of Reason, p. 178: “Instead, then, of saying either that we tell beginners what words mean, or that we teach them what objects are, I will say: We initiate them, into the relevant forms of life held in language and gathered around the objects and persons of our world. For that to be possible, we must make ourselves exemplary and take responsibility for that assumption of authority; and the initiate must be able to follow us, in however rudimentary way, naturally (...); and he must want to follow us (...)”. Capítulo 13 | Página 290 “a forma primitiva do jogo-de-linguagem é a certeza”54: somente se há certeza, há jogo-de-linguagem. Afinal, por definição, não pode dar-se que a incerteza esteja no princípio, pois uma incerteza não leva instintivamente à ação/reação – e que a ação/reação está no princípio do jogo linguístico, isso é inquestionável (ÜG 143-144, 402). A lição dos contextos de ensinar/treinar e adquirir o jogo-de-linguagem a partir da ação fundante parece forçar a admissão de que a linguagem contém regras constitutivas de jogos primários, as quais são elas mesmas dotadas de anterioridade lógica. É evidente que aprendizados posteriores podem transformar o caráter de certezas em meras pretensões de conhecimento – como o conteúdo expresso em “A Terra gira ao redor do sol”. E certezas podem também ser posteriormente adquiridas. Se “dobradiças” são e podem ser “adquiridas” – jamais gozando necessariamente de “evidência” –, (algumas e/ou muitas delas) são por isso mesmo “prescindíveis”55. Sobretudo a educação e a infusão teórica (por meio das ciências) de certezas podem desabonar certezas. Antes e depois, seguem havendo certezas adquiridas só por instrução – aquelas que, diferentemente de outras (“universais” sobretudo enquanto “naturais” ou “instintivas” como “Eu tenho um corpo”, “Esta é a minha mão”, etc., nunca ingressantes no jogo da justificação), são mutáveis (como “A Terra é redonda”)56. Em realidade, formas de “reflexão” impulsionadas por edu54 A passagem de Wittgenstein provém de Ensejos filosóficos (Philosophical Occasions, Vermischte Bemerkungen), apud Cf. M. Kober, Certainties of a World-Picture, in: H. Sluga and D. G. Stern (eds.), op. cit., p. 421-422. Cf. também N. Malcolm, Wittgenstein: The Relation of Language to Instinctive Behaviour, in: S. Shanker (ed.), Ludwig Wittgenstein. Critical Assessments, Vol. 2, p. 305-306, 313ss. Cf. sobre isso novamente D. Moyal-Sharrock, Understanding Wittgenstein’s On Certainty, p. 106-107 e 143-147. 55 Cf. id. ibid. A uma hierarquia e taxonomia de certezas pode-se associar outro termo delineador da anterioridade e posterioridade das mesmas, a saber, o “primitivo”. Diferentemente do que fez a pesquisa recente orientada em Da certeza, o próprio Wittgenstein pouco explicitou a distinção entre o “primitivo” e o “complexo” ou “refinado” no que concerne a certezas e práticas de linguagem. Mas, como detalhou a pesquisa de M. Kober, pode-se ler na obra de Wittgenstein não apenas uma noção de “primitivo” que ressalta que uma certeza é uma regra constituinte como saber agir (know-how), portanto, regra constituinte de um jogo. Antes, o autor também apontou com razão ao fato de que “primitivo” pode ser (i) “fundamental”, “original”, “infundado”, mesmo “não justificável” (ÜG 475), podendo ser ainda (ii) “simples”, “comum” ou “cotidiano”, simplesmente “familiar” a todo membro da comunidade – nada impedindo que uma dada certeza cubra os dois aspectos e devendo-se considerar ainda certa dificuldade em distingui-los (ÜG 673). Cf. M. Kober, Certainties of a World-Picture, in: H. Sluga and D. G. Stern (eds.), op. cit., p. 422-423. Isso estabeleceria, pois, algo como uma distinção entre primitividade “estrita” e primitividade “comum”, possivelmente entre (definitiva) imunidade à dúvida razoável e vulnerabilidade ao processo de dar razões (em boa 56 Capítulo 13 | Página 291 cação e teoria apontam, em si mesmas, para jogos-de-linguagem complexos – mas têm de ter, não obstante isso, também eles uma certeza, a cada vez, na sua base. Reconhecidamente, a dúvida, uma prática epistêmica cuja regra de realização tem de ser uma certeza, só pode ser posterior a jogos e regras mais primitivas. Independentemente do mérito de uma “taxonomia” (minha expressão) de certezas, há que se admitir, pois, a ideia de uma hierarquia de primitividade e de prevalência tanto entre regras quanto entre jogos de linguagem (ÜG 317, 380, 415-416)57. Os relatos de origem, portanto, reforçam o retorno da linguagem e da imagem-de-mundo à habilidade de agir em conformidade aos sinais da comunidade, de modo que “certezas” tanto são regras quanto não são essencialmente proposições – ainda que derivativamente tenham de sê-lo ou de gerá-las. A presente seção da exposição, pois, teve o objetivo de fazer perceber que, pelo método da análise do jogo-de-linguagem nos relatos de origem, a anterioridade da certeza pode ser estabelecida pelo delineamento da sua primitividade – diferenciável ou graduável, item que se mostra potencialmente profícuo no contexto do debate com o ceticismo sobre o mundo exterior. Deve ser marcada, ademais, a natural e reiterada equiparação de “certeza” à “regra”. Regra e norma Através do mesmo método de análise da prática da linguagem, a categoria da certeza pode, agora, ganhar precisão final. Certezas são regras. Avaliar “regras” por meio das variações sobre o tema “certeza” redimensiona também o papel das “regras” na explanação da natureza da linguagem. Que certezas são regras é uma convicção que perpassa o debate, na pesquisa, quanto à dupla função de expressões proposicionais como aquelas tipificadas pelas proposições mooereanas – “A Terra já existia há muito antes de eu nascer”, “Esta é a minha mão”, etc. –, isto é, a de aparentes proposições empíricas com valor de verdade e, por outro lado, a de “padrão de racionalidade”. Ora, se essas amostras de tais atitudes são medida, estando ainda aquela muito determinada por cada comunidade e condicionada à cultura e ao tempo; cf. ÜG 155-156, 314-315). Isso não mudaria, porém, o fato de que “certeza” é regra constituinte de prática de linguagem, graduável segundo primitividade e/ou aquisição refletida, dado o contexto epistêmico em que se fez o questionamento por razões. 57 Cf. D. Moyal-Sharrock, Understanding Wittgenstein’s On Certainty, p. 100-116. Capítulo 13 | Página 292 conduzidas por Wittgenstein aos papéis assumidos por componentes em práticas de linguagem – sobretudo epistêmicas ou discursivas –, certezas são sempre regras, e não pretensões de conhecimento, e regras que possibilitam o jogo de justificar pretensões: dão limites ao jogo (aos seus movimentos) tal como regras constitutivas e, portanto, definem-no: “a indubitabilidade [Zweifellosigkeit] pertence à essência do jogo de linguagem” (ÜG 370, também 391-394, 456-458). São para ele (seja ele, na imagem-de-mundo, mais ou menos fundamental), no caráter de uma regra que expressões proposicionais como “Esta é a minha mão” ou “Eu tenho um corpo” apenas sinalizam, uma condição de possibilidade58. Mudar ou abandonar regras implica, rigorosamente, mudar ou abandonar um dado jogo (ÜG 61-64). Sendo o que são, há o jogo que as regras/certezas constituem. O que é constitutivo não é justificado nem justificável dentro do próprio jogo, tampouco é falso ou verdadeiro; mas, com aquilo (por exemplo, “A Terra existia há muito antes eu nascer”) os passos do jogo (por exemplo, o estudo geral da história) são justificados e justificáveis (ÜG 187-192), pertencendo esses à categoria do que é falso ou verdadeiro. A certeza não é fundada, mas funda; só o que é fundado pode ser verdadeiro ou falso, certo ou errado (ÜG 205, 494-497)59. Neste ponto, pode-se enfim ratificar que a noção de certeza, para Wittgenstein, é primariamente lógico-linguística: ela é ao menos um tipo dentro de uma possível e larga tipologia de regras constitutivas de jogos, ainda que seja igualmente simples pensar que todas as regras são certezas, porque operam como “saber-como” (know-how), cuja posse insere um indivíduo em certa prática de linguagem. Essa equiparação, a partir de Da certeza, ficaria apenas ofuscada pela compreensível tendência de Wittgenstein, ali, de voltar-se a atitudes fundantes em jogos epistêmicos suscitados, as quais gradualmente tiram as condições de possibilidade ou o espaço lógico do jogo da dúvida cética sobre a existência do mundo exterior. Notar que Wittgenstein buscava em Da certeza, via análise da natureza da linguagem, tipos de certeza que tornam nonsense60 a perCf. L. Wittgenstein, Über Gewißheit, § 371: “Não significa “Sei que isso é uma mão” no sentido de Moore o mesmo ou algo semelhante a: eu poderia fazer uso de sentenças como “Tenho dores nesta mão” ou “Esta mão é mais fraca do que a outra” ou “Uma vez fraturei esta mão” e de inúmeras outras em jogos-de-linguagem, nos quais não tem lugar uma dúvida da existência desta mão?”. 58 59 Cf. M. Kober, Certainties of a World-Picture, in: H. Sluga and D. G. Stern (eds.), op cit., p. 424425. Sobre o conceito de verdade no Wittgenstein tardio, cf. id. ibid., p. 427-430. 60 Em que, com efeito, o sentido “negativo” fundamental de “absurdo” (nonsense) estaria sendo Capítulo 13 | Página 293 manência do jogo cético é mérito da análise e classificação das certezas como “dobradiças” feitas por Danièle Moyal-Sharrock61. É ainda importante ressaltar que, se justificar uma pretensão de conhecimento a partir de certezas equivale a justificar a prática de certos movimentos “prescritos”, há um bom sentido para dizer-se que certezas são “normas constitutivas” (ÜG 473) – porém, em um sentido epistêmico, e não deôntico, em que “prescritividade” é explanada melhor por “normatividade” do que por regramento62. Em verdade, o próprio Wittgenstein alerta ao fato de que, de certas proposições empíricas, pode-se mudar a sua forma (ou o seu caráter) proposicional em uma “norma de descrição” (Norm der Beschreibung; ÜG 167, 318-321, 634)63 – servindo, em Da certeza, as expressões “proposição metodológica” (methodologischer Satz), “proposição da lógica” (Satz der Logik) e “regra” (Regel) ao mesmo propósito teórico, e ainda, em Reflexões sobre os fundamentos da matemática, a expressão “regra gramatical” (Regel der Grammatik). Nesse caso, faz-se daquilo que, no meio descritivo da linguagem, é uma proposição empírica, uma “norma” (Norm). O uso de “norma” para aquilo que é constitutivo de um jogo-de-linguagem não é tão frequente como o uso de “regra”. Há entretanto autores, como M. Kober, que, atentando ao que parece ser uma variante adicionada por Wittgenstein ao manuscrito, sugerem a adoção preferencial de “norma”, com a vantagem de que “norma” comporta, para a certeza wittgensteiniana, a “ambiguidade sistemática” de gerar os adjetivos “normal” e “normativo”. Se “normal” admite uma força descritiva, aplicando-se a sentenças que enunciam o que é o “normal” humano, o adjetivo “normativo” comporta claramente o sentido constitutivo ou prescritivo, indicando respeitado, como aquele que, de resto, C. Diamond, What Nonsense Might Be, in: C. Diamond, The Realistic Spirit. Wittgenstein, Philosophy, and the Mind, p. 106, identifica para a filosofia de Wittgenstein como um todo: “(...): for Wittgenstein there is no kind of nonsense which is nonsense on account of what the terms composing it mean – there is as it were no ‘positive’ nonsense. Anything that is nonsense is so merely because some determination of meaning has not been made; it is not nonsense as a logical result of determinations that have been made”. 61 Cf. nas Referências Bibliográficas e, em especial, Understanding Wittgenstein’s On Certainty, 2004. 62 Cf. M. Kober, Certainties of a World-Picture, in: H. Sluga and D. G. Stern (eds.), op cit., p. 425. O que atestaria, para C. Diamond, Wittgenstein, Mathematics, and Ethics: Resisting the Attractions of Realism, in: H. Sluga and D. G. Stern (eds.), The Cambridge Companion to Wittgenstein, p. 240-241, a contínua importância, para Wittgenstein, em tais escritos tardios, da distinção entre regras/normas de descrição e proposições empíricas descritivas, entre as quais, como entre proposições da lógica (lato sensu) e proposições empíricas, definitivamente não haveria, porém, qualquer fronteira sobejamente explícita. 63 Capítulo 13 | Página 294 a competência de uma prática64. A associação de certezas a normas ratifica, uma vez mais, a essência lógico-linguística das certezas. Afinal, certezas, como normas constitutivas, tendem a mostrar na linguagem como uso ambas as características de (i) normalidade e (ii) normatividade. E, novamente, isso ajuda a explicar o fenômeno – de sutil e instável linha de demarcação e interconexão, acomodada pelo uso (ÜG 98, 318-321, 401-402, 460-461, 463-467) – das duplicatas ou Doppelgänger identificado em sentenças como “Esta é a minha mão” e “Isto é azul”65, que, quando desempenham o papel “normativo-constitutivo”, não acusam proposições empíricas com valor de verdade determinável, mas um modo de ação66. Rigorosamente, apenas esse segundo sentido é decisivo para o sentido de “certeza” que, para Wittgenstein, expõe um recurso lógico-linguístico fundamental com poder de anular a significatividade do jogo-de-linguagem cético. Afinal, no nível normativo, questionar a verdade ou a falsidade é algo que não pode lógico-linguisticamente, portanto significativamente, ser realizado. Considerações finais A fundação da operação humana com pensamentos, com a linguagem, é aquilo pelo que certas proposições empíricas podem “estar”, e “proposições empíricas”, aqui, podem ser tomadas como símbolos para normas constitutivas de práticas, reações fundamentais ou mesmo padrões, diga-se, de qualquer “racionalidade” epistêmica específica67. As certezas têm de ser vistas do mesmo modo: não como conhecimento certo ou proposições certas para alguém, mas como fundação de todo o operar humano com pensamentos, como regras ou normas constitutivas de jogos-de-linguagem, dos primitivos aos mais refinados, dos não 64 Cf. M. Kober, Certainties of a World-Picture, in: H. Sluga and D. G. Stern (eds.), op. cit., p. 425s. É perfeitamente possível pensar em circunstâncias em que, por exemplo, “Eu tenho um corpo” é expressão proposicional usada descritivamente, tal como quando um ferido de guerra e vindo de um combate violento, após ser internado e posto em recuperação, revisa a si mesmo e afirma que, apesar de gravemente ferido, manteve, após o exame, o seu corpo ou o corpo e os seus próprios membros, sem transplantes, sem imitações e sem próteses. Mas, possivelmente, a descrição em curso requer a função normativa ora sinalizada, função essa que, ademais, seria de novo apontada quando, em uma aula de línguas, a ostensão e gestos do corpo e/ou de partes do corpo, um uso descritivo, portanto, são usados pelo mestre para ensinar o significado ou para fazer uso correto da palavra “corpo” (ÜG 528-531). 65 66 Cf. D. Moyal-Sharrock, Understanding Wittgenstein’s On Certainty, p. 140-145. Com isso, pode-se aproximar “certezas” daquilo que J. Bogen, Wittgenstein and Skepticism, in: S. Shanker (ed.), Ludwig Wittgenstein. Critical Assessments, Vol. 2, p. 322-324, chamou de “capacitadores” (enablers) ou “proposições-E” (E-propositions). 67 Capítulo 13 | Página 295 (relevante ou explicitamente) epistêmicos aos (relevante ou explicitamente) epistêmicos – em particular sobre o mundo exterior. Naturalmente, esse procedimento separa Wittgenstein radicalmente de Moore, na estratégia deste último de refutação ostensiva e, pois, de refutação demonstrativa da falsidade do ceticismo sobre o mundo exterior. A partir do que foi exposto – e com mais radicalidade –, parece difícil não pensar nas próprias regras em geral como certezas. Apenas é o caso que, a partir da obra Da certeza, o conceito de certeza oportuniza, para o conceito de regras mais antigo, uma estrutura de anterioridade e posterioridade, de primitividade “estrita” e “comum”, e orienta a investigação da linguagem na direção de uma reconsideração das próprias regras: ora, elas mesmas, mais antigas na biografia intelectual wittgensteiniana, são suscetíveis a uma tipologia de graduação e prevalência na estruturação da linguagem como uso. As próprias certezas universais e das quais não se pode naturalmente abrir mão podem passar a ser elementos para a formulação de uma teoria de regras como condições de possibilidade da linguagem como uso. Tanto quanto questões epistêmicas têm de se submeter a questões lógico-linguísticas e a epistemologia se submete à linguagem, lembrando que todo agir epistêmico é antes jogo simplesmente, questões de linguagem se submetem a questões epistêmicas em sentido lato. Afinal, regras constitutivas, sendo certezas, parecem facilmente adotar a tipologia de prioridade, primitividade, graduação e prevalência das certezas, tornando-se possível, assim, explicitar quais e como regras se apresentam como condições de possibilidade da linguagem em geral. Referências AUDI, Robert. Epistemology. A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge. London – New York, Routledge, 22003 (repr. 2004). BAKER, G. P. and HACKER, P. M. S. Essays on the Philosophical Investigations Volume 1 – Wittgenstein: Meaning and Understanding. Chicago, The University of Chicago Press, 1980. BLOOR, David. Wittgenstein, Rules and Institutions. London – New York, Routledge, 1997. Capítulo 13 | Página 296 BOGEN, James. Wittgenstein and Skepticism. In: SHANKER, Stuart (ed.). Ludwig Wittgenstein. Critical Assessments. Volume 2 (From Philosophical Investigations to On Certainty: Wittgenstein’s Later Philosophy). London – New York, 1986 (repr. 1997), p. 317-329. BOGHOSSIAN, P. The Rule-Following Considerations. In: Mind, 98 (1989), p. 507-549. BRENNER, William H. Wittgenstein’s ‘Kantian Solution’. In: Moyal-Sharrock, Danièle and Brenner, William H. (eds.). Readings of Wittgenstein’s On Certainty. Houndmills – New York, Palgrave Macmillan, 2005, p. 122-41. CAVELL, Stanley. Excursus on Wittgenstein’s Vision of Language. In: CAVELL, Stanley. The Claim of Reason. Wittgenstein, Skepticism, Morality, and Tragedy. Oxford, Oxford University Press, 1979, 168-190. _____. Notes and Afterthoughts on the Opening of Wittgenstein’s Investigations. In: SLUGA, Hans and STERN, David G. (eds.). The Cambridge Companion to Wittgenstein. Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p. 261-295. DALDEGAN DE PÁDUA, Gelson Luiz. O conceito de regras em Da Certeza: terceiro Wittgenstein?. Porto Alegre, PUCRS (Dissertação de Mestrado), 2007, 82p. DIAMOND, Cora. C. What Nonsense Might Be. In: DIAMOND, Cora. The Realistic Spirit. Wittgenstein, Philosophy, and the Mind. Cambridge, Mass. – London, A Bradford Book (The MIT Press), 1991 (third printing 1996), p. 95-114. _____. Wittgenstein, Mathematics, and Ethics: Resisting the Attractions of Realism. In: SLUGA, Hans and STERN, David G. (eds.). The Cambridge Companion to Wittgenstein. Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p. 226-260. FOGELIN, Robert J. Wittgenstein. London – New York, Routledge, 1987 (repr. 1996). 2 _____. Wittgenstein and Classical Scepticism. In: SHANKER, Stuart (ed.). Ludwig Wittgenstein. Critical Assessments. Volume 2 (From Philosophical Investigations to On Certainty: Wittgenstein’s Later Philosophy). London – New York, 1986 (repr. 1997), p. 163-175. Capítulo 13 | Página 297 GARVER, Newton. Philosophy as Grammar. In: SLUGA, Hans and STERN, David G. (eds.). The Cambridge Companion to Wittgenstein. Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p. 139-170. GLOCK, Hans-Johann. Wittgenstein Dictionary. Oxford, Blackwell Publishers, 1996 (repr. 1997). HINTIKKA, Merrill B. und HINTIKKA, Jaakko. Untersuchungen zu Wittgenstein. Übersetzt von Joachim Schulte. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1996. KIM, Hwa-Kyung. Gewissheit und Skeptizismus bei Wittgenstein. Neue Untersuchungen und Einsichten zu alten Zweifeln. Hamburg, Verlag Dr. Kovač, 2006. KOBER, Michael. Certainties of a World-Picture: The Epistemological Investigations of On Certainty. In: SLUGA, Hans and STERN, David G. (eds.). The Cambridge Companion to Wittgenstein. Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p. 411-441. _____. Gewißheit als Norm: Wittgensteins erkenntnistheoretische Untersuchungen in „Über Gewißheit“. Berlin – New York, Walter de Gruyter, 1993. _____. ‘In the Beginning was the Deed’: Wittgenstein on Knowledge and Religion. In: Moyal-Sharrock, Danièle and BRENNER, William H. (eds.). Readings of Wittgenstein’s On Certainty. Readings of Wittgenstein’s On Certainty. Houndmills – New York, Palgrave Macmillan, 2005, p. 225-250. KREBS, Andreas. Worauf man sich verlässt – Sprach und Erkenntnisphilosophie in Ludwig Wittgensteins „Über Gewissheit“. Würzburg, Königshausen & Neumann, 2007. MALCOLM, Norman. George Edward Moore. In: MALCOLM, Norman. Knowledge and Certainty. Essays and Lectures. Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1963, p. 163-183. _____. Nothing is Hidden: Wittgenstein’s Criticism of his Early Thought. Oxford, Basil Blackwell, 1986. _____. Wittgenstein: The Relation of Language to Instinctive Behaviour. In: SHANKER, Stuart (ed.). Ludwig Wittgenstein. Critical Assessments. Volume 2 (From Philosophical Investigations to On Cer- Capítulo 13 | Página 298 tainty: Wittgenstein’s Later Philosophy). London – New York, 1986 (repr. 1997), p. 303-318. MINAR, Edward. Wittgenstein’s Response to Scepticism: The Opening of On Certainty. In: Moyal-Sharrock, Danièle and Brenner, William H. (eds.). Readings of Wittgenstein’s On Certainty. Houndmills – New York, Palgrave Macmillan, 2005, p. 253-274. MORAWETZ, Thomas. In: MOYAL-SHARROCK, Danièle and BRENNER, William H. (eds.). Readings of Wittgenstein’s On Certainty. Houndmills – New York, Palgrave Macmillan, 2005, p. 165-188. MOYAL-SHARROCK, Danièle. Understanding Wittgenstein’s On Certainty. Houndmills – New York, Palgrave Macmillan, 2004. _____. Unravelling Certainty. In: MOYAL-SHARROCK, Danièle and BRENNER, William H. (eds.). Readings of Wittgenstein’s On Certainty. Houndmills – New York, Palgrave Macmillan, 2005, p. 76-99. MOYAL-SHARROCK, Danièle (ed.). The Third Wittgenstein. The Post-Investigations Works. Aldershot, Ashgate, 2005, 225pp. MOYAL-SHARROCK, Danièle and BRENNER, William H. (eds.). Readings of Wittgenstein’s On Certainty. Houndmills – New York, Palgrave Macmillan, 2005. PHILLIPS, D. Z. Wittgenstein’s On Certainty: The Case of the Missing Propositions. In: MOYAL-SHARROCK, Danièle and BRENNER, William H. (eds.). Readings of Wittgenstein’s On Certainty. Houndmills – New York, Palgrave Macmillan, 2005, p. 16-29. PUHL, Klaus. Regelfolgen. In: VON SAVIGNY, Eike (Hrsg.). Ludwig Wittgenstein – Philosophische Untersuchungen. Klassiker Auslegen. Berlin, Akademie, 1998, p. 119-142. RHEES, Rush. Wittgenstein’s On Certainty: There – Like our Life. Edited by D. Z. Phillips. Oxford, Blackwell, 2003. RUDD, Anthony. Wittgenstein, Global Scepticism and the Primacy of Practice. In: Moyal-Sharrock, Danièle and Brenner, William H. (eds.). Readings of Wittgenstein’s On Certainty. Houndmills – New York, Palgrave Macmillan, 2005, p. 142-161. SAMURES, Manuel. Sobre Da certeza de Ludwig Wittgenstein. Um estudo introdutório. Porto, Edições Contraponto, 1994. Capítulo 13 | Página 299 SCHULTE, Joachim. Within a System. In: Moyal-Sharrock, Danièle and Brenner, William H. (eds.). Readings of Wittgenstein’s On Certainty. Houndmills – New York, Palgrave Macmillan, 2005, p. 59-75. SLUGA, Hans. Ludwig Wittgenstein: Life and Work – An Introduction. In: SLUGA, Hans and STERN, David G. (eds.). The Cambridge Companion to Wittgenstein. Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p. 1-33. STROLL, Avrum. Moore and Wittgenstein on Certainty. Oxford, Oxford University Press, 1994. _____. Why On Certainty Matters. In: Moyal-Sharrock, Danièle and Brenner, William H. (eds.). Readings of Wittgenstein’s On Certainty. Houndmills – New York, Palgrave Macmillan, 2005, p. 33-46. WILLIAMS, Michael. Why Wittgenstein Isn’t a Foundationalist. In: Moyal-Sharrock, Danièle (ed.). Readings of Wittgenstein’s On Certainty. Houndmills – New York, Palgrave Macmillan, 2005, p. 47-58. WITTGENSTEIN, Ludwig. Philosophische Untersuchungen. In: Idem. Werkausgabe Band 1. Herausgegeben von G. E. M. Anscombe, G. H. von Wright und Rush Rhees. Frankfurt a. M., Suhrkamp, 101995, p. 225580. _____. Über Gewißheit. In: Idem. Werkausgabe Band 8. Herausgegeben von G. E. M. Anscombe und G. H. von Wright. Frankfurt a. M., Suhrkamp, 61994, p. 113-257. Apêndice Em 08 de junho de 2012, uma sexta-feira, Juliano do Carmo escreveu-me. Sobre o texto apresentado acima, lançou uma série de questionamentos. Esses, e as respostas de agora, constam abaixo. “Caro Prof. Roberto, Escrevo para parabenizá-lo pelo excelente artigo “Wittgenstein: Sobre Certeza, Regras e Normas”. É realmente muito esclarecedor o modo como abordas a ideia de uma epistemologia essencialmente vinculada à noção de jogos de linguagem. É notável também o modo como Capítulo 13 | Página 300 conduzes o texto, pois embora o mesmo exponha uma grande variedade de detalhes importantes, ele jamais perde o foco. Eu não teria muito o que dizer sobre o texto, a não ser reconhecê-lo como um belo trabalho. Portanto, limito-me a te fazer alguns comentários e algumas perguntas ingênuas. Fique à vontade para respondê-las ou não. (1) Quando mencionas as “hinge propositions”, não te agradas utilizar o termo “proposições fulcrais”? A expressão “proposição fulcral” é uma tradução da analogia que Wittgenstein faz entre proposições que são isentas de dúvida (como colocas em teu texto) com dobradiças que devem permanecer fixas, para que, por exemplo, uma porta se abra. (2) Se a noção de justificação em Wittgenstein não se deixa rotular nem como “fundacionismo”, nem como coerentismo, seria possível rotulá-la como “contextualismo” (como alguns autores defendem), já que ela depende, pelo que entendi, de jogos de linguagem epistêmicos? (3) Não estou certo de que existam regras constitutivas da linguagem, ou melhor, não estou certo de que a linguagem seja uma atividade essencialmente guiada por regras, pois: (a) Agir em conformidade com uma regra (PU 198-199) só é possível na medida em que se supõe que os agentes são guiados por regras. Há uma distinção defendida por Wittgenstein na Gramática Filosófica entre “agir em conformidade com uma regra” e “ser guiado por uma regra”. Ou seja, o uso de palavras estaria associado a certo conjunto de regras, mas o que tornaria a representação possível seria a constatação de que os agentes “são guiados por regras” e não meramente “se conformam” a elas. (b) As regras forneciam a justificação para a utilização de palavras, na medida em que se defendia que os agentes usam palavras na linguagem porque seguem determinadas regras, do mesmo modo como oferecem uma resposta a um determinado cálculo. (c) Mais tarde (no Blue Book e, mais especificamente, no Brown Book), Wittgenstein oferece uma nova concepção a respeito da ideia de seguir uma regra: com efeito, no Blue Book a distinção entre “agir guiado por regras” e “agir em conformidade com uma regra” é substituída ligeiramente pela distinção entre “o processo que envolve uma regra” e “o processo de estar em conformidade Capítulo 13 | Página 301 com uma regra”. Agora, as regras passam a envolver processos de compreensão. (d) No Brown Book, Wittgenstein defende que seria possível conceber um caso no qual um agente poderia reagir simplesmente de modo natural a determinadas palavras, sem que com isso esteja presente qualquer espécie de treinamento (onde nenhuma expressão de uma regra estaria envolvida). Isso nos leva a crer que as regras não desempenham um papel essencial nas práticas linguísticas. (e) Será que o mesmo se dá com a prática epistêmica? (4) Como sabes, não me agrada muito a ideia de normatividade no sentido de prescritividade. Fico mais inclinado a pensar que a normatividade aplicada à linguagem e à epistemologia deveria ser pensada apenas no sentido de correção (diferentemente do que ocorre com proposições morais). Uma proposição do tipo “Roberto está sentado” não parece prescrever nada ao agente, no sentido de dizer o que se deve fazer, ou o que se deve evitar, a quem se deve culpar ou admirar. Um forte abraço, Juliano do Carmo” As respostas vêm um tanto tardiamente. E são, ademais, incompletas, estou certo. Eu as escrevi em 14 de julho de 2012. “Prezado Juliano: Espero que esteja tudo bem. Agradeço muitíssimo a tua paciência em ler o referido texto. Em uma época em que se escreve mais do que se lê, essa é uma concessão bondosa e digna de grande nota. As perguntas que fazes são instigantes. Eu consigo, de momento, esboçar as seguintes notas, em resposta a elas. Quanto à (1) primeira pergunta, entendo que se trata de uma pergunta sobre tradução. Não me oponho à expressão “proposições fulcrais” como versão para “hinge propositions”, mas realmente creio que aquela expressão diz menos do que a versão literal “proposições dobradiça”. Ora, essas últimas são aquelas com as quais “abrimos” uma prática ou e Capítulo 13 | Página 302 realizamos o jogo de questionamento e a investigação de todo e qualquer item de dúvida: elas são eixos de articulação, de movimento. Elas não são o que se encontra ou o que se objetiva evidenciar em questionamentos, como também dás a entender. Assim, “dobradiça” preserva a imagem de fundamento e elemento constitutivo, pressuposto, por isso mesmo intrinsecamente tomado como “certo”, no qual Wittgenstein tanto insiste. Alguma coisa “fulcral” pode ser meramente “central”, “essencial”, “decisiva”. Mas, ela não necessariamente carrega, em um horizonte de sentido possível, o aspecto mesmo de base não questionada de todo questionar. (2) Prefiro separar esse rótulo daquilo que Wittgenstein realiza em Da certeza. Aqui, Wittgenstein, essencialmente, está atrás de uma compreensão da natureza mesma das práticas de “duvidar” e “conhecer” e do estado de “ter certeza”. E tanto compreende como analisa aquelas noções, sobretudo, enquanto práticas da linguagem. O resultado dessa investigação é por certo útil para a teoria do conhecimento, para a compreensão mesma do sentido de seus passos tradicionais. Mas, não há em Da certeza uma “teoria da justificação de crenças” – admitindo ainda que a obra desabona o sentido do ceticismo sobre o mundo exterior como prática da linguagem relevante ou defensável em sua razoabilidade. Alguns autores perceberam, antes, que a vinculação das certezas e dos jogos epistêmicos respectivos a uma “imagem de mundo”, a partir do qual todo jogo de inquirir e questionar pode surgir, pode levar a visão de Wittgenstein a uma forma de “relativismo” sobre o certo, o conhecido e o duvidoso68. Mas, o passo para o contextualismo epistêmico é diferente, pois esse, no jargão comum, é relativo à ideia de que “as condições de verdade da atribuição de conhecimento e sentenças que negam o conhecimento (sentenças da forma “S sabe que P” e “S não sabe que P” e variações correlatas dessas sentenças) variam de acordo com o contexto no qual são proferidas”69. Cabe enfatizar que são justamente os padrões epistêmicos que um sujeito deve observar os elementos que variam ou podem variar conforme o contexto dado. Acredito que uma teoria de justificação de crenças construída a partir desse núcleo simples de ideias pode ser associada ao Wittgenstein das Investigações filosóficas e Da certeza. No entanto, é questionável que em Wittgenstein houvesse 68 Cf. recentemente William Child, Wittgenstein, London – New York, Routledge, 2011, p. 207-212. Cf. Keith DeRose, Contextualismo: explanação e defesa, in: John Greco e Ernest Sosa (orgs.), Compêndio de epistemologia, São Paulo, Edições Loyola, 2008, p. 298. 69 Capítulo 13 | Página 303 esboços e intenções de tal teoria; é até mesmo mais razoável crer que Wittgenstein, então, teria tido acima de tudo ou até exclusivamente a intenção de propor uma teoria semântica sobre as atribuições de conhecimento – de propor um elemento da filosofia da linguagem, portanto70. Há, ademais, histórias do “contextualismo epistêmico” que não o vinculam, ao menos não em um sentido relevante, a Wittgenstein71. Creio que as perguntas (3) e (4) podem ser associadas uma à outra. Essa é uma observação ou, antes, uma posição mais profunda sobre a filosofia da linguagem de Wittgenstein, que sei partilhas e defendes de maneira articulada, a saber, que é possível ler em Wittgenstein que a linguagem não é uma “atividade essencialmente guiada por regras”. Essa última é uma acepção forte sobre o vínculo entre regra e linguagem, mais fundamental do que conformar-se a regras. Creio que as observações de (a) até (d) são muito importantes e muito razoáveis – merecem ser perseguidas em detalhes, sobretudo a acepção em (d) de que há indícios que levam “a crer que as regras não desempenham um papel essencial nas práticas linguísticas”. Não vejo ainda o quanto isso pode ser universalizado ou até mesmo significativamente ampliado para a visão da linguagem por Wittgenstein. De toda maneira, a acepção mais importante no texto acima é a de que “certezas” se assemelham a “regras” e “normas” de práticas de linguagem, em especial aquelas que têm um sentido epistêmico. Em um sentido fundamental, todas as práticas de linguagem pressupõem certezas e são constituídas por elas: Há sempre de que não se duvida no sentido de que não se consegue duvidar na prática ou na performance linguística ou de representação do mundo. E, justamente por isso, existem práticas de linguagem, em particular as epistêmicas. É verdade que “Roberto está sentado” nada prescreve ao agente, e em princípio nada prescreve a um sujeito epistêmico. Porém, ela pode ser questionada e pode-se então entrar em um jogo com regras bastante notáveis, sobretudo se alguém disser “Não, Roberto está de pé!”. Isso pode iniciar uma prática de buscar e dar razões, uma prática de justificar uma proposição empírica no intuito mesmo de conhecer E essa seria justamente uma crítica ao contextualismo epistêmico como legítima teoria de justificação de crenças; cf. Tiegüe Vieira Rodrigues, Diferentes abordagens sobre o contextualismo epistemológico, in: Carlos Augusto Sartori e Albertinho Luiz Gallina, Ensaios de epistemologia contemporânea, Ijuí, Editora Unijuí, 2010, p. 256. 70 71 Id. ibid., p. 306-309. Capítulo 13 | Página 304 algo – nesse caso, algo não muito importante. E, contudo, essa prática possivelmente não duvida e não pode, na prática, fazê-lo, da norma-regra de que “Eu [que quero confirmar a minha primeira convicção de Roberto estar sentado na cadeira], como a maioria dos indivíduos que conheço, incluindo esses agora perto de mim, tenho olhos e enxergo o mundo lá fora”. Se a meta for conferir, buscar razões e dar razões, ao menos disso, ali, não se duvidará. Se esse for o caso, começa-se de novo outro jogo, e outra coisa será certa: talvez, por exemplo, “Se apalparmos a cavidade ocular, em nossa cabeça, ficaremos convictos de ter ou não olhos”. Se agimos de alguma forma, seguimos uma regra, não como alguém que sabe, mas como alguém que tem certeza do que está fazendo ou faz como o pesado que cai ao chão.” Capítulo 13 | Página 305 Notas sobre a antropologia filosófica de Max Scheler 1 Prof. Dr. Robinson dos Santos2 UFPEL - Brasil Introdução No âmbito da antropologia filosófica o nome de Max Scheler (1874-1928) ocupa um lugar de destaque3. Influenciado em grande parte por Dilthey4, mas também pela fenomenologia husserliana, Scheler ampliou de certa forma esta perspectiva, aplicando o método fenomenológico aos âmbitos filosóficos da ética, da cultura e da religião5. Com isso, Este texto foi publicado originalmente na coletânea intitulada Natureza humana em movimento: ensaios de antropologia filosófica, organizada por Anor Sganzerla, Antonio José Valverde e Ericson Falabretti, na Coleção Filosofia da Editora Paulus, em 2012. 1 Doutor em Filosofia pela Universidade de Kassel, Alemanha. Professor do curso de graduação e do Programa de Pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. 2 3 Sendo a antropologia filosófica uma área temática relativamente recente, muitos autores associam a ela o nome de Scheler, que a considera a ponte entre as ciências positivas e a metafísica. Sobre isso vale conferir a definição do termo em FERRATER MORA, 2009, Tomo I, p. 185. No verbete Philosophische Anthropologie, que elaborou para uma coletânea e posteriormente publicou em um de seus livros [Kultur und Kritik], HABERMAS (1973, p. 95) aponta para Scheler como o legítimo fundador da Antropologia Filosófica. Cf. SCHAEFER, 1995, p. 20. Nesta perspectiva, STEGMÜLLER (1977, p. 93) observa que são três as fontes que estimularam o pensamento scheleriano: a Philosophie des Lebens (Dilthey), isto é, o Vitalismo ou Biofilosofia, o Idealismo Alemão e o Cristianismo. 4 5 Em sua formação intelectual e filosófica Scheler foi notadamente marcado pelo pensamento husserliano. Mas parece que tinha dificuldades de assumir isso publicamente, como bem lembra a historiadora italiana Sofia ROVIGHI (1999, p. 382) citando o relato biográfico de Edith Stein (1891-1942), que foi colega de Scheler e também aluna de Husserl. Esta enfatiza que ele fazia questão de afirmar que havia encontrado por si mesmo seu caminho na fenomenologia, enquanto para Husserl estava claro que as idéias de Scheler eram tributárias das suas. Naquele relato, ela se refere à personalidade deste pensador elaborou uma concepção filosófica sobre a moral – a ética material dos valores – que teve enorme ressonância no início do século XX e, que de certa maneira, ecoa até o presente. A profundidade de suas observações, a riqueza de suas idéias, a linguagem vibrante e a clareza de exposição, são caracterísiticas que fizeram até mesmo seus oponentes mais radicais o reconhecer como um pensador original. Sua obra é caracterizada por uma diversidade de temas, de tal modo que adentra nos diversos campos da filosofia (lógica, teoria do conhecimento, metafísica, ética, antropologia, filosofia da religião, sociologia do conhecimento)6. Em que pese ao fato de sua obra não ter constituído o que se poderia chamar de “sistema filosófico”, isso não diminui o significado e o valor de suas investigações7. Entre seus principais escritos encontramos, pois, os seguintes trabalhos: O ressentimento na edificação das morais (1912), Do declínio dos valores (1919), O eterno no homem (1921), Essência e formas da simpatia (1926) A posição do homem no cosmos (1928) e O formalismo na ética e a ética material dos valores (1913-1916). Entre estes e outros que não foram citados aqui, o último título é, sem dúvida, aquele que propiciou a Scheler fama e prestígio8. Neste trabalho pretendemos caracterizar o pensamento do referido autor, apontando para alguns aspectos de sua doutrina ética e sua com as seguintes palavras: “Todos aqueles que conheceram Scheler, ou leram atentamente seus escritos, sabem que com facilidade ele absorvia os pensamentos alheios; chegavam até ele idéias que, em seguida, reelaborava, sem que ele próprio percebesse a influência sofrida, de modo que podia afirmar de boa fé tratar-se de um patrimônio inteiramente seu.(...) A primeira impressão que Scheler provocava era fascinante: nunca mais conheci em um homem o ‘fenômeno da genialidade’ em estado puro”. 6 Cf. SCHAEFER, 1995, p. 25. HENCKMAN (1995, p. 126) refere-se a este aspecto de modo perspicaz, quando constata que duas dificuldades se impõem à compreensão do pensamento de Scheler: de um lado ele “não elaborou nenhuma obra sistemática para a filosofia dos valores” e, por outro, “trocou duas vezes o seu posicionamento filosófico”, isso em grande medida, também, devido a um processo pessoal conturbado relacionado à religião cristã. Comparado a Nikolai Hartmann, que foi seu colega e escreveu um tratado sistemático sobre ética, Scheler teria sido considerado incapaz de desenvolver um pensamento sistemático. Mas o autor enfatiza que o próprio Scheler era defensor de um pensamento filosófico sistemático, ainda que, faticamente, vejamos na sua obra sempre novas elaborações e tentativas, assim como o emprego de conceitos não suficientemente esclarecidos. Todavia, isso não diminui o rigor sistemático de seu perfil de “pensador de problemas”, que estava em vias de constituir um sistema filosófico, como prefere a ele se referir o autor. SCHAEFER (1996, p. 26), situando-se nesta mesma perspectiva, considera que “apesar da multiplicidade e de ausência de um sistema bem acabado, seria inexato querer qualificar esta filosofia de pouco conseqüente ou eclética”. 7 8 Tomaremos como referência fundamental aqui a obra Die Stellung des Menschen im Kosmos [A posição do homem no cosmos], que será citada usando a abreviação SMK. Para Der Formalismus in der Ethik und die materielle Wertethik [O formalismo na ética e a ética material dos valores] FEmW. Capítulo 14 | Página 308 concepção antropológico-filosófica. Na primeira parte do texto apresentamos o delineamento geral da ética de Scheler na, para em seguida adentrar na caracterização de sua antropologia. Para finalizar, nos reportamos a alguns aspectos particulares da antropologia scheleriana no intuito de sublinhar sua atualidade e pertinência para uma compreensão filosófica do problema do homem. Aspectos gerais da ética de Scheler No campo da moral Scheler opõe-se claramente a Kant e Nietzsche, não obstante ser, de certa forma, também por eles influenciado9. Se em relação a Nietzsche é clara a influência, sobretudo nos títulos de alguns de seus ensaios, tratando de temas como o ressentimento, valores, culpa, eternidade e decadência, o que levou a Ernst Troeltsch o apelidar de “Nietzsche católico”10, é nítida a diferença no tratamento destas questões, pois Scheler opõe-se decididamente ao relativismo nietzscheano11. Especialmente com relação a Kant, Scheler toma distância e propõe em lugar da ética kantiana uma ética material dos valores. Para ele, Kant teve o mérito de defender a necessidade da validade a priori e universal da lei moral e, portanto, descartar o plano empírico como caminho para se chegar a um critério para a mesma. No entanto, o mesmo Kant12 teria cometido um grande erro, ao priorizar meramente o aspecto da forma da lei13. Para ele o problema da ética de Kant está no “formalismo vazio e estéril” e na “unilateralidade da idéia de dever” (FEmW, p. 15). Ele refeNOACK (1962, p. 228) observa que além de Kant e Nietzsche, Dilthey e Bergson também exerceram influência sobre suas idéias, assim como Agostinho e Jakob Boehme. 9 10 Cf. HIRSCHBERGER, 1980, p. 600. 11 Idem, ibidem, p. 601. As citações dos textos de Kant serão feitas de acordo com a edição em seis volumes organizada por Wilhelm Weischedel [KANT, Immanuel. Werke in sechs Bänden. Hrsg. von Wilhelm Weischedel. Darmstadt, 1998]. O número em romano indica o volume correspondente da edição aqui utilizada e, após este, a página do mesmo. As abreviaturas correspondem aos seguintes textos; ApH=Anthropologie im pragmatischer Hinsicht; KpV=Kritik der praktischen Vernunft; GMS=Grundlegung zur Metapysik der Sitten. 12 13 Nas palavras de Kant, em sua Fundamentação da Metafísica dos Costumes: “Há por fim um imperativo que, sem se basear como condição em qualquer outra intenção a atingir por um certo comportamento, ordena imediatamente este comportamento. Este imperativo é categórico. Não se relaciona com a matéria da ação e com o que dela deve resultar, mas com a forma e o princípio de que ela mesma deriva; e o essencialmente bom na ação resida na disposição, seja qual for o resultado. Este imperativo se pode chamar o imperativo da moralidade” (GMS, IV BA 43). Capítulo 14 | Página 309 re-se ao imperativo categórico kantiano como o “colosso de aço e bronze” que, em última instância, serve muito mais como obstáculo do que como caminho para uma doutrina esclarecedora dos valores morais e para a construção da vida humana fundada na compreesão dos mesmos. Vale lembrar que a acusação de formalismo já havia sido feita a Kant, na recepção que Hegel fez de suas idéias. Mas em Scheler este tema é o que, justamente, serve de base para ele formular sua própria concepção sobre ética. E, como para os neokantianos, Scheler pretende aproveitar o que julga como potencial da filosofia kantiana a fim de torná-lo proveitoso. “A pessoa é um valor por si mesma”, afirma Scheler (FemW, p. 129) em claríssima semelhança ao conceito de humanidade como fim em si mesma de Kant. Mas, ao contrário de Kant, para quem o dever tem a primazia sobre o valor, para Scheler o homem se torna pessoa por meio da realização de valores. É por isso que, neste sentido, em remissão a Pascal, ele se refere a uma lógica do coração14. Em lugar do formalismo kantiano, o autor propõe a ética material dos valores e quer, por meio dela, estabelecer um personalismo ético. E, por isso mesmo, este é o objeto e o título de sua principal obra, ou seja, O formalismo na ética e a ética material dos valores. Mas o que significam aqui os termos material e valores? Mantendo o que julga importante na elaboração de Kant, Scheler quer dar um passo além e acrescentar um conteúdo à lei moral. Isso significa que material no campo da ética não tem, por princípio, nada– como bem se poderia supor – já relacionado ao empírico. Se poderia entender ainda a materialidade da ética, equivocadamente, como ligada aos bens materiais mas, na acepção scheleriana, estes são fatos e não valores. Os fatos ou bens materiais podem, na melhor das hipóteses, remeter aos valores, uma vez que os expressam de certa forma. Material, portanto, é uma característica refere-se a ética que trata da matéria das ações, isto é, os valores. O suposto erro de Kant estaria na negligência do conteúdo material de valor para as ações. Com isso ele teria esquecido o que, no entender de Scheler, é elemento substancial da ética. A essência do bem não está no seu aspecto formal, mas antes no seu conteúdo material. Os 14 Cf. BOHLKEN, 2006 p. 111. Capítulo 14 | Página 310 valores são essências, que como tais, servem de critério para as ações e valem também, respectivamente, para julgarmos sua qualidade moral. Para Scheler a ética material é igualmente válida a priori na medida em que existe uma hierarquia objetiva dos valores ideais. Esta pode ser assim compreendida: a) valores sensoriais (alegria, tristeza, prazer e dor); b) valores da civilização (útil, danoso); c) valores vitais (nobre, vulgar); d) valores culturais ou espirituais [d1:estéticos (belo, feio), d2: ético-jurídicos (justo-injusto), d3: especulativos (verdadeiro-falso)]; e) valores religiosos (sagrado, profano). Os valores são essências que podem ser intuídas. A expressão husserliana do retorno às próprias coisas (ou às coisas em si) é tomada como máxima metodológica para Scheler15. Aqui fica clara a herança do pensamento de Husserl acerca da intuição, como princípio fundamental da fenomenologia. A validade objetiva e incondicionada destes valores não é conferida pelo recurso a uma doutrina do mundo ideal, como no caso de Platão, nem por meio da afirmação de um criador do reino do Ser, mas nos é dada pelo próprio sentimento que é inato em nós (intuição emocional). Note-se que o acesso a este cosmos dos valores não é prerrogativa de nossa atividade intelectual. Em relação a este aspecto, Scheler observa que, no fundo, existem dois preconceitos que nos fazem acreditar ou confiar unicamente no intelecto em detrimento dos sentimentos: a noção equivocada de que somente o intelecto e a razão são atividades espirituais em nós e a suposição de que o sentimento é desprovido de intencionalidade. O que nós portanto – contrariamente a Kant – exigimos decididamente aqui é um apriorismo do emocional e uma separação da falsa unidade , que persistia até agora entre apriorismo e racionalismo. ‘Ética emocional’ diferentemente de ‘ética racional’ é de modo algum necessariamente ‘empirismo’, no sentido de de uma tentativa de obter os valores a partir da observação e da indução. O sentir, o preferir, o amar e o odiar do espírito tem seu próprio conteúdo a priori, o qual é tão independente da experiência indutiva quanto os princípios puros do pensamento. E aqui como lá existe uma percepção essencial do ato e de suas matérias, 15 Cf. HENCKMANN, 1995, p. 130. Capítulo 14 | Página 311 sua fundação e suas relações. E aqui como lá existe ‘evidência’ e exatidão rigorosa da constatação fenomenológica (FEmW, p. 85). Na compreensão de Scheler uma pessoa que considera a si mesmo como boa (em sentido moral) quer o bem “não porque deve” mas “porque o vê”, isto é, o percebe através de sua intuição emocional (FemW, p. 202). Scheler entende que os sentimentos são importantes no plano da ética, mas nem por isso significa que sejamos forçados a admitir então o hedonismo, o utilitarismo ou o relativismo. Os sentimentos não são identificados apenas com “estados momentâneos” ou “meras sensações” mas, como fica claro na passagem acima, são também compreendidos como atos indenpendentes, com característica, lógica e matéria própria. Eles são em nós exatamente o que confirma a intencionalidade origninária do valor. Por isso mesmo, as inclinações têm um papel eminentemente positivo na ética: elas remetem a uma axiologia, isto é, a uma escala ou ordem determinada valores. Aquela hierarquia objetiva dos valores ideais pode ser, portanto, captada e reconhecida. Conforme o comentário de Rovighi, “[a] intuição dos valores é objetiva, no sentido de que apreende uma realidade dada, não é simplesmente um nosso modo de sentir, portanto pode fundamentar avaliações universalmente válidas” (1999, p. 386). No amor, no ódio, no preferir temos a referência a um universo de valores, cujo mais elevado entre todos é o amor. Deste modo, Scheler opõe à ética do dever uma ética do amor. Neste ponto é necessário adentrar para sua concepção antropológica para esclarecer algo mais sobre sua posição na ética. Mas antes disso, algumas considerações sobre a crítica de Scheler a Kant. Em primeiro lugar é preciso esclarecer que a interpretação de Kant feita por Scheler é bastante problemática. Trata-se aqui do que Allen Wood chamou apropriadamente de “má-ênfase” do pensamento do autor16. Por mais que se possa assim caracterizá-la, pois o termo é, com efeito, empregado por Kant, é extremamente precipitada e equivocada a afirmação que Kant defende uma ética da obrigação. A ética defendida por Kant é, por princípio, uma ética racional, ou seja, válida para todos os seres racionais, inclusive o homem que é, a um tempo, racional e sensível. Se o homem fosse apenas racional agiria sempre em perfeita harmonia e concordância com a razão. No entanto, a sensibilidade produz 16 Sobre este aspecto e outros com relação às acusações de formalismo a Kant, fazemos algumas ponderações e objeções no trabalho intitulado “Sobre a virtude como realização da moral e o dever de amor aos seres humanos em Kant”, listado nas referências. Capítulo 14 | Página 312 móbeis que se interpõe e obstaculizam o cumprimento das leis da razão. Existindo esta dificuldade colocada pela nossa natureza sensível e, portanto, por não sermos naturalmente bons ou espontaneamente morais, as leis da razão se nos impõem como uma obrigação17. A segunda consideração é que a ética de Kant não é “vazia de conteúdo”. Kant não defende uma exclusão do material em prol do formal. Novamente aqui se poderia objetar a Scheler que ele teria ignorado todos os escritos como a Doutrina do Direito e Doutrina da Virtude, bem como os escritos de antropologia, política, pedagogia e filosofia da história. Para aqueles que insistem no formalismo é preciso recomendar a máxima “Zurück zu Kant!” [literalmente, “de volta para Kant!”] isto é, retornemos ao próprio Kant pois, retornar a Kant é progredir18. Outras objeções podem ser colocadas à fenomenologia scheleriana no que se refere à pressuposição de valores absolutos, como algo independente do sujeito. Aqui pode-se levantar a suspeita de uma recaída numa metafísica dogmática de cunho platônico. Parece ser também bastante contraditória a afirmação da validade a priori de valores inferida a partir da experiência. Se pode perguntar, com efeito, como é possível pensar no acesso às coisas em si, aos valores em si, de forma absolutamte livre das contingências históricas e temporais. A singularidade do homem e seu lugar no cosmos Em A posição do homem no cosmos (SMK) Scheler principia o texto apontando para a dificuldade de uma concepção unitária acerca do homem. O conceito “homem” ou “ser humano” pode, com efeito, ser compreendido a partir de três contextos ou tradições diferenciadas: a) a partir da tradição judaico-cristã, que traz a perspectiva da criação, do paraíso e da queda no pecado; b) a partir da tradição da antiguidade grega, por meio da qual o homem, justamente porque possui razão e consciência de si (e, relacionados a ela, os conceitos de logos, phronesis, ratio, mens) assume uma posição especial no mundo, sobretudo porque o logos significa tanto a faculdade que ele possui, quanto se relaciona Dada a imperfeição de nossa vontade, segue-se para Kant que, “Dever e obrigação são as denominações que unicamente podemos dar à nossa relação para com a lei moral”(KpV, A 147). 17 18 Esta foi a máxima que inspirou um movimento de retomada do pensamento kantiano na filosofia alemã. Capítulo 14 | Página 313 com uma razão sobre-humana que reside no fundamento da totalidade, com a qual o homem, entre todos os seres, é o único que tem o privilégio de participar; c) a partir da tradição inaugurada pela ciência moderna e pela psicologia genética, na qual o homem é tomado como resultado final bastante tardio do desenvolvimento do planeta, o que, no fundo, o coloca em estreita conexão com o mundo animal, cujas formas primitivas remetem sempre a processos anteriores que, por sua vez, o situam na cadeia evolutiva do mundo natural. Deste modo, constata Scheler, possuímos fundamentalmente três visões antropológicas distintas: uma teológica, uma filosófica e uma científico-natural, “mas uma idéia unitária do homem nós não temos” (SMK, p. 9). A estas considerações, acrescenta o autor que, a crescente especialização das ciências, em particular daquelas que se ocupam com o homem, mais encobrem ou obscurecem do que desvelam ou iluminam a sua essência, por mais valiosas que sejam, o que torna o problema do homem mais atual do que nunca. A partir destas considerações Scheler aponta em SMK (p. 11) para o que se pode chamar de duplo significado [Zweideutigkeit] do conceito de homem. De um lado, temos uma definição do homem com base em seus elementos constitutivos naturais [natursystematischen Begriff= conceito sistemático-natural], isto é, um conceito que leva em conta as características morfológicas e o conjunto de atributos bio-fisiológicos, através dos quais ele é comparado e diferenciado em relação a seres similares. Neste caso, por exemplo, a definição clássica de animal, mamífero e vertebrado o situa em um determinado estrato da natureza. No entanto, uma outra caracterização do homem pode ser feita. Esta deve ter uma origem bem distinta, relativamente ao primeiro conceito, e sua possibilidade é o objeto de investigação de Scheler nesta obra: o conceito essencial de homem [=Wesensbegriff des Menschen]19. O ponto em que Scheler quer chegar é estabelecer qual a peculiaridade do homem, o que torna sua posição singular no cosmos20. Por isso, entende o autor que a “posição peculiar do Aqui cabe mencionar que esta diferenciação é muito parecida com aquela de Kant em sua Antropologia: “Uma doutrina do conhecimento do homem sistematicamente desenvolvida (Antropologia) pode ser feita numa perspectiva fisiológica ou numa perspectiva pragmática. – O conhecimento fisiológico do homem trata de investigar o que a natureza faz do homem; o pragmático, o que ele mesmo, como ser que age livremente, faz, ou pode e deve fazer de si mesmo.”(ApH, IV 399). 19 20 SCHAEFER (1995, p. 92) observa a este respeito que Scheler “tem a preocupação de alicerçar sua antropologia sobre uma base suficientemente ampla, isto é, proceder com tal ‘detalhamento metódico’, que nenhum dado concernente ao homem escape à análise (atitude anti-reducionista). Capítulo 14 | Página 314 homem só pode ficar clara para nós, se pusermos diante de nossos olhos toda a construção do mundo biopsíquico” (SMK, p. 11). Uma característica fundamental de seres viventes, além das propriedades e capacidades conhecidas como auto-movimento, auto-constituição, auto-diferenciação e auto-limitação no espaço e tempo, é que estes não podem ser reduzidos a meros objetos para os expectadores externos, mas são dotados de uma capacidade de serem em-si e -para-si mesmos. As disposições e capacidades originárias que compõem a estrutura biopsíquica identificadas numa certa hierarquia. Estas são: a) a pulsão afetiva; b) o instinto; c) memória associativa e; d) a inteligência prática. A pulsão afetiva está presente em toda a forma de vida vegetativa e é a primeira forma de seu desenvolvimento. Neste princípio a consciência ou a faculdade de representação ainda não está presente. Trata-se pois de um movimento de dentro para fora e, sentido, ekstático21, por ser permanente, operando sempre na mesma direção. Ele permite que a vida se projete de forma inconsciente, mas apontando para certa direção e com certo sentido. O instinto constitui a segunda forma da vida biopsíquica e refere-se ao comportamento do indivíduo em sua relação com o meio. Aqui vale lembrar que o termo comportamento não quer dizer apenas o comportamento externo observável, mas sobretudo considerado em sua dimensão interna. O instinto é visto por Scheler não como uma espécie de automatismo de respostas, mas trata-se de um comportamento que já é algo seletivo, posto que responde a estímulos específicos e, portanto, é um indício do que, em níveis mais complexos, será o que ele define como faculdade de representação. A terceira forma da vida psíquica, a memória associativa (Mneme) não está presente em qualquer ser vivente. Ela é uma característica típica do indivíduo e, como havia indicado Aristóteles, não está presente nas plantas22. Ela tem por base o que Pavlov chamava de reflexo condicionado. Por meio desta forma, o indivíduo já não age exclusivamente orientado pelo instinto, mas aprende de certa forma, ainda que de modo Assim a antropologia deve ser uma ciência fundamental, isto é, deve poder esclarecer a estrutura essencial do homem e, ao mesmo tempo, situá-lo em relação aos diferentes reinos da natureza à sociedade, ao ser”. 21 Cf. SMK, p. 14. 22 Cf. SMK, p. 25. Capítulo 14 | Página 315 rudimentar a relacionar eventos entre si, especialmente quando relacionados a um componente instintivo: fome, dor, recompensa. A inteligência prática é algo bem diferente da memória associativa. Não procede por semelhança a situações anteriores de tentativa e erro, mas introduz um elemento novo ou, até inesperado, do ponto de vista do contexto, na relação com o meio circundante. É o caso de um animal, como o chimpanzé, que relaciona uma vara como recurso à solução (ou tentativa) de um problema: destravar sua jaula ou bater no cacho de bananas até que caiam por entre os intervalos da grade. Porém, em não estando à disposição o “recurso” o animal não vai em busca de algo semelhante para resolver o problema e, nem mesmo após o uso exitoso faz com que ele guarde o material para uma próxima vez, caso necessite. A partir das considerações sobre as formas elementares da vida biopsíquica Scheler interroga-se quanto à possibilidade de haver apenas uma diferença gradual na inteligência humana e nos demais animais ou se podemos considerar, mesmo, que há uma diferença essencial entre ambos. Ele conclui que: A essência do homem e aquilo que se pode designar sua ‘posição peculiar’ se situa bem acima do que se denomina inteligência e capacidade de escolha e também não seria atingido, se se imaginasse esta inteligência e esta capacidade de escolha aumentadas quantitativamente quanto se quiser, mesmo ao infinito. (Nota: entre um chimpanzé esperto e Edison, considerado este apenas como técnico, existe apenas uma diferença gradual – certamente, muito grande). Mas também seria falho se se visse no novo, que faz o homem ser homem, apenas um outro nível essencial de funções e capacidades psíquicas pertencentes à esfera vital, que ainda acrescesse aos níveis psíquicos do impulso vital, do instinto, da memória associativa, da inteligência e escolha, cujo conhecimento, portanto, ainda seria da competência da Psicologia e da Biologia. (SMK, p. 37) Scheler deixa claro que para ele o homem não pode ser reduzido a um animal “algo mais desenvolvido” que outros. Mesmo que se o quisesse avaliar nesta perspectiva, ficaria já pressuposto aqui, na própria capacidade de julgamento algo de extraordinário e revelador que não se resume, por sua vez, em meramente mais inteligência23, mas implicaria na aceitação tácita do elemento para o qual Scheler quer chamar a aten23 PIVČEVIĆ, 1972, p. 135. Capítulo 14 | Página 316 ção. Haveria, portanto, um abismo imenso entre o homem e o animal. Para ele o princípio que permite afirmarmos uma diferença essencial do homem em relação ao animal é algo que está fora do que podemos considerar como “vida”. Nas suas palavras, a única coisa que faz o homem ser “homem” não é um novo nível da vida - muito menos apenas um nível da forma específica de manifestação desta vida, da “psique” -, mas é um princípio oposto a toda e qualquer vida simplesmente, também à vida do homem: um autêntico fato-de-essência novo que, como tal, não pode ser atribuído à “evolução natural da vida”, mas, no máximo, remete ao próprio fundamento supremo e uno das coisas: ao mesmo fundamento de que a “vida” é uma grande manifestação. Já os gregos afirmavam um tal princípio e o denominavam “razão”. Nós preferimos empregar para este X um termo mais abrangente, que certamente inclui o conceito “razão”, mas, ao lado do “pensar-idéias”, também inclui uma determinada espécie de “intuição” como de fenômenos originários e formas essenciais, além disso inclui uma determinada classe de atos volitivos e emocionais como bondade, amor, arrependimento, respeito, admiração espiritual, beatitude e desespero, a livre descisão: - o termo “espírito”. O centro de atos, porém, em que o espírito aparece no âmbito de esferas finitas do ser, designamos como “pessoa”, com nítida distinção a todos os centros funcionais da vida que, considerados introspectivamente, também se chamam “centros psíquicos”. (SMK, 37-38) Com isso chegamos ao ponto alto da antropologia scheleriana. O conceito de espírito permite ao homem se distanciar de sua estrutura meramente orgânica e de seu ambiente circundante e elevar-se a outros patamares. O animal, por mais que possua inteligência prática, não consegue extrapolar os limites de sua condição e resume-se a satisfazer suas necessidades imediatas. Esta capacidade torna possível ao homem, portanto, uma certa independência em relação às determinações do ambiente e às suas pulsões. É por isso que o conhecimento científico do homem para Scheler não é considerado o conhecimento mais alto, posto que ele se resume a descrever e explicar as ações na perspectiva dos atos da inteligência prática. “Um ser espiritual é, portanto, não mais condicionado pelos impulsos e pelo meio, mas ‘livre do meio’ e, como nós queremos o denominar, ‘aberto ao mundo’: um tal ser tem ‘mundo’”. (SMK, p. 38). Para Scheler o homem é capaz de formas mais sutis de conhecimento, proporcionadas pelo distanciamento da condição espa- Capítulo 14 | Página 317 ço-temporal e, por meio dos atos ideativos (ideirende Akte) e intuições, pode chegar às estruturas fundamentais. Aqui ao termo empregado por Husserl – a redução fenomenológica – Scheler acrescenta outro: ao ato da redução soma-se o ato de ideação (SMK, p. 49). Se para chegarmos às coisas mesmas, conforme Husserl, precisamos colocar entre parêntesis os nossos julgamentos ou pré-juízos, Scheler entende que, mais que isso, é nosso condicionamento existencial que precisa ser suspendido. É um ato de ascese, conforme o autor. Na medida em que a resistência proporcionada pelo impulso é diminuída, abre-se espaço para o espírito. “A redução não é apenas uma empresa intelectual, que nos possibilita interpretar o mundo desde uma outra perspectiva (...)”, conforme Pivčević (1972, p. 137), mas “ela é a auto-afirmação do espírito no homem e um ato no qual o homem desvela para si sua própria essência interna”. É por isso que Scheler cunha a definição de homem como “asceta da vida”. Através de sua negação à imediaticidade da condição material e de suas limitações é que o homem pode elevar-se para formas de ação orientadas segundo o plano espiritual, bem como refletir sobre seu mundo e sobre si mesmo, transcendendo sua situação espaço-temporal. Através disso ele pode chegar às essências, aos valores como tais. Neste contexto, compreende-se porque é que Scheler concebe a categoria de pessoa como emblemática para sua antropologia filosófica. A pessoa constitui aquilo que encarna e manifesta a dimensão espiritual. Ela possibilita uma unidade para a dinâmica e pluralidade de seus atos. Stegmüller (1977, p. 105) observa a este respeito que a pessoa “é fundamental para a entidade dos atos, enquanto ela é pressuposto da concretização deles, isto é, de sua inserção no ser. Por causa de seu caráter de fundamento, a pessoa jamais poderá ser definida apenas como mero conjunto de atos”. A personalidade testemunha em nós que somos mais do matéria, combinada com pulsões, instinto, memória associativa e inteligência prática. A dimensão material que, como vimos, é a base para as ciências naturais não é suficiente para oferecer uma compreensão profunda do homem, nem mesmo se a elas somássemos as contribuições da psicologia. Por meio da personalidade nos tornamos independentes do ambiente circundante e produzimos nosso próprio universo. É por isso que o homem é, em sentido originário, não apenas Weltoffen, ou seja, aberto ao mundo, mas - diferenças e discordâncias à parte - ele é para Scheler também aquilo que Kant definia como Weltbürger, isto é, um cidadão do mundo. Capítulo 14 | Página 318 Referências BOHLKEN, Eike. Wertethik. In: DÜWELL, Markus; HÜBENTHAL, Christoph; WERNER, Micha H. (Hrsg.). Handbuch Ethik. 2. Aufl. Stuttgart; Weimar: J. B. Metzler, 2006. BUBER, Martin. Das Problem des Menschen. 5. Aufl. Heidelberg: Verlag Lambert Schneider, 1982. DEFALGAAUV, Bernard. Philosophie im 20. Jahrhundert. Freiburg im Breisgau: Herder Verlag, 1966. GILES, Thomas R. História do existencialismo e da fenomenologia. (Vol. II). São Paulo: EPU; EDUSP, 1975. HABERMAS, Jürgen. Kultur und Kritik. Verstreute Aufsätze. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1973. HENCKMANN, Wolfahrt. Max Scheler: fenomenologia dos valores. In: HENNINGFELD, J.; FLEISCHER, M. Filósofos do Século XX. Trad. Benno Dischinger. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2006. KANT, Immanuel. Werke in sechs Bänden. Hrsg. von Wilhelm Weischedel. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998. MORA, José Ferrater. Diccionario de Filosofía. (4 Vols.) 2. ed. Barcelona: Editorial Ariel, 2009. NOACK, Hermann. Die Philosophie Westeuropas im zwanzigsten Jahrhundert. Basel; Stuttgart: Benno Schwabe Verlag, 1962. PIVČEVIĆ, Edo. Schelers Anthropologie. In: PIVČEVIĆ, Edo. Von Husserl zu Sartre. Auf Spuren der Phänomenologie. München: Paul List Verlag, 1972. ROVIGHI, Sofia Vanni. História da Filosofia Contemporânea. Do Século XIX à Neoescolástica. 3. ed. São Paulo: Loyola, 2004. SANTOS, Robinson dos. Sobre a virtude como realização da moral e o dever de amor aos seres humanos em Kant. In: NOVAES, José L. C.; AZEVEDO, Marco A. O. (Orgs). A filosofia e seu ensino: desafios emergentes. Porto Alegre: Editora Sulina, 2010. SCHAEFER, Osmar. Antropologia filosófica e educação. Perspectivas a partir de Scheler. Pelotas: EDUCAT, 1995. Capítulo 14 | Página 319 SCHELER, Max. Die Formalismus in der Ethik und die Materiale Wertethik. (1913-1916) 5. Aufl. Bern; München: Francke Verlag, 1966. ______. Die Stellung des Menschen im Kosmos. 11. Aufl. Bonn: Bouvier Verlag, 1988. ______. Le Formalisme en éthique et l’éthique matériale des valeurs. Essai nouveau pour fonder un personnalisme éthique. Trad. par Maurice de Gandillac. 6. ed. Paris: Gallimard, 1955. ______. Liebe und Erkenntnis. Bern; München: Francke Verlag, 1955. SCHNÄDELBACH, Herbert. Philosophie in Deutschland 1831-1933. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1983. STEGMÜLLER, Wolfgang. A Filosofia Contemporânea. Vol. 1. São Paulo: EPU, 1977. Capítulo 14 | Página 320 Generation, Erbe und Gabe im historischen Kontext der Langzeitverantwortung Prof. Dr. Johannes Rohbeck Technische-Universität Dresden - Alemanha Der Begriff der Generation hat Konjunktur. In den Medien erscheinen ständig neue Generationen. In den öffentlichen Diskursen werden viele Konflikte etwa auf den Feldern der Verschuldungs-, Rentenund Umweltpolitik im Rahmen des Verhältnisses zwischen den Generationen ausgetragen. Zudem verfügen die meisten geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen über ausgearbeitete Generationenkonzepte mit umfangreichen Anwendungsbereichen.1 Doch in der Philosophie fehlt bisher ein Generationenbegriff, sieht man einmal von vereinzelten und älteren Arbeiten ab,2 die allerdings in der gegenwärtigen Forschungsliteratur zum Generationenbegriff keine Beachtung finden. In der Ethik wird Geschichtswissenschaft: U. Jureit, Generationenforschung, Göttingen 2006, S. 7 ff. – Kulturwissenschaft: S. Weigel, Genea-Logik. Generation, Tradition und Evolution zwischen Kultur- und Naturwissenschaft, Paderborn 2006, 9 ff.; O. Parnes, Ohad, U. Veder, S. Willer, Das Konzept der Generation. Eine Wissenschafts- und Kulturgeschichte, Frankfurt a.M. 2008, S. 235 ff. – Soziologie: G. Burckhart, J. Wolf (Hg.): Generationen. Erkundungen zur Soziologie der Generationen, Opladen 2002; E. Liebau (Hg.), Das Generationenverhältnis, Weinheim 1997; F. Lettke (Hg.), Erben und Vererben. Gestaltung und Regulierung von Generationenbeziehungen, Konstanz 2003; K. Lüscher, „Ambivalenz – Eine Annäherung an das Problem der Generationen“, in: U. Jureit, M. Wildt, (Hg.): Generationen. Zur Relevanz eines wissenschaftlichen Grundbegriffs, Hamburg 2005, S. 53 ff. – Pädagogik: U. Herrmann, „Das Konzept der ›Generation‹. Ein Forschungs- und Erklärungsansatz für die Erziehungs- und Bildungssoziologie und die historische Sozialisationsforschung“, in: ders. (Hg.), Jugendpolitik in der Nachkriegszeit, Weinheim 1993, S. 99 ff.; H.-R. Müller, „Das Generationenverhältnis. Überlegungen zu einem Grundbegriff der Erziehungswissenschaft“, in: Zeitschrift für Pädagogik 45 (1999), S. 787 ff. – Psychologie: E. Krejci, „Innere Objekte. Über Generationenfolge und Subjektwerdung. Ein psycoanalytischer Beitrag“, in: Jureit, Wildt, (Hg.): Generationen, ebd., S. 80 ff. 1 2 M. Riedel, Wandel des Generationenproblems in der modernen Gesellschaft, Düsseldorf, Köln 1969. dieser Begriff zwar in den Diskussionen über Generationengerechtigkeit verwendet, aber lediglich in der formalen Bedeutung von Altersklassen oder Kohorten, während ein materiales Konzept fehlt. Um ein solches materiales Generationenkonzept zu erarbeiten und die Schwächen des rein formalen Begriffs zu überwinden, möchte ich einen Rückgriff auf die Modelle „Erbschaft“ und „Gabe“ vorschlagen. Der formale Generationenbegriff in der Zukunftsethik Vor allem in der Ethik der Zukunft, in der sich die Frage nach der „Verantwortung für zukünftige Generationen“ stellt, wird mit dem Generationenbegriff operiert, ohne dass dieser inhaltlich bestimmt wird. Wenn dieser Begriff überhaupt definiert wird, beschränkt man sich auf chronologische Bestimmungen im Sinne formaler Zeitstrukturen. „Generationen“ bedeuten so lediglich gleichzeitig lebende oder zeitlich aufeinander folgende Altersgruppen.3 Entsprechend unterscheidet man (etwas willkürlich) zwischen einem intertemporalen Generationenbegriff, der die Gesamtheit der zu einem Zeitpunkt lebenden Menschen umfasst, und einem temporalen Generationenbegriff, mit dem die drei gleichzeitig lebenden Generationen, d.h. die jungen, mittelalten und älteren gegenwärtig lebenden Menschen gemeint sind. Wird dabei die Verantwortung für zukünftige Menschen thematisiert, stellt sich die Frage, welche Generationen relativ zur gegenwärtigen überhaupt als „zukünftige“ Generationen gelten können oder für welche Generationen die heutige Verantwortung übernehmen soll: entweder nur für die Generationen, die mit der, welche Verantwortung übernehmen soll, in keiner Periode gleichzeitig leben, oder für diejenigen Generationen, deren Lebenszeit mindestens eine Periode einschließt, die von der vorherigen Generation nicht mehr erlebt wird.4 In diesem Sinn kann man zwischen einer Verantwortung für die nahe und ferne Zukunft bzw. zwischen einer Zukunfts- und Fernethik unterD. Birnbacher, Verantwortung für zukünftige Generationen, Stuttgart 1988, S. 23; D. Sturma, „Die Gegenwart der Langzeitverantwortung“, in: C. Langbehn (Hg.), Recht, Gerechtigkeit und Freiheit, Paderborn 2006, S. 221 ff.; J. Tremmel, „Generationengerechtigkeit – Versuch einer Definition“, in: Handbuch Generationengerechtigkeit, München 2003, S. 34 f.; A. Heubach, Generationengerechtigkeit – Herausforderung für die zeitgenössische Ethik, Göttingen 2008, S. 29 ff. 3 4 D. Birnbacher, „Langzeitverantwortung – das Problem der Motivation“, in: C.F. Gethmann und J. Mittelstraß (Hg.): Langzeitverantwortung. Ethik – Technik – Ökologie, Darmstadt 2008, S. 24. Capítulo 15 | Página 324 scheiden. Wie auch immer die Präferenzen ausfallen, so ist in unserem Zusammenhang bemerkenswert, dass die Argumentation mit einem rein numerischen Generationenbegriff operiert. Die „Generation“ fungiert lediglich als Rechengröße, insofern die ethisch relevanten Generationen gezählt und für jede Generation etwa dreißig Jahre veranschlagt werden. Da sich dieser chronologische Begriff am Lebensalter und an der biologischen Reproduktion der Menschen orientiert, bleibt er nicht nur formal, sondern letztlich naturalistisch begrenzt. Nach diesem Schema werden auch die Beziehungen innerhalb einer Generation und zwischen den zeitlich aufeinander folgenden Generationen definiert. Beim Thema Gerechtigkeit spricht man von einer intragenerationellen Gerechtigkeit, die sie sich auf die Gerechtigkeit innerhalb einer Generation bezieht, und einer intergenerationellen Gerechtigkeit zwischen Menschen, die früher gelebt haben, heute leben und zukünftig leben werden.5 Generationengerechtigkeit im engen Sinn ist dann ausschließlich intergenerationelle Gerechtigkeit, d.h. die Gerechtigkeit zwischen den Generationen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sofern dabei zwischen den Generationen Güter weitergegeben werden, spricht man von transgenerationeller Übertragung. Nun ist die Beschränkung auf einen chronologischen Generationenbegriff den Vertretern der Zukunftsethik keineswegs als bloßes Versäumnis anzulasten. Denn einige Theorien über Langzeitverantwortung enthalten ernst zu nehmende Gründe dafür, den Begriff der Generation ausdrücklich nicht inhaltlich zu konkretisieren. Der erste Grund besteht in einem Universalismus, der in der Ethik der Zukunft weit verbreitet ist. Unter der Voraussetzung des Prinzips, dass alle Menschen gleiche Rechte haben, gilt dieses Prinzip auch für zukünftige Menschen ohne jede Zeitgrenze. Wenn also jeder Mensch zu jeder Zeit das gleiche Recht auf die Befriedigung wesentlicher Bedürfnisse hat, scheint es sogar ethisch geboten zu sein, von konkreten Zeiten zu abstrahieren. Jede Art „Zeitpräferenz“ steht unter dem Verdacht, damit partikulare Interessen vertreten zu wollen.6 Wie 5 Heubach, Generationengerechtigkeit (wie Anm. 3), S. 38 f. H. Jonas, Das Prinzip Verantwortung, Frankfurt a.M. 1984 (1979), S. 9, 39, 64, 84, 220; Birnbacher, Verantwortung für zukünftige Generationen (wie Anm. 3), S. 29, 35; kritisch zu Birnbacher siehe C.F. Gethmann und G. Kamp, „Gradierung und Diskontierung bei der Langzeitverpflichtung“, in: D. Birnbacher und G. Brudermüller (Hg.), Zukunftsverantwortung und Generationensolidarität, Würzburg 6 Capítulo 15 | Página 325 der Ethiker in der Gegenwart einen unparteiischen Standpunkt einzunehmen beansprucht, so wird auch im Hinblick auf die Zukunft eine „chronologische Unparteilichkeit“ gefordert. Bezogen auf die zeitlich strukturierte Generationenfolge folgt daraus der Grundsatz: Generationengerechtigkeit ist erreicht, wenn niemand aufgrund seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten Generation benachteiligt wird. Damit verbietet es sich, aus einer materialen Bestimmung zukünftiger Generationen bestimmte Rechte abzuleiten. Der zweite Grund besteht in einem Individualismus, der ebenfalls einen Topos der Zukunftsethik ausmacht. Demnach gelten allein individuelle Personen als Subjekte und Adressaten von Verantwortung. Dieser Standpunkt führt zu einer Kritik, die dem Generationenbegriff eine soziale und ethische Bedeutung pauschal aberkennt.7 Diese Kritik ist so lange berechtigt, wie sich hinter dem Generationenbegriff ein vermeintliches Handlungssubjekt verbirgt. Tatsächlich wurde in den Anfängen der Zukunftsethik die Verantwortung für die „künftige Menschheit“ postuliert bzw. der Fortexistenz der menschlichen „Gattung“ ein hoher Wert zugeschrieben, so wie deren befürchtete Vernichtung als eine zu verhindernde moralische Katastrophe galt. Auch nachdem von diesem Pathos in späteren Ethiken der Zukunft nicht mehr die Rede ist und man stattdessen wie selbstverständlich von „Generationen“ spricht, besteht zumindest die Gefahr, den Begriff der Generation als neues Pseudosubjekt im verkleinerten Maßstab misszuverstehen. Der dritte Grund für das Fehlen eines materialen Begriffs besteht darin, dass die zukünftigen Generationen, für die Verantwortung übernommen werden soll, noch gar nicht existieren. Zahl und Charakter der in Zukunft lebenden Menschen sind noch zu wenig bestimmt, so dass ein inhaltlicher Generationenbegriff unangemessen wäre. Noch prinzipieller ist der Einwand, dass noch nicht existierende Menschen weder als Handlungsakteure noch als Erfahrungsträger oder Selbstbeschreibungssubjekte fungieren können. Hinzu kommt ein Problem, das aus der Debatte über 2001, 147; vgl. A. Leist, „Ökologische Gerechtigkeit: Global, intergenerationell und humanökologisch“, in: J. Nida-Rümelin (Hg.), Angewandte Ethik, Stuttgart 2005, S. 465 f. A. Carter, „Can We Harm Future People?“ In: Enviromental Values, 10 (2001), S. 429 ff.; Birnbacher, Langzeitverantwortung (wie Anm. 4), S. 25; Sturma, Die Gegenwart der Langzeitverantwortung (wie Anm. 3), 226 f. 7 Capítulo 15 | Página 326 das so genannte Nicht-Identitäts-Problem resultiert.8 Demnach können Individuen nicht als geschädigt angesehen werden, wenn ihre Existenz vom schädigenden Verhalten abhängt. Um dieses Paradox zu vermeiden, genügt es vorauszusetzen, dass in Zukunft ganz generell Menschen leben werden. Doch dieser verbreitete Lösungsvorschlag versperrt wiederum den Weg für eine Konkretisierung zukünftiger Generationen. Entwurf eines philosophischen Konzepts der Generation Um einen inhaltlichen Begriff der Generation mit Blick auf die Zukunft zu entwickeln, knüpfe ich an das Generationenkonzept des Soziologen Mannheim an, der zwischen einer „Generationslagerung“, einem „Generationszusammenhang“ und einer „Generationseinheit“ unterschieden hat.9 Dabei übernehme ich den Begriff der „Generationslagerung“, der allerdings über Mannheim hinaus auszuarbeiten ist. Der systematische Grundgedanke besteht darin, dass von einer Generation auch dann gesprochen werden kann, wenn gar keine „Einheit“ vorliegt, d.h. wenn die betreffende Generation weder eine gemeinsame Erfahrung macht noch sich gemeinschaftlich verbunden fühlt. Dann besteht die Gemeinsamkeit in einer bestimmten „Lage“, die durch äußere Lebensumstände wie ökonomische, soziale, kulturelle und – aus heutiger Sicht – ökologische Faktoren bestimmt werden kann. Zugleich enthält eine so definierte Lage die „Potenziale“ für die Herausbildung einer konkreten Generationseinheit. Dieses Konzept hat den Vorzug, dass es sich sowohl von formalistischen und naturalistischen als auch von subjektivistischen Generationenbegriff abgrenzt. Im Unterschied zu den Sozialwissenschaften gilt es allerdings in der philosophischen Ethik, dem Generationenbegriff eine normative Dimension zu verleihen. Dabei werden Aufgaben formuliert, die von bestimmten Generationen erfüllt werden sollen. Dazu eignet sich D. Parfit, „Future Generations: Further Problems”, in: Philosophy & Public Affairs 11, no. 2 (1981), 113 ff.; G. Kavka, „The Paradox of Future Individuals”, in: Philosophy & Public Affairs 11, no. 2 (1981), S. 93 ff.; Carter, Can We Harm Future People? (wie Anm. 7), S. 429 ff.; E. Partridge, „The Future – For Better or Worse“, in: Enviromental Values, 11 (2002), S. 75 ff.; F. Ekhardt, „Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Freiheit und Demokratie“, in: F. Ekhardt (Hg.), Generationengerechtigkeit und Zukunftsfähigkeit, Münster 2006, 190; L. Meyer, Historische Gerechtigkeit, Berlin, New York 2005, S. 3, 23 f., 39 f. 8 K. Mannheim, „Das Problem der Generation“, in: ders.: Wissenssoziologie. Auswahl aus dem Werk, eingeleitet und herausgegeben von K.H. Wolf, Berlin, Neuwied 1964, S. 524 ff. 9 Capítulo 15 | Página 327 Mannheims Begriff der Generationslagerung, da er sich in eine ethische Kategorie umdeuten lässt. Insofern sich Generationslagerungen tatsächlichen Handlungen oder Unterlassungen vergangener Generationen verdanken, lassen sich Generationen die kollektive Verantwortung für die Folgen ihres Handelns zuschreiben. Hier von der „Lage“ auszugehen, ist auch deshalb sinnvoll, weil für eine solche Verantwortung die Fremdzuschreibung zunächst ausreicht, ohne dass sich eine Generation verantwortlich fühlen oder ein entsprechendes Schuldbewusstsein entwickeln muss. Aus der Generationslagerung lässt sich so eine Generationenverantwortung ableiten. Sofern sich eine Generation die Verantwortung selbst zuschreibt und eine moralische Aufgabe bewusst übernimmt, realisiert sie ihr spezifisch moralisches Potenzial und formiert sich als verantwortungsbewusste „Einheit“. Dabei lassen sich wesentliche Merkmale des subjektiven Generationenbegriffs auf den philosophisch-ethischen Kontext übertragen. Zunächst spielen gemeinsame Erfahrungen eine Rolle, die im Falle des Klimawandels vor allem wissenschaftlich und massenmedial vermittelt sind. Entscheidend ist die in der Generationenforschung zentrale Kategorie der Verarbeitung, die in der normativen Dimension bedeutet, dass die Mitglieder einer Gruppe aus ihren Erfahrungen bestimmte praktische Konsequenzen für ihr eigenes Handeln ziehen. Während generell für Generationen der Handlungsbezug auch fehlen kann, ist in diesem Fall die Konstituierung von Handlungsgemeinschaften wesentlich. Kollektive Identität bildet sich somit durch Selbstzuschreibungen von Verantwortung und durch ein entsprechend moralisch aufgeladenes Gemeinschaftsgefühl. Gleichwohl ist es auch möglich, bestimmte Elemente des subjektiven Generationenbegriffs auf die Zukunft zu übertragen. Das ist in Grenzen gerechtfertigt, wenn die Erfahrungen und Reaktionen zukünftiger Generationen auf ihre vorgefundene Lebenssituation vorgestellt werden. Eine solche Antizipation ist im Begriff der Verantwortung sogar angelegt, der ja eine bereits abgeschlossene Handlung voraussetzt, für deren Folgen sich eine Person rückwirkend verantwortet. Wenn nun im Fall der Langzeitverantwortung diese Handlung bzw. deren Wirkung erst in der Zukunft erwartet werden, ergibt sich die temporale Form des zweiten Futurs.10 Wer also Verantwortung im zukunfts C. Hubig, „Langzeitverantwortung im Lichte provisorischer Moral“, in: J. Mittelstrass (Hg.): Die Zukunft des Wissens, Berlin 2000, S. 297; Birnbacher, Langzeitverantwortung (wie Anm. 4), S. 23. 10 Capítulo 15 | Página 328 bezogenen Sinn übernimmt, erklärt sich bereit, zu einem zeitlich späteren Zeitpunkt, der nach dem Zeitpunkt des zukünftigen Handelns liegt, zur Verantwortung im vergangenheitsorientierten Sinn gezogen zu werden. Auf diese Weise entstehen Erwartungen darüber, wie die zukünftigen Generationen das Verhalten der heutigen Generation beurteilen und welche Gefühle sie dabei äußern werden. Dieser für die Zukunft entwickelte Begriff der Generation ist – obgleich nicht deskriptiv – inhaltlich bedeutend reicher als der formale Generationenbegriff in der bisherigen Zukunftsethik. Die Leistungsfähigkeit dieses Begriffs ist sowohl auf der synchronen als auch auf der diachronen Ebene zu demonstrieren, womit auch geschichtsphilosophische Reflexionen ins Spiel kommen. Denn er erlaubt es, nicht nur in der Gegenwart, sondern auch unter Berücksichtigung der Vergangenheit und im Hinblick auf die Zukunft Generationen jeweils besondere Verantwortungen zuzuschreiben. Das gestattet es wiederum, historische Vergleiche zwischen den sozial differenzierten und zeitlich aufeinander folgenden Generationen durchzuführen, um daraus spezielle Kompensationsansprüche abzuleiten. Historische und intergenerationelle Gerechtigkeit Mit der Verknüpfung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in praktischer Perspektive wird der diachrone Aspekt der philosophischen Ethik thematisiert. Doch während die Diskurse über historische Gerechtigkeit das historische Unrecht, das in der Vergangenheit an transgenerationellen Gruppen verübt wurde, sowie die Verpflichtung zur symbolischen Kompensation und praktischen Wiedergutmachung in der Gegenwart und nahen Zukunft thematisieren,11 fehlen in den Zu kunftsethiken, die das Problem der intergenerationellen Gerechtigkeit behandeln, systematische Bezüge auf die vergangene Geschichte. Hinsichtlich des synchronen Aspekts besteht der Vorzug eines materialen Generationenbegriffs darin, dass er eine räumliche und damit zugleich soziale Differenzierung erlaubt. Während in der herrschenden Zukunftsethik mit der heutigen „Generation“ häufig alle Menschen eines bestimmten Lebensalters gemeint sind, die eine Verantwortung für ebenfalls alle Menschen zukünftiger Altersklassen übernehmen sollen, sind mit 11 Meyer, Historische Gerechtigkeit (wie Anm. 8). Capítulo 15 | Página 329 dem vorgeschlagenen Konzept unter „Generationen“ soziale Gruppen zu verstehen, die sich in unterschiedlichen „Lagen“ befinden und verschiedene Arten der Verantwortung zu tragen haben. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass sich die Verantwortung für zukünftige Generationen nicht auf alle gegenwärtig lebende Menschen in gleicher Weise verteilt. Betrachtet man die Gegenwart zudem als eine historisch gewordene Situation, die von vergangen Handlungen geprägt ist, spielt auch die Vergangenheit eine wichtige Rolle. Denn da es unstrittig sein dürfte, dass die drohenden Krisen das Ergebnis früherer Irrtümer, Versäumnisse und Schädigungen sind, wird zum Beispiel in den konkreten Auseinandersetzungen um Emissionsrechte die Vergangenheit in Rechnung gestellt. Weil die Industriestaaten des Nordens früher höhere Emissionen hatten, sind sie heute zu kompensatorischen Leistungen verpflichtet. Daraus folgt die Verpflichtung, den Süden bei den Emissions-Rechten noch mehr zu bevorzugen, als dies bei der Betrachtung der Gegenwart der Fall war. In diesem Zusammenhang besteht der Vorzug eines materialen Generationenbegriffs darin, dass er nicht nur der sozialen Differenzierung auf den verschiedenen Zeitebenen dient; vielmehr ermöglicht er den Vergleich zwischen den unterschiedlichen Lebenslagen der aufeinander folgenden Generationen mit den erwähnten praktischen Konsequenzen. Im Anschluss an Mannheims Begriff der Generationslagerung und dem aus dem Kontext der historischen Gerechtigkeit stammenden Begriff der transgenerationellen Gruppe schlage ich den Terminus transgenerationelle Lage vor. Obgleich sich die „Lagen“ von Generationen im Laufe der Zeit wandeln, ist auch die Kontinuität zu betonen, vor allem insofern auf ökologischem Gebiet bestimmte Erblasten von bestimmten Generationen an andere ebenso bestimmbare Generationen weitergegeben werden und zu kompensieren sind. In diesem Zusammenhang kann man auch von einem transgenerationellen Erbe sprechen. Auch wenn die ethische Relevanz eines diachronen Vergleichs zwischen den „Lagen“ zeitlich aufeinander folgender Generationen intuitiv einleuchtet, ist der Vergangenheitsbezug im Bereich der intergenerationellen Gerechtigkeit nicht nur politisch, sondern auch theoretisch in der philosophischen Ethik umstritten. An dieser Stelle lässt sich zeigen, dass ein materialer Generationenbegriff auch zur Lösung des bereits erwähnte Nicht-Identitäts-Problems beizutragen imstande ist, das den Capítulo 15 | Página 330 Vergleich zwischen transgenerationellen Lagen und überhaupt die generationelle Betrachtungsweise in Frage stellte. Wie mehrfach ausgeführt wurde, besteht dieses Problem in der paradoxen Behauptung, zukünftig lebende Personen könnten nicht geschädigt werden, wenn die schädigende Handlung die Existenz dieser Personen beeinflusst habe.12 Letztlich läuft die Argumentation darauf hinaus, dass zukünftig lebende Menschen überhaupt nicht geschädigt werden könnten, so dass jede Verantwortung für zukünftige Generationen überflüssig wäre. Doch die einschlägigen Lösungsversuche bestehen weniger darin, die Problemstellung zu kritisieren, als das ganze Problem dadurch zu umgehen, dass nicht zukünftige Individuen oder einzelne Personen vorgestellt werden, sondern dass ganz generell die Existenz zukünftiger Menschen angenommen wird, für die dann doch noch Verantwortung übernommen werden sollte. Folgt man dieser Argumentation, sind Vergleiche zwischen früheren, gegenwärtigen und zukünftigen Zuständen kategorisch ausgeschlossen. Doch diese Schlussfolgerung vermag nicht zu überzeugen. Zwar leuchtet das Argument ein, dass niemals eine eindeutige Relation zwischen zeitlich entfernten Personen nachweisbar ist in dem Sinne, dass ein Individuum A ein bestimmtes Individuum B in Zukunft schädigt; hier liegt der Fehler in der Annahme einer linearen Kausalkette und damit in der Ignorierung historischer Kontingenz. Aber die Anerkennung kontingenter Zeitverhältnisse zwingt nicht dazu, auf das Referenzsubjekt „Menschheit“ auszuweichen und auf jede Differenzierung zu verzichten. Es bleibt noch eine ›mittlere‹ Lösung, die darin besteht, zwischen Individuum und Menschheit die Generation zu stellen. Das hat den Vorteil, dass Generationen einerseits hinreichend viele Menschen umfassen, um die Kontingenz individueller Schädigungen zu unterlaufen, und andererseits so konkret sind, dass zwischen gleichzeitig lebenden Generationen räumlich und sozial differenziert werden kann. Wie es wahrscheinlich ist, dass es generell zukünftige Menschen geben wird, so kann mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass es in Zukunft Menschen in Deutschland oder in Berlin leben werden. Auch wenn die personelle Zusammensetzung dieser Populationen kontingent ist, bleibt doch deren Existenz im Ganzen kontingenz-resistent. Geht man dabei von transgenerationellen Gruppen 12 Siehe Anm. 8. Capítulo 15 | Página 331 aus, kann deren Nachfahren die Eigenschaft einer inhaltlich bestimmbaren Generation zugeschrieben werden, die sich aus der kollektiven Identität und der zu erwartenden Lage ergibt. Für die Ethik der Zukunft hat ein derart materiales Generationenkonzept weitreichende Konsequenzen. Zum einen kann der Begriff der Schädigung überhaupt aufrechterhalten kann, da sich „schädigen“ nicht mehr ausschließlich auf Individuen, sondern auch auf konkrete Generationen beziehen kann. Zum andern können Schädigungen differenziert werden, nicht nur unter Berücksichtigung sozialer Unterschiede, sondern auch im Rückblick auf historisch entstandene Verletzungen heutiger und zukünftiger Rechte. Wenn dabei aus den genannten Gründen an einem historischen Verständnis von Schädigung festgehalten werden kann, ist es möglich, Schädigungen durch Vergleich mit früheren Lebensverhältnissen zu definieren und daraus Forderungen nach kompensatorischen Leistungen abzuleiten. Auf diese Weise können diese Kompensationen sozial konkreter und historisch gerechter bestimmt werden. Das Modell der Erbschaft Mit dem historischen Vergleich wird der Aspekt der Transgenerationalität angesprochen, für den ein materiales Generationenkonzept ebenfalls Konsequenzen hat. Auch an dieser Stelle ist zu untersuchen, wie Transgenerationalität nicht nur formal als chronologische Reihe von Generationen, sondern auch auf inhaltliche Weise als Generationenfolge bestimmt werden kann. Insofern die herrschende Zukunftsethik einen Vergleich zwischen den Lebenslagen zeitlich aufeinander folgender Generationen ausschließt, konstruiert sie einen zeitlichen Bruch, der die Transgenerationalität letztlich in Frage stellt. Wenn hingegen der historische Vergleich zur Konkretisierung von Schädigung als legitim gelten kann, zeigt sich in dieser Hinsicht die inhaltlich bestimmte Kontinuität in der zeitlichen Abfolge von Generationen. An dieser Stelle ist es hilfreich, das historische Dilemma der Langzeitverantwortung vor Augen zu führen. Denn die bisherigen Zukunftsethiken sehen von den sozialen Beziehungen zwischen den Generationen zum großen Teil ab. Der Kompensation dieser Abstraktion dienen fiktive Konstruktionen, die das Verhältnis der gegenwärtigen zu den zukünftig lebenden Menschen vorstellbar machen sollen. Als elementares Modell Capítulo 15 | Página 332 fungiert die familiäre Fürsorge, die zwar den Vorteil der lebensweltlichen Vertrautheit hat, aber die zeitliche Grenze der drei Generationen nicht überschreitet.13 Daneben spielen die diskurstheoretische Fiktion des Dialogs zwischen den gegenwärtig lebenden und zukünftig zu erwartenden Generationen und das kontraktualistische Konstrukt des Generationenvertrags eine Rolle,14 die zwar den Vorteil einer Verallgemeinerbarkeit bis in die Ferne Zukunft und eines universellen Geltungsanspruchs haben, aber sehr abstrakt bleiben und wenig motivierend wirken. Als Alternative schlage ich das Modell der Erbschaft vor, das in seiner kollektiven Bedeutung aus der Geschichtsphilosophie stammt. Es überwindet die engen Grenzen familiärer Fürsorge und ist zugleich wesentlich konkreter als die Konstruktionen eines fiktiven Dialogs und Vertrags. Dieses Modell vermag eine Verbindung zwischen den Generationen herzustellen, weil es die engen Grenzen der familiären Fürsorge überwindet und zugleich wesentlich konkreter ist als die Konstruktionen universalistischer Theorien. Außerdem vermittelt der Erbschaftsbegriff zwischen Natur und Kultur, indem er sowohl an die biologische Vererbung anschließt als auch und vor allem die kulturelle Überlieferung abdeckt. Er bezieht sich zunächst auf die juristisch geregelte Erbschaft materieller Vermögen, dann auch auf kulturelle Vermächtnisse. So kann zwischen einem individuellen und kollektiven Erbe unterschieden werden. Zu letzterem gehören sowohl Güter wie materielle Gegenstände, soziale Ordnungen und kulturelle Traditionen, aber auch öffentliche Übel wie staatliche Schulden und Umweltschäden. Im Kontext der Zukunftsethik lässt er sich auf die kulturell überformten natürlichen Lebensbedingeungen ausdehnen: Wir „vererben“ auch Kulturlandschaften einschließlich ihrer natürlichen Ressourcen. Auf solche Art werden auch Schädigungen vom Verursacher „vererbt“ und vom Betroffenen geerbt. In den Kategorien des bisher skizzierten Generationenbegriffs vererben sich auch bestimmte 13 Jonas, Das Prinzip Verantwortung (wie Anm. 6), S. 197 f.; Leist, Ökologische Gerechtigkeit (wie Anm. 6) S. 459 f. C.F. Gethmann, „Langzeitverantwortung als ethisches Problem im Umweltstaat“, in: Langzeitverantwortung im Umweltstaat, Bonn 1993, S. 11, 15; J. Rawls: Eine Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt a.M. 1979, S. 319 ff. 14 Capítulo 15 | Página 333 „Lagen“. Die transgenerationelle Lage besteht in einer Folge kollektiver Erbschaften oder einem transgenerationellen Erbe. Das Modell der Erbschaft erlaubt es, die Art und Weise der Tradierung zu strukturieren. Hierbei spielt nicht nur das Verschulden und Anliegen des Erblassers, sondern auch das antizipierte Verhalten des Erbenden eine Rolle, so dass hypothetisch eine reziproke Beziehung denkbar wird, die in den zitierten Ansätzen der Zukunftsethik bisher ausgeschlossen war. So bedeutet Erbe zunächst Weitergabe durch den Erblasser im Sinne von Fortführung, sodann Vermehrung oder Veränderung durch den Erben. Indem das Erbe zwischen Erblasser und Erben eine eigene Realität bildet, ermöglicht es einen flexiblen Gebrauch. Wenn von der prinzipiellen Offenheit des Geschichtsverlaufs auszugehen ist, soll das Modell der Erbschaft dazu dienen, einen derart ›freien‹ Gebrauch tradierter Güter und Werte denkbar und wünschenswert zu machen. Denn das Erbe besteht aus Gütern, die als Gegenstände oder Systeme eine relative Eigenständigkeit besitzen. Das Erbe bildet ein Drittes, das zwischen den Vererbenden und den Erbenden tritt. Es fungiert wie ein Mittel, das man auf verschiedene Arten und Weisen verwenden kann. Folglich hält es für den Benutzer sowohl Reduktionen als auch überschüssige Potenziale bereit, die einen kreativen Umgang ermöglichen.15 Es eröffnet einen Horizont realer Möglichkeiten, der von den Nachfahren nach eigenem Ermessen ausgeschöpft werden kann. Daher determiniert es nicht seine zukünftige Verwendung, sondern stellt es dem Erben frei, wie er von ihm Gebrauch machen will. In diesem Sinn stellt das Erbe die Bedingungen von Handlungsmöglichkeit dar. Es ist mit dem geforderten ›offenen‹ Charakter des Geschichtsprozesses vereinbar, indem es das Selbstbestimmungsrecht einer jeden Generation respektiert. Das Erbe wird zu einer ethischen Kategorie: auf der Seite der gegenwärtig Lebenden impliziert es das Gebot, ein ›gutes‹ Erbe zu hinterlassen, auf der Seite der zukünftigen Generationen bedeutet es die Antizipation von Autonomie zukünftiger Generationen. Nachdem zukünftige Generationen bestimmte Folgen unseres gegenwärtigen Handelns zu spüren bekommen haben, werden wir dafür nicht nur verantwortlich sein, sondern vermutlich auch rückwirkend 15 J. Rohbeck, Technik – Kultur – Geschichte. Eine Rehabilitierung der Geschichtsphilosophie, Frankfurt a.M. 2000, 87. Capítulo 15 | Página 334 dafür verantwortlich gemacht werden. Daraus könnte der Wunsch hervorgehen, dass man nicht nur für sein Fehlverhalten zur Rechenschaft gezogen werden möchte, sondern das legitime Interesse hat, für eine gelungene Vorsorge in guter Erinnerung zu bleiben. Formuliert man diesen Zusammenhang in Kategorien eines in die Zukunft übertragenen Erinnerungsdiskurses, lässt sich von einer möglichen Schuld gegenüber den Opfern der Zukunft sprechen, so wie die zukünftig Lebenden uns Dank schulden, sofern wir hinsichtlich ihrer Lebensbedingungen nicht schuldig geworden sind. Das Modell des konkreten Erbes, das von einer Generation zur anderen weitergegeben wird, könnte dieser Denkfigur mehr Realismus verschaffen. Dabei lässt sich das Modell der Erbschaft mit der Konzeption der Gabe verbinden. Gabe und Anerkennung Das zweite Modell für eine inhaltliche Bestimmung der Relation zwischen den Generationen ist die „Gabe“. Jede Generation „gibt“ ihre Kultur an die nächste Generation weiter, so wie jede Generation ihre Kultur von der vorausgegangenen Generation empfängt oder annimmt. In dieser Weise kann die Generationenfolge als ein Geben und Nehmen charakterisiert werden. Die „Gabe“ hat die Funktion der Vermittlung zwischen den Generationen. Initiiert wurde die Theorie der Gabe von dem französischen Ethnologen und Soziologen Marcel Mauss, der elementare und vorökonomische Tauschverhältnisse bei so genannten primitiven Völkern untersuchte und damit zugleich den Boden moderner Gesellschaften freizulegen versuchte.16 Inzwischen wurde der Gabebegriff in der Ethnologie, Soziologie und Philosophie so weit ausgearbeitet, dass man von einer Sozialphilosophie der Gabe sprechen kann. Es ist meine Absicht, die dort entwickelte Konzeption auf den Zusammenhang der Generationenfolge, insbesondere auf die Beziehung der gegenwärtig lebenden Menschen zu den zukünftigen Generationen zu übertragen. Ausgangspunkt ist eine eigentümliche Ambivalenz, auf die bereits Mauss hingewiesen hat: Auf der einen Seite scheinen gegebene Geschenke M. Mauss, Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften, Frankfurt a.M. 1968, S. 17 ff. 16 Capítulo 15 | Página 335 freiwillig und spontan, selbstlos und uneigennützig zu sein.17 Die „Gabe“ wird zunächst als ein demonstrativ großzügiges Präsent dargeboten. Sie erfolgt mit dem Risiko, dass eine Gegengabe ausbleibt und dass die Schenkung „umsonst“ verausgabt wird.18 Das Kalkül des Gebenden besteht gerade darin, nicht zu kalkulieren. Aus diesem Grund ist das Geben kein nutzenorientierter Zwangsmechanismus, es ist vielmehr ein Sprung ins Unbekannte in einem Feld struktureller Ungewissheit und Unsicherheit. Somit wird die Gabe ohne die Bedingung einer Erwiderung geleistet. Die angestrebte Kooperation bleibt unbedingt im Sinne einer offenen Möglichkeit. In diesem Sinn repräsentiert die Gabe das Bedingungslose oder Unbedingte. Auf der anderen Seite enthält die Gabe eine soziale Verpflichtung.19 Zwar scheinen Geschenke freiwillig zu sein, aber in Wirklichkeit müssen sie immer erwidert werden. Sie erscheinen zwar als spontan, sind jedoch obligatorisch. Obwohl sie selbstlos zu sein scheinen, sind sie vielmehr eigennützig. Offenbar gibt es einen verborgenen Grundsatz, der bewirkt, dass in den Gesellschaften das Geschenk zwangsläufig erwidert wird. Unter dieser Voraussetzung ist die Gabe nur eine Erscheinungsform des Austauschs und des Vertrags, weil letztlich nur unter der Bedingung der Gegenleistung gegeben wird. Insofern ist die Gabe gleichzeitig auch das Bedingte und repräsentiert so das Prinzip der Bedingtheit. Es ist versucht worden, diese Ambivalenz der Gabe theoretisch zu formulieren. Mauss hält die Gabe für einen mehrdeutigen Prozess und spricht von deren „agonistischen“ Charakter.20 Alain Callé führt den Neologismus „Freundschaftlichkeit“ (aimance) ein, mit dem er den Schwebezustand zwischen Selbstlosigkeit und Egoismus bezeichnet.21 Um die Paradoxie von Bedingtheit und Unbedingtheit auszudrücken, prägt er die Formel „bedingte Unbedingtheit“. Die Gabe ist weder als Tausch rein ökonomisch noch als bloß moralische Handlung zu definieren; sie ist weder rein egoistisch noch altruistisch; sie schwankt zwischen Kooperation 17 Ebd., S. 17 f., 22; gegen Emil Durkheims Reduktion der Gabe auf den kollektiven und normativen Zwang. 18 A. Caillé, Anthropologie der Gabe, Frankfurt a.M. 2008, S. 60 ff.; vgl. die Einleitung zu diesem Band von F. Adloff und C. Papilloud 2008, „Alain Caillés Anthropologie der Gabe – Eine Herausforderung für die Sozialtheorie?“, S. 7 ff. 19 Mauss, Die Gabe, S. 13; Callé, Anthropologie der Gabe, S. 61 ff. 20 Mauss, Die Gabe, S. 15, 24. 21 Callé, Anthropologie der Gabe, S. 101, 117. Capítulo 15 | Página 336 und Nicht-Kooperation. Am Ende stellt sie eine paradoxe Verpflichtung zur Generosität mit der vagen Erwartung einer Gegenleistung dar. Angesichts dieser Ambivalenz liegt die Kritik gleichsam auf der Hand. So wendet Pierre Bourdieu ein, dass im Gabentausch der reale Zusammenhang von Gabe und Gegengabe verschleiert werde, dass die Schenkökonomie die eigennützigen Tauschmotive und damit die Existenz einer materiellen Verbindung verleugne. Die angebliche Großzügigkeit der Gabe ist in Wahrheit eine bloße Fiktion und soziale Lüge. Denn die Gabe folgt der Logik der ökonomischen Nutzenmaximierung, auch wenn dafür nur ein symbolischer Mehrwert herausspringt. Letztlich betrachtet Bourdieu die Gabe als eine utilitaristische Institution.22 Auf ähnliche Weise kritisiert Jacques Derrida, dass die Gabe das ökonomische Kalkül nicht zu überwinden vermag. Im Grunde setzt er voraus, dass die Gabe nur radikal außerhalb des eigennützigen Interesses auftauchen könne.23 Damit es eine Gabe in diesem strengen Sinn gibt, ist es seiner Auffassung nach nötig, dass der Gabenempfänger gerade nicht zurückgibt oder begleicht. Nach dieser Lesart ist eine Gabe nur dann möglich, wenn kein unterschwelliger Vertrag abgeschlossen und kein Schuldverhältnis eingegangen wird. Die Gabe ›gibt es‹ demnach nur, wenn gerade keine Gegengabe und daher kein Tausch, mithin keine Reziprozität stattfindet. Aus seiner Argumentation schließt Derrida, dass sich die Gabe selbst zerstört; er hält sie nicht nur für unmöglich, sondern für das schlechthin Unmögliche. Doch gegenüber dieser Kritik lässt sich der Begriff der Gabe auch verteidigen. Denn die Pointe dieser Konzeption besteht darin, das Verhältnis von Gabe und Gegengabe in der Schwebe zu lassen. Zum einen steht dahinter die Überzeugung, dass auch moderne Gesellschaften nicht ohne die „Logik der Gabe“ funktionieren würden, weil ohne eine solche Sozialform überhaupt keine Kooperation zustande käme. Zum anderen verbirgt sich hinter diesem Konzept eine engagierte Kritik am Utilitarismus und Ökonomismus der modernen Marktgesellschaft und der Versuch, nach einer sozialpolitischen Alternative zu suchen, die den Kapitalismus zwar nicht zu ersetzen, wohl aber zu ergänzen vermag.24 22 P. Bourdieu, Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft, Frankfurt a.M. 1987, S. 180. 23 J. Derrida, Falschgeld. Zeit geben I, München 1993, S. 22 f., 30, 37, 50 f. 24 Adloff, Papilloud, Alain Caillés Anthropologie der Gabe (wie Anm. 18), S. 13 ff. Capítulo 15 | Página 337 Callé selbst bezeichnet sich als „positiven Anti-Utilitaristen“, der seinen Gabebegriff als einen Beitrag zu einer Theorie über die Herstellung sozialer Ordnungen begreift. Dabei sucht er nach sozialen Kräften, mit Hilfe deren sich die kapitalistische Entwicklung eindämmen und die Chancen solidarischen Wirtschaftens erweitern lassen. An dieser Stelle setzt mein Versuch einer Transformation der Theorie der Gabe auf das Problemfeld der Verantwortung für zukünftige Generationen ein. Gerade aufgrund der genannten Ambivalenz des Gabebegriffs halte ich ihn für reichhaltig genug, um ihn auf die Thematik der Generationenfolge zu übertragen. Zwar steht es außer Zweifel, dass zwischen den gegenwärtig und zukünftig lebenden Menschen kein Tausch im strikten Sinn möglich ist. Denn von den Menschen in der ferneren oder fernen Zukunft können die Gegenwärtigen keine äquivalenten Zuwendungen erwarten. Aber ebenso wenig ist es zu bezweifeln, dass den zukünftigen Menschen etwas „gegeben“ wird und dass sie von den Gegenwärtigen eine „Gabe“ empfangen werden. Daher stelle ich die Frage, ob das Verhältnis des Gebens und Nehmens im Hinblick auf die Zukünftigen nicht doch ansatzweise oder teilweise als eine reziproke Beziehung vorgestellt werden kann. Zur Beantwortung eignet sich der ambivalente Gabebegriff, mit Hilfe dessen ja die mögliche Gegengabe zum zentralen Thema erklärt wird. Um diese theoretischen Potenziale zu nutzen, möchte ich die folgenden Merkmale in systematischer Absicht herausstellen. Der Umstand, dass die Theorie der Gabe ursprünglich in der Ethnologie entstand, ist für die intendierte Transformation von besonderer Bedeutung. Das betrifft zunächst die Subjekte des Gebens und Nehmens. So wird unter „Gabe“ keine Beziehung zwischen Individuen, sondern zwischen sozialen Gruppen verstanden, in diesem Fall zwischen Familien, Sippen und Stämmen. In unserem Zusammenhang ist der kollektive Charakter der Gabe wesentlich, weil die Perspektive in die Zukunft ausdrücklich nicht als Beziehung zu einzelnen Menschen konstruiert werden darf. Mit dem von mir vorgeschlagenen Konzept der Generation verband sich ja das Ziel, die genannten Paradoxien von individualistischen Ethiken zu vermeiden. Die Langzeitverantwortung, welche die Möglichkeit der „Schädigung“ oder „Begünstigung“ voraussetzt, ließ sich nur rechtfertigen, wenn an die Stelle von Individuen soziale Gruppen gesetzt wurden, die in sowohl synchronen Lebenszusammenhängen als auch in diachronen Verkettungen als „Generationen“ Capítulo 15 | Página 338 zu begreifen sind. Aus diesen Gründen lässt sich der Gabebegriff auf das Verhältnis von Generationen übertragen. In diesem Sinn kann man auch von einer transgenerationellen Gabe sprechen. Ein solcher Begriff vereinigt die Vorteile, die mit dem Generationenbegriff und dessen Kritik am Universalismus verbunden waren. Denn auf analoge Weise ist es nun möglich, die Gabe an zukünftige Generationen räumlich und zeitlich so zu differenzieren, dass bestimmte Generationen der Gegenwart an bestimmte Generationen bestimmter Zukünfte bestimmte Gaben tradieren. Dabei ist zu erwarten, dass bestimmte Generationen der Zukunft, welche diese Gaben erhalten, darauf möglicherweise auch auf spezifische Weise reagieren werden. Außerdem eignet sich die ethnologische Theorie für unser Thema, weil unter einer Gabe sehr verschiedenartige Güter verstanden werden können. In vormodernen Gesellschaften kann auf die Gabe von Vieh die Gegengabe eines Festes folgen.25 Übertragen auf unsere heutige Situation, erlaubt es diese Indifferenz, auch solche Güter als Gaben zu bezeichnen, die sich dem ökonomischen Tauschverhältnis und damit dem kapitalistischen Markt entziehen. Gerade weil die Gabe keinen ›vollkommenen‹ Tausch darstellt, können darunter auch Güter fallen, die nicht mit der Ware-Geld-Beziehung erfasst werden können. Dieser Aspekt ist besonders wichtig, da die moralische Verantwortung für zukünftige Generation mit dem ökonomische Kalkül der Gegenwart nur selten übereinstimmt, wie die Debatte um die so genannte Diskontierung zukünftiger Güter zeigt. Während Ökonomen die Ansprüche später lebender Menschen abwerten, halten Ethiker dieses Verfahren für nicht akzeptabel.26 Die Sorge um das ›gute Leben‹ später lebender Menschen, um genügend Wasser und saubere Luft widerspricht zwar nicht prinzipiell dem Nutzenkalkül, wohl aber dem ausschließlich profitorientierten Wirtschaften. „Gabe“ kann hier bedeuten, den zukünftigen Generationen etwas zu „geben“, was vom heutigen Standpunkt ökonomisch nicht profitabel ist. Insofern birgt 25 Mauss, Die Gabe, S. 21. D. Birnbacher, „Läßt sich die Diskontierung der Zukunft rechtfertigen?“ in: Zukunftsverantwortung und Generationensolidarität (wie Anm. 8), S. 117 ff.; Gethmann, Kamp, Gradierung und Diskontierung (wie Anm.8), S. 147 f.; D. Cansier, „Langzeitverantwortung und Diskontierung“, in: Gethmann, Mittelstrass (wie Anm. 4), S. 58 ff. 26 Capítulo 15 | Página 339 der Begriff der Gabe, wie sich ja schon in den entsprechenden Debatten zeigte, nicht zuletzt auch sozialkritische Potenziale. Im Anschluss an diese grundsätzlichen Überlegungen lässt sich nun konkretisieren, was unter eine Gabe an zukünftig lebende Menschen zu verstehen ist. Bereits das menschliche Dasein ist etwas Gegebenes und in diesem Sinn eine „Gabe“: Die Menschen verdanken das Leben ihren Eltern, es wird ihnen von ihren Eltern „gegeben“, so wie Eltern ihren Kindern das Leben „schenken“.27 Allerdings ist noch einmal daran zu erinnern, dass diese existentielle Beziehung mit Blick auf die fernere oder ferne Zukunft nicht im Sinne individueller Zeugung verstanden werden darf, weil in der Gegenwart weder über zukünftige Individuen noch über deren ›Affizierungen‹ durch gegenwärtige Handlungen sinnvollen Aussagen möglich sind.28 Gleichwohl ist es sehr wahrscheinlich, dass es in Zukunft nicht nur Menschen überhaupt, sondern raumzeitlich differenzierte Generationen ›geben‹ wird. Wie sich der Begriff der Gabe ursprünglich auf ethische Gruppen bezog, so kann er in unserem Zusammenhang auf zukünftige Generationen angewendet werden. In dem Maße, in dem die Menschen in eine bestimmte Kultur hineingeboren werden, sind ihnen auch diese Lebensumstände „gegeben“. Zu dieser Gabe gehören Dinge, ökonomische Reichtümer, soziale Institutionen, kulturelle Lebensformen wie auch das überlieferte Wissen. Außerdem und nicht zuletzt gehört zu dieser Gabe die Natur, sei es die jeweils vererbte physische Beschaffenheit, sei es die natürliche Umwelt. Vor dem Hintergrund der globalen und temporalen Reichweite technischen Handelns ist gerade auch die Natur als eine Gabe zu verstehen: einerseits als bearbeitete Natur oder Kulturlandschaft, andererseits als bewahrte Natur, d.h. als unberührte oder unversehrte Naturregion. Eine besondere Rolle spielen 27 Vgl. hierzu den Begriff der Natalität bei H. Arendt, Vita activa oder Vom tätigen Leben, München 1967, S. 15; im Unterschied sowohl zu Jean Paul Sartre: „Unablässig schaffe ich mich: ich bin der Geber und die Gabe“ als auch zur religiösen Interpretation des Daseins als „vorgängige“ oder „Urgabe“, H.-B. Gerl-Falkovitz, Verzeihung des Unverzeihlichen? Ausflüge in die Landschaft der Schuld und der Vergebung, Wien, Graz, Klagenfurt 2008; S. 199, 207. Die Debatten über das Nicht-Identitäts-Problem demonstrierten, zu welchen absurden Schlussfolgerungen man gelangt, wenn man den zufälligen Zeitpunkt der Zeugung eines Individuums zum Kriterium einer »Schädigung« macht. Aus diesem Grund wurde später vorgeschlagen, dafür einen längeren Zeitraum vorauszusetzen; siehe Anm. 7. 28 Capítulo 15 | Página 340 hier die natürlichen Ressourcen, die entweder aufgebraucht oder in vertretbarem Umfang an die nächsten Generationen weitergeben werden. Im Kontext der Langzeitverantwortung radikalisiert sich das Grundproblem der Gabe. Denn die in der Gegenwart lebenden Generationen geben an die zukünftigen Generationen die aktuellen Zustände von Natur und Kultur weiter, doch können sie aus prinzipiellen Gründen mit keiner Gegengabe rechnen. Wie die heute lebenden Menschen nichts Reales mehr für die Toten tun können, so können die zukünftig lebenden Menschen uns Heutigen keine wirklichen Vorteile oder Nachteile verschaffen. Wollte man die zitierte Kritik am Gabebegriff wiederholen, dass die Gabe nur ein verschleierter Tausch sei, so wäre eine derartige Gabe an die Zukünftigen tatsächlich eine Unmöglichkeit. Noch radikaler würde hier das Urteil Derridas zutreffen: „don sans présent“, d.h. eine Gabe ohne Gegengabe. Denn „présent“ kann nicht nur „Geschenk“ heißen, sondern auch „Gegenwart“.29 Mit dieser Zweideutigkeit thematisiert Derrida die temporale Dimension der Gabe, die in unserem Fall zu einem besonderen Problem wird. Zwischen Geben und Zurückgeben liegt eine zeitliche Dauer, die kurz oder lang, im Fall der Zukunftsethik auch sehr lang sein kann. Damit ist in der Gegenwart des Gebers keine Gegengabe in Sicht. Es ist nicht sicher, ob auf die Vor-Gabe später auch eine reziproke Gabe folgt. Doch der Standpunkt der Gegenwart ist entscheidend, weil nur in der Gegenwart entschieden wird, ob es überhaupt zu bestimmten Gaben kommt. Damit spitzt sich die Problematik zu: Weil eine ›reale‹ Gegengabe unmöglich ist, fragt es sich, ob und warum in der Gegenwart überhaupt gegeben wird. An dieser Stelle ist der Begriff der Gabe besonders ergiebig, weil sich seine Ambivalenz im Hinblick auf die ferne Zukunft verschärft. Der zukünftige Handlungsraum ist im Fall der Langzeitverantwortung extrem ungewiss und unsicher. Damit gewinnt das Moment des Risikos eine besondere Bedeutung. Wenn sich heutige Menschen dazu entschließen, Verantwortung für zukünftige Generationen zu übernehmen, riskieren sie, das Falsche zu tun. Entweder unterlassen sie bestimmte Maßnahmen und setzen damit das Leben zukünftiger Menschen aufs Spiel. Oder sie ergreifen bestimmte Maßnahmen, welche die gewünschten Wirkungen ver29 Derrida, Falschgeld, 49; in der deutschen Übersetzung steht »Eine Gabe ohne Gegenwart«, weil Derrida im Folgenden die Zeit thematisiert. Capítulo 15 | Página 341 fehlen. Schließlich laufen sie sogar Gefahr, die Gabe „umsonst“ geleistet zu haben; nicht allein, weil sie möglicherweise nicht erwidert wird, sondern vor allem auch, weil sie dem Empfänger nicht mehr nützen können. Wer heute auf die Ausbeutung bestimmter Ressourcen verzichtet, um für ein menschenwürdiges Leben der zukünftigen Generationen vorzusorgen, geht auch das Risiko ein, dass diese Generationen seine Gaben gar nicht mehr brauchen werden. Sollte dies der Fall sein, würde sich ein solcher Verzicht nachträglich als sinnlos erweisen.30 Doch anstatt dieses Argument gegen die Zukunftsethik zu wenden, sehe ich die tiefere Logik des Gabebegriffs darin, auch dann eine derart paradoxe Vorsorge zu leisten, wenn der Ausgang im Vagen bleibt. Analog zur „Heuristik der Furcht“ von Jonas ist das Risiko des Umsonst bewusst einzugehen. Die erwähnte Formel „bedingte Unbedingtheit“ von Callé bringt diese Paradoxie auf den Begriff und legt nicht nur die kritischen, sondern auch die utopischen Potenziale des Konzepts der Gabe frei. Denn diese Formel erinnert an die Theorie der realen Möglichkeit von Bloch.31 Dabei korrespondiert das Bedingte mit den realen Bedingungen des menschlichen Handelns. Auf diesem Feld werden Prognosen erstellt sowie Bilanzen zwischen dem Verzicht der gegenwärtig Lebenden und dem Vorteil der zukünftig Lebenden gezogen. Doch in einer Situation struktureller Ungewissheit gehen derartige Kalküle nicht restlos auf, weil das Risiko des Vergeblichen nicht zu tilgen ist. Diese Kehrseite ist das Unbedingte, ohne das die Gabe gar nicht erst möglich ist. Es äußert sich im riskanten Schritt auf andere Menschen zu. So kann die Allianz mit den Zukünftigen nur im Reich der Bedingungslosigkeit entstehen. Mit Bloch gesprochen, setzt dieser Sprung ins Ungewisse ein Minimum an begründeter Hoffnung voraus. Darin sehe ich die politische Utopie der Gabe. Wenn es zutrifft, dass im Fall der zukünftig fernen Generationen keine ›reale‹ Gegengabe erwartet werden darf, weil die gegenwärtig lebenden Menschen dann nicht mehr existieren werden, so folgt daraus keineswegs, dass überhaupt keine Erwiderung möglich ist. Auch dieser Aspekt ist im Gabebegriff enthalten, weil unter einer Gabe nicht nur materielle Werte verstanden werden, sondern ausdrücklich auch sym30 Sturma bezeichnet dieses Problem als »Paradox der zukünftig Begünstigten«, Sturma, Die Gegenwart der Langzeitverantwortung (wie Anm. 3), S. 221. 31 E. Bloch, Das Prinzip Hoffnung, 3 Bde, Frankfurt a.M. 1985, Bd. I, S. 224 ff. Capítulo 15 | Página 342 bolische Güter. Formen der sozialen Anerkennung spielen häufig sogar die größere Rolle.32 Dieser Austausch von Realem und Symbolischem lässt sich in besonderer Weise auf das Feld der Zukunftsethik übertragen. Denn die gegenwärtig lebenden Menschen können, wenn überhaupt, für die Zukunft lediglich auf eine symbolische Anerkennung hoffen. Doch kann der Wunsch nach Dankbarkeit oder die Vermeidung von Schuldzuweisung in der Gegenwart vorausgesetzt werden. Eine solche posthume Anerkennung beschränkt sich nicht auf ein ehrendes Gedenken, sondern kann im praktischen und fortführenden Umgang mit dem Gegebenen zum Ausdruck kommen. Wie gewährte oder verwehrte Anerkennung bei zukünftigen Generationen auch subjektiv antizipiert werden darf, so kann eine solche Vorstellung zur Motivation für verantwortliches Verhalten in der Gegenwart beitragen. Der symbolische Charakter der erwarteten oder erhofften Gegengabe entspricht der ambivalenten Stellung der Gabe zwischen Ökonomie und Moral. Die Gabe ist weder rein ökonomisch, weil sie sich nicht auf den strikten Tausch reduzieren lässt; denn der Geber riskiert, am Ende leer auszugehen. Ebenso wenig ist die Gabe bloß moralisch, weil der Geber den möglichen Ausgleich irgendwie doch mit kalkuliert. So ist die Gabe weder rein egoistisch noch ausschließlich altruistisch, weder selbstlos noch aufopfernd. In unserem Fall heißt dies, dass sich die Generationen der Gegenwart verausgaben können, ohne dass sie an einen ›Tausch‹ mit den Zukünftigen glauben müssen. Doch sie tun dies nicht völlig selbstlos, weil sie auf posthume Anerkennung hoffen dürfen. Auch hier trifft der Neologismus „Freundschaftlichkeit“, der bedeutet, dass sich die gegenwärtig lebenden Menschen zu den zukünftigen ›Fremden‹ wie zu potenziellen Freunden verhalten, die trotz ungewisser Umstände eine soziale Beziehung aufzubauen beabsichtigen. Diese Art »Freundschaft« verweist einerseits auf eine antizipierte Kooperation, andererseits auf eine kritische Distanz zur vermeintlich totalen Tauschrationalität. Da sich die Verantwortung für zukünftige Generation nur als Alternative zum entfesselten Kapitalismus realisieren lässt, stellt die Gabe dafür ein geeignetes Modell dar. 32 Mauss, Die Gabe, S. 21. Capítulo 15 | Página 343 LITERATUR ARENDT, H. Vita activa oder Vom tätigen Leben. München 1967. BIRNBACHER, D.Verantwortung für zukünftige Generationen, Stuttgart 1988. BIRNBACHER, „Langzeitverantwortung – das Problem der Motivation“, in: C.F. GETHMANN und J. MITTELSTRASS (Hg.): Langzeitverantwortung. Ethik – Technik – Ökologie. Darmstadt, 2008. BIRNBACHER, D. ; BRUDERMÜLLER, G. (Hg.), Zukunftsverantwortung und Generationensolidarität. Würzburg, 2001. BLOCH, E. Das Prinzip Hoffnung. 3 Bde, Frankfurt a.M., 1985. BOURDIEU, P. Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft. Frankfurt a.M., 1987. BURCKHART, G.; WOLF. J. (Hg.): Generationen. Erkundungen zur Soziologie der Generationen. Opladen, 2002. CAILLÉ, A. Anthropologie der Gabe. Frankfurt a.M., 2008. DERRIDA, J. Falschgeld. Zeit geben I. München, 1993. EKHARDT, F. „Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Freiheit und Demokratie“, in: F. Ekhardt (Hg.), Generationengerechtigkeit und Zukunftsfähigkeit, Münster 2006, 190; L. Meyer, Historische Gerechtigkeit. Berlin, New York, 2005. GERL-FALKOVITZ, H.-B. Verzeihung des Unverzeihlichen? Ausflüge in die Landschaft der Schuld und der Vergebung. Wien, Graz, Klagenfurt, 2008. GETHMANN, C.F. „Langzeitverantwortung als ethisches Problem im Umweltstaat“. In: Langzeitverantwortung im Umweltstaat, Bonn 1993. HERRMANN, U. „Das Konzept der ›Generation‹. Ein Forschungs- und Erklärungsansatz für die Erziehungs- und Bildungssoziologie und die historische Sozialisationsforschung“, in: ders. (Hg.), Jugendpolitik in der Nachkriegszeit, Weinheim, 1993. HEUBACH, A. Generationengerechtigkeit – Herausforderung für die zeitgenössische Ethik. Göttingen, 2008. Capítulo 15 | Página 344 HUBIG, C. „Langzeitverantwortung im Lichte provisorischer Moral“. In: J. Mittelstrass (Hg.): Die Zukunft des Wissens. Berlin 2000. JONAS, H. Das Prinzip Verantwortung, Frankfurt a.M. 1984 (1979). JUREIT, U. Generationenforschung. Göttingen, 2006. KAVKA, G. „The Paradox of Future Individuals”. In: Philosophy & Public Affairs 11, no. 2 (1981), LEIST, A. „Ökologische Gerechtigkeit: Global, intergenerationell und humanökologisch“, in: J. Nida-Rümelin (Hg.). Angewandte Ethik. Stuttgart, 2005. LETTKE, F. (Hg.), Erben und Vererben. Gestaltung und Regulierung von Generationenbeziehungen, Konstanz 2003. LIEBAU, E. (Hg.) Das Generationenverhältnis, Weinheim 1997. LÜSCHER, K. „Ambivalenz – Eine Annäherung an das Problem der Generationen“: U. Jureit, M. Wildt, (Hg.): Generationen. Zur Relevanz eines wissenschaftlichen Grundbegriffs. Hamburg 2005. MANNHEIM, K. „Das Problem der Generation“. In: ders.: Wissenssoziologie. Auswahl aus dem Werk, eingeleitet und herausgegeben von K.H. Wolf, Berlin, Neuwied 1964. MAUSS, M. Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften. Frankfurt a.M., 1968. MÜLLER, H.-R. „Das Generationenverhältnis. Überlegungen zu einem Grundbegriff der Erziehungswissenschaft“, in: Zeitschrift für Pädagogik 45 (1999). PARFIT, D. „Future Generations: Further Problems”. In: Philosophy & Public Affairs 11, no. 2 (1981). PARNES, O. (et alii), Das Konzept der Generation. Eine Wissenschaftsund Kulturgeschichte. Frankfurt a.M. 2008. PARTRIDGE, E. „The Future – For Better or Worse“. In: Enviromental Values, 11 (2002). RAWLS, J. Eine Theorie der Gerechtigkeit. Frankfurt a.M., 1979. RIEDEL, M. Wandel des Generationenproblems in der modernen Gesellschaft. Düsseldorf, Köln 1969. Capítulo 15 | Página 345 ROHBECK, J. Technik – Kultur – Geschichte. Eine Rehabilitierung der Geschichtsphilosophie. Frankfurt a.M. 2000. STURMA, D. „Die Gegenwart der Langzeitverantwortung“. In: C. Lang behn (Hg.), Recht, Gerechtigkeit und Freiheit, Paderborn 2006. TREMMEL, J. „Generationengerechtigkeit – Versuch einer Definition“. In: Handbuch Generationengerechtigkeit, München 2003. WEIGEL, S. Genea-Logik. Generation, Tradition und Evolution zwischen Kultur- und Naturwissenschaft. Paderborn 2006. Capítulo 15 | Página 346 Sobre os Dados Linguísticos e e Suporte para o Contextualismo Prof. Dr. Tiegue V. Rodrigues1 PUCRS - Brasil Introdução Na epistemologia contemporânea, mais precisamente, na epistemologia realizada nos últimos vinte anos, a tese de Contextualista2 de que o vocabulário epistêmico é sensível ao contexto, tem sido adotado por um número grande de autores. Uma vez que a tese parte de uma alegação semântica, a avaliação de sua veracidade interessou aqueles que trabalham na filosofia da linguagem. Em particular, uma reflexão séria sobre a tese requer um pouco de consideração sobre quando uma construção linguística é ou não sensível ao contexto. Portanto, a despeito dos objetivos teóricos que esta tese possui, a saber, resolver importantes problemas epistemológicos, nos ocupará aqui as duas estratégias principais que se referem às bases linguísticas utilizadas pelos contextualistas para explicar a ‘alegada’ sensibilidade contextual e suas críticas. Na primeira parte do texto veremos uma versão da tese contextualista em que serão apresentadas as duas estratégias linguísticas básicas utilizadas para explicar a sensibilidade contextual de termos epistêmicos. Professor Colaborador do Programa de Pós-Graduação da PUCRS, Bolsista de Pós-Doutorado (PNPD). 1 2 Principais expoentes da tese contextualista aqui sob análise são: COHEN, S. Contextualism and Skepticism, IN: Sosa E Villanueva (Ed.) Philosophical issues 10, 2000; DEROSE, K. The Case for Contextualism: Knowledge, Skepticism, and Context. Oxford UP, vol. 1, 2009 e LEWIS, D. Elusive Knowledge. Australasian Journal of Philosophy, 47, 549–567. 1996. Num segundo momento veremos algumas das críticas mais relevantes disparadas contra o uso contextualista de tais bases linguísticas bem como algumas respostas contextualistas para tais críticas. Por fim, concluiremos que embora tais críticas pareçam diminuir a plausibilidade das teses contextualistas elas não são suficientes para refutar o contextualismo. Contextualismo Epistêmico De acordo com Stewart Cohen, o contextualismo é a visão que defende que atribuições de conhecimento são sensíveis ao contexto de uma forma puramente epistêmica. Ele afirma que O valor de verdade de sentenças contendo a palavra “saber” e suas cognatas dependerá de padrões determinados contextualmente. Por causa disso, tal sentença pode ter diferentes valores de verdade em diferentes contextos. Agora, quando eu digo “contextos”, quero dizer “contextos de atribuição”. Assim, o valor de verdade de uma sentença contendo um predicado de conhecimento pode variar dependendo de coisas como os propósitos, as intenções, as pressuposições, etc., dos atribuidores que proferem essas sentenças. 3 Portanto, conforme o contextualismo proposto por ele, o valor de verdade de sentenças que contenham certas expressões, tipicamente utilizadas pelo vocabulário epistêmico (tais como ‘x sabe que y’ e ‘x está justificado ao crer que y’) é determinado pelos padrões de um contexto específico. Deste modo, uma mesma sentença, quando expressada em diferentes contextos, pode assumir, em cada um desses contextos, valores de verdade distintos. Além disso, o contexto relevante para a fixação dos padrões que determinam o valor de verdade que cada uma dessas sentenças possuirá é aquele em que o atribuidor do conhecimento está localizado. Assim, ao considerarmos um mesmo sujeito S e uma mesma sentença P, duas pessoas podem, simultaneamente, dizer ‘S sabe que p’ e apenas uma delas dizer algo verdadeiro. Da mesma maneira, uma pessoa poderia dizer ‘S sabe que p’ e outra dizer ‘S não sabe que p’ e ambas serem consideradas como dizendo algo verdadeiro. A divergência com relação aos valores de verdade em cada atribuição é, nesta perspectiva, apenas aparente. Conforme o contextualismo 3 COHEN, S. Contextualism and Skepticism, IN: Sosa E Villanueva (Ed.) Philosophical issues 10, 2000. esta divergência nos valores de verdade pode ser explicada pela diferença dos padrões envolvidos em cada um dos contextos de atribuição do predicado epistêmico. Os padrões de um contexto de atribuição específico são determinados pelos interesses e expectativas do atribuidor, bem como pelas pressuposições presentes no contexto conversacional de atribuição. Cohen, aceitando que justificação é um ingrediente necessário para o conhecimento, reconhece que diferentemente da análise do conceito de conhecimento, que é um conceito absoluto, a análise do conceito de justificação pode ser entendida, sem maiores problemas, como admitindo graus. Assim, toda vez que procuramos determinar se S sabe ou não que P, os padrões que determinam o valor de verdade para a sentença ‘S sabe que P’, sempre com relação ao contexto de atribuição, são os padrões que reflete o quanto de justificação é apropriado, referente ao contexto de atribuição, para que S saiba que p. Dito de outro modo, os padrões que determinam os valores de verdade para sentenças da forma ‘S sabe que P’ são fixados de acordo com a força da posição epistêmica desfrutada por quem faz a atribuição, ou seja, o seu grau de justificação. Para melhor entendermos a motivação para o contextualismo vejamos o seguinte caso. 4 João e Maria estão no aeroporto de POA se questionando sobre se eles deveriam pegar o voo X para o RJ. Eles precisam saber se tal voo faz escala em SP. Casualmente eles escutam alguém, Pedro, perguntando se alguém sabe se o voo X para em SP. Smith, um passageiro, responde: “Sim, eu sei eu acabo de olhar para o meu itinerário e há uma escala em SP prevista para o voo X.” Pedro com base no testemunho recebido passa a crer que o voo possui escala em SP e, consequentemente, que Smith de fato sabe tal informação. Acontece que João e Maria possuem um importante encontro de negócios que precisa ser feito no aeroporto de SP. Maria então diz: “quão confiável é aquele itinerário? Ele poderia conter um erro de impressão. Eles poderiam ter mudado o itinerário desde sua última impressão, etc.” João e Maria 4 Esse exemplo é uma variação do caso proposto por Cohen (ver COHEN, S. Contextualism, Skepticism and the Structure of Reasons. Philosophical Perspectives 13. 1999; Contextualism and Skepticism, IN: Sosa E Villanueva (Ed.) Philosophical issues 10, 2000; Contextualism and Unhappy-Face Solutions: Reply to Schiffer”, Philosophical Studies, 119: 185-97. 2004). Capítulo 16 | Página 349 concordam que Smith não sabe efetivamente que o voo X para em SP. Eles decidem, portanto, checar com o agente da companhia aérea. Tomando como base este exemplo – em que ‘S’ está para ‘Smith’ e ‘P’ está para ‘o voo X faz escala em São Paulo’ – João não atribui conhecimento a Smith, pois afirma a sentença ‘S não sabe que P’, enquanto Pedro atribui conhecimento a Smith já que afirma a sentença ‘S sabe que P’. De acordo um uma perspectiva não-contextualista nossa tendência seria pensar que uma das duas alegações deve, necessariamente, estar errada, enquanto a outra correta. Mas em nenhum momento ambas desfrutariam, simultaneamente, o mesmo valor de verdade. Qualquer uma das opções que o não-contextualista venha a escolher em resposta ao exemplo parece não satisfazer de maneira adequada nossas intuições. É possível que nós elejamos um desses padrões como sendo o mais adequado e, assim, sejamos capazes de determinar qual das duas sentenças é a (única) sentença verdadeira. A explicação oferecida por Cohen pode ser descrita da seguinte maneira. No intuito de considerar qual padrão é o correto ele oferece duas considerações distintas. Primeiro, podemos considerar que o padrão de João é demasiadamente rigoroso e que, portanto, o padrão de Pedro está correto. Assim, dado o relaxado padrão de Pedro é verdadeiro que ele alegue que Smith sabe que o voo para em SP. Isso ocorre, pois conforme o padrão rigoroso de João, aquilo que serve de base para a crença de que P, por parte de Smith, não é suficientemente adequado para que Smith saiba que P – o que parece ser um excesso, pois ele olhou o itinerário correto, no local correto. Assim, o padrão mais relaxado utilizado por Pedro é o correto e a sentença ‘S sabe que p’, asserida por ele, é verdadeira. Ao indicar que o padrão mais relaxado deve ser considerado como o correto, nós nos comprometeríamos com a tese de que João faz um uso inadequado do predicado de saber (x sabe y). Caso isso realmente seja o caso, então, embora João estivesse preocupado com o seu encontro em São Paulo, o que ele deveria ter dito – ao contrário de ‘S não sabe que p’ – seria algo muito parecido com ‘Ok, S sabe que P, mas, ainda assim, preciso checar novamente se P é o caso’. No entanto, essa sentença parece causar muita estranheza. Além disso, parece que, se o fato de que ‘olhar no itinerário’ é uma razão adequada para Pedro saber que P, então parece que essa razão também deveria ser adequada para Capítulo 16 | Página 350 João saber que P. Igualmente, João deveria ter dito, ao invés de ‘S sabe que p’, ‘Eu (João) sei que P, mas preciso checar novamente se P é o caso’. Já uma segunda consideração sugere que consideremos o padrão de Pedro como sendo demasiadamente relaxado e que, portanto, o padrão de João está correto. Assim, dado o extremamente relaxado padrão de Pedro, é verdadeiro que João, que possui um padrão rigoroso, alegue que Smith não sabe que o voo para em SP. (Assim, a alegação de que Pedro sabe que o voo para em SP é falsa, mas a alegação, oposta, por parte de João é verdadeira). Essa resposta pode ser considerada muito natural em algumas ocasiões, porém ela deve ser ponderada de uma forma muito cautelosa. Isso porque ela parece ser contrária ao modo como se dá a nossa prática epistêmica ordinária, a saber, nós usualmente julgamos que as pessoas podem ter como objeto do seu conhecimento proposições cridas com base em jornais, revistas, testemunhos e itinerários de voos. Assim, ao negarmos conhecimento a Pedro, nós estaremos negando que a nossa prática epistêmica ordinária não nos permite de modo adequado alegar que sabemos muitas das coisas das quais alegamos saber. Ou seja, nós estaríamos fadados a reconhecer que – a maior parte das vezes – no nosso cotidiano, nós estamos falando falsidades quando alegamos saber as coisas. Ainda poderia ser sugerida uma terceira explicação para o problema, a saber, considerar que nenhum dos dois padrões é suficiente exigente. Contudo, essa opção não parece ser muito promissora, dado o seu caráter excessivamente cético. Qual é, então, para o contextualista, a resposta que deve ser considerada correta? De acordo com os contextualistas, a resposta “pretensamente” correta pode ser entendida da seguinte maneira. Nenhum dos padrões é simplesmente correto ou simplesmente incorreto. Ao contrário, o contexto determina qual padrão é o correto. Dado que os padrões de atribuição de conhecimento podem variar através dos contextos, cada alegação [tanto a de João como a de Pedro] pode estar correta no contexto em que ela foi feita. Quando [Pedro] diz [‘S sabe que p’], o que ele diz é verdade dado o padrão mais fraco que opera naquele contexto. Quando [João] diz [‘S não sabe que p’], o que ele diz é verdade dado o con- Capítulo 16 | Página 351 texto mais exigente que opera em seu contexto. E não há padrão correto independente de contexto. 5 Como vimos anteriormente, o caso do aeroporto sugere que atribuições de conhecimento são sensíveis ao contexto. São duas as estratégias principais utilizadas para explicar a sensibilidade contextual. Lembrando que os padrões que determinam quão boas (ou forte) devem ser as razões de alguém para que esse alguém seja um conhecedor são determinados pelo contexto de atribuição. Tais estratégias utilizadas pelo contextualismo advêm da análise de alguns dados oferecidos pela linguagem, mais precisamente, o fato de que a semântica de predicados epistêmicos parece ser análoga à semântica de outros predicados. A estratégia contextualista será, portanto, considerar que a semântica dos termos epistêmicos é análoga à semântica de outros predicados. A primeira estratégia contextualista para explicar a sensibilidade contextual dos termos epistêmicos é considera-los analogamente a adjetivos graduais. Predicados como ‘rico’, ‘feliz’, ‘plano’ e ‘alto’ permitem que as sentenças que contenham tais predicados possuam o seu valor de verdade definido pelos padrões estabelecidos de acordo com o contexto, uma vez que esses predicados podem, e com frequência, aparecem sob a forma comparativa (e.g., ‘Pedro é mais alto do que Smith’) e também na sua forma absoluta (e.g., ‘Pedro é alto’). Portanto, o contexto de uso das sentenças que contém esses predicados estabelecerá ambos, o quão mais alto do que Pedro Smith deve ser para que a sentença ‘Smith é mais alto do que Pedro’ seja verdadeira e o quão alto Pedro deve ser para que a sentença ‘Pedro é alto’ seja verdadeira. Considerando o caso dos predicados epistêmicos aplicados à atribuição de conhecimento, teremos a seguinte explicação: ainda que o predicado ‘S sabe que P’ seja absoluto, o predicado ‘S está justificado para P’ é claramente um predicado que admite graus. Do mesmo modo, se a posse de conhecimento implica a posse de justificação, então os padrões estabelecidos de acordo com o contexto estabelecerão o quão justificada uma crença deve ser para que ela seja um caso de conhecimento. A segunda estratégia pela qual contextualistas explicam a sensibilidade contextual do termo ‘saber’ é considerá-lo de maneira análoga a termos indexicais ou dêiticos, tais como ‘eu’, ‘aqui’, ‘agora’. Considere a 5 COHEN, S. Contextualism and Skepticism, IN: Sosa E Villanueva (Ed.) Philosophical issues 10, 2000. Capítulo 16 | Página 352 seguinte situação: cerca de uma hora atrás eu estava no meu escritório. Imagine que eu verdadeiramente disse: ‘eu estou aqui’. Agora eu estou na sala de conferência. Como eu poderia verdadeiramente dizer onde eu estava a cerca de uma hora atrás? Eu não posso verdadeiramente dizer que ‘eu estava aqui’, pois eu não estava aqui (na sala de conferência), eu estava lá (no meu escritório). O significado de ‘aqui’ é fixado pelos fatores contextuais relevantes da atribuição (neste caso, a minha localização), não pela localização no tempo em que se esta falando a respeito. 6 Parece que algumas características particulares, assim como ocorre com ‘alto’, ‘feliz’, ‘plano’ e ‘eu’, ‘aqui’, ‘agora’ estão ligadas na determinação dos padrões envolvidos em um dado contexto de atribuição de predicados epistêmicos. Cohen, tais padrões são determinados por uma complexa função composta pelas intenções do atribuidor, intenções da audiência desse atribuidor, pressuposições do contexto conversacional e das relações de saliência, presentes nesse contexto. A “saliência” parece assumir um papel essencial para a determinação dos padrões presentes em um contexto de atribuição dos predicados epistêmicos. Pois, em um dado contexto em que a possibilidade de erro é saliente, os padrões de atribuição de conhecimento alcançaram níveis mais elevados de exigência, o que não ocorre nos contextos em que essa possibilidade não se tornou saliente. No caso do aeroporto, a possibilidade entretida por João, a saber, de que o itinerário consultado por Smith estivesse obsoleto ou de que ele pudesse conter algum erro de impressão fez com os padrões de atribuição de conhecimento a Smith se elevassem no contexto de João e impedisse que este atribuísse conhecimento a Smith. Nessa perspectiva, ainda que a mera possibilidade de erro não solape um agente de conhecimento, o contexto no qual alguma possibilidade de erro é considerada saliente (ou seja, uma possibilidade claramente considerada pelo atribuidor do predicado epistêmico) tende a falsear uma determinada atribuição de conhecimento. Cf. DEROSE, K. Solving the Skeptical Problem. The Philosophical Review, 104(1), 1-52. 1995, p. 925. Contextualistas aqui fazem uso da distinção sugerida por Kaplan entre caráter e conteúdo. 6 Capítulo 16 | Página 353 Objeções às Bases linguísticas Contextualistas e Algumas Respostas Jason Stanley pretende mostrar que as bases semânticas alegadas pelos contextualistas como suporte para a sensibilidade contextual de atribuições de conhecimento não se sustentam, ou seja, ele pretende negar as alegações contextualistas de que ‘saber’ se comporta analogamente tanto como um adjetivo que admite graus quanto como um termo indexical. Vejamos primeiramente sua crítica com relação ao termo ‘saber’ comportar-se como um adjetivo que admite graus. Ele argumenta que as semelhanças entre esses termos se desfazem quando analisamos a gradação que esses termos comportam. Enquanto os termos ‘alto’ e ‘liso’ admitem graus e permitem que inferências sobre eles sejam feitas por padrões determinados contextualmente, ‘saber’ não admite graus e não permite que seu conteúdo seja determinado por padrões referentes ao seu contexto de uso. Termos como ‘alto’ e ‘liso’ são intuitivamente considerados como semanticamente ligados a uma escala que possibilita discriminar quantitativa ou qualitativamente ocorrências distintas de sentenças que utilizam esses termos.7 Desse modo, se o termo ‘sabe’ não se comporta analogamente a esses termos gradativos, então, podemos concluir que: primeiro, o conhecimento não admite graus (Lewis defende o oposto) 8 e, segundo, a tese de que atribuições de conhecimento são sensíveis ao contexto não pode ser motivada por uma semelhança (que conforme Stanley é inexistente) entre o termo ‘saber’ e adjetivos que admitem graus. 9 Segundo Stanley, se termos epistêmicos, principalmente o termo ‘saber’, fossem realmente sensíveis ao contexto da mesma forma que outros termos o são, então seria correto pensar que eles admitem diferentes graus. Contudo, existem evidências de que o termo ‘saber’ não é uma 7 Cf., STANLEY, J. On the linguistic basis for contextualism. Philosophical Studies, v. 119 (12):119-146. 2004. Conforme Lewis (LEWIS, D. Elusive Knowledge. Australasian Journal of Philosophy, 47, 1996) conhecimento admite graus. 8 9 Alguns autores, mesmo negando a tese contextualista admitem a plausibilidade da analogia entre esses termos: FELDMAN, R. Skeptical problems, contextualist solutions, IN: Philosophical studies, 103, p. 61 – 85. 2001; KLEIN, P. Contextualism and the real nature of academic skepticism, IN: SOSA, Ernest (Ed.); VILLANUEVA, Enrique (Ed.)., p. 108 – 116. 2000 e SOSA, E. Skepticism and contextualism, IN: SOSA, Ernest (Ed.); VILLANUEVA, Enrique (Ed.). p. 1 – 18, 2000 e Relevant alternatives, contextualism included. Philosophical Studies, v. 119 (1-2):35-65. 2004. Capítulo 16 | Página 354 expressão que admite graus. Existem pelo menos dois testes que podem ser utilizados e permitem determinar se uma expressão admite ou não gradação: (i) se uma expressão admite graus, então ela deve permitir a utilização de modificadores e (ii) ela deve estar conceitualmente relacionada a construções comparativas.10 O uso predicativo de adjetivos como ‘alto’ e ‘liso’ permite modificações no seguinte sentido: (1) (a) Aquela superfície é realmente lisa. (b) Aquela superfície é muito lisa. (c) João é muito alto. (d) João é realmente alto. Essa análise cumpre de modo natural o primeiro critério de identificação de uma expressão que admite grau, a saber, permite modificadores. Como podemos ver no caso anterior, as expressões ‘muito’ e ‘realmente’ modificam os termos ‘alto’ e ‘liso’, ou seja, elas apontam para uma diferença no grau que os termos ‘alto’ e ‘liso’ adquirem em relação à sua utilização sem os modificadores. ‘Muito alto’ predica uma propriedade de João que se encontra em um lugar mais elevado na escala gradativa de altura do que a propriedade denotada apenas pelo predicado ‘alto’. Apesar disso, não parece ser possível fazermos a mesma aplicação para o termo ‘saber’. De acordo com Stanley, relembrando o caso do banco, seria natural pensarmos que quando Keith diz ‘Eu acho que eu realmente não sei’ ele esta usando ‘realmente’ como um termo modificador, de acordo com os casos em (I). No entanto, na maioria das vezes, modificadores de grau podem ser utilizados conjuntamente com a sua negação, sem 10 Cf. STANLEY, J. Knowledge and practical interest. New York: Oxford, 2005, p. 36. Capítulo 16 | Página 355 inconsistência. O que não parece ser possível quando aplicado ao termo ‘saber’, veja a comparação entre (2) e (3): (2) (a) João é alto, mas não realmente alto. (b) A superfície é lisa, mas não realmente lisa. (3) Se o banco está aberto, então Keith sabe que o banco está aberto, mas ele não sabe, realmente, que o banco está aberto. Pode-se perceber que (2) parece muito natural, enquanto (3) parece muito estranho. Além disso, enquanto em (2) o modificador ‘realmente’ parece modificar o grau pelo qual tanto a altura de João quanto a ‘lisidade’ da superfície devem ser consideradas, em (3) ‘realmente’ não parece modificar ‘saber’, nesse mesmo sentido. No entanto, ‘saber’ pode ocorrer junto com ‘muito bem’ e ‘muitíssimo’, o que poderia levar a crer que predicados como ‘S sabe que P’, presentes em atribuições de conhecimento, poderiam admitir graus: (4) (a) João sabe muito bem que gatos não latem. (b) João sabe muitíssimo que gatos não latem. Stanley argumenta que, nesses casos, a ocorrência de expressões do tipo ‘muito bem’ ou ‘muitíssimo’ com predicados que denotam relações de conhecimento não funcionam como modificadores do significado dessa relação. Quando alguém assere (4), pretende que se entenda que não há duvidas sobre o fato de que João sabe que gatos não latem, assim, nesse caso, tais modificadores funcionam apenas como indicadores pragmáticos.11 Para mostrar que esse realmente parece ser o caso Stanley sugere a inadequação das seguintes construções: (5) (a) João não sabe muito bem que gatos não latem. Neste caso, quando se assere (5), pretende que se entenda que João não tem muita convicção sobre o fato de que gatos não latem. Assim, a inadequação de (5) pode ser contrastada com a naturalidade de Recanati (RECANATI, F. Pragmatics, IN: The Routledge Encyclopedia of Philosophy, 1998) oferece uma análise sobre indicadores pragmáticos. 11 Capítulo 16 | Página 356 uma construção em que ‘muito bem’ ou ‘muitíssimo’ claramente parecem modificar o verbo: (6) João não enxerga muito bem de perto. Além disso, segundo Stanley, ‘muito bem’ ou ‘muitíssimo’ não parece ser utilizada adequadamente quando combinado com ‘saber’ em atos de fala não-assertóricos – ao contrário do que ocorre com construções nas quais ‘muito bem’ ou ‘muitíssimo’ operam como modificadores sobre o predicado. Stanley contrasta as seguintes construções: (7) (a) Você sabe muito bem que gatos não latem? (b) Você sabe muitíssimo que gatos não latem? (8) Você não enxerga muito bem de perto? Através dessas construções, Stanley alega que a sentença (4) não é um caso no qual um determinado grau de conhecimento é modificado pelo uso de ‘muito bem’ ou ‘muitíssimo’. Portanto, ‘muito bem’ ou ‘muitíssimo’ não podem ser utilizadas para modificar a relação de conhecimento de sentenças do tipo ‘S sabe que p’. 12 Stanley, então se voltará para analisar se existem construções comparativas envolvendo ‘saber’, uma vez que os contextualistas alegam existir tal fato por analogia com termos como ‘alto’ e ‘liso’. Mas, certamente, isso não é pretendido através da comparação com o termo ‘mais do que’: (9) (a) João sabe mais do que Pedro que gatos não latem. (b) João sabe que gatos não latem mais do que sabe que aves não latem. Stanley acredita que uma comparação mais esclarecedora envolvendo o termo ‘saber’ seria a seguinte: (10) João sabe melhor do que ninguém que gatos não latem. No entanto, Stanley sugere que apesar de a expressão ‘melhor do que’ ser aparentemente adequada quando utilizada junto do termo ‘saber’, ela não é capaz de formar uma expressão comparativa. Pois como podemos perceber em (10) ‘melhor do que ninguém’ é, na verdade, uma 12 Cf. STANLEY, J. Knowledge and practical interest. New York: Oxford, 2005, p.39. Capítulo 16 | Página 357 expressão idiomática.13 Caso (10) pudesse ser realmente considerado um caso em que ‘sabe’ é utilizado comparativamente e, portanto, ‘melhor do que ninguém’ não fosse apenas uma expressão idiomática, as seguintes construções indicadas pelas sentenças (11) e (12) deveriam poder ser adequadamente asseridas: (11) João sabe melhor do que Pedro que gatos não latem. (12) João sabe melhor do que Maria que cobras não voam. Desse modo, uma vez que (11) e (12) representam usos idiomáticos da expressão ‘melhor do que’, essa expressão não constitui corretamente o modo para se expressar comparações e, portanto, nos diz muito pouco sobre a semântica do termo ‘saber’ e sobre os diferentes níveis de uma escala epistêmica. Poderia ser objetado, como sugere Stanley, que esses fatos sobre o termo ‘saber’ possuem explicações sintáticas e não semânticas, pois sentenças envolvendo modificadores de intensidade e comparação com o verbo ‘saber’ são anômalas porque ‘saber’ é um verbo que permite complementos sentencias e tais verbos não permitem, gramaticalmente, modificadores de intensidade e comparação.14 Considere as seguintes construções: (13) (a) João lamenta muitíssimo estar desempregado. (b) João não lamenta muitíssimo estar desempregado. Como pode ser visto em (13) o grau de ‘lamentação’ parece ser claramente modificado pela expressão ‘muitíssimo’. Além disso, o verbo ‘lamentar’ claramente parece permitir comparações: (14) (a) João lamenta mais do que Pedro o fato de estar desempregado. Para Stanley, esses exemplos são suficientes para mostrar que “a falta direta de comparativos ou modificadores de graus não tem nenhu- 13 Id. 14 Cf. STANLEY, J. Knowledge and practical interest. New York: Oxford, 2005, p.41. Capítulo 16 | Página 358 ma relação com a sintaxe ou, até mesmo, com a facticidade, de ‘saber’.” 15 Considere as seguintes sentenças: (15) (a) João é bem mais alto que Pedro. (b) João é suficientemente alto. Agora considere: (16) (a) João sabe que está chovendo bem mais do que Pedro sabe. (b) João sabe de maneira suficiente que está chovendo. Como podemos ver em (15), as expressões ‘bem mais’ e ‘suficiente’ são naturalmente corretas. Um técnico de basquete pode considerar um jogador bem mais alto que outro para certa posição, bem como pode considerá-lo alto o suficiente para dada posição. No entanto, em (16) essa comparação com ‘saber’ parece não poder ser aplicada corretamente. Não parece fazer sentido em se dizer que ‘João sabe que está chovendo bem mais do que Pedro sabe’, pois se é o caso de que está chovendo e ambos sabem que está chovendo, não parece correto asserir (16a). Logo, dado que ‘sabe’ não admite nem modificações e nem construções comparativas, como ‘alto’ e ‘liso’ admitem, segue-se que o contextualista precisa apoiar sua tese de que as condições de verdade de atribuições de conhecimento são determinadas contextualmente sobre outro argumento, a saber, de que o termo ‘saber’ se comporta analogamente a termos indexicais. 16 Vejamos agora como Stanley critica a alegação contextualista de que ‘saber’ se comporta analogamente a termos como ‘eu’, ‘aqui, ‘agora’, ou seja, comporta-se como um termo indexical. A argumentação de Stanley para negar à semântica indexical de ‘saber’ apresenta dois momentos. Num primeiro momento ele oferece alguns exemplos, em 15 Ibid. Stanley cita a seguinte passagem em que Cohen considera essa possibilidade: do ponto de vista da semântica formal, nós deveríamos pensar sobre essa sensibilidade ao contexto de atribuições de conhecimento? Nós poderíamos pensá-la como um tipo de indexação [indexicality]. Nessa forma de se interpretar a semântica, atribuições de conhecimento envolvem uma referência, na forma de índice, a um padrão. Assim, o predicado do conhecimento irá expressar diferentes relações (correspondendo a diferentes padrões) em diferentes contextos. (COHEN, S. How to be a fallibilist. In: J. Tomberlin (Ed.), Philosophical Perspectives 2, 1988, p.97 apud STANLEY, J. Knowledge and practical interest. New York: Oxford, 2005, p. 47-48.) 16 Como, Capítulo 16 | Página 359 forma de testes, que sugerem que o modelo semântico de indexicalidade para ‘saber’ não está correto. Num segundo momento, diferentemente dos testes anteriores, ele oferece uma generalização sobre a natureza semântica da sensibilidade contextual. Inicialmente, Stanley sugere que, apesar de não haver um método capaz de identificar todas as expressões cujos conteúdos são determinados contextualmente, alguns testes são muito intuitivos e parecem apontar na direção de que atribuições de conhecimento não são contextualmente determinados da mesma maneira que os termos indexicais.17 Ele pretende, através destes testes, mostrar que se instâncias de ‘S sabe que P’ são sensíveis ao contexto, então sua sensibilidade não pode ser ‘detectada’ através de meios que pudessem ser usados para detectar a sensibilidade contextual de outros tipos de expressões. Segundo ele, esses testes envolvem o que ele denomina de ‘reportagens de atos de fala’ (speech-act reports) e anáforas proposicionais e são, se não conclusivos, pelo menos bons indicativos de que atribuições de conhecimento não são contextualmente determinadas por meio do uso de certos predicados epistêmicos. Se tais argumentos propostos por Stanley contra o contextualismo são, de fato, eficazes, então, a tese contextualista Stanley dúvida que algum teste poderia ser capaz de mostrar qual a propriedade que todas as expressões contextualmente sensíveis deveriam apresentar. Ele indica CAPPELEN, H. and LEPORE. E. Insensitive Semantics, Oxford: Basil Blackwell. 2005, como uma tentativa mal sucedida de apresentar tal propriedade. Ver STANLEY, J. Knowledge and practical interest. New York: Oxford, 2005, p. 49-52. 17 Capítulo 16 | Página 360 de que as condições de verdade para atribuições de conhecimento são determinadas contextualmente pode ser seriamente comprometida. Stanley sugere a implausibilidade dessa alegação contextualista a partir dos seguintes exemplos.18 Relembre o caso das zebras, de Dretske, e considere o seguinte diálogo: (Zoo) (A) Eu sei que esses animais são zebras. (B) Você pode eliminar a possibilidade de que esses animais são mulas pintadas de zebras? (A) Não eu não posso eliminar essa possibilidade. (B) Então você admite que não sabe que esses animais são zebras e que você estava errado anteriormente? (A) Eu não disse isso. Eu não estava considerando a possibilidade de que esses animais poderiam ser mulas pintadas. Ao considerarmos a última sentença proferida por (A) no diálogo acima, percebemos que ela não parece fazer muito sentido, a não ser que ela fosse tomada como uma mentira. Os contextualistas, no entanto, parecem se comprometer com a verdade da alegação de (A) – de acordo com a tese contextualista, (A) não precisaria reconsiderar a sua primeira (auto-) atribuição de conhecimento, porque, naquele contexto, a possibilidade de que os animais diante dele fossem mulas pintadas não havia sido levantada. A aparente inadequação quanto ao uso do predicado ‘S sabe que P’, nesse discurso, contrasta com o uso de expressões que são claramente sensíveis aos contextos nos quais são utilizadas. Mas para Stanley, ainda que fosse fixado que o termo ‘possível’ será utilizado no sentido de ‘possibilidade física’, esse termo parece permitir uma denotação de medidas mais ou menos restritas sobre ‘possibilidades físicas’. Dessa maneira, parece que ‘possível’ poderia ser, ao menos intuitivamente, considerado como um termo sensível ao contexto. Vejamos outro diálogo sugerido por Stanley. Suponha que (A) está conversando com um determinado grupo de cientistas sobre as no18 STANLEY, J. Knowledge and practical interest. New York: Oxford, 2005, p. 52 – 55. Capítulo 16 | Página 361 vas tecnologias para a indústria aeronáutica, mas que ainda não foram habilitadas para o publico em geral. Imagine agora um diálogo entre o sujeito (A) e um sujeito (B), onde (B) não teve nenhum conhecimento da conversa anterior na qual (A) estava inserido: (Hi-Tech) (A) É possível voar de Porto Alegre até Londres em trinta minutos. (B) Isso é absurdo! Nenhum voo disponível ao grande público hoje permitiria isso. Não é possível voar de Porto Alegre até Londres em trinta minutos. (A) Eu não disse que era possível. Eu não estava falando sobre o que é possível dado aquilo que está disponível ao grande público, mas sim sobre aquilo que é possível dada toda a tecnologia existente. Agora, comparemos a última alegação de (A) em ambos os exemplos. Diferentemente da última alegação de (A) em (zoo), a última alegação de (A) em (Hi-Tech) parece perfeitamente adequada. Mas isso parece ser um problema para o contextualistas, pois, em ambos os diálogos, as alegações deveriam ser igualmente plausíveis e coerentes, uma vez que, por estipulação, ‘sabe’ e ‘possível’ seriam, ambos, termos contextualmente sensíveis ao contexto.19 Para Stanley, esse exemplo sugere que a sensibilidade contextual, alegada pelos contextualistas, de predicados da forma ‘S sabe que P’ é consideravelmente menos acessível para nós do que a sensibilidade contextual de modalidades epistêmicas. Além disso, Stanley argumenta que a alegação contextualista de que predicados da forma ‘S sabe que P’ é um predicado cujo valor semântico é determinado contextualmente parece ser distinto do fenômeno linguístico presente na anáfora proposicional – uma expressão que se refere à outra que ocorre na mesma frase. Stanley sugere um contraste entre os seguintes discursos: (17) Se eu tenho mãos, então eu sei que eu tenho mãos. Mas, ao pensar sobre isso, eu poderia ser um cérebro numa cuba, e, nesse caso, eu creria que eu tenho mãos, mas, nesse caso, eu não teria. Agora que eu estou seriamente considerando tal hipótese cética, mesmo que eu tenha 19 Cf. STANLEY, J. Knowledge and practical interest. New York: Oxford, 2005, p. 53. Capítulo 16 | Página 362 mãos, eu não sei que eu tenho mãos. Mas o que eu disse antes continua sendo verdadeiro. 20 (18) Está chovendo aqui. Se eu estivesse dentro de casa, o que eu disse ainda seria verdade. Mas agora que de fato estou dentro de casa, não está chovendo aqui. De acordo com Stanley, se aplicarmos à semântica contextualista à (17) e (18) teríamos a seguinte situação. Em (17) nós deveríamos fazer a leitura de que todas as suas sentenças são simultaneamente verdadeiras. Mas isso parece causar certa perplexidade, ainda que a única interpretação razoável para expressão ‘o que eu disse antes’ aponte para a sentença que tem sua verdade negada na sentença anterior. Diferentemente, em (18) podemos ver uma situação na qual o termo relevante envolvido é genuinamente um termo indexical. Como parece acontecer em (18), uma vez adequadamente informados sobre os fatos, todas as sentenças são admitidamente simultaneamente verdadeiras e, dessa forma, não nos causa a perplexidade encontrada em (17). Deste modo, essa análise mostra que alguns testes são capazes de detectar a sensibilidade contextual de expressões modais e de termos obviamente indexicais, porém, esses mesmos testes são ineficazes em relação ao que diz respeito à sensibilidade contextual de ‘saber’ e, consequentemente, de instâncias da forma ‘S sabe que P’. 21 Dretske já objetara aos contextualistas afirmando que “o Ceticismo, como uma doutrina sobre o que as pessoas comuns sabem, não pode ser feita verdadeiro por ser colocada na boca de um cético. Tratar o conhecimento como um indexical [...], parece ter, ou está perigosamente próximo de ter, exatamente este resultado. Por este motivo (entre outros) eu o rejeito.” 22 Pale Yourguau também já havia feito críticas aos contextualistas com exemplos similares aos sugeridos por Stanley. 23 De acordo com Yourgrau, esse tipo de diálogo é uma consequência absurda da aceitação da proposta contextualista. Para ele não existe 20 Ibid, p.54. STANLEY, J. Knowledge and practical interest. New York: Oxford, 2005, p. 54. Stanley admite que esses testes não sejam indicadores perfeitos para sensibilidade contextual, uma vez que ele admite que talvez não haja tais testes. 21 22 DRETSKE, 1991, p.192. 23 Este exemplo foi publicado originalmente por YOURGRAU, P. Knowledge and relevant alterna- Capítulo 16 | Página 363 nada, no decorrer da conversa, que pudesse ser significativo para sugerir uma mudança na situação epistêmica de B, ou seja, a posição epistêmica do sujeito parece não ter se alterado – assim, se no início do diálogo ele sabia, então deveria continuar sabendo no fim. A mera introdução de uma possibilidade não pode afetar as mudanças nos padrões para o conhecimento. Segundo Yourgrau, “tipicamente, quando alguém coloca uma questão sobre se realmente sabemos que P é o caso e não uma alternativa à P, se não podemos satisfatoriamente responder à questão, concluímos que nossa alegação de conhecimento anterior era deficiente.” 24 No entanto, o contextualista está pronto para responder a esse tipo de objeção. Segundo DeRose: A objeção [de que o contextualismo considera adequada as alegações como a (A) em (Zoo)] está baseada em um erro. O contextualista acredita que certos aspectos do contexto de atribuição ou negação de conhecimento afetam o conteúdo dessas atribuições [...] Se no contexto de conversação a possibilidade de que haja mulas pintadas foi mencionada e se a mera menção dessa possibilidade teve um efeito sobre as condições sobre as quais alguém pode ser verdadeiramente considerado como ‘sabendo’, então qualquer uso de ‘sabe’ (ou de [‘sabia’]) é afetado, mesmo um uso no qual descrevemos a nossa condição passada. 25 Isso significa, para DeRose, que quando a possibilidade cética é mencionada o contexto é elevado. Agora nesse novo contexto, todas as alegações de conhecimento, inclusive as alegações que se referem ao tives, IN: Synthese, 55, p. 175 – 190. 1983. Mas em uma nota DEROSE, K, Contextualism and Knowledge Attributions. Philosophy and Phenomenological Research, 52(4): 913-929. 1999, salienta que Rogers Albritton já havia feito considerações desse tipo. Vejamos o exemplo de Yourgrau: A: Você sabe que possui mãos? B: Sim, eu possuo mãos. A: Mas você pode eliminar a hipótese de que você é um cérebro numa cuba? B: Não, eu não posso. A: Então você admite que não soubesse que possuía mãos. B: Não. Eu sabia que possuía mãos. Mas depois da sua pergunta eu não sei mais. 24 YOURGRAU, P. Knowledge and relevant alternatives, IN: Synthese, 55, p. 175 – 190.1983, p.183. DEROSE, K. Contextualism and Knowledge Attributions. Philosophy and Phenomenological Research, 52(4): 913-929. 1992, p. 925. 25 Capítulo 16 | Página 364 passado devem ser avaliadas por esse novo contexto e, portanto, nem a alegação atual e nem a alegação passada serão verdadeiras. Com o intuito de mostrar a falsidade da alegação contextualista de que a sensibilidade contextual de predicados de conhecimento é análoga à sensibilidade contextual de termos indexicais, Stanley pretende mostrar que a tese de que ocorrências distintas da mesma expressão em um discurso devem ser avaliadas segundo um mesmo padrão não parece valer para termos diferentes de ‘sabe’ – os quais são assumidamente contextualmente sensíveis. Se o contextualista está certo e o termo ‘saber’ é igualmente sensível ao contexto – como o adjetivo ‘alto’ o é – então, a elevação dos padrões em um determinado contexto deveria influenciar todas as atribuições do predicado ‘S é alto’ nesse contexto – e isso vale também para as atribuições que dizem respeito à situação passada do sujeito. Contudo, de acordo com Stanley, expressões adjetivas com termos como ‘alto’ não se comportam da forma esperada pelo contextualista. Ele oferece o seguinte caso.26 Imagine que uma determinada criança, digamos A, era a criança mais alta da sua turma na sétima série. Após as férias, agora na oitava série, A não cresceu consideravelmente como o resto de seus coleguinhas, assim, sua professora, digamos B, inicia a seguinte situação: B: OK. ‘A’, você tem estatura mediana, portanto, você senta no meio da sala. A: Mas ano passado eu era alto e eu me acostumei a sentar no fundo da sala. Stanley pretende mostrar, através desse exemplo, que parece claramente adequada a alegação de A. Se esse é o caso, então o padrão utilizado para se avaliar a adequação da atribuição do predicado ‘S é alto’ pode mudar em um mesmo discurso sem que essa atribuição pareça inadequada. Como o exemplo pretende sugerir, B eleva os padrões de atribuição do predicado ‘S é alto’ ao mencionar que A tem altura mediana e mesmo assim A adequadamente diminui o padrão de atribuição desse predicado ao alegar que no ano passado ele era alto. 27 Desse modo, se a 26 STANLEY, J. Knowledge and practical interest. New York: Oxford, 2005, p. 64. Parece-me, nesse caso, que a crítica pretendida por Stanley não alcança seus objetivos. Além de o exemplo poder ser questionável, pois não parece ter ocorrido nenhuma mudança no padrão 27 Capítulo 16 | Página 365 atribuição de conhecimento realmente fosse contextualmente sensível, então predicados de conhecimento com ‘S sabe que P’ deveriam se comportar da mesma maneira que predicados como ‘S é alto’. Contudo, se o predicado de conhecimento ‘S sabe que P’ se comporta como o predicado adjetivo ‘S é alto’, então a alegação feita pelo sujeito (A) no (Zoo) deveria ser considerada adequada, pois mesmo que os padrões tenham sido elevados pela menção de uma hipótese cética – de que ele estava diante de mulas pintadas – isso não deveria impedi-lo de alegar adequadamente que, antes dessa possibilidade ter sido levantada, ele sabia. Portanto, argumenta Stanley, ou o contextualista está errado e a alegação de (A) é adequada, ou ele está certo, a alegação de (A) é inadequada e predicados de conhecimento do tipo ‘S sabe que P’ não são contextualmente sensíveis analogamente a predicados adjetivos como ‘S é alto’. Segundo Stanley, ao assumirem que predicados com o termo ‘saber’ se comportam da mesma maneira que predicados com os termos ‘alto’ e ‘liso’ os contextualistas perdem consideravelmente a força de seu apelo intuitivo. Ele ainda argumenta que o contextualismo só não perde todo o seu apelo intuitivo porque nem todos os testes que poderiam servir para detectar a sensibilidade contextual de outras expressões irão servir para detectar essa mesma sensibilidade em relação ao predicado que contenha o termo ‘saber’ e, assim, alguns casos ainda podem favorecer alguma intuição contextualista. Hawtorne também faz algumas objeções ao contextualismo de forma muito semelhante a Stanley.28 Ele argumenta contra a sensibilidade contextual afirmando que nós temos muito poucos ‘dispositivos de contextual, Stanley parece estar fazendo uma crítica que poderíamos enquadrar dentro da objeção sobre manobras de asseribilidade autorizada, vista no item anterior. 28 HAWTHORNE, John. Knowledge and lotteries. Oxford: Clarendon, 2004. Capítulo 16 | Página 366 clarificação’ para o termo ‘saber’. Vejamos o que ele tem em mente por dispositivos de clarificação:29 Suponha que eu digo: Aquilo é liso. E suponha que você me desafia apontando para algumas pequenas irregularidades. Existem três tipos de táticas disponíveis para mim. (i) Concessão: Eu concedo que a minha crença anterior esteja errada e tento encontrar novas bases comuns: ‘Eu acho que você está certo e eu estava errado. Ela não é realmente lisa. Mas vamos concordar que... ’ (ii) Manter a posição: Eu alego que o desafio não enfraquece o que eu disse. [...] Você aponta algumas pequenas irregularidades. Eu digo: ‘Bem, isso não significa que não seja plano’. (iii) Esclarecimento: Eu esclareço a minha alegação anterior e protesto que seu desafio carrega uma incompreensão do que eu acredito e do que eu estava alegando. Existem diversos tipos de palavras ‘limitadoras’ que podem ser invocadas como apoio para esse tipo de resposta. Aqui estão alguns exemplos de esclarecimento: Exemplo 1. ‘O copo está vazio’. Desafio: ‘Bem, ele tem um pouco de ar nele’. Resposta: ’Tudo o que eu estava dizendo é que é vazio de vodca’. Exemplo 2. ‘O campo é plano’. Desafio: ‘Bem, ele tem alguns furos pequenos nele’. Resposta: ‘Tudo o que eu estava dizendo é que ele é plano para um campo de futebol (ou: ‘Tudo o que eu estava dizendo é que ele é aproximadamente plano’). Exemplo 3. ‘Ele virá em três horas’. Desafio: ‘É mais provável que ele venha algum segundo mais cedo ou mais tarde’. 29 Ibid., p.104-5. Capítulo 16 | Página 367 Resposta: “Tudo que eu quis dizer é que ele virá em aproximadamente três horas”. Quero chamar a atenção para o fato de que temos muito poucos dispositivos na vida cotidiana para aplicação da técnica de esclarecimento quando se trata de ‘sabe’. Portanto, segundo Hawthorne, dispositivos de clarificação para um termo são caracterizados por frases pelas quais, em resposta a algum desafio, alguém poderia explicar o que quer dizer pelo termo. Nessa passagem, os desafios que o autor parece estar considerando dizem respeito à verdade de apenas uma única alegação. No entanto, como vimos anteriormente, isso também se aplica a alguns casos sugeridos por Stanley e Feldman, nos quais esses dispositivos de clarificação podem ser úteis quando desafiamos a consistência das alegações de alguém – casos nos quais S alega ter dito uma coisa ao usar determinado termo (e.g., ‘saber’) e algum tempo mais tarde, em outro contexto, S parece alegar o oposto e, assim, parece estar desafiando sua consistência. Dessa maneira, a objeção de Hawthorne parece ser a seguinte: é improvável que a nossa linguagem pudesse conter termos contextualmente sensíveis (como ‘saber’) sem que também exibisse diversos, e adequados, dispositivos de clarificação para os mesmos, e pelos quais atribuidores competentes pudessem indicar o conteúdo do uso que fazem desses termos em determinadas situações.30 Uma vez, como ele argumenta, que há falta de tais dispositivos de clarificação para o termo ‘saber’, então a alegação contextualista é falsa. Como resposta para objeções desse tipo – tanto com relação às objeções de Stanley, quanto às objeções de Hawthorne – pode-se dizer algo parecido com a ideia de DeRose. Ele afirma que tais objeções estão baseadas num erro ou, pelo menos, muito mais precisaria ser dito por esses autores para tornar essa objeção mais forte. DeRose e Ludlow acreditam que existem muitas locuções pelas quais atribuidores esclare- Cf. DEROSE, K. The Case for Contextualism: Knowledge, Skepticism, and Context. Oxford UP, vol. 1, 2009, Capítulo 5. 30 Capítulo 16 | Página 368 cem o que eles querem (ou quiseram) dizer por ‘saber’.31 Eles sugerem os seguintes exemplos para casos de primeira ou terceira pessoa): ‘Tudo que Eu estava alegando era que ‘Eu sei/Ele sabe que ta e tal’ - muito bem - para além de qualquer dúvida razoável - pelos padrões ordinários - por qualquer padrão razoável - com um alto grau de precisão ‘Eu nunca quis dizer que estava alegando que ‘Eu sei/Ele sabe que ta e tal’ - com certeza - com absoluta certeza - para além de qualquer dúvida possível - como Deus saberia Como sugere DeRose, esses parecem ser perfeitamente itens [da linguagem] e não meros casos de ‘conversa-de-filósofos’ – embora filósofos possam ter mais ocasiões para dizer tais coisas do que outros atribuidores. O atribuidor que levanta o desafio pode não gostar dessas respostas e pode ter objeções a elas, mas o atribuidor [que as responde] não parece estar abusando da linguagem ao usar esses dispositivos de clarificação. 32 Considerações finais Como vimos, os contextualistas alegam que atribuições de conhecimento são sensíveis ao contexto, isto é, as condições de verdade para atribuições de conhecimento são determinadas por padrões que variam contextualmente. Essa sensibilidade contextual decorre do fato de que os termos presentes no vocabulário epistêmico como, por exemplo, o termo ‘saber’ é de alguma forma particular sensível ao contexto. Ver LUDLOW, P. Contextualism and the New Linguistic Turn in Epistemology, IN: Preyer, G. and Peters, G. (eds.), Contextualism in Philosophy. Oxford: Oxford University Press. 2005;DEROSE, K. The Case for Contextualism: Knowledge, Skepticism, and Context. Oxford UP, vol. 1, 2009. 31 32 DEROSE, K. The Case for Contextualism: Knowledge, Skepticism, and Context. Oxford UP, vol. 1, 2009, p.182. Capítulo 16 | Página 369 Para demonstrar tal sensibilidade contextual os contextualistas apelam para duas estratégias diferentes. Primeiramente, contextualistas apelam para uma ‘suposta’ analogia existente entre o termo ‘saber’ e certos adjetivos que admitem graus – como ‘alto’, ‘plano’, ‘liso’, ‘vazio’, etc. Assim, da mesma forma que em diferentes situações (ou contextos) adjetivos como ‘alto’ serão avaliados diferentemente – como no caso de considerar ‘alto’ para jogadores de basquete e ‘alto’ para a população em geral – o termo ‘saber’, analogamente, será, em diferentes contextos, avaliado diferentemente. Uma segunda estratégia utilizada pelos contextualistas é alegar que ‘saber’ se comporta analogamente a termos como ‘eu’, ‘aqui, ‘agora’, ou seja, comporta-se como um termo indexical – de acordo com o sentido fornecido por Kaplan, no qual esses termos possuem diferentes valores semânticos relativamente a diferentes contextos. 33 A Crítica feita aos contextualistas é de que, ao contrário do que eles alegam, os dados linguísticos não parecem oferecer o suporte desejado. Pelo contrário, analisando tais bases linguísticas autores como Stanley e Hawthorne sustentam que as bases linguísticas não servem de suporte para demonstrar a sensibilidade contextual dos termos epistêmicos, uma vez que, segundo eles, os termos epistêmicos se comportam de modo distinto. Mas dadas algumas respostas oferecidas pelos contextualistas a tais críticas, bem como respostas oferecidas por autores que não defendem teses Contextualistas, como é o caso de Ludlow, tais críticas não são óbvias e podem ser contrapostas. Assim, qualquer conclusão a ser tirada desta discussão terá de ser provisória, no entanto parece seguro dizer que contextualismo não entra, de nenhuma maneira óbvia, em choque com o que a teoria linguística nos diz sobre a estrutura de atribuições e alegações de conhecimento. Muito claramente, dada à sutileza e complexidade das questões envolvidas, uma maior e mais aprofundada investigação é necessária. Desse modo, embora essas objeções possam levantar alguns questionamentos que diminuam a força e a plausibilidade da tese contextualista, elas estão longe de oferecer uma refutação para o contextualismo. Consequentemente, muito mais ainda pode ser explorado sobre as bases linguísticas que suportam a teoria contextualista. Entretanto, alguns autores que defendem a visão contextualista foram além desse tratamento. Ver Schaffer (SCHAFFER, J. From Contextualism to Contrastivism. Philosophical Studies, 119/1-2: 73-103. 2004) e Ludlow (LUDLOW, P. Contextualism and the New Linguistic Turn in Epistemology, IN: Preyer, G. and Peters, G. (eds.), Contextualism in Philosophy. Oxford: Oxford University Press. 2005). 33 Capítulo 16 | Página 370 Referências CAPPELEN, H; LEPORE. E. Insensitive Semantics, Oxford: Basil Blackwell. 2005. COHEN, S. Contextualism and Skepticism, IN: Sosa E Villanueva (Ed.) Philosophical issues 10, 2000. COHEN, S. Contextualism, Skepticism and the Structure of Reasons. Philosophical Perspectives 13. 1999. COHEN, S. Contextualism and Unhappy-Face Solutions: Reply to Schiffer”, Philosophical Studies, 119:185-97. 2004. COHEN, S. How to be a fallibilist. In: J. Tomberlin (Ed.), Philosophical Perspectives 2, 1988. DEROSE, K. Contextualism and Knowledge Attributions. Philosophy and Phenomenological Research, 52(4): 1992. DEROSE, K. Solving the Skeptical Problem. The Philosophical Review, 104(1), 1-52. 1995. DEROSE, K. The Case for Contextualism: Knowledge, Skepticism, and Context. Oxford UP, vol. 1, 2009. FELDMAN, R. Skeptical problems, contextualist solutions, IN: Philosophical studies, 103, p. 61 – 85. 2001. HAWTHORNE, John. Knowledge and lotteries. Oxford: Clarendon, 2004. KLEIN, P. Contextualism and the real nature of academic skepticism, IN: SOSA, Ernest (Ed.); VILLANUEVA, Enrique (Ed.), p. 108-116. 2000. LEWIS, D. Elusive Knowledge. Australasian Journal of Philosophy, 47, 549–567. 1996. LUDLOW, P. Contextualism and the New Linguistic Turn in Epistemology, IN: Preyer, G. and Peters, G. (eds.), Contextualism in Philosophy. Oxford: Oxford University Press. 2005. RECANATI, F. Pragmatics, In: The Routledge Encyclopedia of Philosophy, 1998. SCHAFFER, J. From Contextualism to Contrastivism. Philosophical Studies, 119/1-2: 73-103. 2004. Capítulo 16 | Página 371 SOSA, E. Skepticism and contextualism, In: SOSA, Ernest; VILLANUEVA, Enrique (Eds.). p. 1-18, 2000. SOSA, E. Relevant alternatives, contextualism included. Philosophical Studies, v. 119 (1-2):35-65. 2004. STANLEY, J. Knowledge and practical interest. New York: Oxford, 2005. YOURGRAU, P. Knowledge and relevant alternatives, IN: Synthese, 55, p. 175-190. 1983. Capítulo 16 | Página 372 COLABORADORES ADRIANO NAVES DE BRITO é doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com estágio de pós-doutorado pela Universidade de Tübingen (Alemanha) e, atualmente, é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) e dirige a Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica (SBFA). Coordena, desde 2007, o grupo “Quíron: ética linguagem e natureza humana”. Em sua pesquisa atual, investiga o Valor, na interseção com o Interesse; a Normatividade, a partir da interação humana e sob a luz do modelo do funcionamento da Linguagem Humana; e a Liberdade, numa perspectiva imanente, naturalizada e evolucionista. AGEMIR BAVARESCO é doutor em Filosofia pela Université Paris I (Pantheon-Sorbonne), com estágio de pós-doutorado na Fordham University. Foi professor visitante na University of Pittsburgh e, atualmente, é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Pesquisa nas áreas de Filosofia Política, Ética, Filosofia Moderna, Teorias da Justiça e Filosofia do Direito. Dedica-se ao trabalho de atualização do tema Democracia e Opinião Pública. AGUSTIN REYES MOREL é doutorando em Filosofia pela Universidade de Valência (Espanha) e professor da Universidad de la República (Uruguai). Atualmente é pesquisador do grupo “Ética, Justiça e Economia” (UdelaR), cujo objetivo principal é investigar a “normatividade ética” e filosofia moral e política”. É membro do comitê científico da Revista “Intuitio” (PUCRS). Dentre seus principais interesses estão a “Autonomia Moral”, as “Capacidades Intersubjetivas” e as “Patologias Sociais”. CÉSAR CANDIOTTO é doutor em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com estágio doutoral na Université Paris XII e no Centre Michel Foucault. É professor adjunto do Curso de Filosofia e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Coordenador do curso de especialização Ética em Perspectiva. Coordena dois projetos de pesquisa na linha de pesquisa de Ética e filosofia política, um pela Fundação Araucária e outro pelo CNPq. Atua principalmente nos seguintes temas: Ética, Política, Vida, Cuidado, Verdade, Sujeito, Biopolítica, Governamentalidade. FLÁVIA CARVALHO CHAGAS é doutora em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) com estágio doutoral na Universidade de Marburg (Alemanha). Atualmente é professora Adjunta do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Tem interesse nos seguintes temas e áreas de pesquisa em filosofia: Fundamentação da Ética, Motivação Moral, Sentimentos e Disposições Morais, Filosofia Transcendental, Ética Moderna e Contemporânea. JANYNE SATTLER é doutora em Filosofia pela Université du Québec à Montréal (Canadá) com estágio pós-doutoral na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Atualmente é professora do Curso de Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria. Atuando especialmente nos temas seguintes: a Ética no primeiro Wittgenstein; a Ética Estóica e Ética das Virtudes; Cosmopolitismo; Literatura e Filosofia. JOÃO HOBUSS é doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) com estágio doutoral na Université de Provence, Aix-Marseille I (França), e estágio de pós-doutorado na Université de Paris I, Panthéon (Sorbonne). Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Pelotas e coordenador do Mestrado em Filosofia da Universidade Federal de Pelotas, área de concentração em Ética e Filosofia Política. Diretor da Coleção Dissertatio de Filosofia e Diretor de Pós-graduação da UFPEL. JOHANES ROHBECK é doutor em Filosofia pela Universidade Livre de Berlim (FU-Berlin). Atualmente é professor sênior do Instituto de Filosofia da Technischen-Universität Dresden (Alemanha), onde é professor de filosofia prática. Editor do Jahrbuch für Didaktik der Philosophie und Ethik, e co-editor da revista Zeitschrift für Didaktik der Philosophie und Ethik. Professor visitante em Messina, Carlisle e Bari. Suas pesquisas concentram-se sobre os temas da Filosofia da História, Filosofia do Aufklärung, Filosofia da Técnica e Didática de Filosofia e Ética. JULIANO SANTOS DO CARMO é doutorando em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e professor substituto da Universidade Federal de Pelotas. Foi editor-gerente da Revista Intuitio e é coordenador do Grupo de Pesquisa “Wittgenstein e o Naturalismo Semântico” (UFPEL). É membro efetivo da Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUCRS (representante discente). Pesquisa autores em Semântica Naturalizada, tais como Ludwig Wittgenstein, Paul Horwich, Ruth Millikan, entre outros. KLEBER CANDIOTTO é doutor em Filosofia pela UFSCar e professor do Programa de Pós-Graduação em filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Atua também na mesma unversidade em diversos cursos de graduação e especialização. Pesquisa autores da filosofia da mente como Searle, Fodor, Dennett, entre outros. LUCIANA SORIA é mestranda em Filosofia pela Universidad de la República Oriental del Uruguay (UdelaR) e realiza estágio na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e é bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Desenvolve sua pesquisa em Filosofia Contemporânea e atua principalmente nos seguintes temas: Democracia Competitiva, Democracia Deliberativa e Patologias Sociais. LUÍS RUBIRA é doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP) com estágio doutoral na Université de Reims Champagne-Ardenne (França). É membro do Grupo de Estudos Nietzsche (GEN), do GT-Nietzsche da ANPOF e do Groupe International de Recherches sur Nietzche (GIRN). Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) e editor da Revista Dissertatio (UFPEL). Suas linhas de pesquisa são “Nietzsche” e “Filosofia Francesa”, tendo como foco os seguintes temas: Moral, Tempo, Valores, Transvaloração e Eterno Retorno. MARCEL NIQUET é doutor em Filosofia pela Universität Frankfurt an Main - Johann Wolfgang Goethe (Alemanha). Atualmente é professor visitante na Universidade Federal do Ceará (UFC) e bolsista CNPq. Sua pesquisa está voltada para a fundamentação de uma Teoria Realista da Moral, atuando principalmente nos seguintes temas: Realismo Normativo, responsabilidade, Crítica, Ética do Discurso, Antropologia e Verdade. NOÊMIA DE SOUZA CHAVES é doutora em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Coordena o Curso de Licenciatura em Filosofia e o Núcleo Docente Estruturante da Faculdade Católica de Rondônia e atua como professora nas seguintes áreas: Filosofia, Ética, Bioética, Antropologia. ROBERTO HOFMEISTER PICH é doutor em Filosofia pela Rheinische Friedrich Wilhelms Universität Bonn (Alemanha), com estágios de pós-doutoramento na Eberhard Karls Universität Tübingen, na Albertus-Magnus-Institut e, também, na University of Notre Dame. Atualmente é professor adjunto da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Membro de corpo editorial de diversas revistas científicas, tais como: Revista Intuitio, Revista Cognitio, Revista Mediaevalia (Porto), Revista Filosófica São Boaventura e Revista Thaumazein. Atua na área de Filosofia, com ênfase em Epistemologia. Atuando principalmente nos seguintes temas: Teologia, Ciência, Fé, Evidência, Certeza e Epistemologia. ROBINSON DOS SANTOS é doutor em Filosofia pela Universität Kassel (Alemanha). Atualmente é professor adjunto no Departamento de Filosofia e no Programa de Pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). É membro de corpo editorial de diversas revistas científicas e editor da Revista Dissertatio (UFPEL). Publicou diversos artigos sobre Kant e Filosofia Política Moderna. Em suas pesquisas e trabalhos recentes ocupa-se com os seguintes temas e autores: antropologia e problemas no âmbito da fundamentação da moral em Rousseau, Hume, Kant, Jonas. TIEGUE RODRIGUES é doutor em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), com estágio doutoral na RUTGERS University-USA. Atualmente é professor visitante na PUCRS, onde também realiza seu estágio pós-doutoral (bolsista PNPD). Faz parte do projeto de pesquisa Filosofia Teórica e Prática vinculado ao Centro Brasileiro de Pesquisas sobre Democracia e é um dos lideres do GP Epistemologia Social (CNPq). Suas pesquisas atuais, bem como suas áreas de interesse estão concentradas nos seguintes tópicos: Epistemologia Analítica, Epistemologia Social, Meta-ética, Filosofia da Linguagem e Filosofia da Mente.
Download