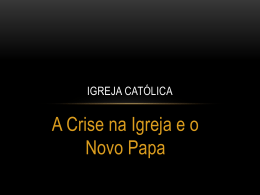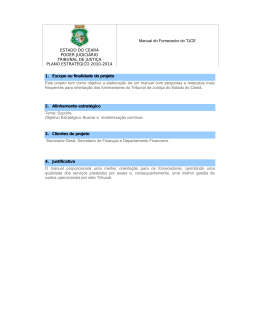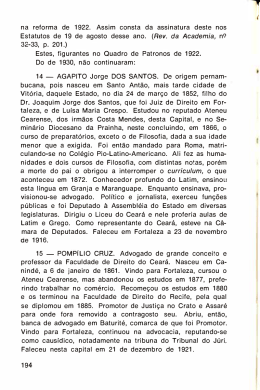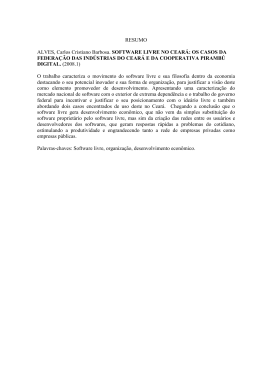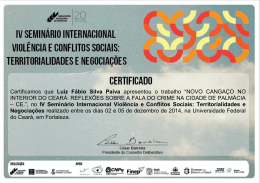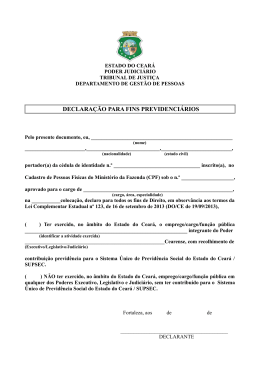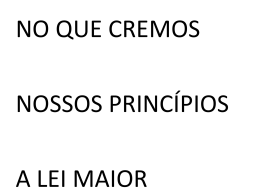PSICANÁLISE
DA FEIJOADA:
ENSAIOS ANTICAPITALISTAS DE
AFRO-RELIGIOSIDADE, LITERATURA
E CULTURA
CHARLES ODEVAN XAVIER
FORTALEZA – DEZEMBRO DE 2011
Dedicado à Odete Xavier
E aos anarco-punks dos squatts do Ceará, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Rio
Grande do Sul.
Agradecimentos:
A Ana Durcila, pela paciência e pelos suportes financeiros.
A Maria de Fátima Geralda Marinho pelo suporte financeiro.
A Rosangela Barroso Oliveira pela força e pelas observações nos meus projetos pessoais.
A Dionísio Nascimento Neto pelos toques sobre espiritualidade.
Ao Pai Miguel Neto de Tranca-Ruas da AEUSM pela oportunidade.
Ao Alexandre K-lango, Ziane e João Felipe pelo companhia nos momentos de angustia.
CHARLES ODEVAN XAVIER
Nasceu em Fortaleza – Ceará e mora no subúrbio da capital cearense.
É graduado em Letras pela UFC e foi matriculado no Mestrado em Literatura Brasileira
pela UFC, do qual cursou 14 créditos e abandonou por não conseguir bolsa da CAPES nem
da FUNCAP; provando que a Universidade Pública ainda é para os poderosos.
Foi voluntário da AEUSM ( Associação Espírita de Umbanda São Miguel).Esta instituição
agrega praticantes de umbanda e cultos de matriz afro-indígena.Lá tentou fazer captação
de recursos para projetos, como a Biblioteca Comunitária Zin Zin (que pretendia reunir o
maior acervo bibliográfico sobre cultura de matriz afrodescendente e indígena do Ceará)
e o Projeto Fanzine O Africanista - que pretendia erradicar os altos índices de
analfabetismo funcional entre a população negra e pobre do Brasil .Mas a Biblioteca não
atraiu o interesse de um Banco do setor financeiro internacional, que tem uma suposta
linha de crédito para ONG's e o chamado Terceiro setor.Na seleção que participamos só
foram contempladas ONG's cristãs, o que comprova preconceito étnico-religioso.
Luta pelo empoderamento da população negra, indígena e pobre do Ceará; em especial,
pelo empoderamento do chamado povo de terreiros.
Poeta, contista, ensaísta, oficineiro, blogueiro, videomaker; quer viver de Literatura ou
ensaísmo cultural.
Possui página de curtas-metragens no www.youtube.com/charlesodevan
E possui dois sites de crítica cultural e criação poética: www.florfutura.jex.com.br e
www.charlesodevanxavier-escritas.blogspot.com
ÍNDICE
Dedicatória
Agradecimentos
Dados do Autor
Biblioteca e Cânone de Umbanda
Concepção de Deus em Diversos Pontos de Vista Filosóficos
Dorival Caymmi e a afro-religiosidade
Os Vissungos, Clementina de Jesus e um pouco de Filologia Negra
O samba ‘macho-man’ de Roberto Silva
A Carta do Povo de Terreiros à Dilma Candidata
O Problema do Destino na Ciência, na Cultura Iorubá e na Astrologia
Etnografia da Sala de Bate-papo de Candomblé
Estratégias de Legitimação em Livros de Umbanda
Kardecismo versus Macumba: O Surgimento da Umbanda e da Quimbanda
Os Tarôs de Orixá no Mercado Editorial Brasileiro
Negros no Ceará
Nordeste (Des)figurado
Nordestinos talhados em madeira e barro
Fotografias do Nordeste
A Arte Pós-moderna
O Cinema Alucinado de Glauber Rocha
O Problema Queer, O Fim do Sistema de Gêneros, Sexualidades
Figuração e identidades pós-modernas no Estorvo de Chico Buarque
Novos proletários, Toyotismo e Rebelião
A Revolta Luddita
Alta voltagem lírica de João Gilberto Noll
Dossiê Guy Debord
Etnografia de um Disque Amizade GLS
Homenagem Mal Feita a Tom Zé
Crítica ao 59º Salão de Abril no Terminal do Siqueira
A Padaria Espiritual Segundo Gleudson Passos
Karl Marx: Dobradiça, Esquizofrenia ou Polifonia?
O Ocultismo segundo Fernando Pessoa
Escrita de Culhões: uma literatura mal educada
O corpo grita e pulsa: a obra da coreógrafa Sílvia Moura
Procura da Poesia: uma anti-receita de fazer poema
O Sertão Polifônico de Euclides da Cunha
Contratos de Leitura
A Literatura Futurista
O Choque Cultural em O Mandarim de Eça de Queirós
Mobilidade e Identidade em O Cortiço
O Metapoema em Drummond
Luzia-homem: Abordagem de Gênero
Provérbios do Inferno: A perversão em William Blake
Paúlismo, Homoerotismo e Metatextualidade em Sá-Carneiro
Bibliografia
BIBLIOTECA E CÂNONE DA UMBANDA
Este estudo pretende analisar o acervo da Biblioteca da Cabana Luz do Congo -situada na Rua
Gonçalves Ledo, 1779 no bairro Piedade em Fortaleza - no sentido de buscar saber quais são os
livros canônicos e quais seriam os livros proscritos da Umbanda, se é que eles existem.
SOBRE O ACERVO
O acervo da Cabana Luz do Congo foi organizado pelo pai de Santo da casa, Francisco Antonio dos
Santos (pai Didi), hoje falecido, no ano de 1968. Parte do acervo foi comprado e outra parte foi
doada ao longo dos anos, segundo informou o filho, Julio Francisco dos Santos, responsável pelo
espólio do pai e pela administração executiva e financeira do Centro.
Seu Júlio informou que não há uma estatística de quantos pessoas utilizaram ou utilizam o acervo
ao longo dos anos, que este tipo de informação se perdeu com a morte do pai. O que ele sabe
informar com absoluta certeza, é de que o acervo atrai mais a atenção de pesquisadores das
Universidades, do que propriamente aos frequentadores e dirigentes da casa. Este dado é grave,
quando pensamos no perfil sócio-econômico dos frequentadores e dirigentes da casa: pessoas
escolarizadas da classe média, funcionários públicos, profissionais liberais, comerciantes e
empresários. Ou seja, os umbandistas cearenses não gostam de ler, pelo menos, na maioria dos
casos.
Diante desse dado perguntei qual era a função de uma biblioteca que não desperta interesse. Seu
Júlio respondeu que a intenção do seu pai ao comprar do próprio bolso, reunir e organizar o
acervo, era a de difundir uma umbanda esotérica iniciática em Fortaleza - corrente da qual a
Cabana Luz do Congo é o único lugar na capital cearense, que professa este tipo de umbanda.
O acervo se divide por assuntos, sendo eles: Umbanda, Quimbanda, Kardecismo, Esoterismo,
Racionalismo Cristão, Pietro Ubaldo, Budismo, História, Rosa Cruz, Filosofia, Chama Sagrada, Yoga,
Diversos e duas prateleiras cheias de livros protestantes e católicos.
É interessante perceber a presença de livros do cânone protestante e católico numa casa de
Umbanda. Pude conferir nas duas prateleiras obras evangélicas da Bible Students Association, dos
Girões e da Casa Publicadora Brasileira, em títulos como as traduções de João Ferreira de Almeida
do Novo Testamento e exegetas como E. G. White; como também, pude conferir títulos de duas
importantes editoras católicas: Vozes e Paulinas.
Tal informação nos leva a supor que Pai Didi queria promover um diálogo inter- religioso, antes
mesmo da moda ecumenista da década de 70 e um debate científico, que houve enquanto o
mesmo dirigiu grupos de estudos, antes de ser vitimado pela velhice e doença.
PARA QUE SERVE UM LIVRO DE UMBANDA?
Muitos poderão perguntar qual é a utilidade de um livro umbandista, como por exemplo, um
amigo da faculdade a me ver com um livro, cuja capa tinha impresso a palavra "umbanda",
perguntou se era um manual de feitiços.
É curioso de que alguém ao ver um indivíduo com a Bíblia Sagrada, não faz a mesma pergunta,
mesmo que o Antigo Testamento tenha uma coleção de feitiços feitos por Moisés para destruir os
povos inimigos.
Assim, somos levados a perceber o caráter eminentemente prático do culto umbandista no
imaginário da população brasileira, pois como mais de uma vez afirmaram certas autoridades do
espiritismo kardecista, a Umbanda seria um mediunismo sem doutrina.
Analisando o acervo da Cabana Luz do Congo, podemos responder parte das perguntas feitas por
leitores que nunca leram livros de Umbanda.
Na obra A Cartilha de Umbanda de Candido Emanuel Felix,publicada no Rio de Janeiro em 1965
pela editora Eco, temos perguntas do tipo: o que é umbanda? Pode-se aceitar Umbanda como
religião? Como definir o médium de incorporação? Como pode o médium trabalhar numa tenda?
Entre outras. Deste modo, um livro de umbanda serve para divulgar aspectos doutrinários e não
apenas limitar-se a conjuntos de descrições de feitiços ou de oferendas e receitas culinárias para
este ou aquele orixá. Ou seja, a Umbanda, contrariando o diagnóstico de espíritas kardecistas
apressados e desinformados, tem doutrina sim.
QUAL O CARÁTER DA “DOUTRINA” UMBANDISTA?
A doutrina umbandista existe e foi reunida por WW da Matta e Silva, em dez livros publicados pela
Editora Freitas Bastos entre os anos das décadas de 60, 70 e 80. E pode ser conferida também nas
obras do pai de santo e médico F. Rivas Neto e do poeta Roger Feraudy.
Entretanto, é bom vermos sobre a visão de que se há uma doutrina padrão umbandista ou não,
nas palavras de Dandara e Zeca Ligiéro em Iniciação à umbanda :
“A Umbanda é uma religião em processo, autoconstruindo-se a partir da sua própria prática
religiosa dentro da dinâmica de uma tradição oral multicultural. A enorme e contraditória bibliografia
de escritores umbandistas apenas atesta a impossibilidade de transformar esse
universo múltiplo,
em algo unívoco estritamente dogmático e doutrinário.”
O leitor mais atento perceberá o caráter mestiço da, vamos chamar, doutrina umbandista, ao
reunir influências afrodescendentes, indígenas, católicas, judaicas, islâmicas, kardecistas, rosacruzes, maçônicas e da Teosofia de Madame Blavatsky. Pois como o culto, a doutrina umbandista é
uma espécie de síntese religiosa de todos os povos que existem na terra. E por ser síntese, ela é
complexa e profunda. Tal fato talvez afastem os leitores umbandistas que - receosos de nada
entenderem ou acabarem confusos com esse cipoal de referências - acabam não lendo as obras
que com tanto esforço Matta e Silva e seus discípulos tentaram sistematizar.
EXISTE UM CÂNONE UMBANDISTA?
Geralmente quando se pensa em livros da tradição cristã a noção de cânone pode vir à baila. Pois
se sabe que os livros canônicos seriam aqueles aceitos e reconhecidos pelas altas hierarquias da
Igreja Cristã. Já os apócrifos ou proscritos seriam aqueles livros que circularam na época de Cristo e
foram - parte deles - descobertos nas cavernas salgadas de Qumram no Mar Morto em 1948. Estes
livros foram e são mal vistos pela Igreja Cristã por revelarem dados e narrativas inconvenientes,
como a suposta personalidade travessa e malvada da infância de Jesus Cristo ou o seu suposto
casamento cheio de filhos com Maria Madalena.
Entretanto, hoje parte da Igreja já sabe conviver com os conteúdos estranhos e extravagantes
desses livros. Tanto que já é possível encontrá-los nas livrarias católicas.
Em se tratando da Umbanda, a noção de cânone teria mais um fundo literário do que
propriamente teológico, pois ao contrário da Igreja Cristã, a Umbanda não dispõe de um clero
organizado e hierarquizado a policiar seus escritores. Assim, os livros do médium WW da Matta e
Silva seriam canônicos no sentido de bem escritos e sistematizados.
Por isso, fica difícil de estabelecer um critério semelhante ao da Igreja Cristã, para tratar de
supostos livros proscritos dentro do universo editorial umbandista.
Entretanto, como venho lendo o acervo da Cabana Luz do Congo desde o ano de 2002, posso falar
não propriamente em livros proscritos, mas em livros toscos e mal escritos em profusão.
São livros com baixa fundamentação teórica, hesitantes e confusos.
Seriam aquelas obras que a partir do índice ou da ausência dele, dedicam-se mais aos aspectos
litúrgicos ou ritualísticos da umbanda, do que propriamente em devassar suas origens e
estabelecer parâmetros doutrinários.
Porém, tudo aqui é novo como sabiamente comentou o ogã da Cabana Luz do Congo. Ele mesmo
nunca tinha parado para pensar na possibilidade de livros proscritos, até pelo fato inegável de que
boa parte dos praticantes de Umbanda não se interessa nem mesmo pelos livros bem feitos.
Assim, para concluir percebemos que nossa investigação apenas começou e partindo da
constatação de que o público leitor umbandista prefere mais, quando se dispõe, a ler pontos
cantados no intuito de decorá-los ou receitas de banhos de descarga, estaremos mexendo não
apenas com problemas de uma comunidade religiosa específica, mas com o terrível hábito
brasileiro de não gostar de ler.
CONCEPÇÃO DE DEUS EM DIVERSOS PONTOS DE VISTA FILOSÓFICOS
DEUS NO TEÍSMO JUDAICO-CRISTÃO
O Conceito de Deus aqui é pessoal. Deus seria uma pessoa que teria os atributos de onipotência (todo
poderoso), onisciência (sabe tudo e sonda todos os corações e pensamentos) e onipresença (ocupa todos
os lugares do universo e do espaço).
Esta concepção de Deus foi enunciada nos cinco primeiros livros da Bíblia Sagrada pelo profeta Moisés.
Como Moisés era um líder tribal patriarcalista, Deus aqui aparece como um estadista implacável,
extremamente autoritário, misógino (basta ver como as mulheres são tratadas na Bíblia), intransigente com
os credos de outros povos (basta ver as passagens bíblicas em que Moisés passa pelo fio da espada até
crianças e velhos de um vilarejo que não cultua o seu Jeová) e intransigente com os homossexuais
masculinos e femininos (basta ver as passagens referentes a destruição de Sodoma e Gomorra),
intransigente com práticas espiritualistas que dispersassem o povo judeu ( astrólogos, adivinhos, feiticeiros
não herdarão o reino dos céus – vide Deuteronômio).
Deus aqui seria o criador do universo e o universo seria sua propriedade, assim como o mundo natural
pertenceria a sua máxima criação: o homem; por isso o homem deveria submeter todos os animais e seres
ao seu comando.
O orientalista Allan W. Watts no ensaio Mitologia Ocidental: Dissolução e Transformação presente no
livro MITOS, SONHOS E RELIGIÃO Nas artes, na filosofia e na vida contemporânea Organizado por
Joseph Campbell, nos ajuda a entender o real cárater do Deus pessoal ocidental:
"A base do senso comum por trás de grande parte das leis e instituições sociais
dos Estados Unidos é uma teoria do universo fundamentada nas antigas monarquias
despóticas do Oriente Próximo. Na verdade, títulos como "Rei dos Reis" e "Senhor de
todos os Senhores" eram típicos dos imperadores persas. Os faraós do Egito e o
legislador Hammurabi forneceram um modelo de pensamento sobre este mundo. Pois a
idéia fundamental subjacente ao imaginário do livro do Gênesis e, conseqüentemente,
das tradições judaica, islâmica e cristã é a de um universo como um sistema de ordem
imposta de cima pela força espiritual, à qual devemos obediência. Essa idéia comporta o
seguinte complexo de subidéias: Que o mundo físico é um artefato. É algo feito, construído. Ademais, implica
a idéia de que é uma criação em cerâmica.
O livro do gênesis diz que o Senhor Deus criou Adão com barro e, tendo feito o
modelo em argila, soprou o sopro da vida em suas narinas e a figura de argila tornou-se
a incorporação de um espírito vivo. Esta é a imagem básica inserida profundamente no
senso comum da maioria dos povos do mundo ocidental. Assim, é natural que uma
criança educada na cultura ocidental pergunte à mãe: "Como foi que me fizeram?"
Achamos muito lógico perguntar: "Como foi que me fizeram?" Mas acho que uma
criança chinesa não faria essa pergunta. Não ocorreria a ela. A criança chinesa poderia
dizer: “como foi que eu cresci?", mas não "Como foi que me fizeram?” no sentido de ter
sido construído, montado, formado por alguma substância básica, inerte e, portanto,
essencialmente boba. Pois quando tomamos a imagem da argila, não esperamos ver a
argila por si só formando um vaso. A argila é passiva. A argila é homogeneizada. Não
tem uma estrutura especial. É uma espécie de grude. Para assumir uma forma inteligível
precisa ser trabalhada por uma força e uma inteligência externas. Assim, temos a
dicotomia da matéria e da forma, que encontramos em Aristóteles e mais tarde na
filosofia de Santo Tomás de Aquino. A matéria é uma espécie de coisa básica que só
toma forma com a intervenção da energia espiritual. Esta tem sido uma questão básica
para todo o nosso pensamento — o problema da relação entre matéria e mente."
DEUS NO TEÍSMO NAGÔ-YORUBANO DO SUL DA NIGÉRIA
O conceito de Deus aqui é pessoal. Deus seria o criador do universo e seria o governante máximo ( oni,
oba), porém não governaria o universo sozinho.Residiria no seu palácio no Orum ( o além, o céu yorubano)
e de lá reuniria de vez em quando os orixás, com os quais divide o reino do universo.Ao contrário do Jeová
de Moisés, Olorum tem um temperamento estável, moderado, calmo.Não interfere no destino dos homens,
pois criou o mundo (o Ayê) mas desgostoso se retirou dele e foi viver no Orum. Para não deixar os homens
desamparados, deixou-os sob proteção dos Orixás. Alguns pesquisadores sustentam a hipótese, de que esse
Olorum excessivamente antropormofizado seria influência das religiões monoteístas e patriarcalistas
(Cristianismo e Islã) no território Yorubá.
Já Ronaldo Senna e Maria José de Souza – Titã no livro A Remissão de Lúcifer: o resgate e a ressignificação
em diferentes contextos afro-brasileiros – Editora UEFS, 2002 apresentam uma versão menos sincrética:
“Oludamaré é a manifestação de tudo o que existe, o universo e todos os seus componentes. A ele
nada
se pede e não é possível contata-lo. É indecifrável, a pronúncia do seu nome deve ser seguida de uma
reverência, tocando-se a terra com os dedos. O espírito primal que sustenta a forma como
elemento da
criação. Pode ser entendido como o arquétipo ou o repositório de todas as formas que dão configuração à
matéria; um símbolo universal da substância” p.84-85
DEUS NO DEÍSMO
Deus aqui aparece apenas como um ser supremo, criador do universo, porém desinteressado com a criação.
Um Deus distante e ausente, que tal como um relojoeiro criou o universo como uma máquina autônoma e
auto-regulada, que funciona sozinha sem sua constante intervenção. Nesta concepção filosófica não faz
sentido o hábito da prece, posto que o universo seja governado por leis fixas, regulares e inexoráveis.
DEUS NO BRAMANISMO
Karen Armstrong no seu livro Em Defesa de Deus: O que a religião realmente significa esclarece como os
hindus lidam com o conceito de Deus:
"No século X a.C., alguns árias se instalaram no subcontinente indiano e deram um novo nome à
realidade suprema. O brahman era o princípio invisível que permitia o crescimento e o
desenvolvimento de todas as coisas. Era um poder mais alto, mais profundo e mais fundamental
que os deuses.Como transcendia as limitações da personalidade, podia ser totalmente inadequado
rezar para ele ou esperar que atendesse às orações. O brahman era a energia sagrada que unia
todos os diversos elementos do mundo e impedia que o cosmos se desintegrasse. Tinha um grau de
realidade infinitamente maior que o dos mortais, cuja vida era limitada pela ignorância, pela
doença, pelo sofrimento e pela morte.Não se pode defini-lo, porque a linguagem se refere
unicamente a seres individuais, e o brahman é "o Todo", é tudo que existe e é o sentido oculto da
existência."
DEUS NO BUDISMO
O Budismo é uma religião atéia. É religião apenas no sentido horizontal: religar os homens e não no sentido
vertical: religar o homem a Deus - ser este que para o Budismo oriental não existe.Os Budistas são religiosos
no sentido que cultuam valores éticos como: compaixão, bondade, não matar nenhum ser vivo, não roubar
e não usar drogas ou substâncias que embotem a mente.
DEUS EM SIGMUND FREUD
O Criador da Psicanálise aborda o fenômeno religioso em várias de suas obras. Freud era judeu, porém não
religioso.Em O Futuro de uma ilusão ele concebe Deus como uma ilusão, fruto do desejo infantil do ser
humano de ver na natureza a projeção de um pai. Na ânsia de se ver desamparado e desprotegido o ser
humano teria criado Deus para reconfortá-lo nas horas de perigo e tribulação.
DEUS NO ATEÍSMO DE MIKHAIL BAKUNIN
O anarquista russo - na sua obra Deus e o Estado – extremamente iconoclasta concebe Deus como um
tirano, opressor, que se existisse precisaria ser abolido.
DEUS EM MIRCEA ELIADE
Na obra do historiador romeno Mircea Eliade a Religião aparece como o numinoso. O universo seria
numinoso ou sagrado.E segundo ele, o espiritualista tende a sacralizar o universo, enquanto o materialista
tende a profaná-lo. O filósofo francês Michel Onfray em seu Tratado de Ateologia fornece um esquema
interessante para entender a questão. Segundo ele, o materialista afirma: -sou feito de átomos, enquanto o
espiritualista afirma: - sou feito de alma
DEUS EM RICHARD DAWKINS
Richard Dawkins, o ilustre biólogo evolucionista, é tido pela crítica como líder do movimento neo-ateísta e é
autor da obra Deus, um Delírio – Tradução de Fernanda Ravagnani – São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
Na obra de 520 páginas, Dawkins afirma categoricamente que além de Deus não existir, a religião é nociva à
humanidade, por ser geradora de guerras, ataques terroristas e outras insustentabilidades.Segundo ele,
ninguém precisa de Deus para ter princípios morais, para fazer o bem, para apreciar a natureza.O livro
propõe o orgulho ateu, assim como existe o orgulho gay.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Feito originalmente para ser discutido numa oficina de afro-religiosidade este breve estudo não teve a
intenção de esgotar o assunto. Reconhece que muitas concepções ficaram de fora como a de Spinoza, a de
Marx, a de Nietzsche, de Debord a e a de Jung, entre outros (a lista é quase interminável na história da
Filosofia).
A minha concepção atual é de que não há um Deus pessoal, mas há o sagrado, o numinoso. Talvez minha
concepção tente juntar elementos dos cultos de matriz afrodescendente com a espiritualidade naturalizada
de Robert C. Solomon no seu Espiritualidade para Céticos: Paixão, verdade cósmica e racionalidade no
século XXI – Tradução Maria Luiza X. A. Borges – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
Quem sou eu para provar que Deus existe ou deixa de existir? Que cada um faça suas pesquisas e tire suas
conclusões.
DORIVAL CAYMMI E A AFRO-RELIGIOSIDADE
Este estudo visa analisar a obra do compositor e cantor baiano Dorival Caymmi e suas relações com a afroreligiosidade.
Dorival Caymmi compôs inspirado pelos hábitos, costumes e as tradições do povo baiano. Tendo como forte
influência a música negra, desenvolveu um estilo pessoal de compor e cantar, demonstrando
espontaneidade nos versos, sensualidade e riqueza melódica. Morreu em 16 de agosto de 2008, aos 94
anos, em casa, às seis horas da manhã, por conta de insuficiência renal e falência múltipla dos órgãos em
consequência de um câncer renal que possuía há 9 anos.. Permanecia em internação domiciliar desde
dezembro de 2007. Poeta popular, compôs obras como Saudade de Bahia, Samba da minha Terra, Doralice,
Marina, Modinha para Gabriela, Maracangalha, Saudade de Itapuã, O Dengo que a Nega Tem, Rosa
Morena.
Caymmi era descendente de italianos pelo lado paterno, as gerações da Bahia começaram com o seu bisavô,
que chegou ao Brasil para trabalhar no reparo do Elevador Lacerda e cujo nome era grafado Caimmi. Ainda
criança, iniciou sua atividade como músico, ouvindo parentes ao piano. Seu pai era funcionário público e
músico amador, tocava, além de piano, violão e bandolim. A mãe, dona de casa, mestiça de portugueses e
africanos, cantava apenas no lar. Ouvindo o fonógrafo e depois a vitrola, cresceu sua vontade de compor.
Cantava, ainda menino, em um coro de igreja, como baixo-cantante. Com treze anos, interrompe os estudos
e começa a trabalhar em uma redação de jornal O Imparcial, como auxiliar. Com o fechamento do jornal,
em 1929, torna-se vendedor de bebidas. Em 1930 escreveu sua primeira música: No Sertão e aos vinte anos
estreou como cantor e violonista em programas da Rádio Clube da Bahia. Já em 1935, passou a apresentar
o musical Caymmi e Suas Canções Praieiras. Com 22 anos, venceu, como compositor, o concurso de músicas
de carnaval com o samba A Bahia também dá. Gilberto Martins, um diretor da Rádio Clube da Bahia, o
incentiva a seguir uma carreira no sul do país. Em abril de 1938, aos 23 anos, Dorival, viaja de ita (navio que
cruza o norte até o sul do Brasil) para cidade do Rio de Janeiro, para conseguir um emprego como jornalista
e realizar o curso preparatório de Direito. Com a ajuda de parentes e amigos, fez alguns pequenos trabalhos
na imprensa, exercendo a profissão no jornal Diários Associados, ainda assim, continuava a compor e a
cantar. Conheceu, nessa época, Carlos Lacerda e Samuel Wainer..
Foi apresentado ao diretor da Rádio Tupi, e, em 24 de junho de 1938, estreou na rádio cantando duas
composições, embora ainda sem contrato. Saiu-se bem como calouro e iniciou a cantar dois dias por
semana, além de participar do programa Dragão da Rua Larga. Neste programa, interpretou O Que é Que a
Baiana Tem, composta em 1938. Com a canção, fez com que Carmen Miranda tivesse uma carreira no
exterior, a partir do filme Banana da Terra, de 1938. Sua obra invoca principalmente a tragédia de negros e
pescadores da Bahia: O Mar, História de Pescadores, É Doce Morrer no Mar, A Jangada Voltou Só, Canoeiro,
Pescaria, entre outras. Filho de santo de Mãe Menininha do Gantois, para quem escreveu em 1972 a canção
em sua homenagem: Oração de Mãe Menininha gravado por grandes nomes como Gal Costa e Maria
Bethânia.
Nas composições de Caymmi (Maracangalha - 1956; Saudade de Bahia - 1957), a Bahia surge como um
local exótico com um discurso típico que estabelecera-se nas primeiras décadas do século XX. Referências à
cultura africana, à comida, às danças, à roupa, e, principalmente à religião. Com a Primeira Guerra Mundial,
um lundu de autoria anônima, com o nome de A Farofa, trata não tão somente do conflito como também
de dendê e vatapá, na canção O Vatapá. O compositor José Luís de Moraes, chamado Caninha, utilizou,
ainda em 1921, o vocábulo 'balangandã', no samba Quem vem atrás fecha a porta. A culinária baiana foi
consagrada no maxixe Cristo nasceu na Bahia, lançado em 1926. No final da década de 1920, é associado à
Bahia a mulher que ginga, rebola, requebra, remexe e mexe as cadeiras quando está sambando, o que
surpreende na linguística, tendo em vista que o autor não era nativo do Brasil. O primeiro grande sucesso O
que é que a baiana tem? cantada por Carmen Miranda em 1939 não só marca o começo da carreira
internacional da Pequena Notável vestida de baiana, mas influenciou também a música popular dentro do
Brasil, tornou-se conhecida a ponto de ser imitada e parodiada, como no choro O que é que tem a baiana
de Pedro Caetano e Joel de Almeida ou na canção A baiana diz que tem de Raul Torres. Apesar das
produções anteriores, as composições de Caymmi são as mais lembradas sobre a cultura baiana.
Na composição A Jangada voltou só vemos o componente místico e católico do povo baiano:
“A jangada saiu
Com Chico Ferreira e Bento
A jangada voltou só
Com certeza foi lá fora, algum pé de vento
A jangada voltou só...
Chico era o boi do rancho
Nas festa de Natar
Chico era o boi do rancho
Nas festa de Natá
Não se ensaiava o rancho
Sem com Chico se contá
E agora que não tem Chico
Que graça é que pode ter
Se Chico foi na jangada...
E a jangada voltou só... a jangada saiu
Com Chico Ferreira e Bento
A jangada voltou só
Com certeza foi lá fora, algum pé de vento
A jangada voltou só...
Bento cantando modas
Muita figura fez
Bento tinha bom peito
E pra cantar não tinha vez
As moça de Jaguaripe
Choraram de fazê dó
Seu Bento foi na jangada
E a jangada voltou só “
Na composição A Lenda do Abaeté o cantor e compositor baiano fala de um lugar assombrado:
“No Abaeté tem uma lagoa escura
Arrodeada de areia branca
Ô de areia branca
Ô de areia branca
De manhã cedo
Se uma lavadeira
Vai lavar roupa no Abaeté
Vai se benzendo
Porque diz que ouve
Ouve a zoada
Do batucajé
O pescador
Deixa que seu filhinho
Tome jangada
Faça o que quisé
Mas dá pancada se o seu filhinho brinca
Perto da Lagoa do Abaeté
Do Abaeté
A noite tá que é um dia
Diz alguém olhando a lua
Pela praia as criancinhas
Brincam à luz do luar
O luar prateia tudo
Coqueiral, areia e mar
A gente imagina quanta a lagoa linda é
A lua se enamorando
Nas águas do Abaeté
Credo, Cruz
Te desconjuro
Quem falou de Abaeté
No Abaeté tem uma lagoa escura”
O Batucaje é uma referência ao candomblé, que os habitantes do lugarejo acreditavam ter no fundo da
lagoa.
Na composição Dois de Fevereiro Caymmi deixa patente sua filiação religiosa ao candomblé baiano:
“Dia dois de fevereiro
Dia de festa no mar
Eu quero ser o primeiro
A saudar Iemanjá
Dia dois de fevereiro
Dia de festa no mar
Eu quero ser o primeiro
A saudar Iemanjá
Escrevi um bilhete a ela Pedindo pra ela me ajudar
Ela então me respondeu
Que eu tivesse paciência de esperar
O presente que eu mandei pra ela
De cravos e rosas vingou
Chegou, chegou, chegou
Afinal que o dia dela chegou
Chegou, chegou, chegou
Afinal que o dia dela chegou”
Nesta composição Caymmi, assim como boa parte do fervoroso povo baiano, demonstra sua confiança na
Rainha do mar.
E na composição Rainha do Mar Caymmi revela o que pensa e sabe sobre Yemanjá:
“Minha sereia é rainha do mar
Minha sereia é rainha do mar
O canto dela faz admirar
O canto dela faz admirar
Minha sereia é a moça bonita
Minha sereia é a moça bonita
Nas ondas do mar aonde ela habita
Nas ondas do mar aonde ela habita
Ai, tem dó de ver o meu penar
Ai, tem dó de ver o meu penar”
E sempre há um sentimento de rogar um pedido a deidade aquática, mostrando como o povo negro e
pobre é carente no campo material, não tendo muito para quem apelar.
Caymmi também falou das baianas na sua obra, como se vê na composição No tabuleiro da baiana:
“No tabuleiro da Baiana tem
Vatapá, Carurú, Mungunzá tem Ungu pra io io
Se eu pedir você me da
o seu coração,seu amor de ia ia
No coração da Baiana também tem
Sedução, cangerê, ilusão, candomblé
Pra você
Juro por Deus,pelo senhor do Bonfim
quero você Baianinha inteirinha pra mim
E depois o que será de nós dois?
Seu amor é tão Fulgás enganador
Tudo já fiz, fui até no canjerê
Pra ser feliz, meus trapinhos juntar com você
E depois vai ser mais uma ilusão
no amor que governa o coração”
Mostrando a preferência do compositor pela gente simples da Bahia.
Caymmi também cantou com perfeição a beleza da mulher negra, na composição A Preta do Acarajé:
“Dez horas da noite
Na rua deserta
A preta mercando
Parece um lamento
Ê o abará
Na sua gamela
Tem molho e cheiroso
Pimenta da costa
Tem ac arajé
Ô acarajé é cor
Ô la lá io
Vem benzer
Tá quentinho
Todo mundo gosta de acarajé
O trabalho que dá pra fazer que é
Todo mundo gosta de acarajé
Todo mundo gosta de abará
Ninguém quer saber o trabalho que dá
Todo mundo gosta de acarajé
O trabalho que dá pra fazer que é
Todo mundo gosta de acarajé
Todo mundo gosta de abará
Ninguém quer saber o trabalho que dá
Todo mundo gosta de abará
Todo mundo gosta de acarajé
Dez horas da noite
Na rua deserta
Quanto mais distante
Mais triste o lamento
Ê o abará”
A ligação de Caymmi com os cultos afros é realçada nas composições em que fala das comidas votivas dos
orixás negros, como em Vatapá:
“Quem quiser vatapá, ô
Que procure fazer
Primeiro o fubá
Depois o dendê
Procure uma nêga baiana, ô
Que saiba mexer
Que saiba mexer
Que saiba mexer
Procure uma nêga baiana, ô
Que saiba mexer
Que saiba mexer
Que saiba mexer
Bota castanha de caju
Um bocadinho mais
Pimenta malagueta
Um bocadinho mais
Bota castanha de caju
Um bocadinho mais
Pimenta malagueta
Um bocadinho mais
Amendoim, camarão, rala um coco
Na hora de machucar
Sal com gengibre e cebola, iaiá
Na hora de temperar
Não para de mexer, ô
Que é pra não embolar
Panela no fogo
Não deixa queimar
Com qualquer dez mil réis e uma nêga ô
Se faz um vatapá
Se faz um vatapá
Que bom vatapá
Bota castanha de caju
Um bocadinho mais
Pimenta malagueta
Um bocadinho mais
Bota castanha de caju
Um bocadinho mais
Pimenta malagueta
Um bocadinho mais
Amendoim, camarão, rala um coco
Na hora de machucar
Sal com gengibre e cebola”
Ou em Acaçá:
“Acaçá de milho bem-feito
E o jeito?
E o modo dela mercar?
Sorrindo com dentes alvos
A bata caindo do ombro
Caindo pro peito
Acaçá de milho bem-feito
E o jeito?
E o modo dela mercar?
Bem-feito é o acaçá de leite
Bem-feito é o acaçá
Bem-feito é o corpinho dela
Bem-feito como acaçá”
As duas composições a rigor para os desavisados parecem singelas receitas culinárias, quando na verdade
revelam todo o fundamento do rito dos orixás.
Caymmi falou do céu na perspectiva da umbanda em Aruanda de Geraldo Vandré e Carlos Lyra:
“Vai, vai, vai pra Aruanda
Vem, vem, vem de Luanda
Deixa tudo o que é triste
Vai, vai, vai, vai pra Aruanda
Lá não tem mais tristeza
Vai que tudo é beleza
Ouve essa voz que te chama
Vai, vai, vai”
Caymmi definiu a capital da Bahia em São Salvador:
“São Salvador, Bahia de São Salvador
A terra de Nosso Senhor
Pedaço de terra que é meu
São Salvador, Bahia de São Salvador
A terra do branco mulato
A terra do preto doutor
São Salvador, Bahia de São Salvador
A terra do Nosso Senhor
Do Nosso Senhor do Bonfim
Oh Bahia, Bahia cidade de São Salvador
Bahia oh, Bahia, Bahia cidade de São Salvador”
O Senhor do Bonfim citado na música representa o curioso sincretismo do povo baiano, pois o povo entra
na Igreja católica pensando que está lidando com Cristo, enquanto nos terreiros dão oferendas para o orixá
Oxalá, o ancião da cultura iorubá.
E na composição Oração a Mãe Menininha Caymmi refere-se a sua filiação ao axè do Gantois:
“Ai! Minha mãe
Minha mãe Menininha
Ai! Minha mãe
Menininha do Gantoise
A estrela mais linda, hein
Tá no gantoise
E o sol mais brilhante, hein
Tá no gantoise
A beleza do mundo, hein
Tá no gantoise
E a mão da doçura, hein
Tá no gantoise
O consolo da gente, ai
Tá no gantoise
E a Oxum mais bonita hein
Tá no gantoise
Olorum quem mandou essa filha de Oxum
Tomar conta da gente e de tudo cuidar
Olorum quem mandou eô ora iê iê ô”
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo é um convite para que os leitores conheçam a obra de Dorival Caymmi.Uma obra marcada pelo
suor dos pescadores baianos e pelos aromas apetitosos da negras baianas.
OS VISSUNGOS, CLEMENTINA DE JESUS E UM POUCO DE FILOLOGIA NEGRA
Este estudo visa analisar o gênero musical ‘vissungo’ e sua relação com a obra da sambista carioca
Clementina de Jesus.Para tanto nos baseamos no Suplemento Literário de Minas Gerais “Cantos
Afrodescendentes: Vissungos” publicado em BELO HORIZONTE, OUTUBRO DE 2008. EDIÇÃO ESPECIAL.
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DE MINAS GERAIS.
Também pesquisamos o verbete ‘Clementina de Jesus’ no site Wikipédia, como também consultamos os
sites: “Samba & Choro” e “Brazilianmusic.com”.
DEFINIÇÃO DE VISSUNGO
“Os vissungos estão quase desaparecendo. Estão morrendo os poucos que sabiam. Os moços que aprenderam por
necessidade ou por curiosidade vão se esquecendo.’ – assim já nos alertava Aires da Mata Machado Filho, por volta de
1938, quando terminava o manuscrito de seu estudo intitulado ‘ O negro e o garimpo em Minas Gerais.”
Camila Diniz
Os Vissungos são segundo a poeta e pesquisadora Sônia Queiroz:
“(...)cantigas em língua africana ouvidas outrora nos serviços de mineração”, foram identificados
pelo
pesquisador Aires da Mata Machado Filho em 1928 nos povoados de São João da Chapada e
Quartel do Indaiá, no
município de Diamantina, em Minas Gerais.”
E aprofunda a definição:
“Entre 1939 e 1940, Aires publicou em capítulos, na importante Revista do Arquivo Municipal, de
São
Paulo, o resultado de sua pesquisa sobre esses cantos de tradição banto: 65 cantigas, com
“letra, música
e tradução, ou antes fundamento’”, além de dois glossários da “língua banguela” –
um deles extraído dos
cantos e o outro, do linguajar local; e ainda 8 capítulos de estudo sobre a
cultura afro-brasileira no
contexto do trabalho da mineração de diamantes. A primeira edição em
livro saiu em 1943 pela José
Olympio, na coleção Documentos Brasileiros, ao lado de títulos da
maior relevância, como os clássicos
Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, e Casa grande e
senzala, de Gilberto Freyre. Outra
marca do prestígio dessa edição: conforme nota no verso da folha
de rosto, “foram tirados, fora do
comércio, vinte exemplares em papel Vergé, numerados e assinados pelo autor”. A segunda edição foi
publicada pela também prestigiosa Civilização
Brasileira, em 1964. Em 1985, a Itatiaia, a mais antiga
editora mineira, publicou com a edusp, na coleção Reconquista do Brasil, uma edição que (agora sem a
parceria da edusp) ainda se encontra
no mercado.”
E como o filólogo Aires da Mata Machado Filho classificava os Vissungos?
“Segundo Aires da Mata Machado Filho, “dividem-se os vissungos em boiado, que é o solo, tirado
pelo
mestre sem acompanhamento nenhum, e o dobrado, que é a resposta dos outros em coro, às vezes com
acompanhamento de ruídos feitos com os próprios instrumentos usados na tarefa”. No capítulo 9, os
vissungos foram agrupados em: padre-nossos, cantos da manhã (ou: ao nascer do
dia), canto do meiodia, cantigas de multa, cantigas de caminho, cantigas de rede e de caminho, pedindo licença para cantar,
gabando qualidades (talvez equivalente
banto do oriki da tradição iorubá), cantos de negro enfeitiçado, cantiga de ninar, canto do
companheiro
manhoso e, ainda, um grupo de cantigas diversas.”
Há uma conotação religiosa nos Vissungos?
“Alguns vissungos “parecem cantos religiosos adaptados à ocasião”, talvez pelo esquecimento de
seu significado original, observa o pesquisador. Mas outros conservam seu sentido místico-religioso:
“Há cantigas especiais para conduzir defuntos a cemitérios distantes” (das quais ele recolheu três
exemplos) e há cantigas, como os padrenossos, usadas na mineração e também nas cerimônias de
levantamento do mastro, nas festas religiosas.”
É um vissungo mineiro uma forma de ‘work song’ parecida com o ‘spirituals’ e o blues negro americano? De
uma certa maneira sim, como podemos ver no estudo da poeta e pesquisadora Sônia Queiroz:
“No capítulo 8, dedicado ao estudo das cantigas, Aires ressalta “a necessidade universal de
trabalhar cantando”. E associa à prática dos negros de São João da Chapada e Quartel do Indaiá os
cantos das colheitas de uvas em Portugal, das fiandeiras, dos capinadores de roça e dos mutirões.
“Muito interessante era a multa. Quando alguma pessoa chegava à lavra, era logo multada pelos
mineradores, com uma cantiga apropriada”: pediam alguma coisa ao recém-chegado. “Uma vez
satisfeito o pedido, seguia-se à multa o agradecimento com danças, ritmo de carumbés e enxadas”.
E qual a relação da sambista carioca Clementina de Jesus com os Vissungos?
“Com o desenvolvimento das tecnologias de gravação sonora na segunda metade do século XX,
catorze dos 65 vissungos escritos pelo Prof. Aires foram gravados, em 1982, nas vozes de
Clementina de Jesus, Doca e Geraldo Filme, no LP O canto dos escravos, da Eldorado. Nessa
gravação, hoje disponível em CD, percebe-se uma leitura nagô-iorubá dos cantos de tradição banto.
Segundo o musicólogo José Jorge de Carvalho, em Um panorama da música afro-brasileira, “a base
rítmica escolhida não repetiu o padrão rítmico original, mas usou um tipo de ritmos binários
generalizados de umbanda, tais como o barravento, que ouvimos em casas de umbanda, macumba
e jurema por todo o país”. Cerca de quinze anos depois, em Minas Gerais, o músico Gil Amâncio e
o poeta e músico Ricardo Aleixo incluíram um desses catorze vissungos no espetáculo e CD
Quilombos urbanos: Muriquinho piquinino, o canto 62 do livro de Aires. Também na releitura dos
Quilombos urbanos, os tambores não choram como pede o coro, mas se aceleram num ritmo que
deságua no carnavalesco de Maracangalha, canção que se segue ao vissungo, em pot-pourri, na
mesma faixa do CD.”
Através da argumentação de Sônia Queiroz percebemos o quanto é difícil resgatar gêneros musicais quase
esquecidos.
E atualmente há algum grupo musical que trabalhe parte desse repertório cultural e musical?
“Ao final da década de 90, a Associação Cultural Cachuera! gravou, na voz de Ivo Silvério da Rocha,
contramestre do Catopê de Milho Verde (distrito do Serro), três “cantos para carregar defuntos em
redes”, que constituem a primeira faixa do CD Congado Mineiro, lançado pela Itaú Cultural, na série
Documentos Sonoros Brasileiros. Juntamente com as gravações que constituem as faixas 12 a 17 do
CD Festa do Rosário – Serro, lançado por Caxi Rajão em 2002, esses são os únicos registros sonoros
dos Catopês de Milho Verde, grupo que mantém vivos ainda hoje, em seu repertório ritual, alguns
desses cantos da tradição banto.”
E qual a importância do catopê do Milho Verde?
“Dentre os membros do catopê de Milho Verde, a pesquisadora Lúcia Valéria Nascimento, que
investigou a sobrevivência dos vissungos na região de Diamantina e Serrro no início do século XXI,
identificou, além do contramestre, outro cantador proficiente: Antônio Crispim Verísssimo, que
demonstrava ainda algum conhecimento ativo da “língua banguela” ou “língua d’Angola”, como a
designavam os falantes à época dos registros feitos por Aires da Mata Machado Filho. É notável a
força do canto e da dança na preservação do patrimônio lingüístico e cultural. Em outras palavras:
desaparecido o ritual dos funerais feitos a pé e o trabalho coletivo, as festas religiosas de
cronograma fixo especialmente a festa de N. S. do Rosário) passam a desempenhar um papel
essencial na preservação dos cantos de tradição africana em Minas.”
E há algum interesse atual na preservação desse patrimônio histórico?
“O interesse na preservação desse patrimônio histórico e cultural brasileiro e o reconhecimento do
papel relevante da Arte nesse processo têm levado alguns artistas e pesquisadores a desenvolver
estratégias de valorização e revitalização das línguas e culturas africanas que foram vivas em Minas
no período da mineração, reduzindo-se a vestígios esparsos a partir sobretudo do século XX. O
Festival de Inverno da UFMG tem se constituído num espaço de experiências poéticas transculturais
que contemplam a cultura afro-brasileira: em 2002, reuniram-se em Diamantina os dois cantadores
de vissungos do Serro e o grupo Tambolelê, de Belo Horizonte – constituído por músicos negros que
trabalham com a poética afro-brasileira – numa proposta de criação coletiva integrando tradição e
experimentação, que resultou no espetáculo Macuco Canengue, apresentado no adro da igreja do
Rosário, em Diamantina; e no documentário de mesmo título, produzido pelo antropólogo e
videomaker Pedro Guimarães, e mostrado ao grande público em Belo Horizonte, no Centro Cultural
Tambolelê e na sala Humberto Mauro, no Palácio das Artes, e no largo da igreja do Rosário, no
encerramento do 4º Encontro Cultural de Milho Verde, distrito do Serro; em 2004, foi realizada uma
oficina de transcriação de vissungos, articulada a outra, de Etnomusicologia, com a participação dos
dois cantadores de Milho Verde e de estudantes angolanos falantes de quimbundo e umbundo –
línguas banto faladas em Angola que estão na base desses cantos afro-brasileiros; em 2008, nos 40
anos do Festival de Inverno da UFMG, os vissungos foram tema da instalação montada pelo Núcleo
Avançado de Criação Intermidiático, que reuniu profissionais das cinco artes envolvidas.”
A DIMENSÃO LINGUÍSTICA DOS VISSUNGOS
Os Vissungos são cânticos filiados a tradição lingüística bantófone.E sobre essa tradição a etnolingüista Yeda
Pessoa de Castro diz:
“Nos anos 70, porém, inicia-se uma nova fase nos estudos afro-brasileiros com a redescoberta da
importância do mundo banto e de suas recriações no Brasil, então revelados através da
descentralização da pesquisa da cidade de Salvador que, na África, foi estendida da região
iorubá nagô do Golfo do Benin ao Congo e Angola. Seus resultados foram analisados na tese de
doutoramento que defendemos na Universidade Nacional do Zaire em 1976 e recentemente se
encontram no livro Falares africanos na Bahia, publicado em 2001, já em segunda tiragem em 2005.
Naquele ano, o Centro de Estudos Afro- Orientais da Bahia, através de intercâmbio com a
Universidade Nacional do Zaire, inaugura o ensino de línguas do grupo banto no Brasil com o curso
de quicongo ministrado pelo professor congolês Nlandu Ntotila. Em 1980, e por dez anos, esse
curso ficou sob a responsabilidade docente de um de seus alunos, Tata Raimundo Pires, que era
membro da comunidade religiosa de tradição congo-angola. Atualmente esse curso é oferecido pelo
ACBANTU, entidade afro-baiana dedicada aos estudos das tradições do mundo banto no Brasil.”
Qual a dimensão demográfica da tradição bantófone? A lingüista afirma:
“Levando em consideração que a língua viva de um povo é o testemunho mais antigo da história
desse povo, os dados obtidos no domínio da língua, da religião e das tradições orais no Brasil
revelaram a presença banto como a mais antiga e superior em número e em distribuição geográfica
no território brasileiro por mais de três séculos consecutivos. Testemunho deste fato é a
antroponímia de Palmares no século XVII, Ganga Zumba, Zumbi, Dandara, sua toponímia, Dembo,
Macaco, Osengo, Cafuxi, e o vocabulário associado à escravidão, tais como: quilombo, senzala,
mocambo, libambo, bangüê,mucama. Ao final desse mesmo século é publicada, em Lisboa, A arte
da língua de Angola, uma gramática do quimbundo escrita na Bahia pelo missionário Pedro Dias
com a finalidade de fornecer subsídios para a catequese do grande contingente negro-africano que
se encontrava naquela cidade sem falar português. No domínio da religião, predominam os
vocábulos de origem banto para nomear práticas diferentes de matriz negro-africana e os locais
onde se realizam. No Brasil, a mais antiga de que se tem notícia é calundu, registrada no século XVII
na poesia satírica de Gregório de Matos e descrita, no século seguinte, em 1728, por Nuno Pereira
em O peregrino das Américas. Entre as mais conhecidas estão candomblé, umbanda, catimbó e
macumba. Por sua vez, a importância histórica do Reino do Congo se reflete nos autos populares
denominados congos e congadas, onde a figura do Manicongo (senhor do Congo) é sempre
lembrada em versos como Cabinda velha chegou / e rei do Congo falou. A mesma lembrança se
registra para a Rainha Jinga ou Nzinga, do antigo Reino de Matamba, em Angola atual.”
A tradição bantófone influenciou de alguma maneira a cultura brasileira?
“A antigüidade dessa presença favorecida pelo número superior do elemento banto na composição
demográfica do Brasil colonial, tanto quanto por sua concentração em zonas rurais, isoladas e
naturalmente conservadoras, onde o recurso de liberdade era a fuga para os quilombos, foram
importantes fatores de ordem sócio-histórica que tornaram a participação banto tão extensa e
penetrante na configuração da cultura e da língua representativas do Brasil que aportes de matriz
banto, como o samba e a capoeira, terminaram integrados ao patrimônio nacional como símbolos
de brasilidade.”
E quais seriam os exemplos de sobrevivência bantófone na nossa cultura?
“Ainda hoje há registro de falares isolados em comunidades rurais, provavelmente vestígios de
antigos quilombos, que preservam um sistema lexical banto, a exemplo da linguagem do Cafundó
em São Paulo (cf. Vogt e Fry, 1996), do negro da costa em Tabatinga, Minas Gerais (cf. Queiroz,
1998) e nos vissungos recolhidos por Aires da Mata Machado Filho em São João da Chapada e mais
recentemente por Lúcia Nascimento no município de Serro, também em Minas Gerais (cf. Machado
Filho, 1964; Nascimento, 2002). Importante notar que se trata de falares de base portuguesa
lexicalizados por línguas do grupo banto, assinalando-se, no entanto, a evidência de lexemas da
zona lingüística R, na classificação de Guthrie, onde o umbundo, falado em Benguela, no Centro-Sul
de Angola, é majoritário.”
E para a etnolinguista Yeda Pessoa de Castro o que representa os vissungos?
“os vissungos são identificados pelos seus falantes como língua banguela. Em seu vocabulário
predominam substantivos prefixados pela vogal o-, um antigo demonstrativo que os bantuístas
chamam de aumento, entre eles, o umbundo onjo, casa, mas que ocorre com o termo quimbundo
njo na conhecida brincadeira infantil brasileira dos escravos de jó (os escravos domésticos) que
jogavam caxangá (cf. Pessoa de Castro, 2007). A própria denominação vissungo corresponde ao
substantivo umbundo ovisungo, plural de ocisungo, que significa louvores e ocorre geralmente na
expressão imba ovisungo, cantar, louvar, exaltar (cf. Daniel, 2002, s/v.).”
E como a etnolinguista entende o processo de influência dos falares africanos na língua portuguesa?
“Quanto ao influxo de línguas africanas no português do Brasil, sem dúvida, a parte dos falares de
base banto foi a mais significativa no processo de configuração das diferenças que afastaram o
português do Brasil da sua matriz falada em Portugal. À medida que a profundeza sincrônica revela
uma antiguidade diacrônica, essa influência torna-se mais evidente pelo grande número de palavras
do banto completamente integradas ao sistema lingüístico do português e de derivados
portugueses formados de uma mesma raiz banto por meio de prefixos ou sufixos, tais como em
nleeke, menino, jovem, que derivou em moleque,e depois amolecar, molequinho, molecote. Em
outros casos, o lexema banto chega a substituir completamente a palavra portuguesa
equivalente, como caçula por benjamim,corcunda por giba, moringa por bilha, marimbondo por
vespa, cochilar por dormitar, bunda por traseiro.”
E como ela vê o processo de “iorubacentrização” dos estudos negros brasileiros?
“Sendo assim, embora seja verdadeiro que esse processo de africanização se deva em grande parte
à extensão e ocupação territorial, densidade demográfica e antiguidade do povo banto em
território colonial brasileiro, não se deve chegar ao extremo de querer “bantuizar” o Brasil como
forma de contrapor o “iorubacentrismo” que tem prevalecido nos estudos afro-brasileiros. Uma
correta interpretação das culturas negro-africanas, de seus códigos, seu conseqüente resgate do
âmbito meramente folclórico ou lúdico, sua valorização e adequada difusão permitirão que o
avanço do entendimento da parte do legado banto para a formação e sentido do Brasil passe a ser
visível e explícito, revertendo os estereótipos vigentes em nossa academia. Além do mais, o estudo
lingüístico desses falares afro-brasileiros, apoiado pelas informações históricas existentes sobre o
período do tráfico transatlântico, trazem subsídios importantes para a configuração do mapa
etnolingüístico africano do Brasil. Aqui está a prova do que nos dizem os vissungos sobre a presença
dos ovimbundos, povo originário de territórios do antigo reino de Benguela, em terras de Minas
Gerais.”
BREVE PANORAMA DA OBRA DE CLEMENTINA DE JESUS
A sambista carioca Clementina de Jesus nasceu em Valença em 7 de Feveiro de 1901 e morreu em Rio de
Janeiro em 1987 aos 86 anos.Também era conhecida como Tina ou Quelé.
Nascida na comunidade do Carambita, bairro da periferia de Valença, no sul do Rio de Janeiro, mudou-se
com a família para a capital aos oito anos de idade, radicando-se no bairro de Osvaldo Cruz. Lá acompanhou
de perto o surgimento e desenvolvimento da escola de samba Portela, frequentando desde cedo as rodas
de samba da região. Em 1940 casou-se e mudou para a Mangueira. Trabalhou como doméstica por mais de
20 anos, até ser "descoberta" pelo compositor Hermínio Bello de Carvalho em 1963, que a levou para
participar do show Rosa de Ouro, que rodou algumas das capitais mais importantes do Brasil e virou disco
pela Odeon, incluindo, entre outros, o jongo Benguelê. Devota da Igreja de Nossa Senhora da Glória do
Outeiro, participava de festas das igrejas da Penha e de São Jorge, cantando canções de romaria.
Considerada rainha do partido alto, com seu timbre de voz inconfundível, foi homenageada por Elton
Medeiros com o partido Clementina, Cadê Você? e foi cantada por Clara Nunes com o P.C.J, Partido
Clementina de Jesus, em 1977, de autoria do compositor da Portela Candeia.
Além deste gênero gravou corimás, jongos, cantos de trabalho etc., recuperando a memória da conexão
afro-brasileira. Em 1968, com a produção de Hermínio Bello de Carvalho, registrou o histórico LP Gente da
Antiga ao lado de Pixinguinha e João da Baiana. Gravou cinco discos solo (dois com o título Clementina de
Jesus,Clementina, Cadê Você? e Marinheiro Só) e fez diversas participações, como nos discos Rosa de Ouro,
Cantos de Escravos, Clementina e convidados e Milagre dos Peixes, de Milton Nascimento, em que
interpretou a faixa Escravos de Jó. Em 1983 foi homenageada por um espetáculo no Teatro Municipal do Rio
de Janeiro, com a participação de Paulinho da Viola, João Nogueira, Elizeth Cardoso e outros nomes do
samba.
Rainha Ginga. Quelé. Duas maneiras de chamar Clementina de Jesus, com a imponência do título de realeza
e com a corruptela carinhosa de seu nome. Clementina evocava tais sentimentos aparentemente
contraditórios. A ternura e o profundo respeito.
A ternura de negra velha sorridente. Todos com quem se envolvia tinham a compulsão de chamá-la Mãe,
como a chamavam os músicos do musical Rosa de Ouro. Uma pessoa capaz de interromper um depoimento
dado à televisão para discutir sobre o café com a moça que o servia. Um brilho especial nos olhos que
cativou desde os mais humildes ao imperador Haile Selassié. Talvez por ter trabalhado tantos anos como
empregada doméstica e ter começado a carreira artística aos 63 anos, descoberta pelo poeta Hermínio
Bello de Carvalho, nunca tratava de forma diferente devido à posição social.
O respeito ao peso ancestral de sua voz: uma África que estava diluída em nossa cultura é evocada
subitamente na voz e nos cânticos que Clementina aprendeu com sua mãe, filha de escravos. Clementina
surgiu como o elo perdido entre a moderna cultura negra brasileira e a África Mãe.
Clementina causou uma fascinação em boa parte da MPB. Artistas tão diferentes como João Bosco, Milton
Nascimento e Alceu Valença fizeram questão de registrar sua voz em seus álbuns. Apesar disso Clementina
nunca foi um grande sucesso em vendagem de discos. Talvez por ter gravado quase que somente temas
folclóricos, ou por sua voz não obedecer aos padrões estéticos tradicionais. O que realmente
impressionavaeram suas aparições no palco, onde tinha um contato direto com seu público.
Clementina, mesmo tendo iniciado tardiamente sua vida artística e com uma curta carreira, é sem dúvida
uma das mais importantes artistas brasileiras. Faleceu em função de um derrame na Vila Santo André Inhaúma - Rio de Janeiro, em 19 de julho de 1987 e apesar disso, hoje em dia apenas o disco Clementina e
Convidados existe em catálogo.
Discografia:
Discos-solo
• 1966 - Clementina de Jesus (Odeon MOFB 3463)
• 1970 - Clementina, cadê você? (MIS 013)
• 1973 - Marinheiro Só (Odeon SMOFB 3087)
• 1976 - Clementina de Jesus - convidado especial: Carlos Cachaça (EMI-Odeon SMOFB 3899)
• 1979 - Clementina e convidados (EMI-Odeon 064 422846)
Participações
• 1965 - Rosa de Ouro - Clementina de Jesus, Araci Cortes e Conjunto Rosa de Ouro (Odeon MOFB 3430)
• 1967 - Rosa de Ouro nº 2 - Clementina de Jesus, Araci Cortes e Conjunto Rosa de Ouro (Odeon MOFB
3494)
• 1968 - Gente da Antiga - Pixinguinha, Clementina de Jesus e João da Baiana (Odeon MOFB 3527)
• 1968 - Mudando de Conversa - Cyro Monteiro, Nora Ney, Clementina de Jesus e Conjunto Rosa de Ouro
(Odeon MOFB 3534)
• 1968 - Fala Mangueira! - Carlos Cachaça, Cartola, Clementina de Jesus, Nélson Cavaquinho e Odete
Amaral (Odeon MOFB 3568)
Coletâneas
• 1999 - Raízes do Samba - Clementina de Jesus (EMI 522659-2)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não foi objetivo deste estudo substituir a consulta à obra do filólogo Aires da Mata Machado Filho “O Negro
e o garimpo em Minas Gerais” nem substituir a escuta do CD “O Canto dos Escravos” de Clementina de
Jesus, Doca e Geraldo Filme da Gravadora Eldorado.Mas ser um convite para que o leitor conheça essas
obras e mergulhe na riqueza da contribuição musical e linguistica do povo negro brasileiro.
O SAMBA ‘MACHO-MAN’ DE ROBERTO SILVA
Este estudo é uma análise da obra do sambista carioca Roberto Silva. E foi inteiramente baseado numa
coletânea segmentada lançada pela Gravadora EMI, cujo título é “Raízes do Samba – Roberto Silva”.
Tal projeto de coletânea foi coordenada por Sonia Antunes e Maurício Dias. E o repertório foi uma seleção
de Carlos Savalla.
Roberto Silva não é compositor, mas intérprete de sambas urbanos. Pelo menos se compôs algo na vida,
Carlos Savalla deixou de fora da coletânea ou talvez se quer foi gravado no seu potente vozeirão.
Roberto Silva é um sambista nonagenário da velha guarda e que na capa da coletânea revela como seu
imaginário está ligado à boêmia carioca, já que na capa o sambista aparece numa foto vestido socialmente
(como diziam os mais antigos : vestido decentemente). Na foto tirada provavelmente na meia idade – quem
sabe até mais moço, o problema é que esses homens de antigamente se vestiam com tanta formalidade e
solenidade, que a roupa acabava os envelhecendo nas fotos – Roberto Silva posa tendo o bonde e o Arco da
Lapa por trás.
O sambista de Risoleta (Raul Marques/Moacyr Bernardino) começou a gravar na década de 60 e a maioria
dos sambas da coletânea citada são setentistas.Mas mesmo tendo gravado nos anos 60, o samba de
Roberto Silva tem um sabor nostálgico e um cheiro ligeiramente envelhecido.Talvez isso se dê pelo fato do
intérprete ter escolhido compositores das década iniciais do século XX.Ou por uma certa fixação nos anos
40 e 50.Época em que a música popular brasileira é conhecida pelo povão como “música de dor de
cotovelo”, ou, mais pejorativamente, o povão se refere a esse período musical como “música de corno”.
Quais são as temáticas cantadas pelo sambista carioca? Roberto Silva escolheu cantar os males e dores do
amor. Nelas há muito espaço para desilusões, desencontros amorosos ou conquistas do tipo machão
galanteador.
A obra interpretada por Roberto Silva exibe um painel do velho macho latino ocidental, mas com um
quesito peculiar que o diferencia de um Nelson Gonçalves ou um Francisco Alves: o fato de ser um negro
pobre e trabalhador, lidando com negras ou mulatas malvadas – A Mulher que eu gosto (Ciro de
Souza/Wilson Batista) e a endiabrada Risoleta.
Roberto Silva em sua época foi um dos poucos negros que conseguiu atingir o público branco pelo enorme
potencial de sua voz. E também porque cantava aquilo que os machões brancos queriam ouvir.
E se o leitor quer provas do machismo de Roberto Silva, que tal esses versos dos compositores Haroldo
Lobo e Wilson Batista, “Emília”:
“Eu quero uma mulher/que saiba lavar e cozinhar/que de manhã cedo me acorde na hora de
trabalhar/Só existe uma e sem ela eu não vivo em paz: Emília/Emília/Emília/Não Posso
mais/Ninguém sabe igual a ela/Preparar meu café/Não desfazendo das outras:/Emília é
mulher/Papai do Céu é quem sabe/A falta que ela me faz/Emília/Emília/Emília/ Não Posso mais”.
Os leitores podem retrucar dizendo que o machismo não é dele, mas dos compositores.Isso seria uma
forma de tangenciar o machismo do intérprete.De tangenciar o intangenciável.É claro que se sou intérprete
eu canto aquilo com que concordo ou afino ideologicamente.Jamais a cantora gospel Aline Barros cantaria
um ponto de umbanda ou um hardcore anticapitalista anarquista.
Assim, não só nessa faixa “Emília” como em outras o sambista exibe todo o seu machismo de fundo
patriarcal. Mas isso diminui sua obra enquanto artista? Aí entramos numa seara muito complexa. Há
excelentes artistas que foram reacionários em política e ideologia, como por exemplo o poeta americano
Ezra Pound e o contista argentino Jorge Luis Borges.
Não podemos deixar de reconhecer que mesmo gravando na década de 70, pelo menos 10 ou 15 anos
depois das explosões dos movimentos feministas da década hippie, Roberto Silva poderia ter escolhido
gravar sambistas mais esquerdizados e arejados como Paulinho da Viola, Wilson Moreira e Nei Lopes.
Se não optou só uma pesquisa mais profunda na biografia do intérprete daria conta de explicar o “porque”
desse machismo tão anacrônico e démodé. Não podemos esquecer que o intérprete gravou nos anos da
ditadura militar e o patriarcalismo era incentivado vívidamente pelos militares, como o é até hoje pelas
forças armadas.
ROBERTO SILVA E OS CULTOS AFROS
O sambista como bom carioca também gravou uma música reveladora de sua ligação com os cultos afros.
Senão vejamos o que pensar desses versos de “Pisei num Despacho”(Geraldo Pereira/Elpídio Vianna):
“Desde o dia que passei/numa esquina/e pisei num despacho/entro no samba/meu corpo tá
duro/bem que procuro a cadência/e não acho/meu samba e meu verso/não fazem sucesso/há
sempre um porém com a gafieira/fico a noite inteira/ no fim não dou sorte com ninguém/mas eu
vou num canto/vou num pai de santo/pedir qualquer dia/que me dê uns passes/uns banhos de
ervas/e uma guia/está aqui um endereço/um senhor que eu conheço/me deu há três dias/o mais
velho é batata/ diz tudo nas atas/ é uma casa em Caxias”
Na composição que não é de Roberto Silva, não se sabe claramente que tipo de culto o personagem vai se
consultar. Não conseguimos saber textualmente se está falando da umbanda, da quimbanda ou do
candomblé.Mas como se trata do Rio de Janeiro há uma grande probabilidade que os compositores estejam
se referindo a uma casa de umbanda, que é um culto tipicamente carioca que se espalhou para o resto do
país e sofrendo adaptações onde chegou pelo País.Tanto que aqui no Ceará, que majoritariamente cultua o
catimbó, depois de um certo tempo os catimbozeiros passaram a usar o termo umbanda como uma
tentativa de assustar menos os fregueses e vizinhos. Já que na variedade dialetal cearense “catimbó” quer
dizer feitiçaria, magia negra pesada.
A obra do cineasta Roberto Moura Tia Ciata e a Pequena África no Rio de Janeiro – 2ª edição – Rio de
Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Dep. Geral de Doc. e Inf. Cultural, Divisão de Editoração, 1995 – é
um excelente roteiro para se entender como se deu o surgimento da umbanda carioca no contato com
babalorixás e yalorixás vindas da diáspora baiana. Vale a pena ser lida, pois é uma obra que esmiúça bem os
aspectos religiosos, políticos,antropológicos e musicais daquele período.
Mas e quanto ao samba “Pisei num Despacho”? Bem. Despacho é um termo muito próprio da umbanda ou
macumba carioca pré-umbandista (Não podemos esquecer que a umbanda surgiu somente nos anos 10 do
século XX). Anteriormente a isso os descendentes de escravos cariocas já se reuniam subterrânea e
marginalmente num culto mágico conhecido como macumba. Se os compositores fossem ligados ao
candomblé teriam usado o termo ebó, o que acaba automaticamente filiando a canção ao imaginário
mesmo da umbanda.Nela se cruzam dois universos: o secular, o profano(freqüentar cabarés e gafieiras) e o
sagrado (freqüentar pai de santo), como é típico das populações pobres brasileiras.O personagem resolve
procurar o sagrado apenas porque começa a se dar mal no campo do profano.Ou como dizem os moralistas
kardecistas: o homem nunca procura o espiritual pelo amor, mas pela dor.O personagem espera do pai de
santo uma terapêutica que já deve ter usado anteriormente e tido bons resultados(tomar uns passes, um
banho de ervas e usar uma guia preparada), se não tivesse dado certo com certeza o personagem da canção
não buscaria este tipo de recurso, o que talvez sinalize que ele funcione.Aliás, qualquer atenção dada por
um homem ou mulher mais velhos sempre funciona.E na música a senioridade do pai de santo é realçada e
valorizada, como acontece no continente africano e é reproduzido também nos ‘locus’ religiosos da
diáspora negra.
Mas para dizer mais coisas eu deveria ser carioca, afinal tendo ido ao Rio de Janeiro uma única vez na vida,
não dá para analisar com propriedade se essa faixa revela mesmo um jeito carioca de ser ou se falha em
alguma coisa. A minha suposição é de Pisei num Despacho não só define bem essa “carioquicidade” que eu
conheço na prática superficialmente - quando fui no Rio fiquei apenas 10 dias lá e muito dentro de onde
estava sendo realizado um evento estudantil universitário, eu por exemplo não conheci a “noite boêmia”
carioca – mas define muito bem a chamada brasilidade. E a peculiaridade do chamado “jeitinho brasileiro”
tem muito a ver com essa constante sensação de viver na corda bamba ou no fio da navalha.Pois o Brasil é
um país pobre em termos de distribuição de renda e riquíssimo em termos de renda concentrada.Assim, a
experiência de ser brasileiro passa quase sempre pela escassez material e pela enorme criatividade
espiritual. É quando se faz perceber um Estado ausente no atendimento da penúria dos mais pobres e
presente apenas na criminalização de quando esses mais pobres se organizam e também numa iniciativa
privada mesquinha e elitista, que define o jeito brasileiro de ser e pertencer.
Roberto Silva representa muito bem o imaginário masculino, negro e pobre do Brasil de uma certa época,
que talvez ainda sobreviva com força na roda de conversas de velhos aposentados jogando cartas, dominó e
“porrinha”. O trabalho do sambista merece ser ouvido, a voz dele é potente, os arranjos são interessantes e
são uma forma de mergulhar na história negra brasileira.
A CARTA DO POVO DE TERREIROS À DILMA CANDIDATA
“Se apetece ao PT/ter poder”
Tom Zé em “Jardim da Política” no ano de 1985
Este texto pretende analisar a Carta do Povo Tradicional de Terreiros endereçada a ainda candidata Dilma
Russeff, datada de 18 de Outubro de 2010, Brasília.
No começo da carta o enunciador avisa que a carta é fruto de consulta a lideranças nacionais do Povo
Tradicional de Terreiros e que o objetivo da mesma é expressar o sentimento dominante do Povo
Tradicional de Terreiro, ainda que o enunciador reconheça que a mesma não seja um consenso.
O enunciador diz:
“Inegavelmente sua candidatura à presidência da República é o que
há de mais seguro para o Povo Tradicional de Terreiro.”
Embora o texto não cite, talvez o enunciador estivesse se referindo indiretamente à candidatura da
evangélica Marina Silva.
No terceiro parágrafo o enunciador situa o Povo Tradicional de Terreiro em relação à candidatura de Dilma
Russeff:
“Nosso Povo de Terreiro efetivamente se movimentou no primeiro turno a seu favor, mas sem
receber nenhum apóio oficial dos comitês responsáveis por sua campanha; em poucas cidades
especialmente nas capitais, esse processo se deu de forma diferenciada, mas o que predominou
foram situação como a de Manaus, o material de divulgação voltado a População Negra só chegou
as mãos das lideranças de Terreiro três dias antes da votação, um completo e total descaso para
conosco.”
E a partir da alfinetada nos organizadores da campanha da então candidata do Partido dos Trabalhadores, o
enunciador revela a baixa auto-estima histórica da população negra do Brasil.
O enunciador compara o uso midiático que a campanha fez junto ao segmento católico e evangélico e ao
segmento do Povo Tradicional de Terreiros:
“Vimos com muita preocupação que nos últimos dias um esforço concentrado de sua coordenação
de campanha, em mudar a imagem negativa forjada junto aos cristãos católicos e, principalmente,
evangélicos. Também observamos com pesar que durante toda a campanha do primeiro turno os
seus encontros com as comunidades evangélicas e católicas ganharam grande espaço junto à mídia.
Se o mesmo tipo de encontro se deu junto ao Povo de Terreiro no primeiro turno ou agora no
segundo, isso se fez de forma muito tímida, sem nenhuma divulgação ou destaque. É corrente o
pensamento de que um encontro da senhora conosco lhe tiraria votos de evangélicos radicais.”
O enunciador emite o seu parecer sobre um encontro apenas com lideranças evangélicas da então
candidata:
“O seu recente encontro com pastores evangélicos no nosso entendimento foi um infeliz episódio.
Com toda a certeza seu compromisso com o grupo lhe renderá votos, mas com toda a certeza lhe
fez perder muitos votos do Povo Tradicional de Terreiro, do Movimento LGBT católicos e a sociedade
em geral por conta de ter sido um encontro com apenas e tão somente com evangélicos.”
Assim, o Enunciador situa o Povo Tradicional de Terreiros com outro segmento populacional também
discriminado na nossa cultura: os LGBTT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transgêneros).
E o enunciador conclui o resultado lógico de tal estratégia da direção da campanha da candidata Dilma
Russeff:
“O resultado de tal iniciativa foi um significativo e crescente número de manifestações via internet
conclamando a população a votar em branco ou no seu opositor. Manifestações essas que
respeitamos enquanto direito de livre manifestação, mas não concordamos.”
O enunciador emite o seu parecer sobre o conceito de Estado Laico:
“Acreditamos na sua proposta de um Estado laico. Temos presente pelo seu histórico pessoal e
político que, se eleita, a senhora se empenhará na execução dessa demanda social.”
O enunciador emite o seu parecer sobre a inclinação de Dilma a ceder sob a pressão dos setores
evangélicos em relação à questão do Aborto e da Parceria Civil entre pessoas do mesmo sexo:
“A partir do momento em que a candidata assinalou pactuar com o pensamento dos pastores
evangélicos, em questões altamente delicadas como o aborto e a parceria civil, nos preocupa o
empoderamento que seu ato proporcionou as religiões hebraico-cristãs especialmente o
seguimento neopetencostal, em detrimento das demais religiões.”
O enunciador emite o seu parecer sobre os mecanismos mafiosos do segmento evangélico:
“Em todo o Brasil é tido como fato concreto que os religiosos evangélicos jogaram a eleição
presidencial para o segundo turno, que a candidata do governo, já considerada eleita, teve que se
curvar diante do poder e ditames dos pastores evangélicos para poder garantir a eleição. Pelo que
até o momento pudemos vir de sua conduta pessoal esse deve ter sido um momento
extremamente difícil na sua história de vida.”
E o enunciador esmiúça um pouco mais a forma de atuação da máfia evangélica:
“Admitimos que o grupo evangélico está cumprindo, muitíssimo bem, o objetivo de chegar ao
poder; estão organizados social e politicamente, os currais eleitorais garantem o voto de cabresto
em nome de Jesus e das penas do inferno para quem não seguir as diretrizes dos pastores. A
significativa bancada federal de evangélicos no Congresso Nacional lhe obriga a dialogar
politicamente com o grupo como um todo, a fazer concessões e a pactuar.
As caminhadas, marchas e encontros com milhares de fiéis evangélicos são manifestações
incontestes de força e poder. Força e poder conquistado com substancial ajuda dos governos
passados e atuais. A prova maior disso é que a cada dia surgem denúncias e mais denúncias junto
aos Tribunais de Contas de Municípios, Estado e União de repasse de verbas, convênios e parcerias
de governos municipais, estaduais e federal com o seguimento evangélico que não foram
cumpridos e ou foram usados de forma indevida, criminosa até.”
O enunciador fala do potencial eleitoral do Povo Tradicional de Terreiro:
“Em contra posição qual é o potencial de voto do Povo de Terreiro?
Com certeza somos milhões, mas não dispomos da mesma estrutura que dispõem os evangélicos.
Não nos foi possível criar hegemonia por conta do preconceito e racismo institucional. Foi graças ao
Governo Lula que o Povo Tradicional de Terreiro passou a ser tratado com alguma distinção, mas as
ações estruturantes do governo federal ainda não chegaram até nós como deviam. A grande
maioria ficou fora, não consegue escrever projetos na linguagem oficial do governo, faltou
investimento na capacitação de nosso Povo.”
Dessa forma, o enunciador reconhece a precariedade do Protagonismo político do Povo Tradicional de
Terreiros.E o que é pior atribui ao Estado à culpa por essa pobreza política no sentido que fala a obra de
Pedro Demo.
O enunciador emite o seu parecer sobre um possível impasse eleitoral para o Povo Tradicional de Terreiros:
“Todo esse quadro acima descrito aumentou nossa apreensão e dificultou a busca de votos no meio
do Povo Tradicional de Terreiro, temos ouvido argumentos de que em sendo a senhora eleita, isso
decerto, alavancará o prestígio dos evangélicos junto a população bem como junto ao próprio
governo. O que para as demais religiões restantes seria extremamente danoso, haja vista o
processo de intolerância vigente no país.
Há poucos dias da eleição entendemos que seria difícil articular uma única reunião da Senhora com
lideranças religiosas nacionais do Povo Tradicional de Terreiro; entendemos que nesse momento
precisamos lhe blindar. Qualquer movimento poderá ser mal interpretado.”
O enunciador faz um balanço da chamada “Era PT” para a população negra brasileira:
“Nosso apóio a sua candidatura é fato concreto, acreditamos que a Senhora é a melhor opção de
continuidade das ações afirmativas do governo federal que deram a População Negra o que lhe foi
secularmente negado desde a chegada do primeiro negro escravo ao Brasil, entre as que mais se
destacam está a criação da SEPPIR, a Saúde Integral da População Negra, a Lei 10.639 e o polêmico
Estatuto da Igualdade Racial que não é o que nós quereríamos, mas que é um ponto de partida para
novas conquistas.”
O enunciador da carta propõe uma plataforma caso a candidata seja a eleita:
“Como estamos tratando de Política que reflete o desejo do Coletivo há alguns aspectos que
precisam ser pactuados entre o Povo Tradicional de Terreiro e seu futuro governo.
Com base em tudo o que acima destacamos queremos pactuar com a Senhora o que abaixo segue:
1 – Após as eleições, onde a senhora com a ajuda dos Vòdún’s, Nkices, Òrisá’s, Encantados,
Caboclos, Catiços e Exús será vitoriosa, um encontro dos representantes nacionais do Povo
Tradicional de Terreiro e a presidente eleita.
2 – Que seja firmado o pacto interreligioso e a presidente eleita de uma maior ênfase na proposta
da promoção do Estado laico e do tratamento equânime às religiões como um todo.
3 – A realização da Primeira Conferência Nacional da Equanimidade Religiosa com ampla
participação dos vários segmentos religiosos existentes no país.
4 – Encaminhar ao Congresso Nacional o Plano Nacional Contra a Intolerância Religiosa
5 – A continuidade, ampliação e Efetivação do mapeamento do Povo Tradicional de Terreiro no
âmbito dos Estados, de forma censitária, identificando as matrizes culturais.
6 – A revisão do Estatuto da Igualdade Racial onde seja ouvida a População Negra e suas
demandas.”
Nessa altura da análise começamos a perceber o que é valorizado pelo Povo Tradicional de Terreiros a
saber: interreligiosidade, laicidade, equanimidade religiosa e combate a intolerância religiosa, ou seja, tudo
aquilo que o Pastor Silas Malafaia odeia. Além disso os signatários da carta parecem não terem receio
político nenhum do povo negro ser mapeado e rastreado pelo Estado.
A carta teve vários signatários.Entre eles citaríamos o primeiro que deve ser do culto da nação Djedje: Dr.
Alberto Jorge Rodrigues da Silva - Vodunsi Re Rohsovi - Que é responsável pela Coordenação Amazônica da
Religião de Matriz Africana e Ameríndia – Carma e também representante da Federação Nacional da
Religião de Matriz Afro-brasileira – FENAREMA.
Mas também não poderíamos deixar de destacar que, entre números representantes de diversos
segmentos afro-brasileiros, a carta contou com o apoio do Sindicato dos Psicólogos do Amazonas e da
Federação Nacional dos Psicólogos (entidade filiada à CUT).Sendo assim tal apoio funciona como uma
espécie de legitimação científica aos credos afro-brasileiros, algo como dissesse que ir para macumba faz
bem a mente.
Quais são os problemas que identificamos nessa carta? Vamos a eles.O que fica patente é que o Povo
Tradicional de Terreiros sempre foi subserviente à Política, ao Estado burguês.E basta lembrar nos tempos
da ditadura militar no Ceará, a relação promíscua de pais de santo umbandistas com a Luiza Távora(do
finado PDS) uma relação de subserviêcia política sem dúvida.Como se o povo de santo não pudesse
caminhar com as próprias pernas e precisasse dos favores clientelistas dos políticos, criando uma relação de
dependência totalmente nociva.
Se o povo de santo fosse realmente organizado deveria lutar não por se integrar a lógica da máquina
governamental, mas de prescindir da mesma.
“Povo organizado, luta sem partido e vive sem estado”
Diz a palavra de ordem anarquista.E eu concordo com isso.
Como esperar um verdadeiro protagonismo político enquanto se espera por tutelas
governamentais? Será a população negra tão eternamente coitadinha e vitimizada a depender
sempre dos favores do sistema governamental? Não poderá nunca essa mesma população lutar
com suas próprias forças?
Entretanto, reconheço que se vivemos num sistema capitalista mediado por taxas e pagamentos
de impostos compulsórios, temos de saber o que acontece com o erário público. E saber que esse
erário pode parar nas mãos da máfia evangélica é realmente preocupante.E nisso me solidarizo
com os signatários da carta.
Mas é extremamente incômoda essa grau de expectativa e ansiedade em relação ao PT.E eu vou
explicar por que, embora eu seja um pouco suspeito porque eu já fui filiado a esse partido e fiz
parte do grupo político Democracia Socialista, da qual a Prefeita de Fortaleza Luiziane Lins fez ou
faz parte (digo isso porque como me afastei desse grupo, não sei dizer se o mesmo ainda existe
com esse nome e seguindo o paradigma do mandelismo ou se o grupo se reconfigurou
politicamente ou se fundiu a outras correntes do PT, realmente não sei informar isso).O que sei
informar é que já em 2000 rompi com o PT porque queria algo mais radical e fui parar no campo
da chamada esquerda não-oficial.Se o meu nome ainda estiver oficialmente nos arquivos do
partido não sei dizer, já que não me importei nem em rasgar a ficha de filiação
partidária.Simplesmente me afastei e pronto.
Nós anarquistas temos um parecer contrário à Política institucional, pois como diziam os ativistas
da Internacional Situacionista no Maio Francês: “Política é subalternidade.Escolher política é
estupidez!”. Desse modo, o anarquista é livre para não comparecer no dia da eleição ou votar nulo.
Mas pode dependendo da conjuntura escolher votar num candidato menos ruim e vou explicar
quando isso aconteceu e o motivo.
Num dos pleitos eleitorais franceses, havia uma grande probabilidade de ser eleito o representante
da extrema direita, Jospein. Assim, alguns anarquistas franceses que já conheciam os horrores das
prisões francesas , resolveram votar no candidato da esquerda burguesa da época.
Sendo assim, devo confessar que depois que me tornei anarquista nunca mais fiz campanha para
nenhum candidato, mas só votei nulo no primeiro turno da primeira eleição vitoriosa de Lula.De lá
para cá tem sempre havido no pleito presidencial ou no pleito municipal uma polarização entre a
extrema direita e a esquerda burguesa.Como tenho receio de um “facho” (fascista) no poder, seja
ele Geraldo Alckmin ou Moroni Torgan, acabo mesmo sem fazer campanha, votando na
candidatura da esquerda burguesa.Desse modo, em 2004 eu votei em Luiziane Lins e voltei a votar
nela novamente em 2008.Pois temia ver a cidade governada por um xerife evangélico e
homofóbico, que tem na fetichização da questão da segurança pública o seu carro chefe
ideológico-partidário.
Em 2010, eu votei mas não fiz campanha para Dilma Rosseff e cheguei até a falar nisso para os
meus decepcionados amigos anarco-punks.Não me agradava de jeito nenhum ver um José Serra,
ligado aos setores mais conservadores e reacionários do momento, governando o país e
prendendo ou criminalizando barbaramente ativistas anarquistas.Ainda que essas criminalizações
também ocorram dentro da denominada “Era PT” só que sem a mesma intensidade.Além disso, o
tal do José Serra contou com o apoio do mega empresário evangélico, Silas Malafaia.Sim, o
conhecido Malafaia que gosta de humilhar homossexuais e outras minorias sexuais identitárias nas
suas pregações midiáticas com tom zangado e histérico.
Não posso exigir do Povo Tradicional de Terreiros uma guinada anti-estatista ou anticapitalista
radical. Já que a maioria dos líderes desse segmento populacional se vêem como prestadores de
serviços religiosos e não como lideranças comunitárias.Se houvesse uma consciência da inegável
dimensão política de um Ilê, de um Nzo ou de um Terreiro eu poderia esperar mais coisa, mas
como essas pessoas se vêm apenas como empresas concorrentes no nem sempre civilizado
mercado religioso (conferir a obra do sociólogo Reginaldo Prandi),é de se esperar isso mesmo: uma
vontade danada de ser tutelado seja lá por quem for, seja um governo de direita ou de esquerda.
Embora os signatários da carta usem a categoria ‘empoderamento’, o que menos acontece na
prática é isso.Ocorre justamente o contrário: cada vez mais a sociedade civil desempoderada e o
Estado e as instituições burguesas cada vez mais poderosas.
Eu poderia aprofundar um pouco mais o que penso da chamada “Era PT” iniciada em 2002 e
continuada em 2011 por Dilma Russeff.Mas vou só dar umas pinceladas.Desde 2002 que não
espero muito coisa do Partido dos Trabalhadores e isso ficou muito claro quando o Lula fez aliança
com Edir Macedo e sua empresa Universal e teve como vice um burguês da marca do José
Alencar.Naquele momento para mim ficou selado os rumos burgueses do PT, que como diz a
música do Tom Zé sempre quis poder seja ao lado de quem fosse.
O PT no poder beneficiou os banqueiros e penalizou o funcionalismo público federal. O PT no
poder tem o T de Transgênico, já que o paradigma agrícola do Partido é a segurança alimentar a
qualquer custo, ainda que signifique um custo ambiental.O PT no poder não combateu o “agrobusiness” e nem a prática da monocultura – visivelmente responsáveis pelo envenenamento e
empobrecimento dos solos.O PT no poder tem uma enorme simpatia por mega-projetos
estruturantes que podem penalizar vilas de pescadores, aldeias quilombolas, povos indígenas,
comunidades ribeirinhas como a Transposição do Rio São Francisco, as Hidrovias, as Hidroelétricas,
as Siderúrgicas, as Refinarias e principalmente o poluidor Pré-Sal, a menina dos olhos do governo
Dilma Russeff.
Eu poderia continuar a lista, mas aí fugiria um pouco do tema e cansaria o leitor que já entendeu
claramente onde quero chegar
O PROBLEMA DO DESTINO NA CIÊNCIA, NA CULTURA IORUBÁ E NA ASTROLOGIA
“DESTINO (gr. £ÍLIAPLIÉVR|; lat. Fatum; in. Destiny,
fr. Destin; ai. Geschick, Schicksal; it. Destino).
Ação necessitante que a ordem do mundo
exerce sobre cada um de seus seres singulares.
Na sua formulação tradicional, esse conceito
implica: Iª necessidade, quase sempre desconhecida
e por isso cega, que domina cada
indivíduo do mundo enquanto parte da ordem
total; 2ª adaptação perfeita de cada indivíduo
ao seu lugar, ao seu papel ou à sua
função no mundo, visto que, como engrenagem
da ordem total, cada ser efeito para aquilo
que faz.
0 conceito de D. é antiquíssimo e bastante
difundido, porque compartilhado por todas as
filosofias que, de algum modo, admitem uma
ordem necessária do mundo. Aqui só faremos
alusão às que designam explicitamente essa
ordem com o termo em questão. O D. é noção
dominante na filosofia estóica. Crisipo, Posidônio,
Zenão, Boeto o reconheceram como a
"causa necessária" de tudo ou a "razão" pela
qual o mundo é dirigido. Identificavam-no com
a providência (DiÓG. L., VII, 149). Os estóicos
latinos retomam essa noção e apontam seus reflexos
morais (SÊNECA, Natur. quaest., II, 36, 45;
MARCO AURÉLIO, Memórias, IX, 15). Segundo
Plotino, ao D. que domina todas as coisas exteriores
só escapa a alma que toma como guia
"a razão pura e impassível que lhe pertence de
pleno direito", que haure em si, e não no exterior,
o princípio de sua própria ação (Enn., III,
1,9). Para Plotino, a providência é uma só: nas
coisas inferiores chama-se D.; nas superiores,
providência {ibid., III, 3, 5). De modo análogo,
para Boécio (que com a Consolação da filosofia
transmitia esses problemas à Escolástica latina),
D. e providência só se distinguem porque
a providência é a ordem do mundo vista pela
inteligência divina e o D. é essa mesma ordem
desdobrada no tempo. Mas no fundo a ordem
do D. depende da providência (Phil. cons., IV,
6,10). O livre-arbítrio humano subtrai-se da providência
e do D. só porque as ações a que dá
origem se incluem, exatamente em sua liberdade,
na ordem do D. (Ibid., V, 6). Essa solução
deveria inspirar todas as soluções análogas da
Escolástica, que conserva o mesmo conceito
de D. e de providência (cf., p. ex., S. TOMÁS, S.
Th., I, q. 116, a. 2). Em sua Teodicéia, Leibniz
repropunha a mesma solução (Théod., I, § 62).
Na filosofia do Romantismo, enquanto Schopenhauer
considera o D. como ação determinante,
no homem e na história, da Vontade
de vida na sua natureza dilacerante e dolorosa
(Die Welt, II, cap. 38), Hegel limita o D. à necessidade
mecânica. "À potência", diz ele,
"como universalidade objetiva e violência contra
o objeto, dá-se o nome de D.: conceito que
se inclui no mecanicismo porquanto o D. é
chamado de cego, ou seja, sua universalidade
objetiva não é conhecida pelo sujeito em sua
propriedade ou particularidade específica"
(WissenschqftderLogik, III, II, 1, B, b; trad. it.,
III, p. 199). Nesse sentido, o D. é a própria necessidade
racional do mundo, mas enquanto
ignorante de si mesma e, portanto, "cega". Mas
durante esse mesmo período, do ponto de vista
de necessidade "puramente racional", tanto
interpretada como dialética, quanto como determinismo
causal, a palavra D. começou a parecer
fantástica ou mítica demais para designar
essa necessidade. Foi então abandonada e
substituída por termos que exprimem a natureza
objetiva e causal da necessidade, como p.
ex. necessidade, dialética, determinismo, causalidade;
no domínio da ciência, é regida pelas
"leis eternas e imutáveis da natureza".
Quando a palavra D. volta, em Nietzsche e
no existencialismo alemão, tem novo significado:
exprime a aceitação e a voliçâo da necessidade,
o amorfati. Nietzsche foi o primeiro a
expressar esse conceito tão característico de
certa tendência da filosofia contemporânea. Ele
interpreta a necessidade do devir cósmico
como vontade de reafirmação: desde a eternidade
o mundo aceita-se e quer-se a si mesmo,
por isso repete-se eternamente. Mas o homem
deve fazer algo mais que aceitar esse pensamento:
deve ele próprio prometer-se ao anel
dos anéis: "É preciso fazer o voto do retorno de
si mesmo com o anel da eterna bênção de si e
da eterna afirmação de si; é preciso atingir a
vontade de querer retrospectivamente tudo
o que aconteceu, de querer para a frente tudo
o que acontecerá" (Wille zurMacht, ed. 1901,
§ 385). Esse é o amorfati, no qual Nietzsche vê
a "fórmula da grandeza do homem". Heidegger
não fez senão exprimir o mesmo conceito ao
falar do D. como decisão autêntica do homem.
D. é a decisão de retornar a si mesmo, de transmitirse a si mesmo e de assumir a herança das
possibilidades passadas. "A repetição é a transmissão
explícita, ou seja, o retorno a possibilidades
do ser-aí que já foram" (Seín und Zeit,
§ 74). Nesse sentido, o D. é "a historicidade
autêntica": consiste em escolher o que já foi
escolhido, em projetar o que já foi projetado,
em reapresentar para o futuro possibilidades
que já foram apresentadas. É, em outros termos,
a vontade da repetição, o reconhecimento
e a aceitação da necessidade. Esse conceito
volta em Jaspers, que, no entanto, expressa-o
com referência à identidade estabelecida entre
o eu e sua situação no mundo. O D. é a aceitação
dessa identidade: "Amo-o como me amo
porque só nele estou cônscio de meu existir".
Aqui também o D. nada mais é que a aceitação
e o reconhecimento da própria natureza da
necessidade, que, para Jaspers, é a identidade do
homem com sua situação (Phil, II, p. 218 ss.).
Essa última noção de D. exprime bem certas
tendências da filosofia contemporânea. Na origem
de sua longa tradição, essa noção implicava:
l9 uma ordem total que age sobre o indivíduo,
determinando-o; 2- o indivíduo não se
apercebe necessariamente da ordem total nem
de sua força necessitante: o D. é cego. O conceito
contemporâneo eliminou ambas as características.
Para ele: ls a determinação necessitante
não é a de uma ordem (nem mesmo
para Nietzsche), mas a de uma situação, a repetição;
e 2S o D. não é cego porque é o reconhecimento
e a aceitação deliberada da situação
necessitante.”
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. - 5ª edição – Tradução: Ivone Castilho Benedetti – São Paulo: Martins Fontes, 2007.
Este estudo é muito complexo porque pretende dar conta do problema conceitual do ‘Destino’ nas ciências,
na Filosofia, na sabedoria dos povos iorubanos da África e na sabedoria dos inúmeros povos que
desenvolveram a Astrologia (dos mesopotâmicos aos gregos em particular). E isso pode tornar o texto
extremamente denso ao tentar articular conceituações tão díspares: ora antagônicas (como no caso do
confronto entre a Astronomia moderna e a Astrologia babilônica antiga) e ora complementares – como no
caso dos saberes enunciados por babalawos iorubanos africanos e os saberes astrológicos. Esse é o risco
que corremos e então vamos a eles.
Este estudo surgiu por acaso quando lia a obra “Astrologia do Destino” da psicoterapeuta junguiana e
astróloga Liz Greene – 10 ª edição – Tradução: Carmen Youssef – São Paulo: Cultrix Pensamento, 1995.
Quando li a exaustiva introdução, tive um insight de produzir um estudo filosófico e epistemológico sobre a
questão do Destino.
A principal pergunta de Liz Greene é: “Somos predestinados ou livres?”E é com essa pergunta que iremos
nortear toda a nossa investigação através dos diversos campos do saber oficial e não oficial citados.
Para não ficar inteiramente à mercê das especulações da psicoterapeuta junguiana e astróloga, checamos o
parecer contrário às pretensões astrológicas enunciado pelo astrônomo Carlos Alexandre Wuensche no
dossiê de seis páginas da Revista Ciência Hoje intitulado Astronomia versus Astrologia – v.43, Nº. 256, 2009.
Para a autora de “Saturno: un nuevo enfoque de un viejo diablo” (Ediciones Obelisco) o Destino é a moira,
como entendida pelos gregos antigos. E a autora salienta que o filósofo ateu, Bertrand Russell, considera o
fatalismo e seus inevitáveis ramos criativos – as artes mânticas ou divinatórias – como uma nódoa
produzida por Pitágoras e Platão sobre o pensamento puro e racional, uma mancha que ofuscou o brilho da
construção, não fosse isso, da mente clássica grega.
O conceito de moira pressupõe um cosmo ordenado, interligado e as astrologia por sua vez seria produto
deste tipo de cosmo. Porém tal concepção é refutada pela filosofia moderna representada por Bertrand
Russell.
A teologia cristã medieval renegou o conceito de moira. Pois para a escolástica Destino é coisa pagã. Moira,
como a Deusa do destino, representava para essa teologia um insulto a supremacia divina. O argumento
teológico trocou a Deusa do Destino, a Moira, pela Providência Divina. Os calvinistas, por sua vez,
acreditavam na salvação predestinada aos eleitos.
Os mais científicos preferem à Moira, ao Destino, o conceito de ‘lei natural’. Entretanto, lei natural na
concepção de Anaximandro e da escola jônica - que Bertrand Russell simpatiza - é elevada à condição de
divindade.
A moira é uma força moral, ninguém precisa fingir, contudo, que ela é exclusivamente benévola, ou que
tivesse alguma consideração por interesses paroquianos ou pelos anseios do gênero humano. Os gregos
não lhe atribuíam nenhum mérito de previsão, desígnio ou finalidade, pois esses méritos pertencem aos
seres humanos e supostamente aos deuses humanizados.
Moira é a força cega e automática que permite que seus propósitos secundários e desejos ajam livremente
dentro de suas próprias e legítimas esferas, porém reage com certa turbulência contra eles quando
atravessam suas fronteiras.
Anaximandro e seus companheiros imaginavam o universo como que dividido, dentro de um plano geral,
em províncias compartimentadas ou esferas de poder. O universo era originalmente uma massa primária e
indiferenciada; quando os quatro elementos surgiram eles receberam seu quinhão não de uma deusa
personificada, mas do eterno movimento no interior do cosmo, o que era considerado não menos divino.
A psicologia inventou também uma terminologia mais atraente para lidar com a questão do Destino. Ela fala
da predisposição hereditária, de padrões de condicionamento, de complexos e de arquétipos.
COSMO OU UNIVERSO?
“Na astrologia, o ser humano pensa que o firmamento foi feito para ele”.
Friedrich Nietzsche em “Humano, Demasiado Humano”.
Uma boa pergunta que podemos fazer para nos situar em relação à conceituação de Destino é saber: onde
estamos?
Estamos num cosmos ou num universo? O cosmos é assunto das religiões, o universo é assunto das
ciências. Cosmos pressupõe um conjunto ordenado, interligado e criado por uma potência fora dele.
Universo pressupõe um todo indiferente à experiência humana e sem intencionalidade transcendente.
O Cosmos é transcendente, o universo é imanente. A ciência estuda o funcionamento do espaço, a religião
estuda como ir para o Céu.
Eu particularmente fui ateu, mas atualmente eu sou o que se poderia chamar na fraseologia eliadeana de
sacralista. Embora negando a criação do universo ex-nihilo. Para mim o universo se auto-originou de
estruturas bem simples (um ponto geométrico que explodiu em algum momento) até chegar em estruturas
mais complexas (estrelas, planetas, rochas...). O universo não teve e não tem intencionalidade até hoje.
Também não há um Deus pessoal a nos policiar, sondar, controlar, comandar, fiscalizar.Mas há o sagrado,
ainda que seja um sagrado naturalizado na physis.
Tentarei explicar minha posição.Embora tendo nascido e se criado no Ocidente, sempre fui descotente com
o sistema simbólico judaico-cristão do Deus antropomórfico.Sendo assim, quando nos aprofundamos na
concepção do extremo oriente de Deus ou no aspecto não-antropomórfico do conceito de Òludumaré do
território iorubá na África ocidental , ou seja, Deus como a realidade suprema, o imponderável, o inefável;
cujo conceito de Brahman procura ser uma definição aproximada no hinduísmo.Deus como totalidade de
tudo o que existe no universo e todos os seus componentes (SENNA, Ronaldo.TITA- SOUZA, Maria José de. A
Remissão de Lúcifer: O resgate e a ressignificação em diferentes contextos afro-brasileiros – Editora –
UEFS – 2002)...aí nesse caso, eu passo a acreditar em Deus, mas só nesse caso.Só nessa acepção.
Desse modo, como não somos policiados por um suposto Deus pessoal a nos bisbilhotar de sua prefeitura
nos confins do Universo, então penso que somos (o deveríamos ser) inteiramente livres para escolher o que
bem entendêssemos nas nossas vidas.
Sou um sacralista porque eu dou atenção aos babalaôs e a sua forma particular de entender a noção de
Destino. Vamos a ela, portanto.
ODU, O DESTINO NA CULTURA AFRICANA
Segundo o sociólogo Reginaldo Prandi no seu “Os príncipes do destino: histórias da mitologia afrobrasileira” – 2ª edição – São Paulo: Cosac Naify, 2005 – o tradicional povo ioruba acreditava que tudo na
vida se repete. Assim, o que acontece e acontecerá na vida de alguém já aconteceu muito antes à outra
pessoa. Saber as histórias já acontecidas, as histórias do passado, significava para eles saber o que vai
acontecer na vida daqueles que vivem o presente.
Então qual o fundamento de se procurar um babalaô e consultar o jogo de búzios? Segundo Ronilda Yakemi
Ribeiro em seu “Alma Africana no Brasil: os iorubas” - São Paulo: Editora Oduduwa, 1996. Cada ser criado
escolhe livremente o “Ori” e o “Odu” – signo regente de seu destino. Desse modo, o babalaô, o olhador do
búzio, poderá dizer qual o odu do indivíduo que está consultando.
A narrativa mítica diz que Oxalá e Ajalá são entidades modeladoras dos ‘oris’. Ajalá, embora notável em sua
habilidade, não é muito responsável, e por isso, muitas vezes modela cabeças defeituosas: pode esquecer
de colocar alguns acabamentos ou detalhes necessários, como pode, ao levá-las ao forno para queimar,
deixá-las por tempo demasiado ou insuficiente. Tais cabeças tornam-se assim potencialmente fracas,
incapazes de empreender a longa jornada para a terra, sem prejuízos. Se, desafortunadamente, um homem
escolhe uma dessas cabeças mal modeladas, estará destinado a fracassar na vida. Durante sua jornada para
a terra, a cabeça que permaneceu por tempo insuficiente ou demasiado no forno, poderá não resistir à
ação de uma chuva forte e chegará mais danificada ainda. Todo o esforço empreendido para obter sucesso
na vida terrena terá grande parte de seus efeitos desviada para reparar tais estragos. Pelo contrário, um
homem tem a sorte de escolher uma das cabeças realmente boas, tornar-se-á próspero e bem sucedido na
terra, uma vez que sua cabeça chega intacta e seus esforços redundam em construção real de tudo aquilo
que se proponha a realizar.
Assim a consulta aos búzios é basicamente para saber sobre nossa cabeça (ori) ou a cabeça de outrem.
Pode um homem conhecer as potencialidades da própria cabeça ou de outrem? A resposta do livro de
Ronilda Yakemi Ribeiro vem em forma de outra narrativa mítica. Ao atravessar o portal que conduz do céu a
terra, o porteiro do céu ( Onibode Orun) pede ao homem que declare seu destino. Este é então selado e,
embora a lembrança disso no homem se apague, Ori retém integralmente a memória de tudo. Baseado
nesse conhecimento guia seus passos na terra. Segundo o mito, a única testemunha desse encontro entre
Onibode Orun e Ori é Orumilá, uma das divindades primordiais. Por isso Orumilá conhece todos os destinos
humanos e procura ajudar os homens a trilhar seus verdadeiros caminhos. Nos momentos de crise, a
consulta ao oráculo de Ifá permite acesso a instruções a respeito dos procedimentos desejáveis, sendo
considerados bons procedimentos os que não entram em desacordo com os propósitos do ori.
O destino ou Ipin ori – sina do ori – pode sofrer alterações em decorrência de pessoas más chamadas omo
araye – filhos do mundo, também chamadas aye – o mundo ou ainda, elenini – implacáveis (amargos,
sádicos, inexoráveis) inimigos das pessoas. Entre estes se encontram as aje – bruxas, ou os oso – feiticeiros,
os envenenadores e todos aqueles que se dedicam a práticas malignas com o intuito de estragar qualquer
oportunidade de sucesso humano.
O destino também pode ser afetado, de modo adverso, pelo caráter da própria pessoa. Um bom destino
deve ser sustentado por um bom caráter. Este é como uma divindade: se bem cultuado concede sua
proteção. Assim, o destino humano pode ser arruinado pela ação do homem.
E como é o mecanismo do oráculo de Ifá? O recurso divinatório de Ifá, associado ao culto de Orumilá, é o
mais desenvolvido dos sistemas divinatórios iorubás. Fazendo uso do obi de quatro partes, do opele, de
areia, água, búzios, ikin, etc. Ao ser feita a consulta ao oráculo de Ifá, a queda dos dezesseis frutos de
palmeira chamados ikin ou do opele, a corrente divinatória, define determinada configuração. De 16 figuras
básicas e 256 derivadas chamadas Odu, decorrem 4096 variantes possíveis, cada qual com seu nome. A
cada configuração corresponde uma série de parábolas, significativamente coincidentes (sincrônicas) com a
circunstância existencial do consulente. A conduta do(s) herói(s) da parábola sugere o procedimento
adequado para a superação da crise e realização do próprio destino.
Reginaldo Prandi, no seu “Segredos Guardados: orixás na alma brasileira” – São Paulo: Companhia das
Letras, 2005 – nos informa que Na África Tradicional Iorubá, dias depois do nascimento da criança iorubá,
ocorre a cerimônia na qual se dá o nome ao nascido, quando o babalaô consulta o oráculo para desvendar a
origem da criança. É quando se descobre, por exemplo, se ela é um ente querido renascido. Os nomes
iorubas sempre designam a origem mítica da pessoa, que pode se referir ao orixá pessoal, geralmente o da
família, determinado patrilinearmente, ou à condição em que se deu o nascimento, tipo de gestação e
parto, sua posição na sequência dos irmãos, quando se trata, por exemplo, daquele que nasce depois dos
gêmeos, a própria condição de ‘abicu’ e assim por diante. A partir do momento em que se dá um nome à
criança, desencadeia-se uma sucessão de ritos de passagem associados não só aos papéis sociais, como a
entrada na idade adulta e o casamento, mas também à própria construção da pessoa, que se dá através da
integração, em diversos momentos da vida, dos múltiplos componentes do espírito. Com a morte, os ritos
são refeitos, agora com intenção de liberar essas unidades espirituais, de modo a levar cada uma ao destino
certo, restituindo, assim, o equilíbrio rompido com a morte.
O DESTINO NA ASTROLOGIA E NA ASTRONOMIA
“ Há alguma evidência científica de que os astros podem revelar aspectos ocultos de nossa personalidade ou influenciar nosso
comportamento, cotidiano e destino? A astrologia pode ser considerada uma ciência, no sentido moderno dessa palavra? É possível
testar, sob condições controladas, as previsões feitas por horóscopos e mapas astrais? Se sim, o que dizem os resultados desses
experimentos?”
Carlos Alexandre Wuensche
“O ato de olhar o céu e buscar simbolismos e associações é algo intrínseco ao ser humano e ocorre
há milênios. Essa busca vem do tempo em que pouco se conhecia sobre o comportamento da
natureza e no qual o animismo era uma tentativa de compreender e domesticar o desconhecido.
Muitas culturas antigas têm registros sistemáticos da esfera celeste que remontam a dois mil anos
antes da era cristã. Desde essa época, padrões de repetição de movimento e agrupamento de
astros já eram conhecidos, levando à separação entre estrelas e planetas (‘astros errantes’) – na
época, eram conhecidos apenas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. A ideia de constelações
também surgiu naturalmente, sendo que a idealização do que era ‘visto’ no agrupamento de
estrelas sempre sofreu uma forte influência da mitologia local. Porém, ainda hoje, um fato acontece
com vários de nós, astrônomos profissionais ou amadores: basta comentar sobre nossa profissão ou
interesse pelos céus e rapidamente vem a pergunta: “E se eu te disser que sou Sagitário com
ascendente em Touro? “É surpreendente que, mesmo neste início de século, um
número
enorme de pessoas ainda leva a sério uma crença que remonta a mais de dois milênios: a
de
que os astros influenciam o cotidiano, o comportamento e o destino das pessoas.”
Desse modo, o astrônomo responsável pela Coordenação de Ciências Espaciais e Atmosféricas do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais inicia o seu Dossiê “Astronomia versus Astrologia”.
Astronomia e astrologia são palavras derivadas do grego. Nessa língua, astron significa ‘estrela’ e o
sufixo 'nomos' (escrito, em português, como ‘nomia’), ‘regra’ ou ‘lei’. A astronomia é a ciência que trata da
constituição, posição relativa, movimento e, mais recentemente, dos processos físicos que ocorrem nos
astros (neste último caso, sendo denominada astrofísica, cujo nascimento se deu no século 19). Por sua vez,
a astrologia aglutina astron e logos (em português, ‘logia’), que significa ‘palavra’ e que pode ser entendido
como ‘estudo’ ou ‘disciplina’. De forma geral, a astrologia trata do estudo da influência dos astros,
especialmente dos signos do zodíaco, no destino e no comportamento humano. Os fundamentos da
astrologia foram estabelecidos pelos babilônios, por volta de 1500 a.C. A origem comum da astronomia e da
astrologia remonta a essa época e, apesar de ambas se basearem no estudo dos astros, suas versões
modernas são inteiramente distintas.
A astrologia baseia suas previsões no movimento relativo dos planetas do sistema solar, não fazendo uso da
informação trazida pela radiação eletromagnética (ondas de rádio, infravermelho, luz visível, raios X etc.)
emitida por eles. Praticantes e estudiosos da astrologia consideram-na uma linguagem simbólica, forma de
arte, adivinhação ou até ciência, com capacidade de prever o futuro ou aspectos ocultos da personalidade.
Os astrólogos defendem sua área de estudo com base na ideia de que a ciência moderna não entende o
que eles dizem e que, mesmo sob teste, a astrologia será sempre avaliada segundo os paradigmas
científicos, desconsiderando outras formas de testes e de pensamento.
São características básicas da astronomia, ser baseada em leis conhecidas da física, sendo que os resultados
obtidos com base nessas leis deverão ser os mesmos para qualquer pessoa que conheça os métodos
empregados no experimento, bem como as leis em questão. O estudo de astros distantes também é feito
com base na radiação eletromagnética emitida por esses corpos celestes, incluindo ondas de rádio, microondas, ultravioleta, raios X e raios gama. Isso permite não só a reconstrução dos processos físicos que
produzem essa radiação, mas também o estudo da estrutura e do estado evolutivo do astro.
Críticos da astrologia – incluindo a própria comunidade científica –, consideram-na uma forma de
pseudociência ou superstição, devido à sua incapacidade de demonstrar o que afirma, o que até agora tem
sido corroborado em grande número de estudos científicos controlados. Por sua vez, astrólogos contestam
testes propostos pela ciência para validar a astrologia nesse sentido. E, quando não se recusam a participar
deles, rejeitam seus resultados, apesar de estes serem baseados em testes estatísticos e em leis da natureza
amplamente validadas.
Portanto, como a astrologia não se enquadra no paradigma do que é entendido como ciência, ela perde o
direito de reivindicar esse status quando lhe é conveniente.
Breve histórico
A observação e nomenclatura dos céus, adotadas até hoje pela civilização ocidental, remontam aos
babilônios, egípcios, gregos e romanos. Pode-se dizer que a primeira grande sistematização do estudo dos
céus com fins astrológicos está em Tetrabiblos, texto escrito pelo astrônomo greco-egípcio Claudius
Ptolomeu, que viveu no século 2 a.C.. Essa obra, dividida em quatro livros, sistematiza e propõe explicações
para o modelo geocêntrico (aquele em que a Terra é o centro do universo), defendendo-o com hipóteses
que duraram cerca de 1,5 mil anos – vale ressaltar que o modelo geocêntrico é a base do princípio
astrológico.
Tetrabiblos é também um tratado de astrologia, talvez o mais importante da Antiguidade. Seu ‘Livro I’
afirma que as influências dos corpos celestes são inteiramente físicas e, nos ‘Livros III’ e ‘IV’, descreve como
os céus interferem nas atividades humanas (embora Ptolomeu não tenha apresentado a matemática
necessária para elaborar horóscopos, desenvolvida por seus antecessores). A contrapartida astronômica de
Tetrabiblos é Almagesto, também de Ptolomeu, um grande tratado sobre astronomia com 13 livros.
Na Idade Média, com sua atmosfera de intensa religiosidade, a possibilidade de fazer e verificar previsões
baseadas nos astros era questionada. O padre e filósofo católico Aurélio Agostinho (354-430) – mais
conhecido como Santo Agostinho – levantou o famoso problema do “fatalismo astrológico”, um arrazoado
no qual argumentava que, “se o futuro já estava previsto por Deus, ou pela influência previsível dos
movimentos planetários, para todos, como poderiam ser livres os humanos”? A resposta, dada por ele
mesmo, apontava para a “sugestão, mas não obrigação”, de que seguir as estrelas e as orações ajuda a
resistir aos desvios...
Nessa época, eram conhecidos três tipos de astrologia, descritos pelo filósofo francês Nicolas Oresme
(1320-1382), crítico da astrologia e astrônomo ‘mecanicista’ da corte de Carlos V: i) a astrologia matemática
(ou astronomia); ii) astrologia natural (relacionada com a física); iii) a astrologia espiritual (ligada à previsão
do futuro e à elaboração de horóscopos). Na Idade Média, portanto, já era feita uma diferenciação entre a
astronomia e a astrologia.
Até o final do Renascimento, a astrologia foi uma atividade essencialmente acadêmica, exercida inclusive
por médicos. Por uma questão de justiça, deve ser sempre mencionado que o dinamarquês Tycho Brahe
(1546-1601), o alemão Johannes Kepler (1571-1630) e o italiano Galileu Galilei (1564-1642), além de
cientistas (no sentido moderno do termo), foram também competentes astrólogos nos sentidos ‘i’ e ‘ii’ do
parágrafo anterior. Kepler, porém, foi um crítico ferrenho da astrologia divinatória.
No século 17, o interesse acadêmico pelo prognóstico astrológico transferiu-se para a nova medicina e para
a meteorologia, e, nessa época, a astrologia saiu da academia, estimulando novamente o aparecimento do
tipo de astrólogo usualmente conhecido na Antiguidade, mais dedicado às práticas divinatórias. Em linhas
gerais, esse é o quadro que permanece até os dias de hoje.
Qual é a probabilidade de que 1/12 da população da Terra esteja tendo o mesmo tipo de dia? Mesmo
levando em conta todos os detalhes astrológicos (ascendentes, quadraturas, oposições etc.), os horóscopos
deveriam apresentar alguma semelhança, pois o signo ‘solar’ é a principal referência. Uma simples divisão
mostra que, nesse caso, as mesmas previsões seriam, ainda que superficialmente, adequadas a cerca de
400 milhões de pessoas em todo o mundo, todos os dias!
Estavam errados os horóscopos feitos antes das descobertas de Urano, Netuno e Plutão, ocorridas em 1781,
1846 e 1930, respectivamente? Deveríamos refazer esses horóscopos? Além disso, existe uma associação
entre nomes de planetas, personalidades mitológicas e características astrológicas, portanto há que se
pensar agora como nomear e incluir a influência dos mais de 300 planetas extrassolares descobertos desde
1995.
E quais objetos celestes devem ou não ser incluídos nas previsões? O astrônomo francês Jean-Claude
Pecker lembra que os astrólogos parecem ter uma visão bastante curta, por limitarem sua atividade ao
nosso sistema solar. Bilhões de corpos em todos os confins do universo poderiam somar a sua influência
àquela proporcionada pelo Sol, pela Lua e pelos planetas. Será que uma pessoa cujo horóscopo omite os
efeitos do pulsar do Caranguejo e de Andrômeda realmente recebe uma interpretação completa?
A distância até esses objetos é importante? Para a astrologia, parece que não. Por exemplo, mesmo que
Saturno seja importante para caracterizar um mapa astral (e esteja fisicamente o mais próximo possível da
Terra, em termos de suas órbitas), Marte e Vênus sempre estarão mais perto de nós do que Saturno,
independentemente de nossa posição relativa a eles. No entanto, a importância de ambos nas previsões é
variável.
Essa discussão conduz a que tipo de força define as interações astrológicas. A força gravitacional está
descartada, pois aquela exercida sobre a criança pelo médico que faz um parto é seis vezes maior do que a
de Marte. Já a força de maré do médico é aproximadamente dois trilhões de vezes maior que a de Marte.
Deveríamos incluir a personalidade do médico no horóscopo, assim como incluímos as características de
Marte?
Como as influências astrológicas parecem não depender completamente da distância entre os corpos, isso
traz a questão de que tipo de força é essa, não detectada, até agora, por nenhum experimento, em nenhum
laboratório, terrestre ou espacial.
Colocando termos astrológicos no contexto astronômico, expressões como “Urano entrou em Aquário...” ou
“Plutão ficará 13 anos em Sagitário...” não fazem o menor sentido. Do ponto de vista das constelações, elas
não são reais, como um planeta, mas apenas um arranjo de estrelas que nem estão fisicamente próximas,
como sua projeção do céu faz parecer. Se o leitor experimentar olhar para o céu em uma noite clara, notará
que existem infinitas possibilidades de ‘ligar os pontos’ e imaginar figuras. E foi isso que os antigos fizeram e
popularizaram, ao criar as constelações. Elas não estão na mesma posição na eclíptica (plano da órbita da
Terra ao redor do Sol) em que foram concebidas há mais de 3 mil anos. E, certamente, não estarão nessa
mesma posição relativa, formando o padrão que vemos hoje, daqui a 2 mil anos.
Do ponto de vista simbólico, a mesma associação de estrelas que representa a cauda do ‘Escorpião’, em
nosso zodíaco, representa a constelação do Anzol, na mitologia polinésia. Atribuir um determinado
significado a um ou outro símbolo implica atribuir interpretações e, em consequência, influências diferentes
a um mesmo ‘objeto’. Assim, como explicar que o mesmo ‘objeto’, à mesma distância da Terra, tenha efeitos
diferentes, dependendo do símbolo a ele associado? A definição de pseudociência é ampla e pode incluir,
além da astrologia, qualquer conjunto de procedimentos e ‘teorias’ que tentem se disfarçar como ciência
sem realmente sê-la. A discussão dos limites entre ciência e pseudociência inclui a questão do que é ciência
e como defini-la. Entretanto, vale a pena discutir porque devemos nos preocupar com as pseudociências.
Diversas formas de pseudociência nasceram de superstições antigas, assim como vários ramos da ciência
ortodoxa. Medicina, química e a própria astronomia são bons exemplos, de modo que suas origens não são
o problema. A questão, no caso da astrologia, é saber se suas previsões são verificáveis, dentro dos
parâmetros científicos, já que muitas vezes astrólogos vestem suas explicações com termos e jargão
científicos, de modo a lhes emprestar maior credibilidade. A inexistência de um mecanismo cientificamente
aceito para explicar previsões astrológicas seria irrelevante se, pelo menos estatisticamente, a astrologia
fizesse o que ela diz que pode fazer, e esses feitos pudessem ser validados entre seus próprios pares e
aceitos, além de uma dúvida razoável, por cientistas.
Pode-se apontar, muitas vezes, que existem explicações mais simples e menos fantasiosas – por vezes, até
corriqueiras ou prosaicas – para uma previsão astrológica que tenha se mostrado correta. Além disso, o
acerto não garante que a ‘teoria astrológica’ funcione sempre (mesmo porque já foi amplamente mostrado
que, estatisticamente, ela não funciona). Também não prova que o método de previsão será reprodutível
por outros astrólogos na mesma situação ou em situações semelhantes. Astrônomos devem se pronunciar
sempre que a ocasião for adequada para mostrar as falhas da astrologia sob o ponto de vista científico e
encorajar um interesse no cosmo real. Um cosmo de astros remotos que são impiedosamente indiferentes
às vidas e aos desejos das criaturas da Terra, muito antes dos tempos em que os seres humanos se
aconchegavam junto às fogueiras, com medo da noite.
Bem até aqui eu reproduzi de uma certa forma os argumentos do astrônomo Carlos Alexandre Wuensche e
tenho que concordar que são argumentos pertinentes e inteligentes.
Mas e o que os astrólogos têm a dizer sobre tudo isso? A psicoterapeuta junguiana e astróloga Liz Greene
afirma sobre o Destino:
“ O destino significa: isso estava escrito. É terrível pensar em algo escrito com
tamanha determinação por uma mão totalmente invisível. Esse fato implica não só impotência,
como ainda o obscuro mecanismo de alguma enorme e impessoal Roda ou de um Deus bastante
ambíguo que tem menos consideração do que gostaríamos para com nossas esperanças, sonhos,
desejos, afeições, méritos ou até mesmo pecados. De que valem os esforços da pessoa, seus
conflitos morais, seus simples atos de amor e de coragem, seu empenho para o aperfeiçoamento de
si próprio, de sua família e de seu mundo, se tudo, no final das contas, é tornado vão pelo que já foi
escrito?Temos sido nutridos, nos últimos dois séculos, num pábulo bastante suspeito de
autodeterminação racional, e essa visão do destino nos ameaça com uma experiência de desespero
real ou de caótica catarse na qual a coluna dorsal do homem ético e moral desmorona. Existe
igualmente uma dificuldade com relação à abordagem mais mística do destino, pois ao romper a
unidade do corpo e do espírito com a finalidade de buscar refúgio contra os estreitamentos da
sorte, a pessoa cria uma dissociação artificial de sua própria lei natural e poderá conjurar no mundo
exterior o que está evitando no íntimo.
Entretanto, para a mente grega, como para a mente da Renascença, a visão do
destino não destruiu a dignidade da moralidade ou do espírito humanos. Se algo aconteceu, foi o
oposto. O primeiro poeta religioso da Grécia, Hesíodo, diz
simplesmente que o curso da Natureza não é senão indiferente ao certo e ao errado. Ele conclui
que há uma definida e simpática relação entre a conduta humana e a lei ordenada da Natureza.
Quando um pecado é cometido — tal como o incesto inconsciente de Édipo — toda a Natureza é
envenenada pelo delito do homem, e Moira revida fazendo recair imediatamente uma grande
desgraça sobre a cabeça do transgressor. O destino, para Hesíodo, é o guardião da justiça e da lei, e
não a fortuita e predeterminante força que dita cada ação de um homem. Esse guardião fixou os
limites da original ordem da Natureza, dentro dos quais o homem deve viver porque é parte desta;
e ele aguarda para cobrar a penalidade por cada transgressão. E a morte, visto ser
a declaração definitiva de Moira, o "quinhão" ou o limite circunscrito além do qual os seres mortais
não podem transpor, não é uma indignidade, porém uma necessidade que deriva de uma fonte
divina”.
O que Liz Greene diz sobre o ceticismo do homem moderno?
“ Eu, no entanto, não acho que tenhamos perdido o medo do destino, apesar de zombarmos dele;
pois, se o homem moderno fosse realmente tão esclarecido a ponto de superar esse conceito
"pagão", não teria o hábito de ler furtivamente a seção de astrologia no jornal, nem de mostrar
compulsão a ridicularizar, sempre que possível, os porta-vozes do destino. Tampouco ficaria tão
fascinado pelas profecias, que são as criadas da sorte. As Centúrias de
Nostradamus, essas fantásticas visões do futuro do mundo, jamais deixaram de ser impressas, e
cada nova edição vende uma quantidade astronômica de exemplares. Quanto ao ridículo, sou de
opinião de que o medo, quando não admitido, disfarça-se muitas vezes de desprezo agressivo, e de
tentativas um tanto forçadas para desaprovar ou denegrir a coisa que causa ameaça. Todo
quiromante, astrólogo, cartomante ou vidente já se deparou com esta peculiar, mas inequívoca
ofensiva dos 'céticos'.”
O que a autora pensa do fenômeno da vidência?
“A astrologia, ao lado do tarô, da quiromancia, da cristalomancia e talvez também do I Ching que
agora se estabeleceu firmemente no Ocidente, são os modernos mensageiros da antiga e digna
função de vidência. Essa tem sido, desde tempos imemoriais, a arte de interpretar as intenções
obscuras e ambíguas dos deuses, embora possamos chamar isso agora de intenções obscuras e
ambíguas do inconsciente, e está voltada para a apreensão de kairos, o "momento certo". Jung
usou o termo sincronicidade com relação a essas coisas, como um meio de tentar lançar luz sobre o
mistério da coincidência significativa — quer se trate da coincidência de um acontecimento externo
aparentemente não relacionado com um sonho ou estado subjetivo, ou de um acontecimento com
o esquema de cartas, de planetas, de moedas. Mas seja qual for a linguagem que usemos, a
psicológica ou mítica, a religiosa ou "científica", no cerne da adivinhação está o esforço para
interpretar o que está sendo ou foi escrito, quer expliquemos esse mistério pelo conceito
psicológico de sincronicidade ou pela muito mais antiga crença no destino. ”
Agora mais uma vez nos vem a pergunta: “Somos predestinados ou livres?”Já que nessa altura do estudo,
mencionou-se o suposto papel dos deuses na nossa vida.
Liz Greene diz que somos os dois ao mesmo tempo. Mas ela é um pouco suspeita, afinal a obra “Astrologia
do Destino” demonstra que ela crê piamente que somos influenciados pelos deuses do zodíaco. Há nas suas
páginas todo um determinismo que chega a incomodar. E por isso penso que se formos seguir a trilha de Liz
Greene, chegaremos a um universo de pessoas rigidamente controladas por forças desconhecidas. E sendo
assim haveria pouca ou nenhuma liberdade nos nossos atos e decisões.
Nessa altura do texto considero pertinente expor a minha compreensão do problema, ainda que seja
obrigado a reconhecer que os leitores podem não compartilhar dos mesmos interesses e inclinações que
eu.
Vou me colocar esclarecendo como é que um imanentista, ou seja, alguém que nega a criação do universo
por um ser, inteligência, policial, ditador, prefeito ou seja, lá o que for, consegue ler livros de astrologia e
consegue frequentar ilês de candomblé.
Penso que sou livre para fazer escolhas. Escolhi o sacralismo imanentista como sistema de explicação da
realidade. Assim, nego o sistema de explicação da realidade bíblico que afirma ter sido o universo criado em
6 dias apenas. Quando na verdade o universo não foi criado por nada e nem ninguém. Surgiu
espontaneamente de um ponto geométrico que explodiu sabe-se lá por que e quando. Ou seja, nego a
intencionalidade do universo.Nego a teleologia do universo. O universo é um conglomerado de
regularidades(leis) cegas e indiferentes ao homem, suas rezas e pedidos. O mundo natural é indiferente ao
homem como se viu na obra do psicanalista Sigmund Freud O Futuro de uma ilusão. E o homem tem a
tendência de querer subornar o mundo natural, tentar domesticá-lo e humanizá-lo com rezas, súplicas e, no
caso da religião tradicional africana e seus derivados (candomblé), com oferendas cruentas.
Somos livres? É claro que somos, principalmente se não formos bíblicos. Mas não somos sozinhos. Não
somos ilhas. Vivemos em comunidade. Às vezes compartilhando valores e crenças comuns com essa
comunidade. Outras vezes negando esses valores e crenças, mas sempre num processo de relação e
interação.
Quando eu comecei a aprender a ler e passei a devorar os livros que minha mãe professora trazia da escola
onde ela ensinava, eu comecei a questionar tudo. E passei a questionar a Igreja católica que minha mãe nos
obrigava a freqüentar. Nunca gostei de missa, até hoje. E chegou um momento que eu comuniquei a ela que
não faria primeira comunhão e que não mais frequentaria a igreja. E assim foi. Como eu era muito
adolescente nessa época e morava no subúrbio, não posso dizer que entrei no ateísmo por convicção
intelectual, até porque os livros que minha mãe trazia eram muito tolos e fracos.
No restante do meu adolescimento eu fui tendo contato com livros mais espessos e consistentes. Além
disso, o meu ingresso no movimento estudantil secundarista abriu para mim um universo de inquietação
intelectual, que só morar no subúrbio não me daria nunca.
No movimento estudantil secundarista eu convivi com religiosos de diversas tendências e principalmente
com ateus e materialistas ortodoxos.
Tudo iria bem se eu não tivesse passado por uma estranha fenomenologia a partir de 1993. Eu, criado no
ceticismo, comecei a ver um homem dentro do meu quarto tarde da noite e a sair correndo com medo,
gritando.
Inicialmente busquei a Psiquiatria e a Psicoterapia, pois estava convencido de que estava realmente ficando
louco. Como a medicação e a psicoterapia não funcionaram (e não funcionam muito até hoje) eu busquei
estudar as chamadas religiões mediúnicas.
Minha porta de entrada nesse mundo foi pelo catimbó, embora eu nem soubesse que o lugar onde fui parar
no meu próprio bairro professava esse tipo de doutrina. Eu pensava que tinha entrado numa casa de
umbanda. E tal confusão demonstra o quanto o sacerdote dessa casa era despreparado para lidar com
intelectuais.
Depois de um tempo eu me afastei dessa casa, porque eu não via por parte de seus membros e
frequentadores interesses intelectualistas.
Aí busquei a Raja-Yoga através da organização Brahma Kumaris. Mas como era num bairro bem elitizado,
acabei demorando pouco também. Aproveitei e passei também no mesmo bairro elitizado pela Bahkti-Yoga
dos Hare Krsnas.
E a fenomenologia continuava quase toda noite, com ou sem medicação supressiva.
E como era e sou pobre, acabei conhecendo e experimentando um Centro Espírita Kardecista do meu
bairro. Lá eu permaneci por 9 anos conflituosos, já que eu tinha uma herança marxista indisfarçável.
E os fenômenos estranhos continuavam me incomodando a noite do mesmo jeito.
Depois, em 2002 finalmente conheci uma casa umbandista decente, a Cabana Luz do Congo (mais
conhecida como Pai Didi). Nessa época, O pai Didi ainda era vivo mas já estava bem debilitado e pouco
contato tive com ele. Tive longas conversas com o filho dele e administrador do Centro de Umbanda, o seu
Júlio.
Mas os fenômenos continuavam...
Foi um processo muito rico ter conhecido essa casa de umbanda. Afinal, ela é praticamente o único centro
umbandista a possuir uma biblioteca rica e variada. Passei de 2002 a 2008, lendo boa parte do acervo dessa
biblioteca cedido pelo seu Júlio.
Aprendi muita coisa sobre umbanda, quimbanda, esoterismo, mas pouca coisa sobre candomblé.
Em 2008, um amigo anarco-punk me leva numa festa de um ilê de candomblé keto na Regional VI. E lá vejo
a diferença entre a liturgia da umbanda, do catimbó e do candomblé keto que esse ilê pratica.
Hoje em dia continuo vendo os vultos e sentindo presenças estranhas no meu quarto mais com menos
intensidade.
Ah! Quase ia me esquecendo de que nessa peregrinação religiosa eu também frequentei escolas dominicais
pentecostalistas e tradicionalistas. E os fenômenos continuaram do mesmo jeito. Só que nessas igrejas
evangélicas eu fui mais com intenções etnográficas e antropológicas e não com intenções devotas ou
religiosas. E pelo menos deixei isso claro para eles.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ser humano é livre ou deveria ser para fazer escolhas. Os orixás, nkices e voduns não condicionam o ser
humano rigidamente. Eles, como são arquétipos, apenas servem de modelos de conduta a ser imitados ou
evitados.
Ser filho de Omulu não é uma predestinação rígida e inflexível no meu entender. É apenas um modo como
uma cultura ancestral e arcaica resolveu criar um elemento de inspiração. Assim sendo, o orixá não
condiciona nem determina rigidamente ninguém, apenas inspira. E inspira só aqueles que estiverem
dispostos a ouvir suas prédicas e para tanto se faz necessário consultar o babalaô para sabê-las
ETNOGRAFIA DA SALA DE BATE-PAPO DE CANDOMBLÉ
Este estudo pretende fazer uma aproximação etnográfica da Sala de Bate-Papo de Candomblé da
UOL. Aproximação bem entendida porque não sou etnógrafo nem antropólogo de formação. Sou
graduado em Letras pela UFC e fui aluno regular do Mestrado em Literatura da UFC, mas
abandonei o Mestrado por uma série de problemas pessoais (entre eles o fato de não ter bolsa da
CAPES). Também é uma aproximação porque o corpus do estudo é fluido por excelência: uma sala
de bate-papo da Internet.
Fazer etnografia de uma sala de bate-papo parece não ser algo muito concreto e controlável do
ponto de vista científico, por inúmeras razões.
Vamos a elas.Primeiro.A sala fica na categoria ‘religiões’ do Bate-papo UOL.Mas cabe perguntar:
será realmente o candomblé uma religião como as outras? O que teria o culto de orixás, nkices e
voduns de peculiar?
Para Durkheim e para Mircea Eliade, a religião é passiva. O homem religioso se submete
candidamente aos caprichos da divindade. E o candomblé é assim? Claro que não. O
candomblecista não tem uma relação passiva ou contemplativa com o sagrado, com o divino,
muito pelo contrário, o candomblecista manipula através de práticas mágicas o numinoso, o
sagrado, o divino. Assim, o Candomblé não se parece com uma religião tradicional como as
religiões de salvação, mas seria uma religião mágica na definição de Reginaldo Prandi, ainda que
para Luis Nicolau Parés o candomblé não deixe de perder seu aspecto conventual.
Segundo. Como formar um corpus de pesquisa definível e controlável se a cada instante os
informantes saem da sala e aparecem novos informantes? Outro problema: os informantes podem
assumir identidades postiças ou pouco confiáveis. Assim quem usa o nick de babalorixá pode
revelar depois de 20 minutos de conversa talvez não ser nem iniciado no culto ou ser até um
cristão ou umbandista (o que a rigor é muito parecido um com o outro), como muitas vezes
presenciei.
Terceiro. A presença chata de evangélicos pentecostais que entram na sala para evangelizar o
pessoal é uma verdadeira conversa de surdos. Porque eles partem do pressuposto de que o
candomblecista é um servo do tal de Satanás, enquanto no Candomblé Satanás não existe ou não
tem nenhuma função. Já que o candomblé se inspira em matrizes africanas e portanto pré-cristãs e
pré-mosaicas e sendo assim não faz e não faria sentido para um candomblecista autêntico e
esclarecido acreditar em Satanás ou no dualismo judaico-cristão.
Quarto. A presença incômoda de quimbandeiros ou do que chamo ironicamente de satanistas
cristãos. São aquelas pessoas que usam nicks idiotas do tipo ‘Joana Capeta’ ou
‘Zé encapetado’. Eu nunca tive muita paciência de puxar conversa com esses tipos, mas como as
conversas são abertas para todos lerem, poderemos flagrar pérolas do tipo: “Satanás existe!” ou
“Fiz o pacto com o Diabo!” que parece mesmo conversa de psicopatas ou pastores pentecostais
(que a rigor são muito parecidos).
Mas para quem quiser conhecer a sala imagino que seja a única do gênero de portais grandes de
Bate-papo. São duas salas de candomblé mas geralmente só uma fica com internautas, a segunda
fica vazia na maioria dos casos. O que supõe o número pequeno de praticantes autênticos do
candomblé puro no país ou então é uma pista de que talvez o número de candomblecistas no país
seja expressivo, mas poucos são aqueles que estão incluídos no mundo digital. Só uma pesquisa
estatística daria conta de responder tal questão. A obra do sociólogo Reginaldo Prandi talvez
responda bem sobre os aspectos demográficos do candomblé.
Gostaria de entender o que leva os evangélicos a entrarem autoritariamente numa sala em que
não dominam o assunto nem sua terminologia e que revelam através de versículos fora de
contextos repetidos ad nauseam, que não estão nenhum um pouco interessados em interagir mas
sim em impor o tal do Jesus Cristo e o tal do Diabo e sua visão de mundo simplista e binária; que
tende a resumir o grande universo em apenas dois princípios excludentes: o Bem absoluto (Deus) e
o Mal absoluto (Satanás).
Eu já tentei conversar com esses cristãos insistentes e chatos, mas eles são impenetráveis a
argumentos lógicos e científicos já que sua visão fundamentalista não consegue enxergar nuances
nas coisas, mas apenas o preto ou o branco.
E sobre o que conversam as pessoas que pelos nicks revelam ser iniciadas no culto? Não há uma
padronização. Há uma diversidade de temáticas conforme o cargo no santo ou a nação que a
pessoa pertence. Mas o que pude perceber é que os mais esclarecidos tem receio de compartilhar
fundamentos mais profundos do culto, por medo de estarem difundido irresponsavelmente
segredos que só devem ser compartilhados entre o adepto e seu zelador de santo.
Uma forma que estes têm de saber se a pessoa é realmente do santo ou não é perguntar: Qual o
seu axé? O leigo ficará boiando, pois axé é um termo que tem vários significados. Mas entre eles
há um que remeteria a tradição que a pessoa foi iniciada, ou seja, a qual axé da Bahia a pessoa ou
o pai de santo da pessoa pertence. Como essa informação é muito técnica e específica, é uma
estratégia que o povo de santo usa para isolar aquele internauta leigo que pode só confundir as
coisas intencionalmente ou não.
E para encerrar vou dizer como me apresento nessas salas. Utilizo diversos nicks mas sempre deixo
claro que não sou iniciado no culto, sou honesto. Mas sou um pesquisador das matrizes da
chamada África continental e da África da diáspora. E por isso acontecem coisas díspares: posso
ser bem tratado ou desprezado, dependendo da pessoa. Afinal o povo de santo tem uma relação
ambígua com pesquisadores, que segundo eles publicam muitas besteiras sobre o culto dos orixás,
ainda que com seu trabalho de pesquisa acabem legitimando o candomblé como uma coisa séria.
KARDECISMO VERSUS MACUMBA: O SURGIMENTO DA UMBANDA E DA
QUIMBANDA
Este estudo tem como propósito fazer um levantamento histórico do momento em que a
Macumba - culto afro-brasileiro herdeiro da Cabula de origem bantu-angolense - se dividiu em dois
cultos antagônicos (Umbanda e Quimbanda) no contato com o Kardecismo.
Este estudo é um diálogo crítico com várias fontes bibliográficas, mas sobretudo com a obra África
de Geoffrey Parrinder (Lisboa/São Paulo: Editorial Verbo, 1987) e com a tese de doutorado
Umbanda - Os "Seres Superiores" e os orixás/santos: um estudo sobre a fenomenologia do
sincretismo umbandístico na perspectiva da Teologia Católica de Valdeli Carvalho Costa (São Paulo:
Edições Loyola, 1983).
O TERMO MACUMBA
No início do século XX, o culto dos Negros bantu do Rio de Janeiro, ainda não era conhecido com
o nome de Macumba. A primeira referência ao nome só irá aparecer no ensaio O Negro na Música
Brasileira de Luciano Gallet em 1934. Depois disso, a macumba designará o culto da etnia bantu
dos
negros
residentes
no
Rio
de
Janeiro.
A Macumba, segundo Valdeli Costa, desse período era ritualmente pobre e muito próxima da
estrutura do culto praticado pela etnia Bantu na África. Invocam os mortos e os antepassados
tribais, seres bem ou malfazejos. Acreditam na transmigração das almas
"o que no Brasil, os aproximará da doutrina Kardecista - no totemismo e nas práticas
mágicas”
O
TERMO
UMBANDA
O grão-sacerdote da Macumba, na época, denominava-se umbanda, embora também fosse
designado como "pai de terreiro". Ele era o evocador dos "espíritos" e o dirigente das cerimônias.
O termo Umbanda ou Embanda é originário de "Ki-mbanda", o grão-sacerdote bantu,
simultaneamente curandeiro, adivinho e feiticeiro.
O
SURGIMENTO
DA
UMBANDA
A crescente difusão da Macumba entre a população pobre do Rio de Janeiro (negra ou branca) se
deu pela conjugação da marginalização imposta no reordenamento urbano ("Belle-èpoque") e pela
solução de problemas por parte das entidades espirituais que a Ciência oficial e a Medicina branca
não conseguiam resolver. Neste ínterim a Macumba passa a atrair os homens brancos da classe
média com maior escolaridade, conhecimentos e práticas da doutrina kardecista. Neste momento
a estrutura ritual e doutrinária da Macumba entra em crise. Os neófitos, impregnados de padrões
mentais e valores euro-brasileiros, começaram a questionar a Macumba, criticando e procurando
esvaziá-la de seus traços africanos, de suas práticas rituais, repugnantes à sensibilidade branca
(uso de sangue animal, pólvora, punhais, cachaça etc.).
Nesta altura cabe investigar: porque os brancos da classe média de intrusos passaram a galgar a
chefia dos terreiros de Macumba. Sabe-se que uma das formas de poder e opressão é a alegação
da escolaridade. Ou seja, em um ambiente de provável baixa-estima que caracterizava os pobres
negros e brancos não-escolarizados, o ingresso do branco remediado que sabe usar a norma
padrão da Língua Portuguesa, resultará no branqueamento compulsório e autoritário da
Macumba. Entretanto, à medida que os brancos escolarizados passaram a dominar e impor seus
parâmetros à Macumba suscitou-se forte resistência e oposição da parte dos Negros fiéis às
antigas tradições. O atrito entre o apego aos valores tradicionais negros e o esforço "civilizador" e
"branqueador" produziu uma cisão interna no culto. Os negros e terreiros fiéis às tradições
ancestrais da Macumba deram origem ao que se passou a ser chamado de Quimbanda pela ala
Kardecista da antiga Macumba. E esta ala Kardecista remanescente passou a se nomear de
Umbanda. Desse modo, como não podemos esquecer a dimensão política da linguagem, a palavra
Quimbanda passou a ser utilizada para detratar a facção oposta, com o intuito de acentuar o
caráter primitivo da adversária, designando-a com o nome arcaico do sacerdote bantu na África.
Dessa forma, os umbandistas, chefes de terreiro, dão uma conotação fortemente negativa à
Quimbanda, apresentando-a, como votada a fazer o mal, através da magia negra. Assim, a
Umbanda irá justificar sua existência como o combate à suposta ação maléfica exercida pela
Quimbanda, através de seus Exus quimbandeiros.
O FIM DA MACUMBA
O nome Macumba tende a desaparecer, devido à forte conotação depreciativa que o termo possui.
Desde 1968 que Valdeli Costa percebe a aversão dos umbandistas dos terreiros urbanos a serem
chamados de "macumbeiros". Nos subúrbios, o termo Macumba ainda é usado. Na Cabana
Espírita Maria Conga situada no Realengo (Rio de Janeiro), o ritual ainda reflete o período de
coexistência pacífica das duas formas ritualísticas dentro do mesmo terreiro.
O SIGNIFICADO POLÍTICO DA UMBANDA
A Umbanda, entendida como a ala Kardecista da Macumba, surgiu com o intuito de uniformizar o
ritual e a doutrina afro-brasileira, refreando a tendência inventiva dos pais de santo em seus
terreiros. Ou seja, ela visou à homogeneização dos cultos tribais brasileiros na perspectiva de
poder melhor vigiá-los, controlá-los, servindo como aliada da classe dominante no processo que os
historiadores chamam de "Bella-èpoque".
A "Belle-èpoque" (final do século XIX e começo do século XX) se caracterizou como uma
disciplinarização urbana que investiu em formas de controle social sobre as camadas baixas da
sociedade (retirantes, moradores do subúrbio, crianças abandonadas, mendigos, doentes
infecciosos) através dos asilos de mendicidade e de alienados mentais, lazaretos, reformatórios;
utilizando-se de profissionais disciplinadores (médicos sanitaristas, bacharéis, militares e
burocratas) com a intenção de instituir padrões comportamentais ajustados à disciplina do
trabalho indispensável para a consolidação do capitalismo industrial (GLEUDSON PASSOS
CARDOSO, 2002).
Desse modo, o Kardecismo, produto do Positivismo e do Evolucionismo, serviu como o braço
invisível do Poder. Para a classe dominante não interessava apenas dominar o corpo dos indivíduos
através da coerção policial, ela queria também dominar as almas, as idéias através da coerção
simbólica. O Kardecismo ganhará aprovação social pelos Estados Totalitários (basta ver o
crescimento das casas espíritas na Ditadura Vargas), enquanto os cultos mais africanizados que
representavam uma ameaça aos valores do capitalismo industrial serão perseguidos e, mais tarde,
em face de sua resistência, cooptados.
Assim pensar a origem da Umbanda, é resgatar um período histórico em que a classe dominante
utilizou todos os recursos imagináveis (violentos e/ou simbólicos) para fiscalizar e conter uma
imensa maioria negra, indígena e mestiça que estava começando a criar formas de sociabilidade
completamente contrárias aos interesses do grande capital.
ESTRATÉGIAS DE LEGITIMAÇÃO EM LIVROS DE UMBANDA
Este ensaio pretende analisar as estratégias discursivas de legitimação utilizadas por autores
umbandistas.
Utilizamos um corpus composto por cinco livros publicados nas décadas de 40, 50, 60 e 70. Para
não congestionar o fluxo informacional do leitor, diremos o nome da obra no momento em que
formos analisar ou flagrar uma dada estratégia.
Este estudo justifica-se pela necessidade que temos de perceber: como certos critérios de edição,
paginação, diagramação e, principalmente, de "prefaciação" foram utilizadas pelos autores
umbandistas. E saber em que medida essa ou aquela estratégia discursiva flagra, sinaliza ou
comunica a alta ou baixa auto-estima do escritor umbandista - o qual escreve sobre um culto
popular visto pejorativamente por autores "sérios" ou de cultos "mais nobres" em flagrantes
processos de subalternização religiosa.
Para começar nossa investigação iniciamos pela obra de Candido Emanuel Felix A Cartilha da
umbanda - Rio de Janeiro: Editora Eco, 1965. O nome da obra 'cartilha' - um termo do universo
escolar - revela a estratégia que o autor utilizou para legitimar sua obra. Ou seja, Candido Emanuel
Felix deseja que seu pequeno, mas substancioso livro (144 páginas) seja tomado pelo leitor culto
como um micro-manual para o adepto de Umbanda. O autor escolheu a metodologia da pergunta
e resposta, não por acaso técnica já consagrada pelo Livro dos Espíritos de Allan Kardec ou pelo
estilo do espírito Ramatis. No final de sua "cartilha" o autor apresenta uma série de orações aos
orixás, mas utilizando de nomes de santos católicos. Nisto o escritor revela a dependência
intelectual com o culto católico, que muito se percebe até nos altares (congás) da umbanda
popular ainda hoje pejada por imagens de santos católicos.
No livro de Antonio Alves Teixeira (Neto) Umbanda e suas engiras: umbandismo - Rio de Janeiro:
Editora Espiritualista, 1969; vemos a foto do escritor (um mulato de cabelo penteado e usando
paletó); além disso o editor achou importante informar que o escritor em questão, não só publicou
opúsculos e livros de umbanda, mas também livros sobre tabuada, noções elementares de
aritmética e de que o autor é professor diplomado e membro da Academia de Letras do Vale do
Paraíba. Ou seja, inferimos, pelo que foi enunciado, que se Antonio Alves Teixeira fosse um
pedreiro ou um engraxate o editor não teria publicado a obra.
O livro mostra também fotos dos médiuns em impecáveis trajes formais, paletós, vestidos e cabelo
cortado. Ou seja, quanto mais embranqueado, urbanizado melhor. Nada de mostrar pessoas
"incorporadas" por preto-velhos analfabetos e pés descalços.
No livro de AB'D' Ruanda Umbanda (catecismo) - 3ª edição. Rio de Janeiro: Aurora, 1954; o próprio
subtítulo já evoca o universo discursivo do qual o autor não conseguiu se libertar: a igreja católica.
O autor muito preso aos lexemas católicos cria a partir deles extravagâncias do tipo: pontos
rezados, credo, mandamentos de umbanda e sacramentos de umbanda.
A obra de Alfredo Alcântara Umbanda em Julgamento (o original não informa os créditos
bibliográficos) é a que revela mais claramente essa insegurança, esse problema de identidade e de
subserviência do escritor umbandista. O livro é apresentado por um escritor espírita kardecista e
dois médicos kardecistas. É interessante perceber nome de médicos julgando uma obra
umbandista, pois se sabe que por muitos anos a medicina oficial menosprezou o saber da
"medicina" umbandista, considerada como responsável por danos e enlouquecimento de
pacientes.
Para concluir, pensamos que os autores umbandistas - sejam utilizando de metodologias escolarlivrescas, vocabulário católico ou usando o aval kardecista - foram e são vítimas de uma ignorância
em relação ao próprio credo que professam. A umbanda é rica e complexa (basta ler um WW da
Mata e Silva ou um Rivas Neto) e não precisa está pedindo esmolas ou apadrinhamento de
ninguém.
OS TARÔS DE ORIXÁ NO MERCADO EDITORIAL BRASILEIRO
O propósito deste estudo é esmiuçar e confrontar a constituição estética e ideológica de trés tarôs
de orixá existentes no mercado editorial brasileiro.
Os tarôs que iremos examinar são respectivamente o da Editora Pallas, o da Artha Editora e o da
Pensamento/Llewellyn editora.
Para dar conta das analises estéticas lemos teóricos das artes plásticas como Fayga Ostrower, E. H.
Gumbrich e Michael Archer.
Para dar conta dos aspectos sócio-religiosos envolvidos no problema lemos antropólogos da
religião
como Mircia Eliade, Joseph Campbell, Reginaldo Prandi, Pierre Verger, Roger Bastide, Raul Lody,
Ronilda Yakemi Ribeiro, entre outros.
PARA QUE SERVE UM TARÔ DE ORIXÁ?
O leitor que parou para ler esse texto deve ter algum grau de iniciação ou no mundo dos orixás,
nkices e voduns ou no mundo dos arcanos do tarô.
Mas caso não tenha nenhuma noção do que faz um baralho de tarô irei tentar explicar.
O tarô é um oráculo que serve para se pedir conselhos em situações problemas. Basicamente é
isto.
Contudo, o leitor deve questionar: mas baseado em que coisas esse “oráculo” aconselha?
A resposta para essa questão não é simples, pois o Tarô, ou para ser mais preciso, os tarôs são
baseados no universo de referencia de seu autor.
Pois os tarôs modernos tem autoria reconhecida em cartório. Ja os tarôs mais antigos tem autoria
anônima ou atribuída.
O TARÔ DA EDITORA PALLAS
O primeiro tarô de orixá que tivemos acesso foi o de Eneida Duarte Gaspar – 3ª edição – Rio de
Janeiro: Pallas, 2006.Este tarô foi ilustrado por Walter Tunis.
Ao olharmos as belas cartas do tarô da Pallas, constatamos que apesar de se chamar tarô dos
orixás, o que vincularia o tarô imediatamente ao universo do candomblés de rito queto/nagô, vêse entre os arcanos maiores, por exemplo, o arcano zero com uma divindade da quimbanda, Zé
Pelintra.
Os caboclos são o arcano 21 e os pretos-velhos são o arcano 20.Revelando que, utilizando
divindades do panteão umbandista, Eneida Gaspar afro-brasileirou o seu tarô. Entretanto arcanos
menores ela preferiu africanizar o taro, como se pode perceber nas filigranas do naipe de ouros
consagrando a revelar os fundamentos dos noves oruns (céu/alem) dos iorubas nigerianos,
enquanto que no Brasil o candomblé dividiu o universo em apenas orum e aye – a terra,
simplificando o referencial devido a influencia do céu e inferno católicos.
Devemos questionar o estranho critério que levou a autora a associar o arcano 15- O Diabo a Exu.
Os estudiosos das religiões afro-brasileiras sabem que o no Brasil o orixá Exu foi egunizado - ou ate
poderíamos dizer que foi quiumbanizado. De orixá moleque, ambíguo, travesso entre o bem e o
mal relativos, o compadre se tornou o representante do mal absoluto segundo os pastores
eletrônicos, tipo Edir Macedo e o Silas Malafaia.
Então não sei se faz bem a Exu associa-lo ao Diabo bíblico. Ja que em nada se parecem.
Enquantoooo o Diabo bíblico, segundo o livro Satã: uma biografia de Henry Ansgar Kelly da Editora
Globo, seria uma espécie de funcionári detestável do governo despótico do Deus de Moisés; Exu,
ao contrário deste não teria função de tentar nem condenar ningué, já que pós-mortem na cultura
iorubana não é desejadonem ansiado. Morrer nas religiões tradicionais africanas é um período
rápido, o bom mesmo é estar vivo e participando de tudo o que a vida oferece de bom. Não há
condenação eterna no além iorubano, pois depois de um certo tempo os mortos voltam a
encarnar nos descendentes de seu clã. Maiores detalhes conferir a obra da antropóloga Ronilda
Yakemi Ribeiro – Alma Africana no Brasil: os iorubás.
Deste modo, penso que Eneida Gaspar apenas repetiu o senso comum. Ja Zolrak do Tarô Sagrado
dos Orixás – 7ª edição – São Paulo: Pensamento, 2008 - optou por outro caminho. No seu tarô há
a carta do Diabo, associada à luxuria, negatividade, magia negra, vampirismo energético como na
maioria dos tarôs conhecidos e há a carta de Exu, associada à virilidade masculina.
No arcano 15 de Eneida Gaspar ela repetiu o cânone consagrado aos arcanos 15 tradicionais. Hà
um figura maior que representa o Diabo, ou pelo menos, um exu rei, coroado e de tridente (como
manda a quimbanda), com uma capa vermelha e preta que se transmuta em asas de morcego.
Numa das mãos segura o tridente mencionado, que a tradição cristã tirou do Deus Netuno da
mitologia grega. Na outra mão segura uma garrafa de aguardente, simbolizando os vícios
alcoólicos. E como nas cartas tradicionais há mais duas figuras como que acorrentadas. Uma
mulata acorrentada e com os seios de fora levanta a saia vermelha e mostra o corpo nu para o
mulato. Um mulato acorrentado a um fogareiro revela ansiedade. Ambos, o casal de mulatos estão
dentro de pequenos círculos mágicos cheios de chamas amarelas. A chama do fogareiro também é
amarela que simboliza intelectualidade ativa. Na carta predomina o vermelho o que revela o
dinamismo agônico do sexo e da boêmia. O semblante da testa franzida do Exu coroado revela
malícia e picardia. Já a mulata esboça uma gargalhada o que a deve associar a pomba-gira da
quimbanda. O mulato está de costas e não podemos ver seu semblante, mas seu rosto esta
voltado para as chamas do fogareiro de barro do qual saem correntes que o prendem pelo
abdome, justamente o chacra das paixões grosseiras no corpo astral humano.
No tarô da editora Pensamento não há arcano 15, mas há o arcano do Diabo. O tarô da
Pensamento foi ilustrado por Durkan. E a carta do Diabo tem um grafismo bem pobre. Nao há a
simetria do desenho de Walter Tunia do tarô lançado pela Editora Pallas. Sendo assim, o resultado
ficou próximo de uma caricatura escolar muito mal desenhada. Ou talvez tenha sido essa a
intenção do artista-plástico: representar o Diabo como algo grotesco, tosco, disforme e mal
acabado.
Realmente o mito do Diabo cristão foi uma das ideias mais idiotas perpretadass por Papas e
pastores. Dividir o universo em apenas duas metades antagônicas: de um lado Deus (o bem
absoluto) e de outro o Diabo (o mal absoluto).É realmente uma forma de empobrecer um universo
que cabe muito mais possibilidades e cores.
Dos tarôs analisados, o mais surpreendentemente africanizado e o da editora Artha. Este tarô é de
autoria de Conceiçao Forty, foi ilustrado por Cláudia Krindges e teve consultoria de Ivoni Aguiar
Tacques.
Nele não há a carta do Diabo, mas há o arcano 15 representado por Exu orixá. Nele vemos um
negro descalço, vestido de preto e vermelho, segurando um enorme ogó, bastão de madeira com
a cabeça em formato de pênis.
Na carta o negro usa um saiote vermelho e negro e tem os braços cheios de brajás, fileiras de
búzios.
Nas lendas africanas, como nas narrativas bíblicas, não há muita precisão historica.Exu ora aparece
como um orixá primordial, sendo representado pelo fogo da brasa no inicio da criação, ora aparece
como uma especie de garoto de recados que trabalha sob pagamento e que mora nas ruas
africanas.
No jogo de búzios dos candomblés brasileiros Exu é associado ao primeiro odu, quando um búzio
está aberto e os 15 demais caíram fechados no tabuleiro e chama-se Okanran. Na maioria dos
manuais de Jogo de Búzios que consultamos é quase sempre um odu perigoso e que precisa de
muitos cuidados quando cai para um consulente.
Talvez até os religiosos dos culto afro-brasileiros que escreveram os manuais do Jogo de búzios
existentes no mercado editorial tenham absorvido as supertições cristãs de satanizar Exu.
Por isso, dos tarôs de orixá analisados, realmente o desenhado por Cláudia Krindges da Editora
Artha é o que mais se aproxima do que é enunciado pelos contos míticos nigerianos.
Cabe perguntar por que os missionários cristãos ao chegarem nos vilarejos africanos e verem
fetiches consagrados a Exu, o associaram ao Diabo cristão. Para quem nunca viu, os africanos
esculpem enormes pênis eretos no barro ou na madeira nos assentamentos consagrados a Exu.
O africano não-cristao ou não-islamico tem um relacionamento natural com a sexualidade e ao
invez de sacrificá-la e reprimila como manda Moises, eles a ressaltam.Pois enquanto a religião de
Moises e seus derivados são pautados pela pulsao de morte – basta ver o simbolo do cristianismo:
um moribundo na cruz – as religioes tradicionais africanas (das quais o candomble brasileiro
herdou inúmeras coisas) são pautadas pela pulsão de vida – basta ver a ginga da capoeira e alegria
do samba.
Tudo que é vivo assusta o Cristão, principalmente quando o vivo é mulher ou gay.Tudo o que se
afirma em contraposiçao ao macho branco, ocidental, patriarcal assusta o Malafaia.
Para o cristao o corpo é sujo e fonte de pecado, a alma é que deve ser valorizada.Já na tradição
iorubá o corpo (ara) é celebrado porque é com ele que vivemos e respiramos e não há conceito de
pecado, pois a religiao tradicional africana não lida com culpa.
COMO OS PRATICANTES DE CANDOMBLÈ LIDAM COM O TARÔ DOS ORIXÁS?
Não fizemos uma rigorosa pesquisa estatística para responder essa pergunta.Mas numa pequena
amostragem populacional (três informantes) percebemos que o tarô dos orixas não desperta
interesse por parte dos adeptos de candomble.Os três informantes nunca tiveram acesso ao tarô
dos orixás ou nem sabiam que existia no mercado editorial brasileiro esse tipo de oráculo.
Um ogan disse que nós deveíiamos ter muito cuidado ao lidar com tarô porque segundo ele, quem
responde no tarô são eguns (desencarnados).E revelou não ter interesse nenhum em jogar o
tarô.Ele, como os outros dois informantes, preferem obter respostas de orixàs, diretamente pelo
método tradicional no candomble brasileiro: a consulta aos búzios (meridilogun).
O meridilogun é uma adaptação brasileira do opele ifa, um oráculo nigeriano.Enquanto o opele ifa
é mais complexo: nele respondendo quase 400 orixas, na versão brasileira só respondem os 16
orixás principais cultuados no Brasil.
Entao cabe perguntar: quem se interessa em comprar tarô de orixá?E a resposta é uma hipotese:
os tarólogos. Principalmente eles, já que quem é estudioso de tarô geralmente não consegue se
conformar em ter so um tipo de tarô.
Mas suponho tambem que devido a qualidade excepcional dos tarôs analisados eles acabem
despertanto o interesse de curiosos que vão as livrarias e procuram o setor de religioes afrobrasileiras.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O propósito desse estudo não foi subsituir a consulta aos proprios tarôs analisados, mas de ser
uma reflexão sobre a importância de ver o tarô como uma fonte iconográfica interessante sobre o
universo das religiões afro-brasileiras, da diáspora negra, assim como, ser uma forma interesante
de mergulhar na chamada África continental.
NEGROS NO CEARÁ
Este artigo é uma análise do evento promovido pelo Museu do Ceará: Seminário Negros no Ceará:
História, Memória e Etnicidade.
O evento foi realizado aqui em Fortaleza nos dias 18, 19 e 20 de Junho de 2008; foi promovido pela
Associação Amigos do Museu do Ceará e teve o apoio da Unegro - União de Negros pela
Igualdade.
A minha análise desse evento é fragmentada porque minha participação foi fragmentada.Não tive
condições financeiras de participar de todas as atividades e horários oferecidos pelo seminário.Até
porque coincidiu com a fase em que estava divulgando na cidade o Curso Panorama da Mitologia
Afro-brasileira, sem patrocínio e com todas as dificuldades de quem divulga cursos dessa natureza
numa cidade marcada pelo catolicismo branco de matriz ibérico, onde a população negra tem uma
baixa auto-estima tão grande que adota a religião do branco e não se assume negra: - Não senhor,
sou moreno escuro.
O seminário partiu de uma premissa bem crítica enunciada em seu folder:
"A abolição do escravismo negro, coincide em 1884 no Ceará, foi um dos fatos mais elaborados na
escrita de uma história oficial do estado.A expressão "Ceará - Terra da Luz", um dos principais
epitetos construídos acerca de uma 'identidade' local, surge a partir daí, sendo apropriada na
contemporaneidade com fins mercadológicos ligados ao turismo local"
E aí com este tipo de folder nós temos a resposta porque é que o Museu do Ceará anda sempre
mal das pernas financeiramente, porque o Governo Cid Gomes prefere enviar gordas verbas para o
Porto de Pecem e para os megaprojetos como a Siderúrgica e a Refinaria, do que pagar em dia o
salário dos monitores do Museu do Ceará.Tudo por um motivo simples:o Museu do Ceará
incomoda.A história local incomoda.A memória incomoda. Ficar escarafuçando os "feitos" dos
poderosos do passado incomoda os poderosos do presente.
E aí vemos os funcionários, bolsistas do Museu fazendo heroicamente esse seminário, contando
com a cara e coragem e contando com um pouco de dinheiro que entra da venda dos livros
editados pelo Museu do Ceará, ainda da gestão passada do Museu.Se não fosse a venda dos livros
na portaria do Museu ficaria inviabilizado coisas simples como tirar um xerox, comprar uma mídia
que vai ser utilizada pelo palestrante na mesa-redonda no Datashow, comprar uma água, entre
outras coisas.Ou seja, eis a política cultural do Governo Cid Gomes:o Museu do Ceará de pires na
mão. Enquanto o Porto do Pecem que lesou vilas de pescadores com todas as verbas.
Participei como ouvinte da mesa-redonda: Herança cultural africana no Ceará.Nela o professor
Lino de Ogum fez uma comunicação interessante sobre os falares afro, usando sua experiência
como homem de letras e entrando em considerações lingüísticos-filológicas sobre a língua Banto, a
etnia negra que mais colonizou o Ceará, ainda que ele, por ser de um ilê keto tenha falado um
pouco do tronco lingüístico yorubá.Foi muito interessante a comunicação dele, porque deu a
oportunidade das pessoas presente perceberem que o povão fala muito banto e yorubá sem saber.
Na comunicação de Cláudio Correia (presidente do Maracatu Vozes D'Africa) surgiu um mal-estar
geral, pois ele enunciou explicitamente que o indígena é preguiçoso e o negro trabalhador.Eu
como tento ser compreensivo sempre, acabei entendendoo o porquê dessa representação tão
negativa do indígena e tão utilitarista da figura do negro.
O homem é folclorista e o que os folcloristas brasileiros mais lêem é uma farta bibliografia da
década de 20 e 30 com franca orientação nazi-facista.Ou seja, falo do cearense Gustavo Barroso e
do potiguar Câmara Cascudo, que como relata a historiografia do anarquista Edgar Rodrigues,
assinaram o manifesto fascista - integralista daqueles anos.Todos eles embevecidos pelas idéias
autoritárias de Plínio Salgado e do chamado Verde-Amarelismo em torno da revista Anta e outros
periódicos que se opunham ao modernismo de cunho nativista e anárquico de Mário de Andrade,
Oswald de Andrade, Raul Bopp.
O Brasil construído por esses homens integralistas aponta para a direção da fala do Cláudio
Correia: um Brasil feito pelo índio, pelo negro e pelo colonizador português, mas em que o índio e
o negro tem de saber o seu lugar: o lugar da submissão, o lugar da invisibilidade social. O índio
para ser aceito e o negro para ser aceito terá de renunciar as suas ancestralidades e assumir os
valores do branco europeu.
Até o cearense Gerardo de Mello Mourão caiu nessa esparela integralista e quando vivo cantava
loas ao integralismo, a Mussolini e a todos os ditadores da época.
A comunicação do Prof. Dr. Gerardo Vasconcelos da Faculdade de Educação foi bem interessante e
tentou revelar as relações entre a combatividade da população negra através da arte da
capoeira.Inclusive toda a cooptação mercadológica da capoeira com a criação da luta regional.O
interessante foi a recuperação de uma figura baiana, um capoeirista negro chamado Besouro, um
verdadeiro "Robin-hood" da época: amado pelo povão, odiado pelos poderosos e pela polícia. E
que acabou morrendo num leito da Santa casa de misericórdia da Bahia se esvaindo em sangue e
sem atenção nenhum dos profissionais de saúde, por ordem dos poderosos locais.
A comunicação de Armando Leão (coordenador do GCAP - Grupo de Capoeira Angola Pelourinho)
foi boa, porque eles mostrou como foi seu percurso de capoeirista vindo do Rio de Janeiro e
chegando numa cidade e num estado que diz que não há população negra.E que a capoeira daqui
é caceteira. E a dificuldade de difundir uma capoeira que não é seduzida pelo mercado e nem por
uma necessidade cearense dos homens andarem se amostrando e arrotando virilidade,
masculinidade e valentia à toa.Enquanto os valores da capoeira angola são outros: se baseiam no
respeito, na solidariedade e no espírito comunitário africano.
Foi interessante ouvir o relato de experiência de Mãe Valéria de Logum-edé do Ilê Asé Omo Isé,
(Memorial do Candomblé no Ceará) e Mãe Ziná da Tenda Senhores de Ogum, uma sacerdotisa da
umbanda. Cada uma revelaram suas representações de como entendem a africanidade dentro do
cenário cearense.E chegamos a conclusão de que os cultos de matriz africano-indígena são
relegados à uma marginalidade social.
A comunicação de Oswald Barroso, teatrólogo e pesquisador, foi muito rica.Através de fotos, o
pesquisador passeou pelas máscaras africanas e sua repercussão no artesanato do Ceará,
revelando através de um estudo comparativo que as danças dos Irmãos Aniceto se parecem com o
que é feito na costa africana.O Bumba-meu-boi cearense de brinquedo, papelão e tecido em
muito se parece com a relação do povo africano nas suas brincadeiras de terreiro com bois de
verdade, mostrando a marca indelével da pecuária nos dois povos.
O seminário foi uma oportunidade de vermos a relação que há entre África e Ceará e pelo que
percebemos na fala de cada palestrante a aproximação é muito maior do que se imagina.
NORDESTE (DES)FIGURADO
Este texto pretende analisar a Exposição "Nordeste: Fronteiras, fluxos e personas" em cartaz no
Centro Cultural Banco do Nordeste de 03 de Fevereiro a 15 de Março de 2005.
A exposição tem curadoria de Luiza Interlenghi, reúne trabalhos em desenho, fotografia, têmpera,
objeto, xilogravura, instalação e multimídia e artistas como: Rosana Ricalde, Martinho Patrício,
Leonilson, Antonio Dias, Hilal Sami Hilal, Gil Vicente, José Rufino, Grupo Rasura, Nazareno, Euzébio
Slocowick, Caetano Dias, Luiz Hermano, Marcone Moreira, Tunga e Transição Listrada.
Para efetuarmos a nossa investigação, nos valemos das legendas expostas ao lado dos trabalhos
apresentados e da breve sinopse acerca da exposição presente no folder "Agenda Cultural" do mês
de Fevereiro do corrente ano.
Foi interessante perceber nesta exposição, uma necessidade que os museus e galerias de
equipamentos públicos como o Banco do Nordeste têm de explicar ao público as obras de
expostos. As instituições (Museu de Arte Contemporânea, Memorial da Cultura Cearense etc.)
utilizam uma gama de recursos para, no entender deles, tornar os trabalhos mais "digeríveis" pelo
público. Deste modo, temos nossa contemplação e fruição da obra interrompida por monitores
chatos que "irão explicar" (sim, é esse o verbo utilizado) a obra contemplada; como se não
bastasse, as legendas impressas que esgotam as obras que comentam ao seu lado. Ou seja, o
público contribuinte, que financia estes eventos com seus impostos, é burro.
Esta constatação serve de mote para entender a arte contemporânea e a exposição citada
propriamente dita.
O mote da exposição, que Luiza Interlenghi fez curadoria, é a ausência de mote da arte
contemporânea. Ainda que as prolíficas legendas e sinopses assegurem de uma intenção
enunciativa ou de uma unidade discursiva comum aos trabalhos apresentados; o folder fala em
"mapeamento do modo como os fluxos culturais questionam limites territoriais e reúne obras de
artistas, com passagem pelo Nordeste, que transitam ou se fixaram em diferentes estados: CE, PE,
PB, AL, MA, ES, RJ e SP".
Ou seja, o que se intui de uma varredura é a própria perplexidade do artista contemporâneo, seja
nordestino ou não.
Esta perplexidade se traduz pictoricamente em desespero, cinismo e humor. Assim, no vídeo
"Quimera" (2004) de Tunga realizado em super 16, temos o lado mais sombrio da exposição; em
que imagens desconexas, fragmentadas, desfocadas de gatos "pé-duro" (ou "vira-latas" no dizer do
leitor do Sudeste) sem valor, superpostas ou justapostas à imagem de um rosto masculino fazendo
a barba, embalados numa trilha-sonora angustiante de ruídos captados em ruas de cidade grande,
rosnar de gatos, berimbaus, escola de samba, automóveis, fraseados de teclado psicodélicos etc.
Não vemos o homem que faz a barba por inteiro (não há plano americano), o mesmo comparece
no vídeo em closes labirínticos, fiapos furtivos e sobreposições de manchas de luz saturada. Tudo a
sugerir o sujeito contemporâneo sem corpo, sem identidade, sem propósito, sem utopia, perdido
num tumulto de estímulos visuais e sonoros fugazes e poluidores das grandes metrópoles.
Entretanto, eu sei disso porque fiquei até o final dos 16 minutos da projeção, enquanto o público
ansioso e impaciente não se permitia a ficar três minutos na sala. O que sinaliza o espectador
frívolo da pós-modernidade: superficial e desejante de imagens cada vez mais frenéticas, que na
expectativa de consumir o máximo de imagens possíveis acaba sendo consumido por elas, como
diria Guy Debord (A Sociedade do Espetáculo).
Contudo, se a intenção de Tunga é angustiar, o mesmo não ocorre com o vídeo-instalação do grupo
"Transição Listrada"; em que vemos monitores de TV colocados sobre escadas-cavaletes, exibindo
um vídeo feito pelo grupo que consiste em pequenas seqüências de membros que chegam em
diversos muros da cidade com a escada debaixo do braço, abrem-na e sobem nela para ver o que
há do outro lado do muro.
À medida que o tempo passa, a mesma "cena" se repete diversas vezes, mudando os "atores" e os
"cenários" filmados "ad nauseam".
O minimalismo permutacional do empreendimento dos rapazes faz lembrar o cinzento
"Koyani.qaa.tsi", que o minimalista Phillip Glass musicou na década de 80, mas o tom é outro: é
leve e engraçado, até pela ausência de áudio. Lá pelas tantas percebemos que as escadas do vídeo
são as mesmas que sustentam os monitores de TV. Configurando um divertido jogo metonímico
auto-referencial.
Assim como os personagens que sobem na escada para ver o que há do outro lado do muro, são
interceptados por uma nova seqüência; o espectador de arte contemporânea também não
consegue fechar as inúmeras "gestalts" abertas por jornais, revistas e outdoors lidos a esmo no
vertiginoso "habitat" urbano.
Da leve esterilidade do vídeo-instalação do "Transição Listrada", vamos para o vídeo-instalação
"Piquenique" do grupo Rasura. Nela um ambiente simula um piquenique no meio do mato. Em
cima de uma toalha branca é projetado um recipiente "tupperweare" de comida que vai
desaparecendo. A obra pretende evocar "o tradicional encontro de farofeiros", espécimes que vem
desaparecendo com o crescimento urbano e a eventual substituição pelas praças de alimentação
dos shoppings.
É das obras apresentadas: a mais explicitamente engajada. Engajamento entendido no sentido das
"micropolíticas" do cotidiano de Félix Guatarri e Michel Foucault.
Mário de Andrade (O Baile das quatro artes) diz que o artista tem de ser, antes de tudo, um
artesão. Assim, vemos engenho técnico na obra "Sem título" (2004) de Hilal Sami Hilal que pegou
uma chapa de cobre trabalhado com verniz e ácido, compondo um delicado e rendilhado arabesco
metálico suspenso no ar, a desafiar a lei da gravidade. O efeito icônico é maravilhoso.
Também vale à pena conferir o virtuosismo técnico das minúsculas cadeiras e objetos de prata de
Nazareno; assim como, as mandalas gigantes, coloridas e vibrantes de plástico e arame de Luiz
Hermano.
A plasticidade folclórica típica do Nordeste é retomada e subvertida nas garrafinhas
permutacionais de areia colorida de Rosana Ricalde ou nos penduricalhos armoriais das "Ledas" de
Marinho Patrício.
O problema colocado na e pela exposição é, como diz Gil Vicente - "Remontagem da Escultura"
(98) " nanquim sobre papel, o "embaralhamento" discursivo, a arbitrariedade da arte
contemporânea e sua crise de representação; cujo interseccionismo plástico " as monotipias de
José Rufino que de longe lembram radiografias de sistemas sanguíneos ou nervosos e de perto
sugerem esfinges " é puro sintoma.
O artista contemporâneo é obrigado a representar, a fazer uma mimese naturalista pelo público
comum, presente na exposição, o qual se queixava de nada "entender". Como se tivesse a
obrigação de figurar tudo claramente e sem liquidar a linguagem, quando este mesmo público
chega em casa e assiste a uma liquidação da linguagem diária em Programas como Big Brother,
Ratinho, sem nada reclamar.São as contradições de nossa época.
O Nordeste "retratado" pela exposição, não é o Nordeste estereotipado e clichê da "Central do
Brasil" do Walter Salles embalado para ganhar prêmios em Cannes; mas um Nordeste desfigurado
pela mundialização do capital, suas tecnologias da informação e pela dissolução de fronteiras
territoriais (globalização).
O Nordeste "retratado" pela exposição, não é o Nordeste estereotipado e clichê da "Central do
Brasil" do Walter Salles embalado para ganhar prêmios em Cannes; mas um Nordeste desfigurado
pela mundialização do capital, suas tecnologias da informação e pela dissolução de fronteiras
territoriais (globalização).
NORDESTINOS TALHADOS EM MADEIRA E BARRO
Este estudo pretende analisar a exposição "Mestres do Artesanato Nordestino" que está em cartaz
no Centro Cultural Banco do Nordeste no período de 01 de Fevereiro a 30 de Abril de 2005.
A exposição tem curadoria e textos de Jacqueline Medeiros.
Este estudo parte de um esforço de minha parte, no sentido da elaboração do que venho
nomeando de "Teoria da Plasticidade Nordestina", a qual se instaura no diálogo com a obra do
sociólogo francês Pierre Francastel ("A Realidade Figurativa" - 2ª edição. São Paulo:Editora
Perspectiva, 1993) e a obra do Jornalista e Professor cearense Gilmar de Carvalho particularmente com os livros "Mestres Santeiros: Retábulos do Ceará" - Fortaleza : Museu do
Ceará: Secretaria da Cultura do Estado Ceará, 2004 e "Xilogravura: doze escritos na madeira" Fortaleza : Museu do Ceará : Secretaria da Cultura e Desporto do Ceará, 2001. Ambas as obras
mencionadas fazem parte da Coleção Outras Histórias, coordenada pelo Professor do Curso de
História da Universidade Federal do Ceará Francisco Régis Lopes.
Toda crítica de arte pressupõe o estabelecimento de critérios de aferição da obra examinada e sua
relação com as demais da exposição em que está inserida; o diálogo e/ou confronto com o cânone
e a tradição acadêmica ou popular tomada em questão.
A exposição é de artesanato e não do que a academia chamou de belas artes. Portanto, é dentro
desse território epistemológico, que o mercado editorial de artes convencionou chamar de artes
aplicadas ( arquitetura, "design", mobiliário, vestuário, decoração, gastronomia etc.) que devemos
considerar as realizações da Família Candido, residente na casa da rua Boa Vista, n° 49, em Juazeiro
do Norte - Ceará (a fértil e abençoada região do Cariri) e o seu repertório modelado em barro
cozido e inspirado na cultura nordestina: bandas de música, reisados, lapinhas, presépios,
romarias, quadrilhas e fases da vida de Pe. Cícero, para citar alguns.
Que tipo de modelos estéticos são postos pelos filhos do mestre Seu Américo em Fazenda Nova Ceará, quando empregam instrumentos de trabalho como faca, estilete usado para os detalhes de
acabamento, tábua de madeira e as mãos firmes e agéis?
Que elementos afetivos e simbólicos estão em jogo, quando a matriarca Dona Maria de Lourdes
junto com as filhas sentam no terreiro da casa, como se brincassem feito criança e em jorros de
criatividade inventam outros materiais ou reutilizam o que se encontra no seu cotidiano, como os
índios cariris feitos de cerâmica que possuem adornos de palha e pena de capote encontrados no
munturo do quintal.
A exposição apresenta duas categorias de artistas populares: os consagrados e os anônimos.
Deste modo, vemos uma intencionalidade racionada no rigor geométrico construtivista das
esculturas do cearense Zenon Barreto, feitas com materiais ordinários do cotidiano sertanejo: os
estribos pretos oxidados e imprestáveis para a cavalaria, precisamente montados, formando
composições equilibradas; os chocalhos pretos enferrujados em lances alternados; os pares de
lamparinas de flandre estanhado.
Também o "Dom Quixote", feito de sucata de ferro automobilístico pintado de preto pelo cearense
Zé Pinto com nítidos traços cubistas e estilizados ou o "Gari" esculpido em ferro comum do
potiguar Dimauri, revelam uma seriedade serialista que em nada lembram as vibrantes miniaturas
de papelão do cearense Willi de Carvalho, representando carrosséis de parques de diversões com
fitas e bandeirinhas coloridas de São João ou as quermesses nas praças dos vilarejos interioranos
com seus carros de boi.
O elemento religioso se faz presente na escultura de barro "Artesão encenando (sic) ao menino
Jesus o ofício de carpinteiro" do pernambucano Antonio José da Silva; na qual aparece um
carpinteiro de cabelos lisos com serrote fazendo tamborete e um menino Jesus com um martelo
na mão e traços europeus. O panejamento das roupas medievais, a precisão dos traços e a cor
marrom fazem a obra parecer de madeira.
Também no "São Francisco" em barro cozido do pernambucano Geminário André da Silva, em que
o panejamento do manto e a graciosiade dos pombos sobre seu corpo dão a ilusão da obra
também ter sido feita em madeira.
Assim como o "Santuário" em madeira serrada feito pelos artesãos cearenses da Associação Padre
Cícero que dosa uma urdidura mourisca, a imponência gótica de suas torres apontadas para o céu
e o excesso barrôco do seu verniz. Ou ainda a surpreendente "Nossa Senhora Coração de Maria"
esculpida em madeira pelo cearense Expedito B. S., que pintou a santa de uma forma patinada que
lembra o bronze.
Entretanto, os artistas populares dentro da diversidade étnica da cultura nordestina, podem
mostrar olhares menos devotos sobre os temas e figuras caros ao cristianismo medieval dos
santinhos expeditos distribuídos nas novenas feitos em gráficas rápidas ou "lan houses", em sua
feição ibérica; como uma "santa ceia" esculpida em relêvo na madeira, cujo os rostos dos
apóstolos evocam máscaras africanas ( a obra não tinha legenda, por isso não posso informar ao
leitor dados como o título, o autor nem a procedência). Ou os simpáticos "Anjos Cangaceiros"
feitos em barro cozido pelo pernambucano José do Carmo. Nos quais vemos um anjo com
atabaque, um Corisco alado com viola e um Virgulino alado com acordeão de oito baixos.
Outro percurso temático da exposição, no dizer da semiótica greimasiana, é o dos ofícios
populares. Desde o caçador sertanejo esculpido em madeira pelo alagoano Mestre Camilo. O qual
apresenta um vestuário típico com chapéu e chinelos de couro, pitando um cigarro de palha, com
uma espingarda do lado e um "veado" morto empendurrado no ombro; tem traços caboclos
(mestiço de ameríndio e caucasiano); aquele cansaço e desolamento característico do sol do semiárido que envelhece os trabalhadores rurais antes do tempo.
A "Florista" feita em estôpa pela paraibana Espedita da Costa Medeiros; o "Tocador de flauta" feito
em cerâmica por um artesão cearense desconhecido ou a "Rendeira" velha fumando cachimbo e
sentada com uma almofada de bilro feita em barro cozido por um artesão desconhecido do Rio
Grande do Norte e a diversidade de materiais e técnicas empregados sugere às autoridades
competentes das inúmeras possibilidades de geração de emprego e renda, num contexto
geográfico marcado pela sazonalidade das chuvas, por técnicas agropecuárias predatórias e pelo
advento da lucrativa indústria do lazer e do entretenimento - vide Hollywood - na era da
Informação.
Se os orgãos governamentais - de economia mista - e a iniciativa privada se juntassem e
discutissem com seriedade e responsabilidade pública; cenas esculpidas em barro cru pelo
sergipano José Freitas ("Retirantes") onde meninos negros, buchudos, raquíticos e de pésdescalços carregam balaios, cestos de palha, lenha e potes desfigurados (pés e mãos enormes e
grotescas)pelo cansaço e fome, seriam apenas uma deformação estética de fundo estilístico e não
o que são na dura realidade nordestina: um caso de polícia.
A quantidade de vezes em que intrumentos musicais são apresentados na exposição das mais
diversas formas - matracas de madeira do maranhense Pedro Piauí; a banda cabaçal talhada em
madeira colorida pelo cearense Diomar da Associação Padre Cícero sugerem que essa poderia ser
a saída para a geração de emprego na região, através do incentivo às bandas e fanfarras
municipais, no aperfeiçoamento de maestros e regentes mais experientes e a formação continuada
de músicos aprendizes. Seria muito bom que as políticas públicas de cultura contassem com a
parceria da milionária indústria fonográfica.
Se vivêssemos num país sério, artistas como a alagoana Rita Aparecida Rosendo poderia continuar
talhando em madeira seus gatos do mato - que de tão bem feitos - só faltam avançar na jugular de
quem se abaixa para vê-los na vitrine. Ela receberia uma bolsa de algum CDL para aperfeiçoar e
ensinar o que sabe para os adolescentes do seu quarteirão no ateliê comprado pelas milionárias e
predatórias madeireiras do Pará.
O terceiro milênio apresenta um desafio para as universidades públicas ou particulares: como
aproveitar o tempo livre compulsório do desemprego estrutural e os humores incostantes da
economia informal e do sub-emprego?
FOTOGRAFIAS DO NORDESTE
Este estudo pretende analisar a exposição "Poéticas Urbanas", que está em cartaz no Centro
Cultural Banco do Nordeste de Fortaleza, do dia 22 de Março ao dia 7 de Maio de 2005.
A exposição tem curadoria de Solon Ribeiro e tem como artistas participantes: Roberto Galvão,
Márcio Lima e Ticiano Monteiro. Reúne fotografias e projeções em vídeo e película.
A nossa análise conta com a sinopse da exposição, divulgada na agenda cultural do Mês de Março;
como também se vale das legendas de Solon Ribeiro, expostas ao lado das obras.
O nosso estudo dialoga com a teoria fotográfica de Ivan Lima do livro "A fotografia é a sua
linguagem" - 2ª edição - Rio de Janeiro: Espaço e Tempo, 1988.
A obra "Do caos à luz" de Roberto Galvão compõe-se de uma série de fotografias, cujo objeto de
descrição é a arquitetura de Fortaleza. Como também faz parte da composição, um vídeo com
imagens da mesma arquitetura. Entretanto, no dia em que fomos fazer a resenha da exposição, o
monitor de TV tinha sido tirado por problemas técnicos. Assim, nossa análise recairá apenas sobre
os fotogramas estáticos.
Como cada parte isolada da obra não foi nomeada, iremos fornecer algumas pistas para a
identificação do leitor.
A obra começa na parede externa, em que vemos uma seqüência de fotografias marinhas,
provavelmente tiradas na Praia do Futuro. Um mar rebelde e selvagem (diferente da Praia do
Mucuripe: cheia de barcos, sinaleiros, "containers" - signos da presença humana) em fotos
justapostas do mesmo cenário matizado em azul e verde. A cena pode ser um amanhecer ou um
crepúsculo desolado e belo.
Nas paredes internas da galeria, Roberto Galvão distribuiu pares de fotografias de habitações de
Fortaleza, em detalhes insólitos e panorâmicas cheias de um grafismo concreto e minimalista.
Como sílabas icônicas de uma gramática visual, vemos "palimpsestos" de cartazes do "Chitão de
Baturité", arrancados de muros e sobrepostos por placas de anúncio de cartomante, ao lado de
detalhes de edifícios luxuosos da capital cearense. A impressão que temos é a de que Roberto
Galvão intentou revelar os contrastes sociais de Fortaleza, nos seus pares de fotos justapostas.
Assim, temos de um lado a sujeira dos resíduos de propaganda política, de todo tipo de poluição
visual; as taipas e papelões das favelas, munturos de lixo e sucata, a miséria, a barbárie, o Centro
da Cidade, o Bom Jardim, o Lagamar, o Beco da Poeira. Do outro lado, a urbanização, o
aformoseamento da capital cearense, a assepsia, os azulejos da Aldeota, as superfícies esmaltadas
da Beira-Mar, o "glamour", o luxo, a opulência e a ostentação da Fortaleza rica.
Um rico painel disjuntivo e assimétrico das contradições sociais, que só se juntam dentro do
museu, pois na Fortaleza real, os ricos e os miseráveis conhecem e sabem em que lugares estão,
por quais espaços podem circular e que não podem misturar-se. Quando Roberto Galvão junta
habitações miseráveis e luxuosas, é no sentido de que a aparente ordem e apartação espacial pode
explodir a qualquer momento. Ou seja, no Condomínio rico da Praia do Náutico trabalha o porteiro
do bairro Pirambú e a babá do Jangurussú.
Na obra "Da cor à Imagem" do fotógrafo pernambucano Márcio Lima, há um conjunto de 30
fotografias realizadas entre 1995 e 2000. Lima, que reside em Salvador desde 1989, registra nessas
imagens o cotidiano do povo soteropolitano e do interior da Bahia.
Márcio Lima revela um profundo domínio da cor e da luz. Do exuberante cromatismo vermelho da
foto do menino jogando sinuca ao cromatismo violeta da foto da bicicleta.
Lima explora artefatos em ambientes humildes como bares, casas, restaurantes, cabarés, em
naturezas-mortas surpreendentes. Vale conferir o contraste plástico de um cesto de pregadores de
roupa num canto de parede com um céu crepuscular ao fundo ou a genial contraposição de uma
cadeira metálica branca enferrujada e um vaso de flores artificiais banhados por uma luz marrom.
No vídeo-projeção "O mundo bate do outro lado de minha porta" de Ticiano Monteiro, o
espectador vê um "quarto de dormir" dentro da lagoa da Precabura.
Os elementos visuais são simples: uma cama, um cabide e uma cômoda cheia de objetos pessoais
como gravador, livros, cadernos; e um homem deitado na cama.
Durante 22 minutos, o personagem mexerá com os poucos elementos do cenário surreal ou ficará
mergulhando a mão na superfície da lagoa. Como sugestão de que o homem pode viver com o
pouco que tem.
A cena combina lirismo e melancolia, auxiliada por um áudio que captou toda a ventania do lugar.
Não há como não pensar na parábola do "olhai os lírios do campo" das escrituras, pelo
despojamento da situação. Um homem solitário dentro de um quarto sem paredes, numa lagoa
deserta a sugerir um jogo utópico de reconciliação com a natureza, rompendo com a idéia de
propriedade privada. A sensação causada no espectador é, simultaneamente, de mal " estar e
liberdade, por esse homem que, tal feito uma ave aquática, consegue viver e dormir num lugar
que não interessa a especulação imobiliária.
A exposição "Poéticas urbanas" revela olhares múltiplos sobre a paisagem cearense e nordestina. É
uma oportunidade de rever aquilo que nos rodeia e não nos damos conta.
A ARTE PÓS-MODERNA
Este texto tem como mote a composição "Bienal" de Zeca Baleiro do Cd "Vô Imbolá" (MZA).Nela o
compositor maranhense disserta com ironia e bom humor sobre a temática da 23ª Bienal
Internacional das Artes Plásticas de São Paulo (1996): "Desmaterialização da obra de arte no fim do
milênio". Ou seja, em que medida o quadro contemporâneo transcende a limitação da moldura.
Ou o que sinaliza a crítica ao suporte tradicional. Assim, a pintura pode sair da tela e/ou o
espectador é convidado a entrar na escultura.
A arte moderna tendia à militância política. Procurava cantar as glórias da tecnociência como no
caso do Futurismo Italiano, ou, pelo contrário, procurava denunciar o cenário caótico da
modernidade urbana do capitalismo industrial, como nas cores fortes do cubismo e do fauvismo
ou na cinzenta deformação da realidade do expressionismo alemão.
A arte pós - moderna " chamada, acertadamente, por alguns teóricos de "arte pós - vanguarda"renuncia a qualquer messianismo. Não quer salvar a raça humana do colapso da modernização
como disse Robert Kurz ou propor qualquer utopia capaz de suplantar a barbárie resultante desse
colapso. Desse modo, o artista pós - moderno vê-se num pêndulo entre o niilismo sinistro da
morte de Deus e o narcisismo hedonista e cínico da apologia do consumo. Isso se traduz
pictoricamente em negativos fotográficos corroídos por ácido justapostos na parede ou nas latas
de sopa Campbells de Andy Wahrol.
A arte pós - moderna aponta para um impasse do homem pós - moderno: que caminho iremos
tomar daqui para frente? Num contexto em que cada vez mais pessoas se tornam coisas e coisas
se tornam pessoas, como Marx previa na sua crítica ao fetichismo da mercadoria, o que propor
para raça humana? Será que ainda existem propostas plausíveis ou viáveis? A impressão que se
tem ao visitar as exposições do Museu de Arte Contemporânea do Centro Dragão do Mar
(Fortaleza - Brasil) é de que o homem não tem mais nenhum projeto aglutinante e de que a arte
atual é, ou seria, a própria celebração desse atomismo.
Há um aspecto, entretanto, que tem de ser evidenciado na arte contemporânea e sua tendência à
ruptura com o suporte. Seria o caráter não - comercial desta arte. Qual burguês irá comprar as
esponjas de aço enferrujadas da artista - plástica gaúcha Elida Tessler? E isso é muito bom, numa
época em que os executivos americanos dizem tudo estar à venda, inclusive, a dignidade humana.
Portanto, percebo um potencial subversivo na arte atual. Que é o de revelar a insustentabilidade
do projeto civilizatório moderno. Negando a sociedade produtora de mercadorias e sua
sociabilidade viciada quando produz "trambolhos" que não podem ser empendurados na parede
ou que sujariam as estantes dos apartamentos burgueses.
O CINEMA ALUCINADO DE GLAUBER ROCHA
Para escrever esse estudo da obra de Glauber Rocha, eu li Dicionário Teórico e Critico de Cinema de Jacques
Aumont e Michel Marie; O Cinema brasileiro moderno de Ismail Xavier e Brasil em Tempo de Cinema:
ensaios sobre o cinema brasileiro de 1958 a 1966 de Jean-Claude Bernardet.
Apesar de falar da obra de Glauber Rocha, na verdade este estudo foca o filme Dragão da Maldade contra o
santo guerreiro transmitido recentemente na programação domingueira da TV SENADO, no mês de Agosto
de 2011, na chamada Mostra Glauber Rocha.
Não sou um profundo conhecedor da obra de Glauber Rocha. Não vi seu filme de estreia (Barravento de
1962), vi apenas o começo de Deus e Diabo na Terra do Sol de 1964, não vi o comentado Terra em Transe de
1967 - citado com louvor por Caetano Veloso no seu Verdade Tropical e nem vi o ultimo filme A idade da
terra de 1980.
Mas como fiquei impactado pelo colorido de Dragão da Maldade, resolvi escrever sobre o cinema de
Glauber Rocha a partir deste filme.
Dragão da Maldade e um filme não linear, descontinuo, modernista, brasilianista. Nele um enredo mínimo
revela toda a ação focada na invasão de um grupo de camponeses e de cangaceiros a um povoado do
sertão nordestino.
O latifundiário do lugar e o delegado local conversam sobre a necessidade de um jagunço para matar
Coirama, o líder dos cangaceiros. Contrata-se o pistoleiro Antônio das Mortes (Mauricio do Vale) para fazer
o serviço sujo sem chamar a atenção da imprensa e da policia.
Na mise-en-scène do conflito entre o cangaceiro e o pistoleiro, Glauber Rocha cria um tom de farsa e
reisado, onde Coirama e Antônio das Mortes duelam com facões recitando cordéis típicos nordestinos
metrificados. O que tira o realismo, imprimindo um ar teatral e jogralizado à cena. A cantoria dos
camponeses e brincantes de reisado perturba o coronel-latifundiário e no final do duelo Antônio das
Mortes esfaqueia o cangaceiro.
Noutra cena, o cangaceiro moribundo é levado para um bar, onde o professor e o padre locais tentam
acalmar o moribundo. Nesse bar o professor e o pistoleiro dividem uma cachaça.
O personagem do professor vivido por Othon Bastos é extremamente interessante na diegese do filme.
Inicialmente é um intelectual vindo da cidade grande que recebe salario atrasado e se embebeda no bar,
com tiradas cínicas e risadas cheias de sarcasmo ao longo das cenas aparenta estar ao lado dos poderosos,
como em suas conversas com o corrupto delegado local.
Antônio das Mortes, o pistoleiro, também é um personagem forte e marcante. Interpretado pelo excelente
Mauricio do Vale, o pistoleiro estranha ainda existir cangaceiros para matar e próximo do final do filme, ao
ver uma figurante do reisado de camponeses, lembra de um antigo amor.
A figurante, que ele chama de santa, mas que a meu ver esta vestida de orixá, dialoga com Antônio das
Mortes e este pede perdão pela morte dos ancestrais da "santa".
Este se sentindo culpado vai à igreja, conversa com o padre e pede para que este chame o delegado.
O delegado vem e o pistoleiro pede para que o delegado convença ao coronel-latifundiário de ceder parte
de suas terras para o grupo de camponeses. Nesse momento, o espectador começa a perceber que o
pistoleiro mudou de lado: passou para o lado dos pobres, dos vencidos da Historia.
O delegado, que tem um caso com a mulher do latifundiário, tenta convencer o pistoleiro para este matar o
latifundiário e como recompensa lhe dará uma fazendinha longe dali.
O delegado vai ate a casa do latifundiário. Trama a morte do mesmo com a esposa deste. Mas não tem
coragem de executar o coronel-latifundiário.
Outras cenas de conversa entre o pistoleiro e a "santa"...
Para não ficar apenas ao nível do enredo, cabe agora analisar os elementos fílmicos utilizados por Glauber
Rocha neste filme.
O estilo glauberiano já foi chamado de estética da fome e em parte ha razão nesta rotulação. No Dragão da
Maldade e no Deus e o Diabo na Terra do Sol - pelo menos ate onde puder ver, já que a copia que a TV
SENADO exibiu, tinha terríveis problemas no áudio, por isso não assisti ao segundo todo - o universo do
autor de Terra em Transe comparece com paisagens áridas do sertão nordestino, caatinga, camponeses,
cangaceiros, animais esquálidos pastando e tudo o que se pode representar como a zona rural da América
Latina e do Terceiro Mundo.
Deus e o Diabo na Terra do Sol pareceu-me um filme muito duro de ver: preto e branco, longos silêncios... E
com certeza o áudio prejudicou a minha audiência. Já Dragão da Maldade, colorido e com um ótimo áudio,
revelou um Glauber Rocha mais seguro como cineasta, por se tratar de seu quarto filme.
A utilização da musica no filme e surpreendente. Chamou-me atenção a maneira como o folclore baiano
aparece no filme. Os camponeses cantando seus reisados e o professor rindo alucinado foi um contraponto
plasticamente bem resolvido.
Nas cenas em que o corpo do delegado e arrastado pela catinga, Glauber escolheu canto lírico atonal,
criando uma atmosfera perturbadora.
Também gosto das pontuações em que cantorias aparecem na trilha-sonora, principalmente no plano
aberto em que os jagunços afilhados do latifundiário o carregam junto com a esposa numa tabua,
revelando a subserviência característica dos homens pobres no sertão nordestino.
Os personagens não são planos. O professor do cinismo inicial acaba aderindo à militância camponesa. O
pistoleiro inicial vira o defensor dos camponeses. Até o padre, que aparece ao longo do filme subserviente e
bajulador do latifundiário e ao poder local do povoado, no final do filme adere ao "bandoleirismo
revolucionário".
A despeito de Bernardet ter chamado o ciclo do cinema do cangaço de versão brasileira do western
americano, o filme de Glauber Rocha exibe uma violência surreal: o cangaceiro, por exemplo, esfaqueado
no começo do filme, não morre e aparece monologando até quase o final, onde finalmente "morre"; nos
tiroteios entre os jagunços do coronel-latifundiário e o professor e o Antônio das Mortes, embora os
jagunços estejam em maioria, todos morrem e o professor e o pistoleiro não levam nenhum tiro. Este ar
farsesco, cria no espectador um clima de irracionalismo e inverossimilhança.
Até aquela cena já relatada do duelo entre Coirama e Antônio das Mortes, o gênero western e subvertido,
pois no faroeste americano jamais dois duelantes iriam disputar a faca, cantando versos de cordel.
Glauber Rocha bebeu no cordel nordestino, nos sambas-de-roda, nos reisados, no atonalismo, no
dodecafonismo, viu Eisenstein, Bunuel, Rosselini, Godard, leu Marx para produzir o seu cinema
controvertido e complexo. E eu percebi acentos glauberianos no Corisco e Dada do cearense Rosemberg
Cariri.
Este breve estudo não pretende esgotar o Dragão da Maldade, mas ser um convite ao leitor para ver esta
obra criativa e seminal. Talvez na internet o leitor consiga dar o download do filme e se não consegui-lo
inteiro, talvez consiga ver fragmentos no Youtube.com.
O PROBLEMA QUEER, O FIM DO SISTEMA DE GÊNEROS, SEXUALIDADES
Este estudo é muito ambicioso começando pelo próprio título. E para tal me amparei numa bibliografia que
inclui o estudo Teses pelo fim do sistema de gênero da ativista cearense Ilana Amaral (publicada na Revista
Contraacorrente Nº. 10 Maio-Agosto de 2000), no zine Incógnito: pós-identidade queer do ativista
paraibano Lucas Altamar e também no livro Preconceito contra homossexualidades: a hierarquia da
invisibilidade de Marco Aurélio Máximo Prado e Frederico Viana Machado publicado pela Editora Cortez em
2008.
Mas é lógico que para falar de queers, gênero, sexualidades; a bibliografia não pode só se resumir aos
citados. Também vale à pena ler a obra ensaística de João Silvério Trevisan (como também sua excelente
obra ficcional); assim como, valeriam ver os contos, romances de autores como Silviano Santiago, Caio
Fernando Abreu e João Gilberto Noll.
Outro problema desse meu estudo é que ele tem como destinatário principal a militância anarquista ou
libertária que lê meu Blog. E esse público não gosta muito do academicismo ou intelectualismo pedante.
Por outro lado, não terei culpa se o texto trair aqui e ali um ou outro academicismo, que pode ser
interpretado como beletrismo preciosista ou pedantismo esnobe. Minha intenção foi a de fazer um texto
mais claro e acessível possível, um texto militante sem dúvida. Espero ter conseguido.
AS TESES PELO FIM DO SISTEMA DE GÊNEROS
“ Toda a vida humana foi em nosso tempo, submetida ao domínio da economia através do desenvolvimento histórico do sistema de
produção de valores.”
Ilana Viana Amaral
O texto Teses pelo fim do sistema de gêneros é um texto de 2000. E como tal reflete aquele momento de
efervescência em torno da agenda dos chamados movimentos de Antiglobalização, da AGP(Aliança Global
dos Povos) e das agitações dos manifestantes contra a reunião da OMC em Seattle em 1999.
Ilana Amaral, na revista, apresenta o texto como uma primeira versão de um conjunto de teses
apresentadas como contribuição ao debate, ao Seminário Internacional Sobre Gênero em San Cristobal de
las Casas, Chiapas, México, em Maio/Junho de 2000.
O texto é longo, denso e apresenta em 16 longas teses um vigor crítico e cáustico impressionante. Talvez o
leitor encontre uma versão virtual na Internet, basta colocar o título nos buscadores da internet que talvez
recupere alguma coisa.
Inclusão ou exclusão do mercado? Trata-se assim de uma completa economização da vida, da redução da
vida à economia. Eis a constatação inicial de Ilana.
“O mercado é a supressão radical do indivíduo”. Isso significa que enquanto sou trabalhador,
proprietário – ou negativamente, uma desempregada, uma despossuída – (é sempre desse modo
que um indivíduo existe para e no mercado), não sou um indivíduo, ou seja, não sou alguém dotado
de existência, sentimentos, aspirações, desejos próprios e únicos, mas sou precisamente um mais
de uma espécie, ou seja, um trabalhador, um proprietário, um desempregado. ”
“A negação da individualidade que se realiza sob o domínio do mercado se apresenta,
contraditoriamente, como aparição do indivíduo.”
“É assim que os movimentos sociais que manifestam a explosão da reivindicação da diferença são
continuamente integrados na lógica mercantil: mulheres – trabalhadoras, consumidoras, nicho de
mercado que se abre com a explosão da luta em torno do direito feminino; GLS – consumidores,
nicho de mercado, e mercado potencialmente abundante, dizem os analistas, nicho de alta
rentabilidade, de alta expectativa de consumo. Negros – consumidores, nicho de mercado: “Negro
classe A também consome”. O “politicamente correto” é a expressão mais visível, na esfera dos
direitos, da tentativa de captura pela lógica mercantil, da explosão da diferença; todas as formas
discriminação são passíveis da intervenção de um advogado litigante em busca de indenizações. ”
Ilana Amaral fala na estetização que “transforma movimentos autônomos de reivindicação do direito à
diferença em ‘nichos de mercado’ é apenas a sua face mais visível: “um novo modo de ser mulher”, “Negro
é lindo”...assim, os mass media, incorporam cotidianamente, os apelos da diferença como apelos de
consumo”.
Ilana Amaral fala do que entende por inclusão social: “trata-se da inclusão social do diferente pelo e no
mercado. Redução, portanto, da diferença, à identidade abstrata de ‘consumidores’.
Ilana Amaral é radical e propõe a destruição do Mercado:
“Destruir o mercado é condição sine qua da constituição da individualidade, da aparição real das
diferenças negadas pela universalização da forma mercadoria. Se não nos contentamos em ser
portadores (ou em nossa maioria, nas condições do capitalismo atual, não portadores) de
mercadorias, é preciso pôr no lugar das relações mediadas pelo dinheiro, relações diretas entre os
indivíduos. Sem compreender a centralidade da necessidade da destruição do mercado, não é
possível sequer falar de vida: estaremos sempre na esfera do simulacro, na esfera da pura
representação da vida. ”
Na tese 9, llana Amaral define o que entende por Gênero:
“O gênero é uma invenção histórica da humanidade, um modo de identidade, de supressão da
diferença que se origina numa dada diferença/identidade naturais, a amplifica e institui a partir dela
todo um sistema hierárquico e classificatório."
Ilana Amaral é contra a naturalização do Gênero:
“O gênero não é, pois, um dado natural, mas um modo historicamente determinado de classificar
os indivíduos da espécie humana com base numa dada identidade/diferença biológicas, apenas
uma entre tantas possíveis.”.
Ilana Amaral questiona o papel da tradição:
“Se a tradição, se a herança patriarcal é já fundamento de tal naturalização do sistema de gêneros, a
introdução das relações mercantis, mais que reforçar a naturalização aprofunda, amplia e
universaliza tal naturalização. ”
Ilana Amaral dimensiona o papel da hierarquização:
“O Gênero – como todo sistema classificatório – implicou, historicamente, uma classificação, uma
normatização e uma hierarquização. É a partir da identidade de gênero que se instituem as
representações próprias à ‘natureza’ do Masculino e do Feminino: o macho caçador – provedor, a
fêmea reprodutora; o masculino, ativo e o feminino, receptivo.”
Algo permanece:
“uma permanência central: a hierarquização dos papéis e o lugar da subalternidade do Feminino.”.
A ativista cearense dimensiona o patriarcado:
“Foi do ponto de vista de sua gênese histórica, o patriarcado que inaugurou o poder nas relações
humanas. A dominação de gênero é, assim, historicamente, fundadora – anterior, portanto à
dominação étnica, à dominação de classe.”.
E Ilana Amaral recomenda que na negação do sistema capitalista:
“Se a negação do sistema, como foi dito acima, encontra o seu lugar privilegiado, quanto ao sistema
de gêneros, nas mulheres e homossexuais, pela sua condição de subalternidade, que seja no
combate à subalternidade submetendo ao combate mesmo a idéia de gênero enquanto tal, ou seja,
que o combate à subalternidade do feminino e à exclusão possa ir à raiz do problema
compreendendo que a crítica à situação de opressão feminina ou contra a homofobia só se realiza,
na radicalidade, como crítica ao sistema de gêneros em sua totalidade, ou seja, como crítica ao
sistema enquanto tal.”.
Em tom ligeiramente diferente é o texto do ativista paraibano Lucas Altamar Incógnito: pós-identidade
queer. Lucas começa o texto com bom humor e ironia dizendo não achar agradável fazer um “dossiê de
estudos queer”. E se assume como um queer falando da perspectiva de dentro, enquanto os acadêmicos
falam do queer bacharelisticamente.
Diferente de Ilana Amaral, que por ser professora universitária, imprime um tom de seriedade ao texto,
Lucas tem um estilo que comporta digressões pessoais e narrativas, uso de gíria juvenil, entre outros
recursos estilísticos.
Tanto que diz ser seu estudo “uma produção marginal queer”.
MAS O QUE DIABO É QUEER MESMO?
“Paradoxalmente, admitimos mais uma vez que a pós-identidade queer exprime uma recusa em levar a sério as
identidades, que há um século, serviriam para designar e mais frequentemente que
outra coisa, em ostracizar os indivíduos em
razão de seu sexo, de seu gênero ou de suas diferenças
eróticas”.
Lucas Altamar
Segundo as pesquisas filológicas que Lucas fez, Queer (kui’r) vem de uma etimologia confusa que tanto
registra o termo literal “bizarro”, mas que pode ser também, mas atualmente entendido como “original,
excêntrico, singular, raro, infrequente”. Pelo que entendi da explicação de Lucas Altamar, o termo vem do
coloquial inglês, seria a gíria mais próxima de “estranho” em português, parecendo ser a superposição do
significado da palavra queen “rainha”. Assim o significado desta confusa gíria seria usado para fazer alusão a
um ser masculino bastante efeminado, pois este seria ao mesmo tempo uma rainha e algo masculinamente
excêntrico.
Em sua pesquisa, o ativista paraibano diz que o termo foi variando de época para época e de lugar para
lugar.
A HISTÓRIA DO QUEER
Enquanto Ilana Amaral centra sua munição discursiva no Mercado, Lucas vê o Estado como inimigo máximo.
E vê o queer como uma movimentação que surge da necessidade de uma libertação dos separatistas e
excludentes reivindicações dos movimentos que anteriormente tinha o status de oprimidos e que, na sua
avaliação, acabaram sendo absorvidos pelo Estado.
Lucas entende identidade como “contíguo de caracteres próprios e exclusivos de determinada pessoa. Este
conceito, entretanto, está ligado a atividades da pessoa, à sua biografia, ao amanhã, sonhos, mitos,
características de originalidade e outras características relativas ao sujeito.”
Segundo o autor do CD Verborreia, o movimento gay identitário hoje gosta datar seu ponto de início a
partir do final dos anos sessenta, e, em particular é claro, dos motins de Stonewall em 1969.
QUAL A PROPOSTA DE LUCAS ALTAMAR?
“Nós queers chamamos a uma segunda revolução sexual, mas, uma liberação que transformaria
mesmo o modo de pensar a sexualidade e de compor com ela, e assim compreender sobre os
planos social e político”.
Em suma, o
“queer compreende, portanto, rejeitar diretamente as identidades dicotômicas homem/mulher,
masculino/feminino, hetero/homo.”.
O autor se reconhece tributário do legado do movimento LGBT e feminista, mas pretende ser mais radical.
Lucas diz que feministas, lésbicas e gays ortodoxos não se cansam de criticar a perspectiva queer,
“em razão de sua vontade reunida que terminaria por minimizar ou apagar, acreditam eles, a
especificidade de uns e outros.”
“Não exigimos que cada um negue seus pertences, mas antes que percebam seu caráter
contingente, arbitrário e político”.
“Nossa vontade é de emancipação e até de subversão em matéria de sexualidade”
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Analisando os dois autores, Ilana Viana Amaral e Lucas Altamar, perceberemos que dois estilos de
apreensão da realidade se antagonizam em alguns momentos e enquanto em outros são complementares.
Ilana Amaral, professora de Filosofia e leitora da crítica da economia política de Marx, referencia sua tese
do fim do sistema de gêneros, dentro do esquema conceitual da teoria do valor e do fetichismo da
mercadoria.
Lucas Altamar, poeta multimídia e ativista anarco-punk queer, procura destruir a noção de movimentos
identitários a partir de sua vivência contracultural, respalda sua crítica dentro das lides do anarquismo
contemporâneo.
Eu vejo um problema na tese Queer. Trata-se de uma crítica aos movimentos identitários – negro, feminista,
LGBT - que propõe, no final das contas, outro movimento identitário: o queer. Ou seja, eu não posso ser
homem, ser mulher, ser homo, ser hetero, ser bi, mas posso ser queer. Então o que parece a rigor ser uma
tentativa de livrar o ser humano de etiquetas ou gavetas classificatórias, acaba criando uma nova gaveta
classificatória: o queer.
Mas eu posso estar equivocado e talvez não tenha entendido o queer em toda sua potência ou latência
revolucionária. Um outro texto de outro zineiro, ativista e realizador audiovisual, Rui, já acrescenta mais
dados à questão; utilizando-se de uma categoria teórica que eu não conhecia – heteronormatização.
Parece que a questão queer embora tenha começado no underground da contracultura homoafetiva
americana na década de 60, pode ainda suscitar várias interpretações divergentes ou convergentes.
E caso o leitor se interesse, no site de downloads www.4shared.com há uma versão eletrônica do texto de
Lucas Altamar.
FIGURAÇÃO E IDENTIDADES PÓS-MODERNAS NO ESTORVO DE CHICO BUARQUE
A figuração ou representação artística é uma forma de apreensão da realidade. E toda apreensão pressupõe
intelecção, seleção ou redução do material capturado no real que circunda o artista.
Figurar é recortar um estrato da realidade e traduzi-lo em signo.
Muitos foram as concepções de representação artística na história da humanidade.
Para Sócrates, a arte idealizaria o objeto representado; enquanto para o seu discípulo Platão, a arte
simularia o objeto, simularia o real.
Aristóteles, dissonante de ambos, dirá que a Arte nem duplica e nem copia o real, o objeto. Ela procura o
essencial. Não é, portanto nem completamente verdadeira nem cabal ilusão. Ela busca o verossímil.
Na Renascença, com a apoteose matemática de Giordano Bruno e Galileu Galilei, Leonardo da Vinci
entenderá a representação artística como meio de analisar a Natureza e de traduzi-la em linguagem
matemática. Deste modo, a arte perde o caráter servil que tinha na Idade Média e passa a ter um 'status'
paralelo à Ciência e à Filosofia. Assim, a Pintura ganha uma dignidade teórica.
Diderot verá na Arte simultaneamente uma reprodução de fatos comuns com a escolha dos excepcionais e
os traços exteriores da Natureza com aqueles que a fantasia inventa.
Segundo Diderot, enquanto que na Ciência, a verdade é sempre geral, reduzindo a realidade a
determinadas formas abstratas, nas quais se dissolvem os aspectos singulares dos fenômenos; na Arte, por
sua vez, há predominância tanto do individual como o do sensível. Diante de uma representação artística
não nos interessa saber se o objeto representado existe ou não, mas se o artista, respeitando as leis da
Natureza, o tornou possível.
A partir de Kant, em vez de se especular acerca da natureza das coisas, dos fins morais da conduta e da
essência do Belo, ou seja, de se buscar a ontologia das coisas; o estudioso deve esquecer Deus, finalidade e
contemplar os objetos independente de sua existência ou não. Deste modo, a experiência estética, possui
valor autônomo, independendo de qualquer finalidade exterior; é um fim em si mesma.
Para Imanuell Kant, a representação artística sugere e veicula o real.
Em Schiller, a representação artística enfeita e configura o objeto, o real, o mundo. Ou seja, o jogo estético é
um ornamento, não está na esfera das necessidades naturais da vida e independe dos interesses práticos.
Para Hegel, a arte pertence juntamente com a Religião e a Filosofia, ao domínio do Espírito Absoluto.
A partir do voluntarismo de Schompenhauer e Nietzsche, a premissa mimética da Arte e seu compromisso
com a Razão será dinamitada por uma suspeita contra o totalitarismo da racionalidade ocidental. Assim,
somos levados ao lado sombrio e irracional da Modernidade.
Nietzsche criará dois impulsos para a apreensão da realidade: o dionisíaco e o apolíneo. O primeiro descrito
como a inclinação do ser humano para o êxtase, a embriaguez, o transbordamento emocional e o segundo
descrito como a inclinação à contemplação e sobriedade.
Henri Bérgson a partir da trilha aberta por Schompenhauer e Nietzsche, fará uma analogia entre o processo
de conhecimento e da criação artística, pois ambos revelam a capacidade inerente do homem organizar a
sua experiência por meio de símbolos, que são ao mesmo tempo, formas de sentir e conceber.
A expressão artística, segundo Benedetto Croce, não existe sem que os conteúdos de consciência, os
estados sentimentais ou emotivos experimentados, as vivências, enfim, se concretizem numa forma, termo
final do processo de criação, quando as intuições convertem-se em imagens.
Depois desse preâmbulo, começamos a indagar sobre o modo de figuração pós-moderno e somos levados à
década de 90 intuída na diegese de "Estorvo" de Chico Buarque.
Se a figuração da realidade assume matizes sombrios a partir do pessimismo schompenhaueriano e do
niilismo nietzschiano, como se produto de uma ressaca dos anos de apologia à tecnociência e à
racionalidade intrumentalizante do ser humano pelos pensadores iluministas e seus discípulos positivistas;
cabe indagar se há alguma diferença entre a figuração moderna e figuração pós-moderna da realidade.
Quem figura também se revela e se pronuncia no que figurou, assim, perguntamos também pela natureza,
pela identidade do sujeito pós-moderno.
Vejamos as marcas pós-modernas descritas pelos estudiosos: fragmentação, superficialidade, perda da ideia
de identidade una e estável, como resultado do deslocamento da subjetividade, resultando na descrença às
metanarrativas e à unicidade subjetiva (Hall, in: Identidades culturais na Pós-modernidade).
Narrado em primeira pessoa, "Estorvo" revela a história de um indivíduo sem nome, sem direção, sem
propósito e sem utopia numa cidade grande não nomeada, ocorrida provavelmente nas décadas de 80 e 90.
O livro é uma série de narrações descontínuas, desterritorializadas e circulares desse personagem amoral,
frívolo e superficial, sem demarcações claras de espaço e tempo, que perambula a esmo por uma cidade,
movido apenas por instintos primários e com vínculos pessoais esgarçados.
O aleatório sempre presente no romance dá uma configuração onírica, perto do pesadelo à obra:
" Vou regulando a vista, e começo a achar que conheço aquele rosto de um tempo distante e
confuso. Ou senão cheguei dormindo ao olho mágico, e conheço aquele rosto de quando ele ainda
pertencia ao sonho" p.11
A sensorialidade alucinada cria uma atmosfera nauseante:
"Recuo cautelosamente, andando no apartamento como dentro de água" p.12
A influência intersemiótica de outros códigos de linguagem levando a estetização do real:
"Assim ele me viu chegar, grudar o olho no buraco e tenta decifrá-lo, me viu fugir em câmera lenta"
p.12
"para refrescar os ambientes, volto à sala com tonturas, e tenho a impressão de que ela está
invertida" p.47
"(...)porém, mais tarde penduramos por toda a parte cortinas brancas, pretas, azuis, vermelhas e
amarelas, substituindo o horizonte por um enorme painel abstrato." p.15
"Eu sempre achei que aquela arquitetura premiada preferia habitar outro espaço" p.15
"Fixo o olhar no muro, ouço a bola que pipoca no piso sintético(...) a voz do meu cunhado cada vez
mais remota, e parece que estou sendo alçado aos poucos, como se se minha cadeira estivesse
numa grua." p.116
"No meio do quarto, a cama de casal me apareceu como uma instalação insensata" p.59
Em "Estorvo" um certo interseccionismo temporal-espacial, cria uma cronologia confusa e paroxística, como
no capítulo Dois em que o narrador-protagonista retoma ao sítio da família onde morara cinco anos antes,
ao deitar-se na cama ele se obsidia com a presença de um estranho do outro lado do olho mágico do
apartamento. Aí o leitor embaralha-se por não saber em que território exato se encontra o personagem: no
sítio ou no apartamento?
CAPÍTULO 3
O rapaz negro grande, corpulento e gordo de sunga de borracha, vem empurrado pelos guardas, os pulsos
algemados e o corpo curvado repete-se em outro capítulo mais a frente.
A obsessão paranoide do personagem lhe atormenta:
" Não adianta ficar aqui parado. Eu não posso me esconder eternamente de um homem que não sei
quem é. Preciso saber se ele pretende continuar me perseguindo." p.51
OLHAR DE SUPERFÍCIE
O narrador passa pelas coisas com extrema indiferença e alienação, como se os fatos não guardassem em si
significações profundas. Que se desdobra na relação com o outro marcada pelo afastamento e pela
indiferença.
" Pensei que ela fosse dizer 'tá satisfeito?', mas não diz mais nada, fica deitada de bruços, soluça
com o corpo inteiro, e não sei o que fazer. Só posso olhar o corpo dela se deitando, o lado esquerdo
bem mais que o direito e, olhando aquilo, de repente me vem um forte desejo. Eu mesmo não
entendo esse desejo, é contra mime um contrassenso, pois se ela agora me chamasse, e com a
boca molhada dissesse 'vem', ou 'sou tua', ou 'faz comigo o que der prazer', talvez eu não sentisse
desejo algum." p.53
A FALTA DE Propósito
"Paro no meio-fio e faço de conta que espero um táxi. Um táxi freia e eu saio andando com a mala,
fingindo conferir a numeração dos edifícios. Dobro a esquina e tomo uma rua sem movimento;
talvez um assaltante me livre da mala.Com o sono em dia e de banho tomado, poderia andar por aí
até amanhã, sem compromisso. Mas um homem sem compromisso, como uma mala na mão, está
comprometido com o destino da mala" p.53
A PERDA DE IDENTIDADE UNA E ESTÁVEL DO NARRADOR:
"Teria escolhido uma roupa adequada, se bem que ali haja gente de tudo que é jeito; jeito de
banqueiro, jeito de playboy, de embaixador, de cantor, de adolescente, de arquiteto, de paisagista,
de psicanalista, de bailarina, de atriz, de miliar, de estrangeiro, de colunista, de juiz, de filantropo,
de ministro, de jogador, de construtor, de economista, de figurinista, de literato, de astrólogo, de
fotógrafo, de cineasta, de político, e meu nome não estava na lista" p.53
"Meu cunhado me alcança com o amigo grisalho, a quem apresenta dizendo 'é esse’. O grisalho diz
que é sempre assim, que toda família que se preze existe um porra-louca' p.57
CAPÍTULO 4
O narrador, escondido dentro de um closet, esbarra numa bolsa e, ao enfiar a mão, toca nas joias da irmã.
Num parágrafo ele diz que deixou as joias no lugar que encontrou; no outro ele pega as joias e deposita nos
bolsos da calça.
CAPÍTULO 5
" Ando na relva para lá e para cá, e para qualquer lado que eu vá o morto me olha de frente, mesmo
sem virar o rosto, parecendo um locutor de telejornal mudo." p.67
O narrador protagonista negocia as joias da irmã que roubou no cap. 04 com o submundo do crime.
"Há um videogame parado na televisão, carros de fórmula 1 no grid de largada" p.72
"O céu amanhece encarnado, e vem por aí um sol rancoroso" p.75
VÍNCULOS PESSOAIS ESGARÇADOS
"Meu amigo bebia comigo na piscina, e àquela altura a sua conversa já não fluía. Acho que falava
da literatura russa, mas não tenho certeza, pois as palavras saíam enroladas e se perderam. Mas a
sua imagem me volta cada vez mais nítida; lá está a correntinha de ouro no pescoço, meio
embaraçada, a pinta cabeluda logo abaixo do cotovelo, as costelas saltada no flanco feito um
teclado, o calção branco com três listas verdes verticais. Só não consigo me lembrar dos pés do meu
amigo. Vivíamos descalços, e não me ocorre ter olhado alguma vez aqueles pés. Nunca reparei se
eram grandes ou bonitos. Não sei dizer se os pés do meu amigo eram enormes, como os dos
professores de ginástica assassinado." p.76.
IMPRECISÂO
No cap.06 o leitor é informado que o professor de ginástica assassinado pelo michê e um amigo poeta do
narrador-protagonista não são a mesma pessoa.(p.76)
Já na p.77 e no paragrafo seguinte passar a ser a mesma pessoa através do recurso à imaginação,
reminiscência.
"Imagino meu amigo recebendo rapazes no apartamento. Meu amigo no sofá da sala, tomando
Campari e dizendo poesia para os rapazes. Com os pés descalços no sofá, mas disfarçados entre as
almofadas, meu amigo passando os cabelos por trás da orelha, e imagino algum rapaz se irritando
com coisa toda. Meu amigo abrindo o álbum dos poetas franceses, e o rapaz se encolhendo no
sofá. E enchendo-se de ódio, e sofrendo de um outro ódio por não entender que ódio cruzado é
aquele que o domina, e que é feito de muita humilhação e que é desprezo ao mesmo tempo.
Imagino a poesia sendo interminável e o rapaz enlouquecendo, indo buscar uma corda no varal,
ou uma faca na cozinha, mas daí pra frente já dá mais pra imaginar, porque o meu amigo nunca
seria professor de ginástica" p.79.
O único índice textual que intersecciona o amigo poeta e o professor de ginástica num só personagem é a
ideia-fixa que o narrador-protagonista tem pelos pés de ambos.
OLHAR DESARMADO QUE NADA ESPERA
Este olhar "abandona os combates". Nada espera, não distingue oposições e não crê em militância.
"E disse que eu devia fazer igual ao escritor russo que renunciou a tudo, que andava vestido de
camponês, que cozinhava seu arroz, que abandonou suas terras e morreu numa estação de
trem. Disse que eu também devia renunciar às terras, mesmo que pra isso tivesse de enfrentar
minha família, que era outra bosta. Também eram bosta toda lei vigente e todos os governos; e o eu
amigo começou a se inflamar na varanda, gritando frases, atirando pratos e cadeiras no pátio, num
escarcéu que acabou juntando o povo do sítio para ver. Ele gritava 'venham os camponeses' e os
camponeses que vinham eram os jardineiros, o homem dos cavalos, o caseiro velho e sua mulher
cozinheira, mais os filhos e filhas e genros e noras dessa gente, com as crianças de colo. Várias vezes
o meu amigo gritou ' a terra é dos camponeses!' e aquele pessoal achou diferente". p.78
A RECUSA DE DAR SIGNIFICADO À EXPERIÊNCIA
" Dessa noite eu não me esqueço porque terminou na cidade, num apartamento de cobertura perto
da praia, onde uns estudantes de antropologia comemoravam a formatura. Não conhecíamos
ninguém, e não sei como fomos parar naquele lugar" p.78
FALTA DE PROJETO
"Penso que, quando o ruivo vender as joias, o meu quinhão dê para vier o que, oito meses, um ano,
talvez mais. Talvez dê para viajar, conhecer o Egito, ir para a Europa e andar no metrô onde as
mulheres usam joias. (...)Não me desagrada estar assim suspenso no tempo, contando os azulejos
da piscina, chupando as mangas que o velho me trouxe" p.80
DESORIENTAÇÃO TEMPORAL
"Acordo sem saber se dormi pouco ou demais. É um meio de tarde, mas não sei de que dia" p.83
" Sei que passa um pouco do meio-dia porque o movimento dos carros é intenso por igual nos dois
sentidos" p.99
CAPÍTULO 8
Quando o narrador-protagonista tenta deixar a mala de maconha (trocada pelas joias da irmã) no
apartamento do amigo, ao sair do lugar ele vê o negro gigante e gordo de sunga de borracha com estampa
imitando onça, vindo gingando na avenida no meio do engarrafamento, dirigindo-se ao edifício do amigo
com um canivete na mão, que descascava uma laranja. O leitor pode perceber algo de familiar nesta cena e
ela é antecessora da cena em que o mesmo negro gigante de sunga saí do apartamento algemado pela
polícia. Só que no cap.03 ela é a conclusão de uma sequência que iniciou no Cap.08, ou seja, a enunciação
dissolve e inverte a causalidade temporal.
CONSIDERAÇOES FINAIS
O proposito deste ensaio foi esmiuçar a estreia do compositor e cantor Chico Buarque como romancista. E
no nosso entender foi uma estreia promissora, que situa o sexagenário sambista carioca como um excelente
realizador de literatura contemporânea.
NOVOS PROLETÁRIOS, TOYOTISMO E REBELIÃO
Este ensaio parte, sobretudo, de duas obras: uma de Ricardo Antunes Os sentidos do trabalho:
Ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho – 3ª edição – São Paulo: Boitempo, 2000 e uma
de Anselm Jappe As aventuras da mercadoria; para uma nova crítica do valor – Tradução: José
Miranda Justo – Lisboa: Antígona, 2006; também lemos uma entrevista de István Mészáros; assim
como, alguns artigos de Robert Kurz da versão online em português da Revista EXIT!
O propósito deste ensaio é refletir sobre a configuração do chamado novo proletariado, em face
do advento do toyotismo e suas implicações para uma transformação ou ruptura com a sociedade
mercantil.
Em Ricardo Antunes constata-se que o velho proletariado – que se consolidou com o modelo de
otimização taylorista/fordista e na política com o keynesianismo (Jappe;2006) – já não existe mais.
Mas o que é proletário? Deve ser a pergunta inicial para nortear nosso ensaio. Proletário é quem
despossuído do meio de produção ( a lavoura, a fábrica, a prestadora de serviços) é obrigado a
vender sua força de trabalho em troca de um salário.
Então já não há quem venda sua força de trabalho? Lendo Antunes não é bem isso que se conclui.
Há proletários ainda mas estes ganharam novos predicados.
Para não ficarmos no campo da abstração, vamos dar um exemplo tirado da política brasileira. O
próprio Luís Inácio Lula da Silva constata que na época de sua juventude, bastava ao migrante
nordestino como ele, fazer um curso de torneiro mecânico no SENAI, que o mercado de trabalho
lhe acenava com o pleno emprego, enquanto que hoje um engenheiro mecânico formado pode
ficar desempregado.
Para esmiuçar o que aconteceu nesse processo aqui, cabe buscar-se em Marx. Para o autor de O
capital, Antunes diz que ele tratou o proletariado e a classe trabalhadora como sinônimos.
No século XIX, os trabalhadores assalariados eram centralmente proletários industriais.
Hoje a classe trabalhadora é o conjunto do que Marx chamou de ‘trabalhadores produtivos’. Desse
modo, a classe trabalhadora hoje não se restringe somente aos trabalhadores manuais diretos,
incorpora a totalidade do trabalho social, a totalidade do trabalho coletivo que vende sua força de
trabalho em troca de salário. Contudo, ela é hoje centralmente composta pelo conjunto de
trabalhadores produtivos que são aqueles que produzem diretamente mais-valia e que participam
também diretamente do processo de valorização do capital.
Antunes afirma que a classe trabalhadora hoje, engloba também o conjunto dos ‘trabalhadores
improdutivos’. Aqueles cujas formas de trabalho são utilizadas como serviços, seja para uso
público, como os serviços públicos tradicionais, seja para uso capitalista. O trabalho improdutivo
seria aquele que não se constitui como elemento vivo no processo direto da valorização do capital
e da mais-valia.
O capital também depende fortemente de atividades improdutivas para que as suas atividades
produtivas se efetivem. Mas aquelas atividades improdutivas que o capital pode eliminar, ele assim
tem feito, transferindo muitas delas para o universo dos trabalhadores produtivos.
Antunes constata um paradoxo do capitalismo atual: dado que a todo trabalho produtivo é
assalariado mas nem todo trabalhador assalariado é produtivo, uma noção de classe trabalhadora
deve incorporar a totalidade dos trabalhadores assalariados. Assim, a classe trabalhadora hoje é
mais ampla do que o proletariado industrial do século passado, embora o proletariado industrial
moderno se constitua no núcleo fundamental dos assalariados. Quer esses assalariados executem
atividades materiais ou imateriais, quer atuando numa atividade manual direta, quer nos polos
mais avançados das fábricas modernas, exercendo atividades mais “intelectualizadas” (que num
número reduzido), trabalhadores esses caracterizados por Marx como “supervisor e vigia do
processo de produção” (Grudrisses).
Antunes incorpora na classe trabalhadora o que denomina de proletariado rural, que vende sua
força de trabalho para o capital, os chamados boias-frias das regiões agroindustriais.
Mas o ponto de maior relevo, no ensaio de Antunes, é quando ele incorpora o proletariado
precarizado, o qual ele denomina de subproletariado moderno, fabril e de serviços, que é ‘part
time’, que é caracterizado pelo trabalho temporário, pelo trabalho precarizado, como são os
trabalhadores dos Mc Donald’s, dos setores de serviços, dos ‘fast foods’, que o sociólogo do
trabalho inglês Huw Beyon denominou de operários hifenizados, são operários em trabalhoparcial, trabalho-precário, trabalho-por-tempo, por-hora.
Nesta altura do ensaio de Antunes é que estão criados os desafios para as esquerdas, desde
aquelas que querem administrar o capital, quanto aquelas que pretendem superá-lo.
O mundo que criou Lula não existe mais.
A primeira tendência que vem ocorrendo no mundo do trabalho hoje é uma redução do
operariado manual, fabril, estável, típico da fase taylorista e fordista do pleno emprego. O
proletariado industrial brasileiro teve um crescimento enorme nos anos 60 e fins de 70. O ABC
paulista tinha cerca de 240 mil operários em 80, hoje tem pouco mais de 110, 120 mil[aqui utilizo
dados estatísticos de Antunes, como o livro já tem 10 anos de publicação, pode ser que tenha
havido uma redução ainda maior.]Se a Volkswagen tinha 40 mil operários hoje têm menos de 20
mil, produzindo, entretanto, muito mais.
André Gorz percebeu que há uma tendência marcada pelo enorme aumento do assalariamento e
do proletariado precarizado em escala mundial. Assim, paralelamente à redução de empregos
estáveis, aumentou em escala insustentável o número de trabalhadores em regimes de tempo
parcial, em trabalhos assalariados temporários.
Antunes diz que o capital reconfigurou uma nova divisão sexual do trabalho. Nas áreas onde é
maior a presença do capital intensivo, de maquinário mais avançado, predominam os homens. E
nas áreas de maior trabalho intensivo, onde é maior a exploração do trabalho manual, trabalham
mulheres.
E o toyotismo onde fica nisso tudo? O toyotismo ou modelo japonês de gestão da cadeia produtiva
é o principal responsável pelo surgimento desse novo proletariado. Não esquecendo é claro que a
toyotização da produção não é causa, mas efeito da grande crise do capital com a revolução
microeletrônica e com a falência do modelo keynesiano da década de 70 (Jappe;2006).
O Toyotismo, criado pela indústria automobilística japonesa, caracteriza-se pelo que seus
executivos empolgados chamam de “redução do desperdício” e curiosamente os capitalistas
japoneses se inspiraram no modelo norte-americano de gestão de supermercados, da indústria
têxtil. Assim, com a intensificação do tempo e do ritmo de trabalho criam-se níveis insuportáveis
de exploração do trabalho. A jornada de trabalho pode até reduzir-se, com a pressão de operários
mais radicalizados, enquanto o ritmo se intensifica.
Desse modo, o processo toyotista de gestão da cadeia produtiva traduz-se pelo fato de que é um
operário ou uma operária trabalhando em média com quatro, com cinco, ou mais máquinas.
Enquanto no modelo fordista e taylorista havia uma especialização de tarefas. Além disso, esses
trabalhadores, sob o modelo japonês, são desprovidos de direitos (a chamada flexibilização do
trabalho) – como se vê no polo industrial do município de Horizonte, tão enaltecido pelo Governo
das Mudanças de Tasso Jereissati e continuado pelo Governo Cid Gomes – seu trabalho é
desprovido de sentido, em conformidade com o caráter destrutivo do capital, pelo qual relações
metabólicas sob controle do capital não só degradam a natureza levando o mundo à beira da
catástrofe ambiental ( como o Estaleiro que Cid Gomes queria no Serviluz indiferente a um forte
impacto socioambiental), também precarizando a força humana que trabalha, desempregando ou
subempregando-a, além de intensificar os níveis de exploração.
Desta forma, Antunes conclui que a classe trabalhadora atual é mais explorada, mais fragmentada,
mais heterogênea, mais complexa.
Ainda que não houvesse uma homogeneização total no taylorismo/fordismo do século XX
(trabalhadores homens, mulheres, qualificados e não qualificados, nacionais e imigrantes, jovens
etc.) deu-se uma enorme intensificação desse processo, que alterou sua qualidade, aumentando e
intensificando em muito as clivagens anteriores.
E como fica a consciência de classe em face da tayotização da cadeia produtiva? A antiga
solidariedade operária (de que se falava Bakunim) fica completamente prejudicada, pois o
trabalhador passa a introjetar os valores do proprietário da empresa. Deste modo, qualquer
resistência, rebeldia, recusa, sabotagem são completamente rejeitadas como atitudes contrárias
“ao bom desempenho da empresa”, tornando o trabalhador um déspota de si mesmo. Deste
modo, o trabalhador é instigado a se auto recriminar e se punir, se a sua produção não atingir a
chamada “qualidade total”. Assim, o trabalhador é levado a só pensar na produtividade, na
competitividade, em como melhorar a produção da empresa, considerada sua “outra família”.
LIMITES DE RICARDO ANTUNES
Ainda que no ensaio de Antunes sejam levantados elementos extremamente inteligentes e
pertinentes, é na parte final do livro que o pensamento do autor de Adeus ao trabalho? encontra
seus maiores problemas.
Embora forneça um diagnóstico interessante sobre o novo proletariado e suas implicações para a
transformação social, Antunes erra no remédio: ao propor o socialismo como solução para
alienação desse novo proletariado no contexto da sociedade produtora de mercadorias.
Mas iremos esmiuçar bem essa parte para não cometer injustiças.
Antunes não quer o modelo de ‘socialismo num só país’ implantado pela stalinização do
movimento operário. Ele quer um “projeto que tenha como horizonte uma organização societal
socialista de novo tipo, renovada e radical”.
Em países emergentes dotados de significativo parque industrial como Brasil, México e Argentina
Antunes vê um início possível de seu projeto.
Antunes acerta, parcialmente, ao ver na rebelião Zapatista do México como algo próximo de seu
projeto – ainda que seja bom frisarmos que os Zapatistas não reivindiquem para si o termo
socialismo; acerta ao identificar um potencial revolucionário nos movimentos dos trabalhadores
desempregados e erra feio ao identificar o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) como
nova forma de organização que se rebela contra o sentido destrutivo do capital.
E para ilustrar nosso argumento, vamos citar o caso, conhecido entre anticapitalistas autênticos,
ocorrido no interior do Estado do Ceará.
No município de Acarape há um assentamento de trabalhadores rurais ligados ao MST.
O Assentamento era dividido em dois grupos antagônicos: um majoritário, composto por
trabalhadores rurais evangélicos, ligado à cúpula do MST e um grupo minoritário, autodenominado
de trabalhadores autônomos, que discordavam do modelo produtivista hegemônico do MST.
O grupo majoritário predominantemente evangélico, dentro dos moldes produtivistas, chegou a
desmatar criminosamente uma mata ciliar de madeira sabiá para vender lenha e desenvolveu uma
monocultura de cana-de-açúcar para empresa Ypióca em regime de trabalho precarizado,
enquanto o grupo minoritário passou a ser perseguido por ter denunciado o majoritário ao IBAMA
e por ter recusado o crédito do BANCO DO NORDESTE para não endividar-se. O grupo minoritário
era discriminado pelos trabalhadores evangélicos por não fazer queimadas e por adotarem
princípios não invasivos da agroecologia e da permacultura.
Toda essa longa ilustração foi para demonstrarmos que o MST não representa nenhuma ameaça ao
modelo poluidor e concentrador de renda do ‘agro-business’ e que seus trabalhadores longe de
quererem se emancipar da lógica perversa do capital, querem desesperadamente se integrar a ela.
O ensaio de Antunes é tremendamente feliz em mostrar um contexto proporcionado pela
toyotização da produção e da reestruturação do capital e o impacto da subcontratação. Pois hoje
empresas como a BENETTON e a NIKE em vez de concentrarem sua produção no interior da
fábrica, parcelizam o trabalho pelo mundo todo, criando aberrações como as facções onde pessoas
trabalham em residências sem direitos trabalhistas em jornadas estafantes.
Antunes aposta demais num suposto caráter anticapitalista do sindicalismo brasileiro. Fornece
elementos para entender a gênese e o desenvolvimento da CUT e suas acomodações
socialdemocratas, contratualistas; a partir da Articulação Sindical, entendidas nas políticas de
parcerias, nas negociações com o patronato, nas câmeras setoriais, com vistas “ao crescimento do
país” e sua cada vez maior atrelação à burocracia do Estado.
Antunes espera que no interior do sindicalismo brasileiro se controle fortemente os monopólios.
A nosso ver, Antunes espera demais por partidos e sindicatos mergulhados até a raiz dos cabelos
na reprodução do capital e não em sua superação.
Antunes espera até que os sindicatos passem a promover uma auto-organização classista dos
desempregados. Quando vemos os sindicatos cada vez mais presos a política de migalhas para os
filiados empregados e até incentivando práticas xenófobas, ultranacionalistas contra os
trabalhadores e subproletários imigrantes ou com hesitações antissemitas. (Robert Kurz)
A NOSSA PROPOSTA
É muito difícil uma emancipação social radical enquanto se insistir em categorias imanentes à
lógica do capital: estado, mercadoria, trabalho, dinheiro, valor, política, partidos, sindicatos, nos.
Anselm Jappe nos ajuda em muito a desenvolver uma proposta consistente e transcendente à
sociedade mercantil. Enquanto Antunes propõe uma emancipação no trabalho e pelo trabalho,
propomos a emancipação do trabalho, a abolição do trabalho. Nas situações em que o trabalho já
desapareceu ou nunca chegou a estar presente condenando um terço da humanidade à lata de
lixo social, só a emancipação do trabalho pode sacudir a sociedade mercantil.
Parafraseando Jappe se o capitalismo foi uma ‘expropriação de recursos’ agora é necessário
organizar a ‘reapropriação dos recursos’. Desse modo, para finalizar, propomos o controle social da
produção em escala transnacional.
A REVOLTA LUDDITA
Este artigo pretende analisar o Movimento Luddita que ocorreu na Inglaterra nas primeiras
décadas do século XIX.O movimento foi organizado pelos operários ingleses, revoltados por terem
sido expulsos do campo, onde tinham pequenas propriedades rurais e passaram a adotar técnicas
radicais de sabotagem de máquinas ou até de destruição do maquinário fabril e têxtil, no que
resultou numa dura reação por parte do governo inglês: vários operários foram enforcados por
quebrarem máquinas. Ou seja, o capitalismo urbano-industrial nascente mostrava a todos os
cidadãos precarizados das urbes quem era mais importante para ele: a máquina, o lucro, o bemestar do patrão.
O operário não era importante. Sua subjetividade, seus sonhos, desejos não contava. O que
contava era que ele acordasse cedo com escuro e chegasse tarde em casa. Dormisse no máximo
cinco horas por noite apenas para recuperar as forças físicas, para no dia seguinte voltar a um
trabalho estafante, num ambiente sujo, empoeirado, úmido, escuro, sufocante. No início da
industrialização da produção urbana e fabril, os fabricantes obrigavam os pais até a trazerem os
filhos para as fábricas. E além das constantes mutilações nas máquinas por parte dos adultos
cansados e mal alimentados, as crianças também foram vítimas de mutilações além de castigos
corporais dados pelos capatazes das fábricas.
Ou seja, todo esse contexto foi gerando um espírito de revolta na classe operária inglesa da época.
E os operários passaram a fazer a coisa mais lógica: destruir o maquinário que os oprimia.
A historiografia burguesa ou marxista mostra os revoltosos ludditas como um movimento
desorganizado e espontaneísta. Mas a historiografia de orientação anarquista, como a obra "Os
destruidores de Máquinas: In Memorian" de Cristian Ferrer, editada pelo selo anarquista Imprensa
Marginal ( Caixa Postal 665 Cep 01059-970 Sp -Sp - [email protected]) revela
dados impressionantes sobre o tipo de estratégias utilizadas pelos operários daquela época. A
organização não era rígida nem burocrática, mas era extremamente eficiente e solidária.
Várias vezes a polícia inglesa tentou cooptar a classe operária oferecendo recompensas para quem
delatasse os líderes revoltosos. As pessoas iam à delegacia, faziam delações falsas, recolhiam o
dinheiro e iam para outra delegacia pagar a fiança de líderes presos. Ou seja, demonstrando o grau
de consciência de classe e consciência política do operariado inglês. Ainda que essa consciência
não fosse fruto de uma elaboração intelectual muito sólida ou respaldada num saber livresco.
Muito pelo contrário, a classe operária inglesa não era muito escolarizada até pelo fato de terem
vindo da zona rural onde o acesso à escola era muito difícil. O que prova que o chamado "povão"
só é otário quando quer. Ou seja, as pessoas de baixo poder aquisitivo, de pouca escolaridade,
quando sentem na pele que estão sendo oprimidas e humilhadas pelos poderosos tem a total
capacidade de se organizar e botar o opressor para correr.
Mas um dado surpreendente para mim do livro de Christian Ferrer: a maioria desses revoltosos
ingleses eram camponeses da igreja metodista. Ou seja, mostrando que a religião evangélica
inglesa daquela época em nada se parece com a igreja evangélica brasileira de hoje, totalmente
bajuladora dos poderosos.
Os operários ingleses estavam acostumados com uma vida tranquila no campo, onde não havia
luxo, mas todos tinham o de comer e não precisavam pagar aluguel. Pagavam apenas uma parte
do que produziam para o dono do feudo. Ser expulso para a cidade grande, para servir de mão-deobra quase escrava, morando em bairros péssimos e tendo que trabalhar o tempo todo, foi uma
experiência traumática para esses ingleses pobres. Porque no feudalismo os camponeses
trabalhavam poucas horas por dia, dependendo da sazonalidade das safras, indo dormir quando o
dia escurecia enquanto na cidade grande as pessoas acordavam cedo e não paravam de trabalhar,
pois com a eletrificação urbana o patrão raciocinava que não havia motivo para ir para casa.
É lógico que isso agredia a saúde física e psíquica desses trabalhadores e a solução não foi ficar
rezando por dias melhores ou esperando o repouso no céu. Os trabalhadores ingleses partiram
para ação e resolveram radicalizar. Identificaram no maquinário uma forma de manutenção de
uma sociabilidade nociva, insana. Identificaram no maquinário a simbologia de uma cultura de
instrumentalização do ser humano. Ou seja, o ser humano reduzido a sua dimensão mais utilitária.
E toda vez que um operário perdia um braço ou um dedo no maquinário e era sumariamente
demitido sem nenhum direito ou indenização, ficava claro para a classe operária inglesa como os
patrões os encaravam: como coisas e não como gente. Ou seja, como força de trabalho, como algo
que dá lucro ou prejuízo e nada mais.
Ou seja, num sistema social brutal e odioso como esse, só havia uma forma de impedi-lo de
perpetuar-se: destruindo o maquinário têxtil que o reproduzia. Destruir a máquina era um gesto
de recusa a uma vida absurda e alienada. Ou seja, o que os operários queriam eram se apropriar
de suas vidas. Ter o total controle sobre ela. É lógico que a reação dos patrões, do governo e da
polícia foi brutal: quem eram esses "caipiras", esses analfabetos que ousam se rebelar contra
nossa tirania? Vamos enforcar todos os líderes desse movimento.
O movimento luddita foi esmagado pela classe dominante e suas técnicas assassinas, mas por
outro lado foi vitorioso, porque obrigou o governo inglês a conceder alguns direitos à classe
operária. Como, aliás, sempre o Estado capitalista faz: para não perder tudo e produzir uma
situação incontrolável de convulsão social, os gestores públicos acabam fazendo pequenas
concessões ao povo. E é nisso que a classe dominada pode acabar sendo enfraquecida por
acomodação, passividade e por uma falsa ilusão de que participa da sociedade de consumo
quando o seu poder de compra aumenta, ainda que de forma insignificante. Contudo, os ludditas
mostraram para os patrões que os trabalhadores não são os "carneirinhos" dóceis e mansos que
eles incentivam com toda uma indústria da passividade. Mostraram que a qualquer momento o
germe da revolta pode se espalhar novamente.
ALTA VOLTAGEM LÍRICA DE JOÃO GILBERTO NOLL
A obra do romancista gaúcho João Gilberto Noll vale pela poligrafia. Produziu desde contos (Ex.:
Máquina do Ser), passou por um livro de fragmentos (Mínimos, múltiplos, comuns) até romances
caudalosos e barrocos (como Fúria do Corpo); assim como escreveu um romance curto
veladamente autobiográfico (Berkelley em Bellagio).
No livro “Berkelley em Bellagio” as instâncias de enunciação se revezam entre a primeira pessoa e
terceira pessoa. A impressão que se tem é de que Noll queria ficar invisível na narrativa através do
recurso da terceira pessoa, mas em outros momentos o romancista utiliza marcas verbais da
primeira, principalmente quando ele (o narrador) se entrega aos prazeres da carne com outros
homens
Através das marcas verbais pode-se inferir que em alguns momentos luxuriosos da narrativa, Noll
tenta se esconder através dos pronomes, de terceira pessoa, mas em outros ele assume a
sexualidade agônica através dos pronomes oblíquos .
Noll ficcionaliza a sua autobiografia, de escritor pobre e sem recursos no Brasil, ele resolve
descrever as suas estadias no estrangeiro - dando aulas em universidade americana ou recebendo
prêmios num congresso de escritores na Itália.
As mudanças espaciais na narrativa são feitas sem maiores sinalizações para o leitor,
deixando a obra confusa e delirante. Noll em alguns momentos não deixa claro se está nos Estados
Unidos ou na Itália ou em Porto Alegre, tal é o simultaneísmo narrativo. Algo que chamou a
atenção de Ítalo Morriconi visto como “literatura de superposição entre narrador ficcional e alter
ego de autor ”
Berkeley em Bellagio é uma prosa poética de alta voltagem lírica. Em que seus personagens
errantes passeiam por paisagens urbanas cheias de tédio, angústia, tudo embalado numa carga
erótica que chega ao brutal.
DOSSIÊ GUY DEBORD
Nesse estudo pretendo dialogar com duas importantes fontes bibliograficas. Uma é a obra Guy
Debord de Anselm Jappe, em tradução portuguesa por Iraci P. Poleti e Carla da Silva Pereira,
editada em Portugal pela Editora Antígona em Abril de 2008.E a outra é a obra A sociedade do
espetáculo: comentários sobre a sociedade do espetáculo de Guy Debord em tradução brasileira
por Estela dos Santos Abreu, editada no Brasil pela Editora Contraponto.
Falar da obra do francês Guy Debord não é uma tarefa muito fácil, como também não é nada fácil
falar do que chamo de marxismo sofisticado. Dentro dessa estirpe estariam arrolados autores
como Georg Lucács, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamim, Karl Korsch, Jürgen
Habermas, Herbert Marcuse.
Se fala num suposto marxismo sofisticado ou até mesmo num marxismo sombrio, como se
depreende da obra da filósofa brasileira Olgária Matos, a maior estudiosa dos frankfurtianianos e
seus tributários em terras brasileiras, poderíamos também falar num oposto: um marxismo vulgar.
Nesse marxismo vulgar arrolaríamos autores como Vladimir Lênim, Leon Trotsky, Joseph Stálin que
em suas obras reduziam todo a carga dialética e multiforme do filósofo alemão Karl Marx a um bêá-bás simplista, como estivessem a fornecer kits de revolução pré-fabricados para qualquer país ou
contexto geográfico. No fundo a obra de Lênin, Trotsky e Stálin apenas esmiúçam mexericos,
intrigas e fracassos da revolução de modelo bolchevique implantada na União Soviética, sem
contudo aprofundá-los de forma mais crítica ou estendem o que havia sido dito por Marx e Engels
em O manifesto comunista. E decididamente o Manifesto é uma obra menor, é apenas um panfleto
encomendado pelos operários da A.I.T. (Associação Internacional dos Trabalhadores) dentro da
bibliografia marxiana. Bem diferente do Marx vigoroso, rigoroso e exaustivo de O capital,
Manuscritos econômicos filosóficos, Crítica ao programa de Gotha e o controvertido Grundrisses.
O chamado marxismo sofisticado diferente de propor soluções fáceis ou receitas prontas de
revolução, faz aquilo que Daniel Bensaid apropriadamente chamou de aposta melancólica. Ou
seja, a aposta na revolução, mas sem a garantia da vitória.
E é compreensível da parte desses teóricos uma postura se não pessimista, pelo menos cética no
potencial revolucionário da classe trabalhadora.
E todo esse suposto pessimismo ou ceticismo tem a ver com as denúncias do fracasso das
revoluções de modelo bolchevique que foram criadas no território soviético e exportadas para
lugares como a China, a Albânia, a Coréia, o Vietnam, a Tchecoslováquia, Angola, Moçambique,
Cuba e até a vacilante experiência socialista na Nicarágua.
E não é só a postura desconfiada com esses governos supostamente operários-camponeses,
autores como Lucács e principalmente os frankfurtinianos passaram a desconfiar até do potencial
humano para qualquer emancipação desreificante, principalmente depois da 2ª guerra mundial.
Enquanto no século XIX parte da classe média letrada e identificada com as reinvindicações
operárias via na ciência e na técnica a emancipação possível da espécie humana, já no século XX a
decepção da intelectualidade mais à esquerda com os rumos utilitaristas e desumanos da ciência e
da tecnologia, provocaram uma ressaca e um certo mal estar dentro do campo da esquerda.
Quando se soube que as conquistas mais modernas da Medicina e da Engenharia estavam sendo
usadas nos campos de concentração nazista para exterminar pessoas, isso provocou uma espécie
de trauma insuperável em autores como Adorno e Benjamim.
Dessa forma, estaria criado o que venho chamando de impasse civilizacional.
E dentro desse cenário sombrio e de perplexidade crítica como se situa o pensamento de Guy
Debord?
Guy Debord se for um marxista é um marxista bem herético. Para começo de tudo negava a
organização em estruturas partidárias verticalizadas, sua Internacional Situacionista mais se parece
uma rede espontânea de grupos de afinidade à maneira anarquista. Aliás, a relação com o
anarquismo em Debord não para por aí. Debord esforçou-se por reunir e traduzir a obra completa
do anarquista russo Mikhail Bakunim. Mas se certos interesses e certos métodos utilizados por
Debord e os militantes da IS se pareciam com anarquismo, não se pode afirmar que Debord e a IS
fossem anarquistas. Pelo simples fato de que os anarquistas, ou parte considerável deles, não se
preocupam em esmiuçar a crítica da economia política, a forma-valor e o fetichismo da mercadoria
como faziam os membros da I. S.
Alias, segundo Anselm Jappe e Robert Kurz até os anarquistas (mesmo em versões radicalizadas
como as experiências zapatistas no território mexicano de Chiapas) cometeriam o erro de querer
libertar-se pela economia, do que querer libertar-se da economia. Ou seja, segundo esses autores
articulistas da revista EXIT!, os anarquistas, assim como os verdes, os neoliberais, os democratas
cristãos, os comunistas dos PC's, os socialistas mandelistas do Le Monde Diplomatique, os
trotskistas, os republicanos, todos eles reinvindicam dinheiro ou distribuição de dinheiro, quando o
conveniente seria a eliminação do dinheiro.
A Internacional Situacionista foi um coletivo também editorial, que editou uma revista chamada
Internacionale Situacioniste. O grupo surgiu a partir de 1957 e reuniu elementos que provinham da
Internacionale Letriste, do grupo COBRA e do Movimento Internacional para uma Bauhaus
imaginista.
Segundo Jappe, quando esses diversos grupos pré-existentes se reuniram num novo é porque
demonstravam estarem fartos da arte, enquanto esfera separada da vida. Eles queriam a partir dali
uma espécie de fusão entre arte e vida. Arte e cotidiano. Ou radicalizar a arte, a tal ponto de
superá-la.
Debord critica as vanguardas artísticas como o futurismo, o dadaísmo e especialmente o
surrealismo e seu elogio à irracionalidade, quando passou a perceber que o elogio surrealista do
irracional foi recuperado pela burguesia para embelezar ou justificar a completa irracionalidade do
seu mundo. Debord vê que após 1945 o que antes era um protesto contra o vazio da sociedade
burguesa, encontra-se agora fragmentado e dissolvido
“no comércio estético corrente, como uma afirmação positiva desse vazio.”
Assim, não poupará críticas ao existencialismo e sua "dissimulação do nada' ou pela alegre
afirmação de uma perfeita "nulidade mental" na obra do dramaturgo irlandez Samuel Beckett ou do
romancista francês Robbe-Grillet.
E quais seriam então as metas situacionistas? À Arte já não deve expressar as paixões do velho
mundo, mas contribuir para inventar novas paixões: em vez de traduzir a vida, deve ampliá-la.
Os situacionistas vão conviver com uma dualidade quase sempre tensionada entre propor uma
revolução puramente política ou propor uma revolução cultural. E nessa dissonância interna eles
projetavam a criação de uma nova civilização e de uma real mutação antropológica.
No iníco a IS apostou muito no signo da experimentação, que vai desde a prática do détournement reproduzir trechos de histórias em quadrinhos da cultura de massa nas páginas da Internacionale
Situacioniste, porém com as falas alteradas nos balões ditos por personagens como Capitão
América ou Tio Patinhas, que acabavam citando trechos irônicos ou paródicos com certas
ocorrências do cotidiano sindical francês. Outras coisas também foram experimentadas como a
pintura industrial de Pinot Gallizio produzida em grande escala sobre longos rolos vendidos a
metro, para ironizar a produção em série da tecnologia de modelo fordista. O arquiteto Constant
elaborou a planta de uma cidade utópica A New Babylon, que simplesmente propõe a destruição
da grande metrópole.
Debord passa a fazer experiências na área cinematográfica. Em algumas ele resolve testar as
expectativas tradicionais do espectador acostumado com a sintaxe mastigada do cinema
americano, fazendo justamente o oposto. Num de seus filmes, o espectador fica mais de meia hora
na sala de projeção em total breu, em que Debord que provocar ou eliminar a passividade do
espectador dentro daquilo que ele passou a chamar de Sociedade do espetáculo. E consegue, o
público pagante sai indignado com o cineasta. Em outros, a única coisa que o espectador vê na tela
é um fundo branco, enquanto Debord recita fragmentos da Sociedade do Espetáculo, trechos da
revista Internacionale Situacioniste, num tom enfadonho e com uma voz esganiçada.
As realizações cinematográficas mais bem realizadas do ponto de vista fílmico são aquelas em que
Debord abandona a necessidade juvenil de chocar o espectador e passa a mostrar filmes baseados
em trechos de publicidade da TV Francesa, em que Debord comenta em off certos hábitos vazios
da sociedade de consumo. E isso só vai acontecer já na maturidade do Debord cineasta, quando o
autor de Sociedade do Espetáculo já parece dominar melhor os ritmos entre som e imagem e a
demonstrar mais experiência com a ilha de edição.
No início da década de 60 enquanto membros da IS como Debord, o belga R. Vaneigem e o
húngaro A. Kotanyi vão radicalizar suas posições estéticas, no sentido de entender que a esfera da
expressão e está realmente superada, tendo a libertação da arte sido "a destruição da própria
expressão, parte desse grupo até entenderá que 'a nossa época já não precisa de escrever
instruções poéticas, mas de as realizar". Já outros membros não querem abandonar a concepção
tradicional do artista nem estão dispostos a aceitar a disciplina exigida.
Nesse contexto quase todos os artistas da IS declaram-se céticos quanto à vocação revolucionária
do proletariado e prefeririam confiar aos intelectuais e aos artistas a tarefa de contestar a cultura
atual.
E do ponto de vista da sobrevivência desse membros enquanto artistas, as coisas vão se
complicando cada vez mais com a crescente rejeição aso apelos e seduções para que se insiram
nas teias da indústria cultural. Um dos membros Pinot Gallizio, é expulso do grupo quando não
consegue resistir a uma carreira pessoal nas galerias de arte.
Com o tempo os poucos membros restantes da IS dada a radicalidade de ser um grupo de artistas
que não produz "obras", numa autêntica crítica à sociedade de consumo e à indústria cultural - sua
maior produtora; a IS acabaria progressivamente abandonando o campo artístico e passando a
fazer uma crítica social furiosa e aglutinante que acabariam deflagrando a greve dos 100 mil e as
barricadas do Maio francês.
E como falamos da experiência da revista Internacionale Situacioniste, achamos oportuno
comentar como era a produção do mercado editorial francês da época mercado editorial francês
era ou é bem diferente do brasileiro. Enquanto aqui, a classe média consome revistas como
Contigo, Caras e Guia Astral João Bidu. O público francês no século XX levava a sério revistas de
debates e discussão.
Assim, podia-se encontrar o órgão dos existencialistas A les temps moderne. Uma certa
kierkegaardização e heideggeriarização de Marx na revista Arguments.
A revista Critique em que Michel Foucault publicava seus artigos sobre psiquiatria, penalização e
biopolítica.
A revista Tel Quel que divulgava teses estruturalistas ou estudos sobre erotismo de Bataille.
A revista Socialisme ou Barbarie liderada por Cornelio Castoriades que apesar da crítica à União
Soviética, não se aprofundava na forma-valor, no fetichismo da mercadoria e assimilava de forma
acrítica antropologia e psicologia.
No mercado editorial francês havia até espaço para a revista Oulipo, esquisito veículo liderado pelo
poeta Raymond Queneau mais interessado em pirotecnias estilísticas (palíndromos, reescrituras,
pastichos e misturas de poesia com análise combinatória) do que na crítica social ou
comportamental.
Debord deve ter arranjado muitos inimigos no meio da intelectualidade francesa, com sua
conhecida ironia ferina e ranzinza. Criticava a apologia do nada em existencialistas como MerleauPonty, ridicularizava a tese da morte do homem, da história sem sujeito do estruturalismo vista por
ele como a principal ideologia apologética do espetáculo ao negar a história e ao querer fixar as
condições atuais da sociedade como estruturas imutáveis.
Com um grupo de afinidade jogou tomates numa conferência do ciberneticista Abraham Molles.
Gozava da mistura indigesta de marxismo e estruturalismo feito por Louis Althusser, zombava do
Noveau roman e do cinema de Godard.
Fica muito difícil resumir um pensamento complexo como é o de Guy Debord. O livro de Jappe,
apesar do nome, não é uma biografia e pouco podemos deduzir de como Guy Debord conseguiu
sobreviver, pagar suas contas e pelo final que teve (o suicídio) podemos inferir que a radicalidade
do autor de Panegírico deve ter criado muitos problemas de ordem prática, a despeito de no fim
da vida, o pensador francês ter arranjado uma amizade com um controvertido empresário que
financiou seus últimos filmes e bancou seus livros.
ETNOGRAFIA DE UM DISQUE AMIZADE GLS
Com este ensaio pretendo analisar um Disque Amizade GLS da cidade de Fortaleza. No caso falo do
serviço telefônico 3468 3000, criado para atender ao público de gays, lésbicas e simpatizantes da
capital do Ceará.
A Etnografia foi criada originalmente para descrever povos e etnias indígenas e só mais tarde
também foi utilizada para descrever os hábitos e códigos culturais de outras comunidades.
Descrever os hábitos, gestos, símbolos, ritos e mitos de uma comunidade exige que o pesquisador
se disponha até ir ao seu lócus de pesquisa. Mas e quando se trata de observar os hábitos e
representações de uma comunidade de falantes como de uma sala de bate-papo gols telefônico?
Aqui a tarefa pode se tornar temerária e difícil, pois uma coisa é o pesquisador ir até um ilê de
candomblé ou uma igreja evangélica ou a sede de um coletivo de anarco-punks observar e
registrar o que percebe nesse lugar. Mas quando se trata de uma comunidade fluida como é uma
sala de bate-papo? Como observar regularidades e recorrências quando a cada cinco minutos a
sala se preenche de novas pessoas e sem falar que essas pessoas podem assumir personalidades
que não são as suas?
Qual a relevância de observar gays, lésbicas e bissexuais conversando num serviço telefônico? Esse
estudo pode fornecer dados para pesquisadores em etnografia e psicologia social, pois ao dar
ouvidos ao que esses indivíduos conversam somos confrontados com suas crenças e cosmovisões
particulares.
No serviço não há só pessoas que ligam da cidade de Fortaleza, mas também usuários que ligam
da região Metropolitana, de cidades mais afastadas como Juazeiro e eu já conversei com um rapaz
que falava de Pernambuco.
A questão da identidade numa sala como essa é bem curiosa. Muitas pessoas usam nomes falsos e
até criam personalidades postiças. Homens, originalmente másculos no seu cotidiano, na sala
atendem pelo nome de Panela Skylab e usam gíria do universo das drag-queens e das travestis.
Os objetivos de quem liga varia muito. Vai desde homens casados que ligam para marcar um
encontro sexual e furtivo com outro usuário enquanto a esposa enfermeira foi dar um plantão até
rapazes que ligam apenas para ouvir os amigos que participaram do show da Alanis Morisseti.
As representações que esses usuários têm da comunidade homossexual, assim como a cosmovisão
gls é bem peculiar. Revela uma comunidade, um pertencimento populacional de hábitos culturais
bem específicos.
Ao ouvir essas pessoas o pesquisador pode identificar o preconceito e a desigualdade social que
também existe no universo ideológico da comunidade de homoafetivos. Várias vezes presenciei
homens gays da Aldeota perguntando se havia gays do mesmo bairro na sala, pois segundo eles
não queriam conversar com os gays das regiões mais pobres de Fortaleza. Isso se evidencia ou em
afirmações explícitas ou em comentários jocosos sobre o que esses gays endinheirados
denominam de bichas pão-com-ovo.
O preconceito e a elitização econômica também ficam evidenciados: quando se ouve os gays que
foram para o show da Alanis Morisseti fazerem questão de frisar o quanto gastaram no preço do
ingresso, no consumo de bebidas e iguarias caras durante o show e no retorno para casa tarde da
madrugada em carros caros e importados.
As representações desses indivíduos revelam porque a indústria do entretenimento investe tanto
nesses gays endinheirados e revela também a lucratividade de apostar nesse "nicho de mercado".
Certa vez foi interessante ouvir de uma drag-queen como ela compreende o relacionamento
homossexual. Basta ver o filme americano O segredo de brokeback mountain, pois lá há a
explicação de como termina todo relacionamento entre gays: um morto e outro: olhando para
uma jaqueta.
O que se pode perceber nos usuários desse serviço é de que há um queixa comum: a da solidão.
E dá para se concluir o motivo, pois na pós-modernidade a tônica dos relacionamentos e dos
vínculos é o esgarçamento, a superficialidade dos contatos. As pessoas vivem um paradoxo de não
quererem fidelizar relações e ao mesmo tempo quererem estabilidade. Como posso ter
estabilidade se não me fidelizo ou não me ligo profundamente a ninguém?
Uma coisa que merece menção é a participação lésbica na sala: pequena e contida. E outra
menção é a grande quantidade de bissexuais que ligam para o serviço com intenções apenas de
satisfazer genitalmente seus instintos sem maiores vínculos.
HOMENAGEM MAL FEITA A TOM ZÉ
Este texto tem todos os defeitos da minha prática escritural: não serão informadas as fontes, não
serão informados os nomes certos das faixas fonográficas analisadas, não serão informados os
créditos da faixa técnica do encarte do CD, porque ouvi o material fonográfico, o "corpus" de um
arquivo de MP3 baixado "criminosamente" da internet.
Esse texto tem outros defeitos recorrentes de minha prática escritural: esse exercício auto
referencial obsessivo de ficar explicando os defeitos da minha prática escritural. Ou seja, a minha
prática escritural tem algo de fagocitose sobre si mesma, como uma ameba que resolvesse devorar
a si mesma num gesto desesperado de quem procura comida na geladeira ou na dispensa e não
encontra.
E o que realmente fará a "porra" desse texto, desse maldito e vaidoso texto?
Esse texto pretende, eu disse pretende, repito, analisar a obra do compositor baiano, filho do
município de Irará: TOM ZÉ.
Quem foi TOM ZÉ, eu disse TOM ZÉ e não TOM JOBIM. Quem foi?
TOM ZÉ foi e é um compositor nascido no território brasileiro e que começou a se destacar na
mídia na época do finado TROPICALISMO.
Sua música São São Paulo deve ter ganhado algum prêmio ou colocação em algum festival da
RECORD.
E também TOM ZÉ está na capa do disco-manifesto da Tropicália. Onde tem um finado ilustre lá no
meio: TORQUATO NETO.
A obra de TOM ZÉ consegue juntar dois inimigos jurados de morte: O Ariano Suassuna armorial e o
atonalismo de KOELLREUTER.
E isso fica patente em sua trilha-sonora de um balé de um grupo de dança, que deve ter sido o
balé CORPO. Falo de Parabelo em parceria com Jose Miguel Wisnik.
Tom Zé gosta de brincar com o passado como no cd ESTUDANDO O SAMBA, elogiado pelo
desagradável e cacofônico KOELLREUTER. O genial e experimental KOELLREUTER. E num espírito
paródico Tom Zé acabou gravando o cd Estudando o Pagode, como se houvesse algo a estudar no
Alexandre Pires ou no Exalta Samba. Cada um que estude o que quiser, tendo a bolsa da CAPES ou
não. Cada doido com suas manias. E que doido genial é o Tom Zé.
A Tropicália teve o seu lado A, genial e midiático: Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, mas
também teve seu lado B: Wally Salomão, Jards Macalé e o suicida Torquato Neto. Tom Zé sempre
foi do lado B da tropicália, embora tivesse amizade com o lado A.
E chegou a fazer sucesso por causa da repercussão sobre sua música cantando as ruas sujas de São
Paulo. Mas na década de 70, Tom Zé resolveu sabotar o seu próprio sucesso: lançando o
esquisitíssimo cd 'Todos os olhos', onde há um ânus com uma bila dentro. E a capa irritou os
censores da ditadura, que não lembro agora se era apenas uma ditadura de aparato militar ou
também de aparato econômico. Que importa, ditadura é sempre ditadura. Seja a ditadura de Fidel
Castro, de George W. Bush, Saddam Hussein, Mikhail Gorbatchov, Stálin, Trotsky. Ditadura é
sempre ditadura.
E em seguida conseguiu juntar seus trocados de professor da faculdade de música da Bahia e ficar
gravando os seus próximos discos sem despertar o interesse do programa Flávio Cavalcanti.
Só que suas contas foram se acumulando e a esposa dele começou a ficar preocupada com a
dispensa da casa, enquanto seu marido perdia tempo com compassos, harmonia, melodia, ritmo,
tonal, modal e todas essas besteiras que não interessam aos programadores das FM's forrozeiras
da cidade de Fortaleza.
Tom Zé estava ficando tão desesperado com a magreza de sua esposa fiel, que começou a pensar
em aceitar o convite de ser frentista num posto de gasolina oferecido gentilmente por seu primo
frentista de um posto de gasolina.
Só que em algum lugar do planeta, mas precisamente numa loja de discos de alguma capital
brasileira, o compositor americano David Byrne, topou com um disco estranhíssimo na seção de
samba de uma loja de discos do Brasil. O disco lhe chamou a atenção, um daqueles vinis grandes,
que dá pra ver a capa de papelão, toma espaço, arranha, exige um pick-up que preste e uma
agulha de alta sensibilidade. Pois bem, David Byrne tinha esse hábito de comprar esses vinis
velhos, esses bolachões aposentados pela indústria fonográfica, até porque como ele é americano,
ele tem dinheiro para comprar pick-ups e agulhas de alta sensibilidade para ouvir discos de vinil ou
até de cera ou acetato ou sei lá. Talvez o professor Cristiano Câmera possa nos explicar melhor
qual a diferença entre um disco de acetato, de um gramofone, de um disco de cera, embora, ao
contrário de David Byrne, o professor Cristiano Câmera não receba nenhum centavo para essas
pesquisas, nem ele, nem o NIREZ, nem ninguém no Brasil. O Brasil prefere investir em coisas, mas
úteis, como por exemplo, a melhor maneira de poluir os rios, os lençóis freáticos, os povos
ribeirinhos, o povo sertanejo naqueles megaprojetos de que eu falei antes, não percamos tempo
com o que já foi falado.
Sim. Mas o que chamou tanto a atenção do americano David Byrne naquele disco do Tom Zé numa
seção de samba?
A capa.
Uma capa de disco de samba cheia de arames farpados. Que coisa estranha para se pôr na capa de
um disco de samba. E isso levou David Byrne a comprar o disco. Ele nem sabia quem era Tom Zé.
Ele conhecia o lado A da tropicália. Mas o lado B, não.
E ficou maravilhado com o que ouviu. Era algo novo, esquisito, fora do prumo. Era samba mas
tinha compassos novos, era algo timbrístico.Muito esquisito.
E Tom Zé lá estava coitado, professor da faculdade de música, a atender clientes endinheirados que
chegavam ao posto de gasolina. Quando de repente David Byrne entra em contato com ele.
Resumo: por causa de David Byrne e do seu selo musical, hoje Tom Zé é ouvido no mundo todo.
A música de Tom Zé é irônica, paródica, auto referencial, metalinguística, metamusical. E por isso
jamais tocará no programa do Faustão, mais interessado no ADO ADO CADA UM NO SEU
QUADRADO.
Mas Tom Zé tem seu público. Faz seus shows. E tem dinheiro para regar suas plantas e alimentar
sua esposa.
CRÍTICA AO 59º SALÃO DE ABRIL NO TERMINAL DO SIQUEIRA
"No dia em que os teares tecerem sozinhos
e as cítaras tocarem sozinhas, o homem será livre”
Aristóteles, filósofo da Grécia Antiga.
Esta resenha pretende analisar as obras do 59º Salão de Abril - Mostra Nacional de Artes Visuais Arte: Desejo e Resistência, realizado de 14/Out/08 a 23/Nov/08 dentro do Terminal de ônibus do
Siqueira. O evento foi promovido pela SECULTFOR, órgão da Prefeitura Municipal de Fortaleza.
Teve a curadoria de Andrés I. M. Hérnandez, Ricardo Resende e Siegbert Franklin.
Esta resenha não intenta cobrir o evento como um todo, que se realizou em três lugares: o
terminal de ônibus do Siqueira (na região sul de Fortaleza, área extremamente pobre), no terminal
do ônibus do Papicú (na região leste de Fortaleza, a chamada área nobre da cidade) e no Centro de
Referência do Professor (que fica no Centro da capital cearense).
Pretende-se aqui apenas analisar as obras expostas no Terminal de ônibus do Siqueira.
Fazer crítica de artes-plásticas é uma tarefa quase ingrata e quase inútil, quando se parte do
pressuposto de que o crítico seria uma espécie de relações públicas a divulgar artistas (Terry
Eagleton). A Tarefa se torna inútil, porque muitas vezes quando finalmente o leitor tem acesso à
crítica, a exposição já tem saído de cartaz. Diferentemente da crítica literária. Quando examino a
obra do poeta paulista Roberto Piva, por mais marginal que ele tenha sido um dia, rabiscando
poemas em guardanapos de papel nos bares infectos da boêmia de São Paulo, hoje se pode
encontrar a obra do poeta transgressor quase toda editada ou relançada nas livrarias pela Editora
Globo.
Já em se tratando de crítica de artes-plásticas temos uma série de problemas.
O primeiro deles: se a crítica não vier acompanhada de ilustrações, tudo ficará muito no plano da
abstração. Além disso, no caso da arte contemporânea não basta apenas a crítica vir acompanhada
de suas respectivas reproduções fotográficas. Já que na contemporaneidade as condições
ambientais, ou até a ausência delas, faz parte do gesto artístico. Assim, não basta reproduzir os
pôsteres fotográficos que ficaram fixados nas paredes de uma parte do terminal (Não informo o
nome da artista porque não havia folder nem o monitor tinha o catálogo com o nome da mesma),
pois quem sabe se o fato do deslocamento dos ônibus no interior do terminal, proporcionando
momentos em que os pôsteres eram vistos e outros em que eram tapados pelos ônibus, não faz
parte da intenção da artista? Ou seja, não seria aí também os motoristas de ônibus uma espécie de
co-autores das obras? Seria difícil reproduzir isso em fotos.
Outro problema de se fazer crítica de artes-plásticas em comparação com a crítica literária: é que
na crítica literária conto com o sossego de um escritório, de um quarto e de um livro que tiro ou
recoloco na estante conforme a conveniência.
Já a crítica de artes-plásticas é extremamente desconfortável. Uma vez para cobrir uma exposição
do Centro Cultural Banco do Nordeste, tive de ficar agachado ou sentado no chão enquanto
preenchia meu caderno de anotações, pois as obras que estava analisando foram dispostas numa
vitrine rente ao chão.
Nessa exposição em particular, no 1º dia em que fui vê-la, fui num horário próximo do rush e o
terminal estava ficando muito cheio, esfumaçado e barulhento. No 2º dia em que fui num horário
mais cedo, uma das vídeos-instalações apresentou problemas técnicos. E o vídeo não foi exibido e
o monitor de TV estava desligado.
Tudo isso são imprevistos que o crítico literário, no conforto de sua casa e tomando seu café,
nunca terá.
A 1ª obra analisada é do cearense Luiz Sales, cujo título é 8. É uma instalação usando a técnica da
fotografia.
Num suporte de 200x400 cm, vemos duas fotografias justapostas. Numa delas é um clique
fotográfico sobre uma cena banal no centro da cidade de Fortaleza: pessoas atravessando uma rua
em frente ao Edifício Sulamérica. Tudo isso seria banal aqui, se o fotógrafo por um processo digital
(tipo Photoshop) não tivesse tirado as cabeças e rostos dessas pessoas atravessando a rua.
Causando um visível efeito de estranhamento. E na foto ao lado há um esboço de rosto feito em
negro sobre fundo branco.
Quando vi os homens sem cabeça e sem rosto atravessando a rua, lembrei do conceito sociológico
do sujeito sem rosto, sem identidade da pós-modernidade. E o esboço de rosto ao lado dessa foto,
sugere um rosto sem traços identitários definidos, pois o rosto não exibe marcas de classe social,
poder aquisitivo, faixa-etária, etnia e até gênero, o que nos sugere o conceito das identidades
fluidas e líquidas de Zigmunt Bauman.
A 2ª obra analisada é Sem Título do cearense Caio Danieli. A técnica utilizada é a fotografia e
impressão digital sobre tecido.
O monitor da exposição me informou algo curioso: a fotografia foi tirada numa câmera tipo
pinhole, que são aquelas câmeras artesanais muito rudimentares, utilizadas por oficineiros para
dar aulas de fotografia para alunos carentes que não tem dinheiro para comprar uma câmera
profissional.
O efeito plástico dessa foto foi muito bom. Devido à baixa qualidade e a baixa resolução, a imagem
ficou com um efeito poroso, granulado.
E o que se vê é uma paisagem marinha bem comum aos fortalezenses. Nela aparece um pedaço da
ponte dos Ingleses, também conhecida por Ponte Metálica. Justamente aquele pedaço em que o
acesso do público é proibido; a ferrugem, a maresia, buracos na argamassa deixaram a edificação
em ruínas.
Há algo de metáfora aqui. Trazer parte do oceano atlântico para dentro da região mais afastada do
litoral de Fortaleza. Seria uma brincadeira do artista com aquela profecia de que o mar em 2012
vai atingir até a Serra do Maranguape, devido a um suposto cataclismo geológico, previsto por um
pai-de-santo e que já faz parte do anedotário da cidade?
Pode também ser uma alusão a questão dos deslocamentos e das desterritorializações
proporcionadas pela tecnologia. Pois os usuários do Terminal do Siqueira, que estão vendo a
réplica daquela paisagem, poderão vê-la pessoalmente, pois do terminal há itinerários de ônibus
que levam para Praia de Iracema.
Isso não seria possível antes do advento da civilização do automóvel, dos ônibus coletivos e da
rodoviarização forçada da paisagem brasileira, depois do Governo Juscelino Kubitschek,
totalmente submisso à indústria automobilística.
Enquanto na Europa as pessoas vão para o trabalho ou para o lazer através do transporte
ferroviário, que polui bem menos e mata bem menos também.
A 3ª obra é do paranaense Charles Klitze: Revestimento/Reinvestimento em desenho de gênero II.
Intervenção feita através da impressão de cartazes off-set.
Na obra vários cartazes com o mesmo motivo foram colados. Neles há um pugilista desferindo
socos. Pode estar fazendo uma crítica à violência urbana que se multiplicou no cenário caótico das
cidades. Sinalizando que vivemos numa era tensionada de conflitos.
Pode ser também uma paródia com o modismo do Muay-Thay, praticado tanto por gente séria,
como por doidinhos que querem sair por aí dando porradas em homossexuais e empregadas
domésticas, que esperam a condução na parada de ônibus. Falo em paródia, porque o traço
utilizado nos remete ao universo das histórias em quadrinhos.
A 4ª obra analisada é a da cearense Cláudia Sampaio, que usou técnicas diversas como pintura
direta na parede com pincel atômico, lápis, guache, colagens de recortes, detalhes fotográficos e
objetos do cotidiano colados na parede.
A obra possui um texto verbal que sugere uma leitura, mas devido à disposição caótica intencional,
o espectador fica sem a indicação de um percurso de leitura específico. Pois a cada momento que
se tenta ler, a frase é interrompida por um desenho, ou por outra frase superposta em outra cor, a
sugerir o estado emocional perturbado da artista.
A monitora explicou que a artista sofreu recentemente a experiência do luto com um parente e
que parece ter havido violência sexual nesse homicídio.
A obra mostra elementos icônicos que sugerem cortes, rupturas, perdas, sobreposições. Há beleza
nesse caos, mas também há dor.
A 5ª obra analisada é dos cearenses do Themis Memória: Uni-forme. É uma instalação em que há
um relógio de ponto antigo, TV e DVD.
No primeiro dia em que fui ver a obra, o vídeo funcionava.
O que é a obra? Aparentemente um relógio de ponto, só que no lugar do relógio, foi colocado um
monitor de TV que fica exibindo uma video-arte.
No 1º dia que fui consegui ver a vídeo-arte. E no 2º dia que fui com o caderno de anotações, o
vídeo estava desligado por problemas técnicos.
Pelo que entendi Themis Memória não é uma pessoa, mas um grupo de artistas. O vídeo foi
editado por Frederico Benevides e contou com a performance do seguinte elenco: David da Paz,
Taya Lópis, Balbucio. Contou ainda com a parceria de João Paulo Ribeiro e Luiz Pratti.
A trilha-sonora é assinada por Narcílio Grud.
As fotografias presentes no vídeo são de João Wilke, Reginaldo Freitas e Haroldo Sabóia.
Vou descrever o que acontece com o espectador nessa obra. Ele chega e vê um relógio de ponto
antigo analógico e um pequeno fichário antigo cheio de cartões de ponto usados.
No cartão está escrito: - Bata Ponto.
O verbo no imperativo sugere a atmosfera autoritária do mundo do trabalho.
Como o relógio de ponto é antigo, talvez a obra queira sugerir que estamos num mundo marcado
pelo desemprego e que assim como o relógio de ponto, o trabalho é uma relíquia do passado.
Então se não temos mais o pelourinho moderno que é o relógio de ponto para nos atanazar, então
seria o momento de comemorar a liberdade de um mundo sem trabalho e marcado pelo ócio?
(Bob Black em Abolição do Trabalho). Errado. Não é o que sugere o tom e a trilha-sonora da vídeoarte. Nela pessoas se movimentam em cima de um palco repetindo movimentos mecânicos, como
se batessem ponto, com uma iluminação sombria a sugerir o ambiente insalubre das fábricas, que
um dia o homem foi condenado a suportar e que hoje foi expulso delas pelas inovações
tecnológicas, pela automação do trabalho e por certos modelos de gestão da cadeia produtiva,
como o toyotismo, que provocaram o enxugamento do quadro de pessoal.
A vídeo-arte tem interferências de fotografias e recortes de anúncios publicitários, sugerindo que
esse homem pós-moderno está angustiado não por ter perdido o trabalho ou por nunca ter
conseguido se inserir no mercado de trabalho, mas por não ter como consumir as mercadorias que
lhe são oferecidas diariamente pela publicidade e que ele desesperado não tem poder aquisitivo
para comprá-las.
Outras reflexões também são sugeridas aqui. Mesmo que o homem pós-moderno esteja
desempregado em grandes contingentes urbanos ou rurais, será que sua psique está
desempregada? Ou para ser mais claro, depois dos 200 anos da Revolução Industrial, que trouxe
outro uso do tempo e do espaço terrestres, que trouxe outros ritmos e pulsações... pois o homem
que passou 200 anos cumprindo horários, prazos, obedecendo ordens e produzindo mercadorias
nos ritmos frenéticos ditados pelas leis implacáveis da economia de mercado, estaria esse homem
preparado para esse repentino e compulsório excesso de tempo livre, provocado pelo desemprego
estrutural?
Vamos esmiuçar mais este raciocínio. Há 200 anos que o homem vinha sendo usado como
engrenagem de uma grande máquina de produção. Sendo controlado pela produção, ao invés de
controlá-la como tentaram fazer na revolução de caráter anarquista na Espanha de 1936 ou como
sugere a crítica do fetichismo da mercadoria da obra do filósofo alemão Karl Marx. O homem se
via pautado pelos ritmos cadenciados e militarizados do trabalho, ora no taylorismo ora no
fordismo. De uma certa forma, a instrumentalização do ser humano provocada pelas necessidades
do produtivismo capitalista marcou também a subjetividade do ser humano. Tanto que o ser
humano trouxe certos hábitos da fábrica ou do escritório para sua vida pessoal.
Hoje, por exemplo, quando alguém termina um namoro com outro pessoa, há até a expressão:
AH! Eu dei as contas de fulano ontem na festa
O conceito cínico networking, que consiste na necessidade das pessoas atualmente serem sempre
simpáticas, ficarem mostrando os dentes o tempo todo e evitarem certos atritos ou conversas mais
profundas com os colegas e amigos, no intuito de que esse colega ou amigo não pode ser
descartado, porque pode estar nele a dica ou a indicação do próximo emprego ou do próximo bico
ou trabalho temporário, que levará a comprar aquela TV de 29 polegadas de Plasma, que está
cientificamente comprovada que ninguém pode passar sem ela. Assim, o networking difundido
por conceitos como DATA-MARKETING, veiculados por revistas idiotas como a Você S.A., nada mais
é do que Roberto Kurz chamou sarcasticamente de relações de freguesia. Então, o que seriam as
amizades hoje em dia? Oportunidades de negócio.
Assim, insistimos, o homem pode até estar desempregado, mas sua psique continua batendo
cartões de ponto em todos os lugares.
Para terminar a análise da obra do relógio de ponto, vale ainda destacar que de cada lado do
relógio de ponto há uma gravura de uma mulher nua pintada em branco sobre fundo azul.
Eletrodos de uma máquina foram instalados em sua vagina e em seu cérebro, constituindo uma
sinistra simbiose homem-máquina, sugerida por certos modelos de gestão de trabalho como o
toyotismo, que liquidou totalmente a vida familiar dos trabalhadores, que ainda permanecem
empregados - falo aqui da nefasta prática da folga cinco por um.
A mulher na gravura parece emitir um espasmo de dor e os traços lembram algo da ficçãocientífica Blade Runner ou do artista Moebius, nesse pequeno quadro sádico em que se tornou o
capitalismo transnacional vitorioso com as bênçãos das esquerdas e direitas administradoras.
Na 6ª obra analisada, a paulista Heloísa Etelvina: Filatelista, feita com gravura - 1,92x3, 10 cm,
selos fictícios, tipografias e carimbos compõe um painel que de longe lembraria algo na
confluência entre o rigor do construtivismo geométrico e o abstracionismo. De perto, o
espectador ao se aproximar percebe que há selos que tem letras, sílabas, que remeteriam a uma
língua que tivesse fonética, morfologia e até sintaxe, mas que não tem semântica. Posto que as
letras e sílabas não formem frases nem textos. Ou formam palavras de uma língua inexistente.
Talvez Etelvina queira referir-se a uma época, em que o bombardeio de informações diárias
proporcionado pelos meios de comunicação de massa, mais tumultuam a mente do receptor, do
que informam. Ou então, seria uma alusão a partir do significante do selo fictício de que as
comunicações atualmente estão mais cheias de ruído, do que de sentido.
Na 7ª obra Antonio Rocha: Seres Naturais (o monitor não soube informar a naturalidade do artista)
feita de gravuras com tinta serigráfica num suporte de tecido. As cores utilizadas foram jogadas em
jorros furiosos e explosivos sobre a tela num fundo branco. Os matizes foram o preto, o branco, o
cinza e o magenta. E o efeito plástico produzido nos remete a um expressionismo abstrato que
resolve cantar o disforme, o grotesco, o feio e o sujo realçado pelo excesso de preto, a simular
talvez a fuligem presente em terminais de ônibus.
Na 8ª obra da cearense Ivanize, a artista usou a técnica de lambe-lambe, pintura sobre papel.
Foram coladas nas paredes do terminal. Há uma adolescente colegial. Há uma concha gigante de
que saem pernas femininas e há uma mulher com mala querendo sair, migrar para algum lugar,
mas dos seus pés brotam raízes que a impedem de sair.
Que percurso de leituras podemos fazer desses significantes? A associação com o universo
feminino é automática. A mulher-menina adolescente na escola, que deve ir à escola para
aprender a ser uma mãe ou trabalhadora eficiente e submissa. A mulher escondida numa concha
gigante que poderia ser o útero, mas também pode ser o ostracismo imposto à mulher durante
muitos anos e uma mulher que finalmente resolve deixar a casa do pai, do marido, do
companheiro que a oprime, mas que ao mesmo tempo, já se enraizou no que é familiar, ainda que
ruim e teme a insegurança e a imprevisibilidade do desconhecido.
E por último a obra do cearense Gentil Barreira: Espelho Meu II. Fotografia - 200x 90, impressão
espelhada adesivada sobre PVC.
Em duas fotos um homem e uma mulher de corpos inteiros vestidos e mal iluminados.
A iluminação é suficiente apenas para mostrar os contornos do corpo e certas partes do colorido
das roupas. A impressão que se tem é de que estão num provador de roupas dessas lojas de
departamento.
Os rostos de ambos estão escurecidos.
A pergunta que a obra de Gentil Barreira nos faz é: qual o contorno do homem e da mulher
contemporâneos? E se o refletor se acendesse sobre seus rostos, o que veríamos? Que tipo de
homem e que tipo de mulher a pós-modernidade produziu em meio ao patriarcado judaico-cristão
agonizante, como se depreende da obra de João Silvério Trevisan (Seis balas num buraco só: A
Crise do masculino - Ed. Record), da feminista alemã Roswita Scholz e as seduções da sociedade de
consumo, da indústria de comésticos como se depreende da obra de Gilles Lipovetsky?
Termino aqui minha contribuição crítica. Não quiz com ela encerrar um debate, mas provocar seu
início.
A PADARIA ESPIRITUAL SEGUNDO GLEUDON PASSOS
Este texto é uma resenha do livro "Padaria Espiritual: Biscoito fino e travoso" de autoria do
historiador Gleudson Passos Cardoso, faz parte da Coleção Outras Histórias editada pelo Museu do
Ceará e Secretaria da Cultura e Desporto do Ceará.
Gleudson Passos Cardoso, nascido em Fortaleza, graduado em História pela UFC e mestre em
História Social pela PUC-SP, é professor de História da Unifor e do Projeto Magister/UFC. Membro
atuante da Sociedade de Belas Letras & Artes Academia da Incerteza. É poeta, tendo se
especializado na arte do soneto. Autor do livro "Fraya Zamargad: Sonetos de Amor e Melancolia".
O livro "Padaria Espiritual: Biscoito fino e travoso" é uma espécie de resumo de sua dissertação de
mestrado cujo título é "As Repúblicas das Letras Cearenses: Literatura, Imprensa e Política (18731904)". A obra traça um panorama do contexto peculiar da Fortaleza do Séc.XIX que gerou a
singular confraria de escritores da Padaria Espiritual.
A Padaria Espiritual foi um grupo eclético em atuações e tendências literárias. Liderada pelo
escritor Antônio Sales, tinha como principal propósito alfinetar a burguesia ignara. Gleudson
Passos revela no primeiro capítulo a constituição dos grêmios literários que antecederam os
escritores do Jornal "O Pão". A Academia Francesa, segundo o autor, em muito difere do grupo de
Antônio Sales. Enquanto Rocha Lima, Capistrano de Abreu, Araripe Júnior e outros surgiram para
combater a Igreja Católica, nas páginas do órgão maçônico "Fraternidade", como estandartes da
sociedade industrial-civilizatória, entendido como culto ao progresso, a tecnologia e a ciência; o
grupo dos padeiros, por sua vez, revestia-se de certo saudosismo em relação a uma cidade que
perdia seus encantos brejeiros e assumia terríveis ares de metrópole. O autor informa que
enquanto outras agremiações como o Centro Literário e a Academia Cearense procuravam
disseminar a ideologia do progresso, seja relacionada ao regime republicano ou ao conhecimento
científico-tecnológico, a Padaria Espiritual optou por interpretar a realidade nacional de acordo
com a realidade popular que compunha a nação brasileira. Isso se traduz numa certa aversão aos
estrangeirismos, tão comuns à moda e ao "mundanismo" que os produtos fabricados nos países
industrializados trouxeram aos centros comerciais e áreas de influência mais recônditas. Desse
modo, o historiador identifica alguns traços de teor nacionalista. Entretanto, a Padaria Espiritual
não era um grupo homogêneo. Gleudson Passos comunica que as posturas variavam bastante. Na
paleta dos "forneiros" podiam-se perceber desde as cores alegres da filosofia do progresso com
Antônio Sales e Álvaro Martins até os tons escuros do pessimismo satânico e a descrença na
civilização industrial com Lívio Barreto, Lopes Filho e Cabral de Alencar. Com base nisso, o
historiador pinça trechos de crônicas em Antônio Sales e o republicano exaltado Álvaro Martins
revelam a crença de que a normalização dos espaços p[públicos e a correção de comportamentos
transgressores à ordem urbana contribuiriam para o progresso, o bem-estar social e a moralidade.
Por outro lado, membros do grupo como Adolfo Caminha identificava nos regeneradores da ordem
sócio-urbana (médicos, higienistas, urbanistas, engenheiros), nas classes urbanas emergentes e
nas facções políticas oligárquicas, os agentes de imposição de uma violenta disciplina urbana, a
reproduzir o consumismo selvagem, bem como concentrar poder político com mandonismo,
violência física e atos ilícitos, nepóticos e clientelistas.
No segundo capítulo, Gleudson Passos compõe o painel da formação da Padaria Espiritual.
Segundo o autor o grupo era formado por rapazes oriundos dos setores médios e baixos da cidade
e do interior. Eram, portanto, funcionários da alfândega, caixeiros, escritores menores, sem filiação
com as facções político-oligárquicas e buscavam ascensão pública e social.
No terceiro capítulo o historiador recupera a importância do fundador do grupo, Antônio Sales.
Gleudson Passos mostra em que medida a atuação publicitária do autor de "Trovas do Norte"
projetou o grupo não só no Ceará, como nos grandes centros. Antônio Sales enviava o "Programa
de Instalação" para vários escritores do eixo Rio - São Paulo e pedia colaboradores para o Jornal "O
Pão" em todo o país. Com esta estratégia a Padaria Espiritual passou a ser referência de literatura
feita no Ceará.
No quarto capítulo, Gleudson Passos mergulha nos meandros da chamada "literatura menor" do
Ceará, isto é, feita por apreciadores da estética simbolista. Assim, os padeiros "nephelibatas"
beberam nas fontes de Baudelaire, Verlaine, Antero de Quental e Antônio Nobre. O autor entende
que o trabalho de Lopes Filho, Lívio Barreto e Cabral de Alencar está calcado no estilo dionisíaco,
herdeiro do barroco e, sobretudo do romantismo, em que deram-se por rebelar contra as
estratégias de controle simbólico, como a crença ortodoxa na ciência, no progresso técnicoindustrial e na democracia liberal.
No último e breve capítulo, o autor procura estabelecer uma relação nem sempre amigável entre
os escritores e a imprensa local.
Padaria Espiritual: Biscoito fino e travoso é uma obra curta (93 páginas) e bem urdida, feita com
apuro e lucidez crítica. O texto de Gleudson Passos é saboroso e fluido. O autor não faz crítica
literária e nem é esse o objetivo de um historiador, mas procura investigar em que medida o
literário pode ser uma porta de acesso a um tempo esquecido.
KARL MARX: DOBRADIÇA, ESQUIZOFRENIA OU POLIFONIA?
Este texto é mais um brainstorming sobre a questão, do que propriamente um ensaio científico
seguindo todas as regras do cânon metodológico.
Parte da perplexidade perante o contato com a afirmação da existência de um ‘duplo Marx’,
anunciada aos quatro ventos por um imenso tecido conceptual auto-proclamado como Teoria
Crítica Radical.
Busca ver as implicações deste Marx duplicado e procura - a partir do conceito da polifonia
elaborado pelo lingüista russo Mikhail Bahktin - colocar o problema em outros termos.
O DUPLO MARX
A tese do ‘duplo Marx’ é defendida por um organismo internacional denominado Movimento pela
Teoria Crítica Radical ou Internacional Emancipacionista. Tal instituição é composta por uma gama
heterogênea de pensadores e atores do que vem sendo chamada de esquerda não-oficial.
Quando se diz heterogênea, é porque parece não haver uma homogeneidade conceptual entre
seus membros. E isto fica claro, às vezes, num único documento lançado pelo grupo. Por exemplo,
na brochura O Eterno Sexo Frágil? de autoria de Robert Kurz e Roswitha Scholz, publicada no Ceará
pela União das Mulheres Cearenses, é patente a discordância entre esposo e companheira (os
autores são casados), em que a feminista alemã dá alfinetadas no grupo/revista liderado pelo
marido, a saber: o (a) controvertido(a) movimento/revista Krisis. E isto é ruim? Pensamos que não,
pois olhando retrospectivamente, percebemos que a falta de homogeneidade é que produziu as
coisas mais interessantes do pensamento humano: desde a experiência fundadora da Padaria
Espiritual no Ceará do século XIX até a Teoria Crítica de Frankfurt.
Quem são os outros atores deste Movimento Pela Teoria Crítica Radical? A resposta conduz a
idiossincrasia heterogênea da origem de seus membros. Entre eles citaríamos o ensaísta Jorge
Paiva, brasileiro maoísta que lia Guy Debord em 68; Anselm Japp, um ensaísta alemão que mora na
Itália e escreve em italiano; Enrique Dussel, professor universitário mexicano; Ruy Fausto, filósofo,
professor da USP; Moishe Postone, professor da Universidade de Chicago; Ernst Lohoff, co-editor
da Revista Krisis; entre outros. Segundo Jorge Paiva, o movimento também se espalha pela Áustria,
Portugal, Espanha e África do Sul. O que permeia estes teóricos de origens tão díspares é o
conceito capital do ‘duplo Marx’, categoria basilar geradora de outras categorias.
A Lingüística diz que toda palavra ou signo ativam esquemas cognitivos prévios. Esmiuçando no
Dicionário, o termo ‘duplo’ quer dizer dobrado, duplicado; que contêm duas vezes a mesma
quantidade. O adjetivo ‘duplicado’ nos remete a outro adjetivo, ‘dúplice’ e somos surpreendidos
por uma definição dicionarizada que registra um aspecto pejorativo da coisa, pois dúplice é o que é
duplicado, duplo, mas é também o que tem fingimento ou dobrez. Assim, seríamos levados a
existência de dois Marx: um verdadeiro e outro falso. Aqui acabamos entrando no perigoso
terreno do juízo de valor. Pois quem teria capacidade de julgar e apontar o Marx verdadeiro e o
Marx falso construídos pelo movimento operário? E para piorar as coisas, lembramos daquele
episódio em que o próprio Marx disse categoricamente: - Não sou marxista.
O que significa o duplo Marx na visão da Internacional Emancipacionista? Significa a existência de
dois Marx num mesmo pensador. O Marx exotérico da teoria da mais-valia e, por conseguinte, da
teoria da exploração; e o Marx esotérico da teoria do valor e respectivamente da teoria da
alienação. E o processo se complica, porque segundo eles não se trata de uma divisão cronológica,
como por exemplo alguns teóricos insistem na existência de um Jovem Marx e um Marx maduro. O
que pareceria natural e já aconteceu em outros setores: um Lacan freudiano (do início da carreira)
e um Lacan lacaniano (da maturidade). O problema não é esse. É outro. Os teóricos da Crítica
Radical afirmam que esse ‘duplo Marx’ coexiste numa mesma época e numa mesma cabeça. Desse
modo, o 1º volume do “Capital”, dedicado à Mercadoria, nega os volumes restantes. Aliás, eles
informam, baseados provavelmente em Rosdolsky e Mézáros, que a introdução do “Capital” foi
escrita depois da obra “pronta”. Assim, flagramos um processo de formatação teórica “sui generis”:
um pensador que começa escrevendo o final de uma obra, para depois elaborar seu início.
Uma obra muito discutida e citada pelos emancipacionistas que revelaria claramente a duplicidade
de Marx é o livro “Grundrisse”. Outro fenômeno “sui generis” na trajetória intelectual de Karl
Marx. Livro denso e complexo, lançado postumamente em edições precárias e reduzidas (pouco
mais de 300 exemplares), o “Grundrisse” só vai aparecer em traduções francesas, espanholas e
inglesas na década de 70 do século XX. E, diga-se de passagem, até pouco tempo atrás a obra não
contava com uma tradução portuguesa, o que revela sintomaticamente o descaso da esquerda
brasileira pelo seu conteúdo tão controvertido. Nesta altura dos acontecimentos, quando somos
apresentados a um Marx duplicado ou dobradiço, vem automaticamente a associação com a
esquizofrenia. Segundo João-Francisco Duarte Júnior em “O que é Realidade” – 8ª edição. São
Paulo: Brasiliense, 1991: a esquizofrenia seria a dificuldade do esquizofrênico em erigir para si
mesmo uma identidade una e coerente, fragmentando-se numa multiplicidade de “eus”.
Observando o alcance da Teoria de Marx, poderíamos detectar a existência de um Marx filósofo,
um Marx economista, um Marx político, entre outros, num perpétuo rodízio intelectual. Desse
modo, a categoria ‘duplo Marx’ mostra-se inadequada para captar a complexidade da obra de Karl
Marx.
MARX: ESQUIZOFRÊNICO OU POLIFÔNICO?
A teoria da Polifonia elaborada pelo lingüista russo Mikhail Bahktin (não por acaso, um marxista) é
a que parece dar melhor conta da questão. Segundo o lingüista russo a polifonia se dá através do
processo da intertextualidade. Ou seja, cada texto é composto da soma de outros textos
anteriores. Cada texto recupera as vozes de um texto anterior, seja confirmando ou negando-as.
Desse modo, Karl Marx (aqui um metonímia) dialoga com Proudhon, Hegel, Smith, Ricardo,
Aristóteles. Assim, Karl Marx seria uma espécie de palimpsesto onde estariam sobrepostas as
vozes e marcas de pensadores anteriores e contemporâneos de Marx. A maior prova deste
argumento seria a obra “Miséria da Filosofia” que dialoga com “Filosofia da Miséria” de Proudhon.
Quando dizemos diálogo não se trata de uma alegre conversa de compadres, pois o diálogo pode
ocorrer também de forma tensionada. Chegamos assim, através da teoria da polifonia, a uma
discordância da idéia de um duplo Marx. Pois examinando a complexidade da obra do pensador
alemão, chegaríamos à conclusão não de um duplo, mas de um quádruplo ou óctuplo Marx, ou
seja, existe Marx ao gosto do freguês, ao gosto do intérprete. Ou será que o Marx do PC do B é o
mesmo do PCR ou o do PT ou o da LBI? Desse modo, propomos não um duplo Marx, perdido entre
os pilares da ponte que separa O Capital do Grundrisse, mas um Marx polifônico que traz em si
uma babel de vozes e referências da experiência humana.
O OCULTISMO SEGUNDO FERNANDO PESSOA
Fernando Pessoa crê na existência de mundos superiores ao nosso e de habitantes desse mundo,
em graus diversos de espiritualidade, utilizando-se até chegar a um ente supremo, que
provavelmente criou este mundo.
Ele achava que podia haver outros entes supremos que houvessem criados outros universos
coexistentes com o nosso.
A Maçonaria evita a expressão Deus, dadas as suas implicações teológicas e populares, preferindo
dizer: grande arquiteto do universo, que deixa em branco se ele é Criador, ou simples governador
do mundo.
Não crê na comunicação direta com Deus, mas, segundo a nossa afinação espiritual, poderemos
comunicar-se com seres cada vez mais altos.
Os três caminhos para o oculto são: o caminho mágico (espiritismo e bruxaria, extremamente
perigosos); o caminho místico (não tem perigos mas é incerto e lento) e o caminho alquímico (o
mais difícil e o mais perfeito, que envolve transmutação da própria personalidade).
Fernando Pessoa, poeta introspectivo, vivia de traduções da língua inglesa para o comércio e não
pertencia a nenhuma ordem iniciática.
ESCRITA DE CULHÕES: UMA LITERATURA MAL EDUCADA
Este estudo tenta tecer uma reflexão sobre um tipo de literatura, de escritura, não muito estudada
ou levada em consideração pela academia, pela Teoria da Literatura e ou pela crítica literária.
Estou falando e evocando a literatura escrita por homens. Houve até um jornalista que, muito
apropriadamente, batizou o "corpus" que vou analisar de literatura de culhões ou escrita de
culhões.E essa categoria literária eu nunca ouvi falar nos corredores do Mestrado em Literatura por
exemplo, o que revela que pode ser mais uma invenção de jornalista para vender livro.Como
também pode revelar que a Academia tem uma certa postura burguesa ou asséptica de torcer o
nariz para autores que deliberadamente violetam a norma culta ou que no entender dela faria uso
de procedimentos estilísticos e de enunciação que fugiriam do cânone literário.
Para a discussão não ficar muito no campo da abstração vou começar a evocar autores que, no
meu entender, fariam totalmente ou em parte uso dessa 'escrita de culhões'.
A literatura durante algum tempo pareceu dissociada do corpo de quem a produz e de quem a
enuncia.Fruto de inspiração das Musas, produto de elaboração lingüística sofisticada e enamorada
do Vernáculo, a literatura não seria o lugar para expressar o corpo e suas secreções ou pulsões.O
corpo até ali não era ouvido nem sentido na literatura.O corpo era negado.Produção do espírito e
apenas do espírito, a literatura exilou o corpo durante muito tempo.
A literatura seria então o lugar da expressão do sublime, do puro, do inefável, do sagrado.Escritor
bom era aquele que sabia ler Latim, Grego ou Hebraico.Escritor bom era aquele que conhecia e
dominava a Gramática ou que na infância tivesse feito análise sintática de "Os Lusíadas". Poeta
bom era aquele que dominava a escansão do verso, ainda que seu verso fosse chocho e insípido.
Isso foi o cânone da Literatura ocidental por muitos anos.
A literatura deveria ser comportada e certinha, bonitinha.Na Grécia Antiga, a Tragédia seria o
gênero literário maior.E como gênero maior teria que ter personagens maiores e cenários
maiores.A Tragédia grega era o lugar dos grandes sentimentos e dos grandes homens.Leia-se aqui
grandes homens como os reis, rainhas.E lugar dos grandes temas.Assim, a tragédia grega deveria
falar apenas das peripécias amorosas, das mesquinharias e das disputas de poder envolvendo Reis
e Rainhas ciumentas e vingativas ou de filhos querendo tomar o lugar do Rei pai.A linguagem
deveria ser nobre, rebuscada.
Na Grécia Antiga os escritores que quisessem falar de pessoas menores e sentimentos menores
deveriam escrever Comédias.É nas comédias que era permitido existir a plebe grega e romana,
amantes escravos e soldados fanfarrões.É nas comédias que era permitido existir o calão, o
palavrão, obscenidades, erotismo.Porque tudo isso era associado as classes populares, ao
populacho, ao povão.Então assim, o grave, o solene era associado ao Rei e a Rainha, já o ridículo, o
obsceno, o grotesco, o bizarro, o escatológico era associado ao escravo e ao soldado.
Na Idade Média com a influência da Patrística e suas elucubrações tagarelas sobre a natureza de
Deus, os escritores e poetas foram tolhidos em sua expressão estilística.E muitos os que ousaram
escrever coisas sobre sentimentos considerados menores ou pessoas menores foram aconselhados
a usar pseudônimos.
E mesmo na chamada Modernidade, os autores que ousaram relatar pessoas fazendo coisas não
muito nobres ou que descreviam o uso das partes baixas do corpo foram perseguidos e presos
como Marquês de Sade ou o poeta Charles Baudelaire em seu livro seminal As flores do Mal, que
ousou fazer versos sobre práticas de Lesbianismo e acabou tendo de pagar uma multa pesadíssima
ao governo francês.
A literatura a partir do Romantismo da Segunda geração, também chamada de Ultra-romantismo
ou geração byroniana, passou a ser transgressora e a falar das coisas que eram consideradas tabus
abertamente. Fruto talvez de uma sociedade que passava da tranquilidade camponesa da vida
rural e de pequenas cidades comerciais para o frenetismo das grandes cidades pautadas pelos
ritmos da Revolução Industrial.
Uma nova classe social surgiu em oposição a nova classe burguesa proprietária: o proletariado
urbano.E lentamente esse novo ator social começou a aparecer na literatura.
Inicialmente a figura grosseira e desagradável do operário urbano analfabeto ou semi-escolarizado
apareceu na obra dos romancistas franceses como Flaubert, Balzac e Zola.
E na literatura inglesa começou a aparecer de forma vigorosa na obra de Charles Dickens.Ele
mesmo um ex-operário que teve a infância marcada pela pobreza, pela miséria, pelos maus tratos
de capatazes de fábrica que espancavam os filhos dos operários na frente deles.Esse cotidiano
duro marcou como ferro em brasa o imaginário do menino Charles Dickens e isso é patente em sua
obra autobiográfica, em que meninos driblam as longas jornadas de trabalho com os livros
escolares.
Na Literatura brasileira, por incrível que pareça não veremos isso na obra de um Machado de Assis.
Mulato pobre, gago, epilético, Machado de Assis não fala de pobres, gagos, negros ou mulatos em
sua literatura.Pelo contrário, imitando José de Alencar, o autor de "Memórias Póstumas de Brás
Cubas" só falou dos mexericos da corte do Rio de Janeiro.Só que em José de Alencar isso fazia
sentido.Afinal José de Alencar era um importante latifundiário, proprietário de terras e escravos e
enamorado pela bajulação ao poder imperial de Dom Pedro II.Então José de Alencar ao falar de
personagens da Corte fazia todo o sentido, porque ele era branco, rico e da Corte.Mas Machado de
Assis, não.Mas gostaria de ser.E sua literatura ao falar de gente rica e branca reflete esse desejo de
Machado pertencer a esse círculo de sangue azul.
Já Lima Barreto optou por outro caminho.Era mulato, pobre e alcoólatra e em sua literatura há a
presença de mulatos, negros, pobres, alcoólatras e os favelados do Rio de Janeiro da época.E
pagou caro por isso.Por mostrar pessoas e cenários que não deveriam ter sido mostrados Lima
Barreto chegou a perder emprego, teve diversas internações em manicômios e terminou nas ruas
do Rio de Janeiro molambento e cheirando a cachaça.
No Modernismo Brasileiro isso começa a mudar.Até porque o cenário político é outro.O
desenvolvimento de grandes centros industriais trouxe num novo desenho urbano, em que há
mais espaço para a diversidade de opiniões ou ideologias e também até para o confronto nada
fraterno entre essas concepções.
Assim, enquanto havia escritores tributários de uma literatura solene, série, nobre e de
personagens elevados, legado do beletrismo Parnasiano, da influência das hozanas simbolistas e
da fetichização do vernáculo de um Rui Barbosa de um lado, havia também escritores
comprometidos com as transgressões das vanguardas européias.
E ser transgressor nesse contexto na era só experimentar no campo lexical ou fornecendo
pirotecnias sintáticas, não.A transgressão também estava em cantar o homem comum, mediano,
medíocre, banal.
A literatura a partir daí passar a cantar a banalidade do cotidiano e passou a penetrar nos segredos
de alcovas, nas obsessões e perversões sexuais das pessoas.
Porque se em José de Alencar as pessoas apareciam vestidas em seus paletós, com os escritores
modernistas são os operários e as pessoas de baixo poder aquisitivo que surgem em suas cozinhas
preparando feijoadas ou nuas em seus quartos entre orgasmos e gases fétidos involuntários.
Estou falando de Jorge Amado que mostrou o cotidiano dos pobres e negros da Bahia. E como
disse Miguel Falabela em comentário inteligente sobre o extinto Programa do Ratinho:" - O
Programa do Ratinho mostra a cara do Brasil real.E é uma cara feia". Assim, Jorge Amado fala das
greves dos estivadores dos portos de Salvador, fala dos coronéis cacaueiros do Ilhéus e suas taras
sexuais pelas negrinhas que trabalhavam em suas fazendas, fala das macumbas, dos candomblés.
Enfim, é uma literatura que fala do povo em todo o seu vigor e brutalidade, não se furtando em
registrar a língua grosseira popular.E até os seus palavrões dão o colorido do rico painel do povo
baiano.
Moreira Campos, na literatura cearense, também registra a grosseria vocabular do povo cearense,
especialmente dos machos cearenses.Aliás seus personagens são sempre homens excitados e que
pensam em sexo o tempo todo.
A "Escrita de culhões" seria a expressão desses escritores homens que fazem uma certa apologia
da virilidade, da masculinidade e da força bruta.E que elege como personagens homens simples e
pouco escolarizados.E como cenários botequins, cabarés, motéis, lugares onde a língua portuguesa
se despe do policiamento gramatical e assume toda a rudeza do cântico aos buracos da mulher
amada. Talvez até como uma manifestação de uma certa insegurança em sua orientação sexual,
porque muitos associam a literatura e a poesia como coisa de mulher ou de homens emasculados,
abaitolados, aqueles menininhos que em vez de ir jogar bolar, fazia todos os deveres de casa,
rezava todas as rezas da avô, ou seja, um mariquinha.
E se no universo da Literatura Brasileira esse erotismo aparece viril, vigoroso mas suavizado pelo
amolecimento sensual do homem latino; já na Literatura Inglesa, a "Escrita de culhões" aparece de
uma forma tão crua e seca que resvala ao patológico e ao crime, devido a própria secura e rudeza
da língua inglesa e da cultura anglo-saxônica que a inspira.Os americanos, os ingleses e os alemães
não são muito dados a ficar desdobrando a mulher amada com poemas apaixonados ou com
seduções românticas como fazem os latinos.Pelo contrário, vão logo direto ao assunto e abrindo a
braguilha. Basta ver o cinema pornô produzido em países de língua inglesa. Lá as mulheres são
tratadas como putas que devem ficar caladas, enquanto seus machos as violam com brutalidade,
palavrões e até simulação de estrangulamento.Porque são culturas muito focadas no homem, no
macho.E isso resvala também na literatura desses países.
Basta ver a grosseria de um Ernest Hemingway muito empolgado em exibições de força e virilidade
gratuita em caçadas e safáris na África ou em cópulas violentas com mulheres submissas.
Ou a literatura barra-pesada de um Charles Bukowsky mostrando homens bêbados e fedorentos
roçando a barba em mulheres dentro de apartamentos de quinta categoria.
Ou ainda a obra de um Henry Miller, em que personagens fazem comentários extremamente
depreciativos sobre as proezas sexuais de suas esposas gordas e que expelem gases mal-cheirosos
durante a cópula.
Esse estudo poderia apontar para exaustivas análises em parâmetros psicanalistas ou dentro das
premissas da crítica feminista, mas confesso que conheço pouco a aplicação da Psicanálise a esse
tipo particular de expressão literária, a literatura escrita por homens, como também, não tive
muito acesso a estudos feministas sobre romancistas e poetas declaradamente machistas.
Tudo isso ainda deve render estudos.Até porque a crítica feminista ficou durante muito tempo
voltada para o seu próprio umbigo: a contemplação de escritoras que supostamente escrevem
com o útero.
Pouco se escreveu sobre essa literatura feita por quem tem testículos.Testículos esses tão
obsedantes que conseguem ficar patente na urdidura desses escritores citados e de outros que
poderiam ser citados também e ficaram de fora.
O CORPO GRITA E PULSA: A OBRA DA COREÓGRAFA SILVIA MOURA
"Não é possível prostituir a ideia de teatro, que deve ter uma ligação mágica, atroz com a realidade e o perigo"
ANTONIN ARTAUD in O Teatro e seu Duplo
Este artigo não segue o cânone da crítica de dança e comete vários pecados conta o mesmo.Irei debruçarme sobre a obra da coreógrafa cearense Sílvia Moura.
Este artigo é ruim, do ponto de vista da crítica de dança, porque não li nada da obra do teórico da dança
Rudolf Laban . Também não tive acesso à historiografia da dança brasileira, que inclui autores como Jacques
Corseuil, Antonio Jose Faro, Suzana Braga, Nicanor Miranda, Lineu Dias, Helena Katz e Roberto Pereira. O
máximo que consegui até agora foi ler um artigo muito esclarecedor de Marcela Benvegnu, o qual discute a
dança contemporânea.
Evocar Marcela Benvegnu no artigo sobre Sílvia Moura é conveniente, porque a coreógrafa cearense tem
um trabalho alinhado com o que há de mais forte na chamada dança contemporânea.
Para Marcela Benvegnu a dança contemporânea se caracteriza pela estrutura não-linear, ou seja, um
espetáculo como os desenvolvidos por Sílvia Moura com os alunos do SESC é estruturado, é um aglomerado
de signos, de significantes e significados, ainda que numa sintaxe próxima do caos, ou assintática.
Benvegnu ainda aponta a não-narratividade como outra característica da dança produzida por companhia
como o grupo CORPO, a QUASAR companhia de dança, o BALLET CISNE NEGRO, entre outros. Assim,
entenderemos que espetáculos como Vagarezas e Súbitos Chegares, baseados na obra da artista-plástica
gaúcha Elida Tessler e da poetiza mineira Adélia Prado, não narram, não contam absolutamente nada.
E outra característica típica da dança contemporânea: multiplicidade de significados, discursos, temáticas,
processos e produtos nos leva a contemplar um dos trabalhos de Sílvia Moura realizado no palco do Centro
Dragão do Mar de Arte e Cultura, dentro do projeto Quinta com Dança de formação de platéia. Nele dois
planos se sucediam no palco. Um elenco grande de bailarinos dançava todas as pulsões da grande
metrópole e ao fundo um DATA-SHOW projetava na parede Sílvia Moura entrevistando os freqüentadores
da Praça do Ferreira (que fica no Centro da capital do Ceará). O efeito produzido era o de simultaneísmo
plástico. Muitas vezes o olhar não sabia pra onde se dirigir: se para o elenco de bailarinos ou se para o
DATA-SHOW no fundo do palco. O que revela o simultaneísmo das grandes metrópoles pós-modernas do
capitalismo transnacional, em que os habitantes são quase devorados pela poluição visual, sonora e pela
avalanche de signos vomitada por fragmentos de outdoors, outbus, faixas de clubes de forró, letreiros,
placas de trânsito, cartazes, pichações políticas e todo um frenetismo sígnico ad nauseam.
Referência ao passado é outra característica levantada por Marcela Benvegnu, que podemos apontar nesse
espetáculo de Sílvia Moura. O espetáculo começa com uma senhora idosa que entra no auditório do teatro
e começa a perguntar à platéia se todos conhecem a história do cajueiro botador, que tinha na Praça do
Ferreira. E logo começa o DATA-SHOW mostrando Sílvia Moura entrevistando os frequentadores da Praça do
Ferreira sobre o cajueiro botador.
Multiplicidade e interdisciplinaridade das artes seria outra característica da dança contemporânea
presentes aqui.Nesse espetáculo há dança, há teatro, há cinema documental e referência ao circo
mambembe com a maquiagem de Sílvia Moura.
Comecei a conhecer a obra de Sílvia Moura ainda na década de 80, no ano de 1988, quando ela tinha a
companhia EM CRISE e os habitantes do Planeta Terra tinham a ilusão de viver num suposto mundo Bipolar, dividido no capitalismo de modelo americano e no capitalismo de estado do modelo soviétic0bolchevique, também chamado de Guerra fria.
A Companhia EM CRISE levou os princípios da dança contemporânea até as últimas consequências.Sílvia
Moura e seu elenco de bailarinos montavam os espetáculos nos lugares mais inóspitos e improváveis: no
Sindicato dos Comerciários interrompendo o forró dos trabalhadores que vinham do comércio na sextafeira; no Sindicato dos Bancários dinamitando a tradicional separação espectador-artista; em cima do
palanque na Praça José de Alencar sob vaias dos papudinhos que queriam ouvir música brega, enfim,
qualquer lugar podia ser territorializado pela dança desterritorializada de Sílvia Moura.
Outra marca da obra de Sílvia Moura é a atuação política.Ela já chegou a montar espetáculos para conseguir
alimentos e material de higiene pessoal para um amigo preso.E agora sua última campanha é por uma
amiga bailarina, que está doente e que ela quer conseguir um benefício do INSS para a amiga.
Sílvia Moura tem atuado com e para presidiários e presidiárias, o que revela uma preocupação micropolítica no dizer de Felix Guatarri. A micro-política do cotidiano de grupos marginalizados ou criminalizados.
Ou a micro-física do poder na terminologia de Michel Foucault.
Sílvia Moura também é habilidosa artesã e gosta de reutilizar os refugos jogados a esmo pela sociedade de
consumo, que entulha as praças de Fortaleza e entope os esgotos provocando as enchentes nas áreas de
risco.
A obra de Sílvia Moura é forte, vigorosa, pesada, carregada, densa e escorpiana.Sílvia Moura não poupa os
espectadores de entrarem no auditório e se depararem com um monte de velas pretas e vermelhas acesas
ou com o forte cheiro de pólvora exalando dos corpos dos bailarinos.A associação com à Quimbanda, com a
magia cinza e com a magia negra não é gratuita, pois Sílvia Moura é uma feiticeira, como todas as mulheres
são feiticeiras.
Num dos espetáculos para denunciar o industrialismo e o produtivismo capitalista, que tem levado à
exaustão dos recursos naturais não-renováveis do planeta; Sílvia Moura coletou um monte de garrafas de
vidro de bebida jogadas próximas dos bares e churrascarias da cidade de Fortaleza.No espetáculo a
coreógrafa cearense destrói todas as garrafas e não poupa a plateia de levar no olho algum estilhaço de
vidro quebrado.
Com esta arte visceral, viril, provocadora, criativa e destrutiva, Sílvia Moura tem levado ou tentado levar as
plateias a questionar o uso do espaço urbano, da temporalidade e do corpo.
PROCURA DA POESIA:
UMA ANTI-RECEITA DE FAZER POEMA
Ainda na série Os metapoemas de Drummond, o poema Procura da Poesia é uma das mais desnorteantes
receitas para se fazer versos dentro da obra de Carlos Drummond de Andrade. Ao contrário das receitas
comuns, que dão orientações de como fazer, o poema em questão começa negando o que pode ser feito.
"Não faça versos sobre acontecimentos", o poeta diz negando a utilização de fatos notáveis em
poesia.
Porém, se o poeta é contra o grandioso, também não é a favor do pequeno:
"As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais, não contam."
Quando afirma:
"Tua gota de bile, tua careta de gozo ou de dor no escuro são indiferentes", o poeta se mostra
contrário à presença da raiva, do prazer ou do sofrimento em poesia. Desencoraja, entretanto, a
racionalização:
" O que pensas (...), isso ainda não é poesia."
Refuta o bairrismo: "Não cantes tua cidade, deixa-a em paz". E adverte:
" O canto não é o movimento das máquinas nem / o segredo das casas";
ou seja, o lirismo não é público ou privado, barulhento ou silencioso, como também
"O canto não é a natureza / nem os homens em sociedade". Desse modo, o lirismo não deve ser
rural ou urbano.
Enquanto Ferreira Gular em Não há vagas, queixa-se que o preço do feijão, do gás, da luz, do pão, não
cabem no poema; Drummond afirma que
"Teu iate de marfim, teu sapato de diamante, / vossas mazurcas e abusões",
isto é, coisas extravagantes, luxuosas e supérfluas não devem ter espaço numa obra poética.
O poema não deve conter o passado:
"Não recomponhas/ tua sepultada e merencória infância"
nem o presente:
"Não osciles entre o espelho e a memória em dissipação."
A essa altura, cria-se um impasse para o leitor/poeta que não sabe o que fazer nem como seguir o mestre
Drummond, pois, se o poema não pode ser grandioso ou pequeno, público ou privado, barulhento ou
silencioso, rural ou urbano, pretérito ou hodierno, o que ele pode ser? O que pode caber nele?
Na quinta estrofe, Drummond começa a desfazer o impasse. Até esta estrofe, o poema estava marcado por
negações: "Não faça", "não cantes", "não dramatizes", "não invoques", "não indagues", "não
recomponhas", "não osciles". Mas a partir desta estrofe, os verbos vêm com afirmações:" penetra",
"convive", "aceita-o" indicando finalmente ao leitor/poeta o que deve ser feito.
"Penetra surdamente no reino das palavras / Lá estão os poemas que esperam ser escritos. / Estão
paralisados, mas não há desespero, / Há calma e frescura na superfície intacta / Ei-los sós e mudos,
em estado de dicionário. / Convive com teus poemas, antes de escrevê-los."
Com o que se parece esse trecho? A associação imediata é com o mundo das idéias de Platão. Em outros
termos, os poemas já existem antes de irem para o papel. As palavras estão latentes, hibernadas no
dicionário numa formatação denotativa, e só passarão a ter vida (conotação) quando em uso, numa alegre
promiscuidade umas com as outras. O que deve fazer o poeta? Nada. Como sugerem os sememas presentes
na estrofe:"surdamente", "paralisados", "não há desespero(ansiedade)", "calma", "paciência", o poeta deve
deixar que as palavras se arrumem, se liguem nas mais impensáveis associações; ou seja, o que Drummond
sugere é o que pode ser chamado de processo passivo de criação. Em outras palavras, o poeta não deve
dirigir, conduzir, policiar as palavras, pelo contrário, deve permitir ser conduzido por elas. Cabe ao poeta,
portanto, ser o medium entre o mundo das idéias, ou melhor dizendo, a esfera conceitual e o suporte
material destas abstrações (a folha de papel).Esse procedimento lembra a escrita automática dos
surrealistas. Um verbo sintetizará todo o poema no 46º verso:
"Chega mais perto e contempla as palavras".
"Contemplar": eis a solução proposta desde o zen-budismo. Mas é bom deixar claro que essa proposta não
corresponde à totalidade da obra drummondiana. É apenas um dos momentos, pois em O Lutador, outro
metapoema do mesmo livro, Drummond propõe justamente o contrário, exibindo sememas como: "luta",
"rompe", "fortes", "enlaçar", "sevícia", "zanga", "sangue", "desafias", "combate", "unha", "dente",
"tortura".
Em "Cada uma/ tem mil faces secretas sob a face neutra", o poeta alerta sobre o caráter polissêmico da
palavra e apostando no que cada um pode captar de um poema, Drummond contempla o conceito de obra
aberta de Umberto Eco. Chega-se a conclusão de que o poema não é propriedade privada do poeta, ao
contrário, é propriedade do leitor e só existe na interação com este. E esta interação, por sua vez, é mediada
pelo conhecimento de mundo de quem o lê. Assim, a Odisséia de Homero fechada e empoeirada na
estante não tem nenhum valor, serve apenas como alimento de ratos e baratas, é só um texto a mais, só
ganha significação quando há um leitor que torne este texto discurso.
O SERTÃO POLIFÔNICO DE EUCLIDES DA CUNHA
Escrita entre 1897 e 1902, ano em que é publicada, a obra Os Sertões surgiu como um desdobramento de
artigos feitos sobre a campanha de Canudos pelo autor, encomenda para o Jornal O Estado de São Paulo,
quando este foi correspondente de guerra. A obra se divide em três partes: “A terra”, “O homem” e “A luta”.
A TERRA
Se o percurso gerativo de sentido é esburacado, na metáfora genial de Pierre Lévy (O que o Virtual), não
menos íngreme é a trilha aberta para o leitor por Euclides da Cunha nos Sertões.
A obra começa difícil e arenosa. O vigor do universo euclidiano nos faz pensar em outro escritor prémodernista: Augusto dos Anjos. Enquanto o poeta paraibano elegeu a Química e a Biologia como musas, o
jornalista carioca vai buscar na Geologia e na Antropologia as fontes inspiradoras. Em “A Terra”, Euclides da
Cunha lança o leitor no solo granítico do agreste baiano. O percurso euclidiano é duro e acidentado, em que
toneladas de termos técnicos, tal qual os pedregulhos, tornam a leitura cansativa e enfadonha. E os
“cladódios” sucedem aos “flamívomos” e aos “heliotrópios”, exigindo leitores atentos e eruditos dicionários.
No entanto, o ensaísta cede lugar ao poeta aqui e ali, em meio a metáforas dignas de um José de Alencar, e
as descrições, inicialmente maçantes, vão tornando-se a força do volume, como cactos verdes se
insinuando no fundo cinza e ocre da caatinga. Aliás, o caráter fortemente pictórico da obra de Euclides foi
bastante explorado por autores como a cearense Maria Inês Sales no seu Cicatrizes submersas dos
Sertões: Euclides da Cunha e Descartes Gadelha em correspondência (Ed. Cone Sul).
Em "A Terra”, vários Euclides se revezam: o geólogo, o topógrafo e o meteorologista que tenta descobrir a
gênese das secas e prescreve um remédio, revelando toda a sua formação em Ciências Naturais.
O HOMEM
Na parte denominada “O Homem”, outros Euclides se revezam: o etnógrafo, o historiador e o engenheiro
enfezado com a arquitetura caótica do arraial de Canudos, a qual ele sentencia como se
“tudo aquilo fosse construído, febrilmente, numa noite, por uma multidão de loucos”.
Euclides da Cunha constrói o sertanejo entre o seu antipático darwinismo social e a poesia dos seus
oxímoros. Daí o sertanejo ser mostrado, simultaneamente, como “sub-raça” e “Hércules – Quasímodo”. E é
nessa trajetória que percebe-se que, se a Sociologia superou o determinismo evolucionista das primeiras
páginas, a Literatura o redimiu.
A tese defendida pelo jornalista é clara e horrorosa: o sertanejo sofre não só pelo ambiente atroz, mas pela
mestiçagem de raças que lhe dá um caráter raquítico e tendências cretinas.
O militar argumenta sobre o desnível entre o Norte e o Sul. O clima ameno do Sul e o sangue indo-europeu
fizeram o gaúcho: um homem forte e inteligente. A mestiçagem e a aridez do Norte deram no jagunço: um
imbecil apático. O renomado sulista, no seu ufanismo, esquece, inclusive, de fenômenos destrutivos como
as geadas que arruinam a agricultura dos climas temperados.
O etnógrafo reveza-se com o historiador e vemos nessa parte, a gênese do habitante da costa brasileira (um
misto de ladrões portugueses com nativas tapuias), a origem do jagunço, do feudalismo peculiar da região,
da religiosidade sertaneja (mescla de catolicismo medieval com crenças afro-ameríndias) até chegar no
perfil de Antônio Conselheiro e de seu Arraial.
Segundo Walnice Nogueira Galvão, Euclides da Cunha revela diversos problemas polifônicos. O Euclides da
Cunha abolicionista e republicano, crente ferrenho do progresso, entendido este como uma mistura
legítima de luzes com técnica, tem que conciliar o jornalista porta-voz dos oprimidos com o estrategista
militar. E é nesse tensionamento de vozes que reside a beleza da obra. A seu ver, Antônio Conselheiro era
simultaneamente um grande homem, enquanto líder, porém um degenerado, enquanto encarnação das
piores características dos mestiços. Como resolver tal dilema ao nível do discurso? Recorrendo a figura da
antítese, em que dois opostos são violentamente aproximados, ou sua forma mais extremada, o oxímoro.
Isto é, resolvendo o problema não ao nível do raciocínio, mas ao nível da Literatura. Desse modo, Antônio
Conselheiro, diz o autor, era tão extraordinário que cabia igualmente na História como no hospício.
À medida que a obra vai sendo escrita, Euclides relativiza sua crítica e os juízos preconceituosos vão sendo
abandonados. Canudos, progressivamente, torna-se o símbolo de uma raça forte, de lutadores incansáveis.
Os Sertões deve ser lido como uma obra dinâmica, dialética, em que conceitos são rapidamente superados
e a escrita se faz maior do que o estreito projeto determinista que marca o livro. Caso a obra se esgotasse
em acusações preconceituosas teria, seguramente, desaparecido, como tantos livros escritos no contexto
sobre o tema e calcados pelo mesmo arsenal teórico positivista e evolucionista. Se ficasse restrito a visão
segundo a qual a luta das raças é a força motora da história, o Conselheiro, um louco e Canudos, um
homizio de bandidos, o livro estaria relegado ao esquecimento.
Nas últimas páginas da obra, Euclides afirma que o sertanejo é a “rocha viva da nacionalidade” e que a
dinâmica do genocídio promovida contra Canudos fora expressão do movimento anticivilizatório revelador
de crimes que as nações são capazes de praticar contra si mesmas. Assim, Euclides atravessou o longo
caminho que vai da superficialidade do esquema, para a grandeza nascida de uma sensibilidade que capta a
extensão e a profundidade dos acontecimentos passados às margens do rio Vaza-Barris.
A LUTA
A última parte mostra as várias expedições do Exército contra Canudos e a conseqüente resistência
sertaneja. O texto ganha intensidade dramática e se torna uma sucessão de eventos nos quais se misturam
a coragem, a violência e a barbárie da guerra, desse modo, a escrita euclidiana assume ares épicos.
Euclides centra sua munição discursiva na quarta expedição, comandada por Artur Oscar. Faz um balanço
dos erros táticos cometidos pelos oficiais do exército: problemas de abastecimento, falta de mobilidade e
adaptabilidade às condições do terreno, utilização de formas clássicas e convencionais de guerra contra um
inimigo que agia segundo estratégias guerrilheiras. É o Euclides estrategista militar falando. Quando o texto
se dedica a mostrar as covardes degolações que os militares praticavam contra os sertanejos, revelando que
os civilizados de ontem se tornam os bárbaros de hoje:
“A degolação era, por isso, infinitamente mais prática, dizia-se nuamente. Aquilo não era uma
campanha, era uma charqueada. Não era a ação severa das leis, era a vingança”...
é o jornalista porta-voz dos oprimidos que fala. Quando descreve a resistência final dos conselheiristas em
meio a fome, a doença, a jornada guerreira, Euclides revela que o preconceito inicial se transforma em
admiração e respeito.
Ler “Os Sertões” é cruzar por uma obra polifônica, como diz Adilson Citelli, em que vários gêneros dialogam,
incluindo-se o jornalismo, a poesia, a narrativa ficcional; múltiplas vozes se confrontam: a da cultura
costeira e urbana, das filosofias do século XIX, a dos militares e políticos, a da Igreja. Desse modo, várias
áreas do conhecimento cruzam o livro, assim como, diferentes tipos de discurso. Assim, o livro é documento
enquanto registro de uma época e monumento pela beleza de sua escrita.
CONTRATOS DE LEITURA
Imagine a seguinte situação: num cinema estão sentados pais e filhos pequenos, assistindo o filme Harry
Potter. A sessão transcorre tranqüila , pais e filhos comendo pipoca e tomando refrigerantes, olhando para a
tela entre risos e suspiros de tensão. Até que de repente, entra, no meio da trama do filme, um personagem
segurando uma R15 e fuzila a cabeça do aprendiz de bruxo, que explode em dezenas de pedaços
sanguinolentos. Pânico entre os pequenos e indignação dos adultos.
O que há de inusitado nessa situação hipotética? Ou melhor: por que tal situação é hipotética e não real? A
situação descrita é hipotética, porque seria improvável pais permitindo que seus filhos assistissem um filme
infantil que tivesse uma cena de extrema violência como a descrita. Também seria improvável que os
exibidores colocassem uma tarjeta de censura livre no cartaz de um filme que exibisse tal teor de
brutalidade, o que em decorrência acabaria direcionando o público para outra produção cinematográfica. E
por fim, tal situação é hipotética, porque a autora do livro Harry Potter não permitiria que seu livro infantojuvenil, recebesse tão deturpada adaptação.
O que faz uma pessoa ao ler um livro, ao ver um filme ou ao assistir uma peça de teatro? O que faz o autor
para que seu livro, filme ou peça seja visto por uma determinada faixa de público e não outra? A resposta
para as duas questões passa pelo conceito de ‘contrato de leitura’.
O PACTO COM O LEITOR
Partindo do conceito ‘plano de leitura’ criado por José Luiz Fiorin no seu livro Elementos de Análise do
Discurso, que consiste na idéia de que a isotopia textual oferece um plano de leitura, determina um modo
de ler o texto, chegamos ao conceito de contrato de leitura.
Karl Marx nos Grundrisses diz que o artista ao criar um quadro, cria um público seleto para olhá-lo. Da
mesma forma, um autor ao fazer uma obra seleciona de antemão o leitor que deverá lê-la. E é na medida
que o autor tem consciência desse fenômeno, que o sucesso ou fracasso da obra será garantido. Assim,
quando escrevo um romance gótico, pretendo que meu leitor sinta medo, pavor. Não pretendo que o leitor
dê risadas. Portanto, o gênero e o formato do texto já condicionam o tipo de leitura e, respectivamente, o
tipo de leitor. O escritor precisa ter consciência, de que o leitor de romances góticos não quer rir, mas se
apavorar, mexer com suas adrenalinas e ter palpitações. Se ele pegasse em Drácula de Bram Stoker e
tivesse um acesso de riso, com certeza ele iria se sentir logrado e pediria seu dinheiro de volta. Quem
procura gargalhar vai atrás de Tchekov e Carrol, não de Horace Walpole, Stevenson e Mary Shelley.
Entretanto, não estamos pregando uma norma, um padrão estanque, apenas estamos constatando o que se
passa com o chamado leitor mediano. Aquele leitor avesso a experimentações e hibridismos.
É sabido que o texto possui quatro elementos: assuntos, objetivo, formato e audiência. Assim uma carta
familiar se distingue de uma carta comercial. Do mesmo modo, uma bula de remédio se diferencia de um
artigo de opinião do tablóide da banca de revista. Cada texto demanda um tipo específico de leitor e ativa
um tipo de leitura diferente. O contrato de leitura é inevitável a qualquer texto. O assunto, o objetivo e o
formato estabelecerão a audiência (o destinatário) e a forma pela qual dado texto será lido. O contrato de
leitura, portanto, consiste no acordo tácito, no pacto feito entre autor e leitor no processamento do texto.
Este contrato, entretanto, não é sempre consciente, pode ocorrer do autor ignorar o tipo de leitor que
deseja cativar, como ocorre em autores iniciantes. Contudo, o extremo oposto também pode ocorrer:
autores maduros, cientes dos contratos de leitura de suas obras, que acabam se fixando num filão para um
dado nicho do mercado editorial. Assim é que ocorre com um Jorge Amado ou com um Ruben Fonseca, que
descobriram um filão e se escravizaram a ele, perdendo a criatividade e o sabor originais.
Tudo parecia retilíneo, até o aparecimento do pós-modernismo na década de 50. O texto pós-moderno
parece ter um fascínio por fazer e desfazer contratos de leitura na mesma velocidade que mudamos de
canal. O Nome da Rosa de Umberto Eco, por exemplo. Escrito como narrativa policial, situado na Itália
medieval, contando os crimes, a violência sexual e a destruição de um mosteiro em 1327. É um livro sobre
outro livro – a parte perdida da Poética do filósofo Aristóteles, segundo Jair Ferreira dos Santos (“O que é
Pós-moderno”). Romance policial? Romance histórico? Ensaio literário? O leitor não sabe responder,
suspeita que seja tudo isso ao mesmo tempo e se submete aos diversos efeitos de sentido produzidos por
cada gênero textual, inclusos em um único livro. Suspeitamos que transgredindo regras e normas de cada
gênero, Umberto Eco acabou criando um novo tipo de leitor. Portanto, se o objetivo é desfazer contratos de
leitura, é bom que se saiba que a cada contrato de leitura desfeito, outro será estabelecido no lugar.
Dominar o mecanismo, o processo é a garantia do êxito. Ou seja, o texto que é ativado pelo leitor de uma
maneira e passa a ser feito de outra, pode ser a razão para que o leitor prossiga ou não com o percurso de
leitura. Por isso, se uma leitura é constantemente violentada por quebras de contratos prévios, pode ser
que ela não consiga angariar um número suficiente de leitores que estejam dispostos a tais infrações,
tornando-se uma leitura hermética. Cabe também discutir aqui, as noções de ‘texto artístico’ e ‘texto de
entretenimento’.
O texto artístico é mais aberto a quebra deliberada de contratos, o texto de entretenimento, por sua vez, é
mais preso a fórmulas consagradas e a filões editoriais. O texto artístico, por burlar normas, acaba atraindo
um público leitor mais selecionado, que gosta de experimentações e desvios de percurso. Já o texto de
entretenimento é feito sob medida para leitores preguiçosos, não menos exigentes, porém mais
interessados na diversão do que na reflexão. Entretanto, em raros casos, uma obra pode pertencer as duas
categorias, como no caso de “O Nome da Rosa” e ainda ser um produto de boa qualidade. Os filmes mudos
de Chaplin e a obra final dos Beatles também podem ser arrolados como exemplos desta interseção.
Sendo assim, espera-se que no seriado Teletubbies não seja incluída uma cena de sexo explícito, sob a qual
correr-se-ia o risco de perder um público (o infantil) e não conseguir outro (o público adulto consumidor de
filmes pornôs). Caso o autor queira cometer infrações contratuais com o leitor, é bom que ele tenha
absoluta consciência dos efeitos de sentido resultantes.
A LITERATURA FUTURISTA
O objetivo deste ensaio é analisar a literatura proposta pelo Futurismo Italiano através do Manifesto
Técnico da Literatura Futurista publicado por F.T.Marinetti em 1912.
Engana-se quem pensa que o Futurismo foi apenas um movimento literário. O Futurismo não só produziu
muitos manifestos em várias áreas estéticas (teatro, pintura, cinema, música, arquitetura), como um
controvertido manifesto da religião futurista e até um surpreendente Manifesto do Partido Político
Futurista (que desmente a tão falada filiação do movimento ao Fascismo de Mussolini).
A proposta central do Manifesto da Literatura Futurista é a destruição da sintaxe através da técnica
denominada por Marinetti de palavras em liberdade que consiste, entre outras coisas, em “colocar os
substantivos conforme eles vão nascendo”. Esta técnica revela a influência da “livre associação de idéias” da
Psicanálise freudiana que muito impressionou os modernistas da época, como pode ser vista na “escrita
automática” dos surrealistas.
Marinetti propunha a abolição do adjetivo que, segundo, ele é uma nuance inconcebível para a visão
dinâmica, por sugerir pausa, meditação e a abolição do advérbio entendida como uma velha fivela que
mantém as palavras unidas, conservando, na frase, uma enfadonha seriedade de tom.
O fundador do Futurismo ainda propôs a eliminação da pontuação por sugerir pausas e a substituição por
sinais matemáticos e musicais, antecedendo os concretistas na mescla intersemiótica, ou seja, misturando
linguagens de áreas distintas, fundindo o verbal e o não-verbal.
O poeta italiano ensina como se deve fazer a técnica das palavras em liberdade, dizendo que o substantivo
deve ter seu duplo, ou seja, seguido sem conjugação. Ex.: homem-torpedeira, mulher-baia. Algo que revela
o espírito pragmático e utilitário do time is money , pois a literatura deveria conter, em sua forma e
conteúdo, o dinamismo furioso e urgente desse novo tempo. Daí o uso fragmentado e telegráfico da
linguagem verbal, tentando imprimir um ritmo mais agitado e violento à leitura, como espelho da realidade
frenética do capitalismo urbano e industrial.
As reações às palavras em liberdade foram das mais variadas, mas quase sempre negativas, como a do
modernista Mário de Andrade que sentenciou a técnica como
“um meio passageiro de expressão, sendo os trechos de palavras em liberdade intoleráveis de
hermetismo, de falsidade e monotonia”.
A técnica torna o texto um aglomerado de palavras soltas e desconexas em que se quebra violentamente
com a linearidade da língua, rompendo com o período canônico: sujeito, verbo e complemento. A ousadia
não para por aí. Com a colocação de signos não-lingüísticos, recortes de jornal, etc., o texto futurista
configura uma das características mais perturbadoras da arte moderna: o hibridismo, ou seja, a ausência de
fronteiras visíveis entre a literatura e as artes-plásticas.
Dadas as características, seria difícil classificar o texto futurista na divisão tradicional em prosa ou poesia.
Não é poesia, porque rompe com o verso, seja metrificado ou livre e não é prosa porque não forma frases,
períodos, parágrafos.
Nessa altura cabe perguntar qual a contribuição do futurismo para a literatura e para as artes do séc. XX ? A
contribuição maior do Futurismo foi ter deflagrado o modernismo. Sendo o moderno uma ruptura com a
tradição, com o estabelecido, com o cânon; o Futurismo abriu novas perspectivas e novos modos de se
pensar, ver e fazer o mundo. Por ser um dos primeiros movimentos de vanguarda, a proposta italiana teve
todos os defeitos dos pioneiros: provocação, sectarismo, violência, gratuidades formais (o poema piada, a
anedota) e outras frivolidades. Apesar disso, seria difícil imaginar o humor caótico dos dadaístas e a
reconstrução onírica da realidade pelos surrealistas ou a ruptura dos limites entre arte e vida dos
situacionistas franceses da decada de 60, sem o histrionismo dos seguidores de Marinetti. O Futurismo, ao
romper com a lógica tradicional, vai delegar a autores como Fernando Pessoa os momentos mais ricos da
poesia ocidental.
Não cabe juízo de valor em relação à qualidade das produções futuristas, mas reconhecer que, a partir
delas, o homem ocidental começou a se libertar dos grilhões cartesianos-newtonianos da ciência e da
racionalidade burguesa, tornando o existir mais complexo e profundo.
O CHOQUE CULTURAL EM O MANDARIM DE EÇA DE QUEIRÓS
O objetivo deste trabalho é analisar a gênese do choque cultural, presente na novela O Mandarim do
escritor português Eça de Queirós, o qual, ainda que contaminado pelo socialismo anarquista, não consegue
esconder seu espanto e pesar pelo funcionamento da sociedade chinesa do século passado, tempo em que
se desenrola a trama da novela citada. Com olhos eurocêntricos, Eça de Queirós constrói uma personagem
em 1ª pessoa, Teodoro, funcionário público da classe média e de vida medíocre, provavelmente seu alter
ego, a princípio fascinado pelo exotismo e depois horrorizado no contato com a cultura chinesa.
O que está em questão na obra citada é o choque entre a Europa capitalista, republicana(ou monarquista
constitucional, na pior das hipóteses) e industrial de Teodoro/Eça de Queirós e a Ásia medieval, imperial e
agrária da civilização chinesa, assim como o choque entre o positivismo cientificista e ateu da cultura
européia do século passado e a religiosidade supersticiosa e milenarista chinesa. Em termos marxistas: o
confronto entre o moderno representado pelo capitalismo e o arcaico representado pelo feudalismo chinês.
Enfim, o confronto entre a metrópole/Portugal e a colônia/China.
Não podemos esperar de Eça de Queirós uma visão mais relativizadora da estruturação da sociedade
chinesa, pois ainda se vivia no positivismo comtiano-durkeimiano e no evolucionismo darwinista, teorias
em moda na época, as quais colocavam a ciência e a lógica tradicionais, sob o ponto de vista do paradigma
cartesiano-newtoniano, como norma de conduta para governos e sociedades; ou seja, o que estivesse fora
do padrão lógico e científico ocidental seria considerado atrasado, bárbaro e selvagem. A Antropologia da
época, produto do colonialismo europeu, estava mais interessada em estudar os povos colonizados para
dominá-los e submetê-los ao poderio das metrópoles, posto que era financiada por elas, do que para
compreendê-los em suas estruturas. A Antropologia do século passado, feita quase que inteiramente
dentro de Bibliotecas e longe do seu objeto de estudo (os povos colonizados), como se vê na escola de Sir
James Frazer, ainda não conhecia a pesquisa de campo de escolas posteriores, como o Estruturalismo de
Lévi-Strauss e o Funcionalismo de Malinowsky. Entretanto, cabe a nós darmos visibilidade ao ponto de
vista metropolitano e colonizador de Eça de Queirós, quando no texto o autor se refere aos chineses como
“bárbaros”.
Não é propósito nosso dizer que a sociedade chinesa é melhor ou pior que a sociedade lusitana; isso
deixamos para os que gostam de juízo de valor, interessa-nos vê-la sob uma visão funcional, estrutural e
relativizante.
Por mais que a burocracia e o sistema de castas chineses representados pelos mandarins nos pareçam
injustos e autoritários aos nossos olhos ocidentais de hoje, e mais ainda, aos olhos do Eça de Queirós do
século passado, não podemos esquecer que essas estruturas atendiam as demandas específicas daquela
sociedade. Do mesmo modo se deu com a nossa legislação, produto do Direito Romano, que atende as
nossas demandas, mesmo com limitações. Tanto num como noutro modelo, oriental ou ocidental, haverá
sempre deficiências, posto que o homem, seja europeu ou chinês, é um ser imperfeito e mutável, o qual
mais cedo ou mais tarde sente necessidades de modificações, à medida que esses modelos não dão conta
de certas demandas e necessidades que surgem. E talvez, a revolução chinesa de Mao-Tse-Tung, no século
seguinte, tenha sido um sinal inequívoco da necessidade de mudanças, mesmo numa sociedade estática e
de valores arraigados como a chinesa.
Cada organização social ou civilização se constitui de uma forma paarticular e específica. O modo de
produção material ou intelectual de uma dada sociedade pode ser eficiente e funcional para ela e um
desastre para outra. Dessa forma, enquanto na China imperial cada província tinha um mandarim escolhido
pelo imperador e que passava seu título para o descendente, na Europa os governadores eram escolhidos
pela população mediante o sufrágio e a sucessão deixa de ser necessariamente hereditária.
É revelador saber que a palavra mandarim não é chinesa. Segundo Eça de Queirós, é portuguesa, vem do
verbo mandar e através dela vemos o nível de interferência lusitana na cultura chinesa. Será que o caos
visto por Teodoro não está diretamente relacionado com a interferência lusitana? Ou seja, não terá sido a
partir da relação promíscua entre os colonizadores portugueses e a corte imperial chinesa que surgem as
injustiças, o despotismo, a degradação política e econômica da China milenar? Talvez seja nesse choque de
culturas, de formas de governo, de troca de interesses que a rica China - que inventou o papel, a fundição
do ferro, a pólvora, a bússola, a porcelana, a cerâmica, a seda (e a industrializou), invenções e descobertas
que tanto beneficiaram os colonizadores europeus, tenha se atolado na miséria e fome da maioria da
população que assalta a caravana do protagonista num vilarejo afastado, fazendo com que a China não
consiga mais prover de bens essenciais seus habitantes.
Eça de Queirós, como cônsul da Corte portuguesa, não consegue dar-se conta das consequências terríveis
desse intercâmbio entre Portugal e China ou da responsabilidade da Corte lusitana na degradação do
império chinês. Por outro lado, seria ingênuo supor um mundo após a expansão econômica provocada pelo
ciclo de navegações do Renascimento, onde as civilizações pré-colombianas, africanas e asiáticas
permanecessem intactas e puras, mesmo depois do contato traumático com o invasor europeu caucasiano.
Podemos supor que o que realmente chocou Eça de Queirós na China do século passado, não foi o que ali
havia de Chinês, mas o que lá estava pior de Portugal: a criminosa intermediação lusitana nos destinos
políticos e econômicos da terra de Confúcio.
MOBILIDADE E IDENTIDADE EM O CORTIÇO
O romance O Cortiço é o livro mais representativo da obra de Aluísio de Azevedo e do realismo-naturalismo
brasileiro. Quem deseja entender a identidade nacional, o Brasil atual, não pode passar sem a leitura desta
obra.
Diz-se que o Naturalismo só lida com personagens planos, isto é, sem sujeitos, agentes , somente objetos,
pacientes. Aluísio de Azevedo, embora seja um naturalista confesso ( a zoomorfização de personagens, o
determinismo ambiental, o cientificismo das causas e efeitos não deixam mentir), constrói personagens
redondos que apresentam uma mobilidade moral e/ou socio-econômica. Desse modo, João Romão, o dono
do cortiço, começa como simples empregado de um vendeiro e termina como proprietário burguês; em
compensação para ascender socialmente ele se escora no trabalho da sua amante Bertoleza, a escrava
fugida. Até Bertoleza, ingênua, submissa, dedicada, trabalhadora e analfabeta (fato pelo qual João Romão
se beneficia) se torna desconfiada e amarga quando descobre que João Romão pretende enxotá-la (depois
de velha, fedorenta) para se casar com uma moça rica. O autor se utiliza de um expediente interessante:
para dar brilho a uma personagem, outra terá que ser ofuscada.
Outras personagens apresentam mobilidade, contrariando os preceitos naturalistas. O português Jerônimo,
trabalhador bovino (forte e manso), sério, austero, nostálgico e melancólico (gosta de tocar fados) será um
vagabundo extrovertido (amante do ritmo quente do lundu) ao se amigar com a fogosa mulata Rita Baiana.
Por sua vez, a sua esposa Piedade, séria e trabalhadeira, tornar-se-a alcoólatra, frívola e amante das farras
após a separação. Pombinha, a menina-anjo, a queridinha escolarizada do cortiço ( que escreve cartas para
os analfabetos) será uma habilidosa prostituta de luxo.
Diz-se, etnocentricamente, que os europeus são os civilizados e os habitantes dos trópicos, seres bestiais.
No entanto, o retrato que Aluísio de Azevedo faz do estrangeiro não é nada generoso. Piedade, a
portuguesa mulher do também português Jerônimo, é trocada pela asseada mulata Rita Baiana, por não
estar habituada aos banhos diários (por causa do enorme calor do Brasil) e viver, como diz o marido, com
um cheiro azedo e mofado.
O comerciante português João Romão, além de explorar a amante Bertoleza, deixa de pagar todas as vezes
que pode, nunca deixando de receber, enganando os fregueses, desdobrando cachaça com água, roubando
nos pesos e nas medidas, o que garante o seu enriquecimento ilícito. O autor não poupa também os
italianos – um tipo de imigrante que dará muitas dores de cabeça aos fazendeiros brasileiros acostumados
com a mao de obra negra e escrava – conhecidos no cortiço pelas cascas de melancia e laranjas entulhados
na frente de seus cômodos. Revelando, surpreendentemente, que são os brasileiros os cultores da higiene.
O Cortiço é, entre o Ana em Veneza de João Silvério Trevisan e o ensaio O Povo Brasileiro de Darci
Ribeiro, um guia para entender a singularidade da brasilidade.
O METAPOEMA EM DRUMMOND
A obra poética de Carlos Drummond de Andrade é um verdadeiro manancial onde se pode abordar o social,
a memória, o sensual, a infância, o patriarcalismo mineiro, a submissão feminina...Neste ensaio, resumo de
um trabalho maior, o tema escolhido foi a metatextualidade, ou melhor dizendo: o metapoema em
Drummond.
A metatextualidade, genericamente chamada de metalinguagem, é a mensagem centrada no código
(definição de Samira Chalub no seu Funções da Linguagem). Desse modo, seguindo o raciocínio de Chalub,
o metapoema é um poema que fala do ato criativo, da dificuldade de seu material – a palavra -, do conflito
pedregoso diante da folha branca como “uma pedra no meio do caminho”, da palavra que é de uso de
todos e que, no poema, necessita ser singular e exata para bem dizer-se.
Drummond revela uma forte preocupação metatextual em sua poesia, embora sem se igualar nisso,
quantitativamente, a um João Cabral de Melo Neto.
Em “Mãos Dadas”, Drummond diz:
“Não serei o poeta de um mundo caduco/ também não contarei o mundo futuro.”.
Isto é, o poeta não é arcaísta nem invencionista. E prossegue:
“Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem da janela/ Não distribuirei entorpecentes ou cartas
de suicidas.”.
O poeta afirma que não há espaço para o lirismo contemplativo, o escapismo romântico ou o pessimismo
decadentista em sua poesia.
Em “O lutador”, o poeta é mais explícito:
“Lutar com palavras/ é a luta mais vã./ Entanto lutamos/ mal rompe a manhã./ São muitas, eu pouco./
Algumas, tão fortes/ como um javali.”.
Mostrando que o trabalho poético é uma verdadeira e suada luta corpo-a-corpo com as palavras, noite a
dentro, insone; e que as palavras são tão indomáveis e autônomas como animais selvagens. Aqui,
Drummond contempla aquela famosa frase que diz que o processo criativo é 10% inspiração e 90%
transpiração.
Já em “Canção Amiga”, o poeta surpreende ao dizer:
“Eu preparo uma canção/ em que minha mãe se reconheça/ todas as mães se reconheçam”;
parece uma contradição para quem disse que não é o poeta de um mundo caduco ou que diz suspiros ao
anoitecer, mas o poeta desfaz o problema:
“Aprendi novas palavras/ e tornei outras mais belas”
e conclui com um propósito nada modesto:
“Eu preparo uma canção/ que faça acordar os homens/ e adormecer as crianças”.
No “Poema-Orelha”, adverte aos leitores:
“Não me leias se buscas/ flamante novidade/ ou sopro de Camões”.
De uma certa forma, contempla o que disse em “Mãos dadas”, sobre o fato de não ser e nem oferecer o
“antigo” ou o “moderno”; e continua:
“Aquilo que revelo/ e o mais que segue oculto/ em vítreos alçapões/ são notícias humanas”.
O que dizer do genial paradoxo: “vítreos alçapões”? Pois como um alçapão pode ter a transparência do
vidro?
Conclui-se que a verdadeira filiação de Drummond é com as coisas menores, sem extravagância ou pompa,
com o cotidiano ou como ele diz em “Mãos Dadas” com “o tempo presente, os homens presentes, a vida
presente.”.
LUZIA-HOMEM: ABORDAGEM DE GÊNERO
O conceito gênero tornou-se muito discutido depois da 2ª Guerra Mundial – quando as mulheres, na
ausência de seus maridos e pais, tiveram de entrar maciçamente no mercado de trabalho- e depois da
Revolução Sexual dos anos 60 – impulsionada pela invenção da pílula anticoncepcional. O gênero aponta
para a questão dos papéis sexuais que variam de uma cultura para outra (espacialmente) e de uma época
para outra (temporalmente).
Em Luzia-homem de Domingos Olímpio, a trama se desenvolve no Ceará feudal, agrário e oligárquico do
século passado, lidando com latifundiários, seca, fome, retirantes, abuso de autoridade (por parte de
policiais) e até a presença das frentes de serviço ( comprovando a atualidade da obra).
Apesar dos preconceitos e da divisão rígida dos papéis sexuais da época, a necessidade faz com que o pai de
Luzia a eduque como homem, i.é., entregando-lhe responsabilidades masculinas devido à ausência de filhos
varões para cuidar da fazenda e do gado. Quando a fazenda se desfaz pela seca, o pai morre. Luzia se
aventura pelo mundo, levando consigo sua mãe doente. Ela não se poupa de fazer atividades tidas como
masculinas: trabalha na construção civil da frente de serviço (única fonte de renda possível devido à
improdutividade agrícola com a seca) tentando garantir o seu sustento e o da mãe, numa atitude muito
corajosa e audaciosa para a tônica patriarcalista da época.
O que Luzia provoca nos homens e mulheres para ter ganho o apelido pejorativo de “luzia-homem”? Nos
homens: provoca desejo por ser uma mulher muito bonita e de belos cabelos longos ( como o autor gosta
de salientar), mas também frustração, despeito, já que ela nunca cede aos assédios sexuais destes,
principalmente aos do soldado Crapiúna ( o arquétipo do abuso de autoridade). Nas mulheres: provoca
inveja, comentários maliciosos e intrigas, pois ela, sempre preocupada com a sobrevivência, não interrompe
suas atividades para fuxicos, fofocas e as frivolidades típicas das mulheres de pequenos povoados. Além
disso, Luzia procura sempre se isolar das mulheres do vilarejo, nas horas vagas, dando margem para que as
mulheres interpretem tal atitude como pedante.
Luzia é uma fonte de assombros para os homens e mulheres ao mexer com as noções cristalizadas do que é
masculino e feminino. Como uma mulher que carrega dois potes de barro, uma parede de tijolos na cabeça,
salva e carrega nos braços um homem quase esmagado por um boi bravo, entre outros, quer ter o direito
de amar um homem e ser sua esposa? Quem é essa que ousa sustentar-se, ter autonomia sem precisar de
um homem? Eis o tensionamento da obra.
A protagonista depois de adoecer é orientada pelo administrador da frente de serviço a trabalhar com as
costureiras. Luzia detesta a idéia mas é obrigada a aceitá-la, pois está visivelmente debilitada.
No ambiente das costureiras, o autor mais uma vez testará as noções pré – estabelecidas de gênero. A
chefe, uma beata muito exigente, rosna para Luzia: “- Você parece que nunca viu costura, tamanha mulher,
e não sabe por onde há de começar um par de ceroulas de homem”. Ou seja, para a professora uma mulher
se reconhece no esmero e delicadeza das costuras que faz. Comparando os dois ambientes: o masculino (a
frente de serviço) onde a solidariedade dos homens para com Luzia é maior e o feminino( o ateliê de
costura) onde reina a maledicência e intolerância , pode-se concluir que as mulheres são mais machistas do
que os homens. Com o tempo, mostrando o determinismo ambiental do realismo-naturalismo do autor,
Luzia se adapta a nova realidade e acaba virando professora das meninas costureiras.
Cabe discutir o problema de gênero colocado pela doença da mãe de Luzia. D.Zefinha sofre de asma e
insiste em não tomar o remédio de botica (farmácia) prescrito pelo médico; prefere o lambedor indicado
por uma rezadeira, D.Seridó, feito de componentes grotescos (um pinto vivo pisado no pilão), rezas e
superstições. Nesta preferencia, flagra-se o choque entre o feudalismo da medicina popular, feminina e o
capitalismo da medicina convencional, masculina. Alexandre menciona perante a intransigência da velha
que o saber verdadeiro está com o médico. Tendo como referência o livro O que é feminismo (Col.
Primeiros Passos), deduz-se que essa discórdia entre o saber intuitivo da rezadeira e o saber acadêmico do
médico vem de longe – não se pode esquecer que a escolaridade era um privilégio dos homens,
principalmente no Nordeste daquele tempo. Na Idade Média não foi só o clero católico, com medo de
perder fiéis, que jogou videntes e rezadeiras, tidas como bruxas, na fogueira. A própria medicina
convencional e masculina também cooperou com a Inquisição através de delações, pois queria eliminar a
concorrência.
Luzia e Terezinha, que exibem comportamentos supostamente inadequados, são bem tratadas, quando vão
denunciar os abusos de autoridade e assédio sexual do soldado Crapiúna, por promotores e delegados e
estes tomam as devidas providências ( a transferência de posto). A pergunta é: isso é verossímil? Se ainda
hoje o movimento feminista alega que mulheres se queixam dos constrangimentos em delegacias comuns
composta por homens, ao ponto de terem sido criadas as delegacias das mulheres nos anos 80 para
atender a demanda.
PROVÉRBIOS DO INFERNO : A PERVERSÃO EM WILLIAM BLAKE
O poeta e artista-plástico inglês William Blake (séc.XVIII) ao criar o perturbador poema Provérbios do
Inferno, perverte toda a noção moralizante usual dos provérbios cristãos e projeta sua obra além do seu
tempo, vindo a influenciar simbolistas e surrealistas que admiravam a ligação inusitada entre erotismo e
misticismo do seus versos.
Incompreendido no seu tempo, visto como excêntrico, visionário e louco (o que acabou se tornando, tendo
várias internações), William Blake tinha uma visão muito particular da libido, segundo ele os prazeres
sexuais era santos e através deles se atingia uma nova pureza e inocência. Essa forma de pensar, unindo o
sensual e o espiritual, é muito próxima do Tantrismo hindu ? um tipo de Yoga que professa a conexão com
Deus através da energia sexual (a kundalini). Não sabemos se o poeta teve acesso a esse tipo de
informação, o que sabemos é que sua visão foi chocante para a Inglaterra puritanista e pré-vitoriana da sua
época, ocasionando uma série de aborrecimentos e perseguições.
O inferno exercia um enorme fascínio sobre o poeta, tanto que os seus últimos livros foram escritos
imitando o estilo bíblico, constituindo uma espécie de bíblia negra que ele denominou Bible of Hell . O seu
interesse pela temática o levaria a ilustrar a Divina Comédia de Dante.
Dada essa rápida introdução, cabe agora analisar alguns versos do poema que intitula esse artigo.
O poeta começa imperativo:
“Conduz o teu carro e teu arado por sobre os ossos dos / mortos.”
Incitando o leitor a esquecer os mortos, o passado, a tradição, as raízes e seguir confiante em busca de
seus objetivos. Algo que, não acidentalmente, contempla o que supostamente Cristo teria dito caso tivesse
existido: “Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos? ou ?abandona pai, mãe, filhos e segui-me.”
Com
“A estrada do excesso leva ao palácio da sabedoria” e “A prudência é uma solteirona rica e feia /
cortejada pela impotência”,
o poeta condena toda forma de bom-senso.
Em
“Quem deseja mas não age gera pestilência”,
antecipa o que Freud diria, dois séculos depois, sobre a natureza das doenças psicossomáticas.
Professa o narcisismo e a auto-estima: “Aquele cujo rosto não se ilumina, jamais há de / ser uma estrela”
Enquanto o Cristianismo condena a vaidade.
Reprova a introspecção e a ociosidade: “A abelha atarefada não tem tempo para tristeza.”
Portanto, “os alimentos sadios não são apanhados com / armadilhas ou redes.”
Ridiculariza os fantasmas: “Um cadáver não vinga as injúrias.”
“Os tigres da ira são melhores que os cavalos / da educação.”
Blake era fascinado pelo Tigre, segundo ele, por ser o símbolo da tirania divina a qual o homem se
submete; enquanto, o Cordeiro é o símbolo da bondade patriarcal de Deus. Aqui, um paradoxo que só a
linguagem poética justifica, pois como um Deus pode ser tirano e bondoso ao mesmo tempo?
Em “As prisões se constróem com as pedras da lei / Os bordéis com os tijolos da religião”,
o poeta ataca a ambigüidade do clero e da justiça.
Refuta a o sentimento de culpa:
“A raposa condena a armadilha, não a si própria.”
Algo misógino ou machista em
“Que o homem use a pele do leão, a mulher / a lã da ovelha.”
Prescreve a autenticidade:
“Dize sempre o que pensa e o homem torpe / te evitará.”
E condena a humildade : “A águia nunca perdeu tanto tempo / como quando resolveu aprender com a
gralha.”
Propõe o dinamismo : “Da água estagnada espera veneno”
e conclui de forma cruel :
“A raposa provê para si, mas Deus provê para o leão”
mostrando que Deus tem preferência pelos fortes , subvertendo a velha crença de Deus preferir os fracos e
humildes de coração que se deduz das contraditorias passagens do Antigo Testamento.
O vigor estilístico blakeano inspirou Nietszche (no seu ódio ao cordeiro, o rebanho humano), Baudelaire (no
seu decadentismo satanista), o futurista Marinetti (no seu violento anti-clericalismo e no tom provocativo
de suas composições), em Strindberg, o poema em questão ganhou uma versão musicada pela banda de
rock brasileira As Mercenárias na década de 80. Não sabemos dizer se misticos midiáticos como Aleister
Crowley do Livro da Lei e Anton Szandor LaVey da Biblia Satanica tiveram acesso a obra do poeta ingles,
mas que o thelemismo e o luciferianismo parecem inspirados nessa trilha aberta por William Blake, isso
sem dúvida.
PAÚLISMO, HOMOEROTISMO E METATEXTUALIDADE EM SÁ-CARNEIRO:
UM OLHAR SOBRE A CONFISSÃO DE LÚCIO
Há muita semelhança entre a estrofe de Escavação:
" Numa ânsia de ter alguma coisa, / Divago por mim mesmo a procurar, / Desço-me todo, em vão,
sem nada achar, / E minh' alma perdida não repousa",
com o excerto do 1º parágrafo do Cap. I de A Confissão de Lúcio:
"Por 1895, não sei bem como, achei-me estudando Direito na Faculdade de Paris, ou melhor, não
estudando. Vagabundo da minha mocidade, após ter tentado vários fins para a minha vida e de
todos igualmente desistido - sedento de Europa, resolvera transportar-me à grande capital".
Aqui notamos a personalidade vacilante, indecisa, o temperamento frouxo, sem vigor e o espírito dispersivo
de Sá-Carneiro, como revelam os sememas de um de seus personagens:
"não sei bem como", "achei-me",
pois se ele próprio não sabe como foi parar em Paris, quem é que sabe? Um homem incapaz de assumir-se
adulto, que vive da mesada do pai e que prefere desperdiçar suas energias físicas e mentais com a boêmia,
do que com a faculdade de Direito; ou seja, Sá-Carneiro é um autêntico bon vivant, algo que terá um preço
muito caro em sua vida.
Outro momento de A Confissão:
"Acho-me tranqüilo - sem desejos, sem esperanças. Não me preocupa o futuro. O meu passado, ao
revê-lo, surge-me como o passado de um outro. Permaneci, mas já não me sou. E até à morte real,
só me resta contemplar as horas e esgueirar-se em minha face...A morte real - apenas um sonho
mais denso..."
coincide com o que Sá-Carneiro diz no poema Dispersão:
"Perdi-me dentro de mim, / porque eu era labirinto, / E hoje, quando me sinto, / é com saudades
de mim." ou
"Não sinto o espaço que encerro / Nem as linhas que projecto: / Se me olho a um espelho, erro - /
Não me acho no que projecto" ou
"Desceu-me n' alma o crepúsculo; / Eu fui alguém que passou. / Serei, mas já não me sou; / Não
vivo, durmo o crepúsculo",
entre outros versos, revelam a despersonalização, a inquietação ontológica e elementos paúlicos
como a voluntária confusão do subjetivo e do objetivo pela associação de idéias desconexas e
paradoxais; assim como, pelo vocabulário expressivo do tédio, do vazio da alma.
PAÚLISMO
O sentido mais predominante em A Confissão de Lúcio é a visão. O autor se vale de parágrafos imensos
para descrever os trajes de suas personagens impregnadas de dandismo (como Gervásio Vilanova) ou para
descrever os ambientes festivos de Paris. Em relação à presença do vestiário na diegese, é pertinente dizer
que através dele o autor irá creditar não só a classe social e/ou o grau de instrução, mas, principalmente, a
suposta preferência sexual da personagem ao nível da estereotipia, v.g.
"Perturbava o seu aspecto físico, macerado e esguio, e seu corpo de linhas quebradas tinha
estilizações inquietantes de feminilismo histérico e opiado..." ( grifo nosso em relação a Gervásio
Vila-Nova).
O talento de Sá-Carneiro pode ser notado na riqueza de pormenores inusitados quando descreve o traje de
um americana amiga de Gervásio:
"Um deslumbramento, o trajo da americana. Envolvia-a uma túnica de um tecido muito singular,
impossível de descrever. Era como que uma estreita malha de fios metálicos - mas dos metais mais
diversos - a fundirem-se numa cintilação esbraseada, onde todas as cores ora se enclavinhavam
ululantes, ora se dimanavam, silvando tumultos astrais de reflexos. Todas as cores enlouqueciam na
sua túnica." (grifo nosso pág.30).
É de perceber-se a sinestesia do silvando tumultos astrais que nos remete à hiper-sensibilidade alucinada
de Rimbaud, um legado simbolista que também se constitui num elemento paúlico.
Também notamos elementos paúlicos no delírio sinestésico:
"Inundava-o um perfume denso, arrepiante de êxtases, silvava-o uma brisa misteriosa, uma brisa
cinzenta com laivos amarelos” (Grifo nosso pág.30), ou
"essa luz, nós sentíamo-la mais do que víamos (...) Não impressionava a nossa vista, mas sim o
nosso tato" (pág.32), ou
"listas úmidas de sons se vaporizavam sutis..." (pág. 33),
mostrando
percepções muito próximos das relatadas por pacientes psicóticos ou por usuários de
drogas alucinógenas como a mescalina, o LSD e o Ecstasy.
HOMOEROTISMO
A Confissão de Lúcio pode ser abordada por diversos aspectos, desde o alardeado, mas, voluntariamente
velado homoerotismo, até ao caráter metatextual.
Sobre o homoerotismo particular desta obra, percebe-se que ele é permeado por sentimentos de culpa e
camadas de estereotipia com fidelidade ao contexto histórico da época. Ao homossexual é vedado o amor,
pois ele só poderá amar outro ser do mesmo sexo se travestir-se de mulher. Bem diferente dos gays
marombeiros de hoje, um homem não pode amar outro homem enquanto homem, daí a razão dele se
desdobrar, alegoricamente, em uma mulher (Marta) e relacionar-se adulteramente com Lúcio - artifício
metafórico/ simbólico do autor que acaba comunicando o conflito interior da sua identidade afetiva e
sexual através de personagens alter-egos. E Sá-Carneiro tinha com o que se preocupar, pois o
homossexualismo era crime na maioria do países europeus de seu tempo. Portanto, seu romance não pode
mostrar um relacionamento homossexual transparente, receio do qual o nosso Adolfo Caminha d´ O Bom
Crioulo não compartilhou, mas que em compensação lhe rendeu uma série de aborrecimentos. Como
esquecer Oscar Wilde, que foi preso e teve bens confiscados por gostar de um rapaz filho de aristocratas?
Nem Freud aliviaria a vida dos homossexuais, considerando-os, no mínimo, neuróticos. Mas há uma
explicação: todos os clientes homossexuais do pai da psicanálise tinham medo de ser delatados ou presos,
comprometendo-se, assim, todo equilíbrio psíquico e emocional.
METATEXTUALIDADE
A narrativa de Sá-Carneiro exibe um aspecto que interessa aos artistas, sobretudo aos escritores, trata-se do
metatextual.
No Cap. I, pág.22, Lúcio comenta o modismo do pedante Gervásio, que gosta de uma nova escola literária:
“(...) o Selvagismo, cuja novidade reside na impressão de seus livros sobre diversos papéis e com
tintas de várias cores, numa estrambótica disposição tipográfica. Os poetas e prosadores selvagens
traduzem suas emoções unicamente em jogo silábico, por onomatopéias rasgadas, bizarras: criando
novas palavras que coisa alguma significavam e cuja beleza ou virtude reside justamente em não
significar coisa nenhuma. Esta escola era tão inconsistente que só publicou um livro.”
O autor pode estar falando do Dadaísmo de Tzara.
Lúcio assim define as escultura de Gervásio Vila-Nova:
"As suas obras eram esculturas sem pé nem cabeça, pois ele só esculpia torsos contorcidos,
enclavinhados, monstruosos, onde, porém, de quando em quando, por alguns detalhes, se
adivinhava um cinzel admirável."
Já esta passagem tanto pode referir-se ao Expressionismo quanto ao Futurismo de Giacomo Balla.
Falando sobre as reuniões artísticas (espécie de saraus) na casa de Ricardo e Marta, Lúcio comenta, amargo
e mordaz, a literatura de um amigo de Raul Vilar :
"triste personagem tarado que hoje escreve novelas torpes desvendando as vidas íntimas dos seus
companheiros, no intuito (justifica-se) de apresentar casos de psicologias estranhas e assim fazer
uma arte perturbadora, intensa e original; no fundo apenas falsa e obscena."
No Cap.II, pág.39, Gervásio fala para Lúcio "Creia, meu querido amigo, você faz muito mal em colaborar nessas revistecas lá de baixo... em se
apressar tanto a imprimir os seus volumes. O verdadeiro artista deve guardar quanto mais possível
o seu inédito. Veja se eu já expus alguma vez...só compreendo que se publique um livro numa
tiragem reduzida; e a 100 francos o exemplar, como fez o ...(e citava o nome do russo chefe dos
"selvagens"). Ah! Eu abomino a publicidade!..."
Esta passagem flagra a visão glamourizada do artista incompreendido, na torre de marfim, isolado
dos demais, compartilhada por vários artistas de seu tempo e satiriza a atitude vanguardista de
alguns de seus contemporâneos.
CONSIDERAÇOES FINAIS
A obra de Mario de Sa-Carneiro é uma oportunidade para quem se interessa por gay studies e sua relação
com a literatura portuguesa modernista.
BIBLIOGRAFIA GERAL
OBRAS DE REFERÊNCIA
DICIONÁRIO DE LITERATURA.Porto : Mário Figueirinhas, 1994.V.4
DICIONÁRIO BÁSICO DE FILOSOFIA/Hilton Japiassú e Danilo Marcondes – 4ª ed. atual. - Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 2006.
DICIONÁRIO DA IDADE MÉDIA/ Organizado por HENRY R. LOYN, tradução, Álvaro Cabral; revisão
técnica, Hilário Franco Júnior – Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1997.
DICIONÁRIO DE FILOSOFIA/Nicola Abbagnano; tradução da 1ª edição brasileira coordenada e
revista por Alfredo Bosi; revisão da tradução e tradução dos novos textos Ivone Castilho Benedetti
– 5ª ed. - São Paulo: Martins Fontes, 2007.
DICIONÁRIO DE MITOLOGIA GREGA E ROMANA/ Organizado por Geoges Hacquard – [tradução:
Maria Helena Trindade Lopes] – 1ª ed. - Lisboa: Edições Asa, 1996.
Dicionário de política/Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino; trad. Carmen C.
Varriale et al; coord. Trad. João Ferreira; rev. Geral João Ferreira e Luís Guerreiro Pinto Cacais –
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 11ª ed.. 1998
DICIONÁRIO DE SOCIOLOGIA/Sob a direcção de RAYMOND BOUDON, PHILIPPE BESNARD,
MOHAMED CHERKAOUI e BERNARD-PIERRE LÉCUYER - Tradução de António J. Pinto Ribeiro
PUBLICAÇÕES DOM QUIXOTE LISBOA ,1990
Dicionário LAROUSSE Espanhol/Português.Português/Espanhol: Míni/[Coordenação editorial
José ª Gálvez] – 1ª ed. - São Paulo: Larousse do Brasil, 2005.
LONGMAN Dicionário Escolar – Inglês-Português Português-Inglês – Para Estudantes Brasileiros –
Primeira edição - Pearson Longman: Brasil, 2002.
Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa/Antônio Houaiss e Mauro de Salles Villar, elaborado
no Instituto Antônio Houaiss de Lexicografia e Banco de Dados da Língua Portuguesa S/C Ltda – Rio
de Janeiro: Objetiva, 2001.
Oxford Basic English Dictionary – Edited by Shirley Burridge – Hong Kong: Oxford University Press,
1981.
SCHWIKART, Georg. Dicionário ilustrado das religiões/ Georg Schwikart: (tradução Clóvis Bovo).Aparecida, SP: Editora Santuário, 2001.
OBRAS GERAIS
A Brief view of British Literature/The Research and Planning Departament of the C.C.A.A. - Brasil:
Waldir Lima Editora, s/d.
ABRAHÃO, J. R. R.A Gnose afro-americana e o candomblé gnóstico: uma visão moderna dos
cultos afro e de suas potencialidades mágicas.pdf
ADOLFO, Sérgio Paulo.Candomblé bantu na pós-modernidade.pdf
ADORNO, T. W., HORKHEIMER, Max. Dialéctica de la Ilustráción: fragmentos filosóficos –
[traducción: Juan José Sánchez] – Tercera edicion – Madrid: Editorial Trotta, 1998.
AGIER, Michel. As Mães Pretas do Ilê Aiyê:nota sobre o espaço mediano de cultura. In: AFROÁSIA, 18 (1996).
AGUESSY, Honorat. Visões e percepções das culturas africanas. In: Introdução à cultura
africana.Lisboa: Edições 70, 1977.
ALTAMAR, Lucas. Incógnito: Pós-identidade Queer – Primavera de 2008.
ALVA, A. de. Exu: gênio do bem e do mal - Rio de Janeiro: Editora Espiritualista, s.d.
ALVA, Antonio de.Trabalhos práticos de magia-negra – 2ª edição – Rio de Janeiro: A. C. Fernandes
Editor, 1984.
AMADO, Jorge. Capitães da areia – 57ª ed. - Rio de Janeiro, Record, 1983.
AMADO, Jorge. Dona Flor e seus dois maridos: história moral e de amor- 40ª ed. - Rio de Janeiro,
Record, 1983.
AMADO, Jorge. Gabriela, cravo e canela: crônica de uma cidade do interior – 65ª ed. - Rio, São
Paulo, Record, 1983.
AMADO, Jorge. Lembrança de Roger Bastide na Bahia e em Paris.pdf
AMADO, Jorge. Os Pastores da Noite – 39ª ed. - Rio de Janeiro, Record, 1983.
AMADO, Jorge. Tenda dos Milagres – 30ª ed. - Rio, Record, 1983.
AMARAL, Ilana Viana. Teses pelo Fim do Sistema de Gêneros – In: Contraacorrente, nº10 MaioAgosto de 2000.
ANDRADE, Carlos Drummond de. .Antologia Poética. Rio de Janeiro: Sabiá, 1962.
ANDRADE, Carlos Drummond de. A Rosa do Povo. Rio de Janeiro: Record, 1984.
ANDREW, J. Duddley. As principais teorias do cinema: uma introdução – tradução:
Ottoni – Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2002.
Teresa
ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: Ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho –
3ª edição – São Paulo: Boitempo, 2000
Apostila do curso de introdução ao estudo do oráculo de Ifá.pdf
APPIAH, Kwame Anthony. Na casa de meu pai: A África na filosofia da cultura.Rio de Janeiro:
Contraponto, 1997.
ARCHER, Michael.Arte contemporânea – 2ª edição – São Paulo: WMF Martins Fontes, 2005.
ARMSTRONG, Karen. Em Defesa de Deus: o que a religião realmente significa – [tradução:
Hildegard Feist] – São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
ARROYO, Stephen. Astrologia Prática e Profissão: Reencontrando nossas ligações perdidas com o
cosmos – [tradução: Adail Ubirajara Sobral] – 10ª ed. - São Paulo: Pensamento, 1995.
ASCHER, Nelson. Pomos da Discórdia – Política, religião, literatura, etc. - São Paulo: Ed.34, 1996.
ASSIS, Diana de. Calendário Maia: a última chamada – Rio de Janeiro: Record:Nova Era, 1998.
ASSIS, Machado. Memórias póstumas de Brás Cubas – São Paulo: Dicopel, s/d.
ASSIS, Machado. O Alienista – 22ª edição – São Paulo: Ática, 1992.
ATHAYDE, Johildo Lopes. Importância da História da África negra.pdf
Atlas Bíblico/Yohanan Aharoni et al. - Rio de Janeiro: Casa Publicadora das Assembléias de Deus,
1999.
AUMONT, Jacques et al. Dicionário teórico e crítico de cinema – Tradução: Eloisa Araújo Ribeiro –
Campinas: Papirus, 2003.
AZEVEDO, Sânzio. A Padaria Espiritual e o simbolismo no Ceara – 2ª edição – Fortaleza: Casa Jose
de Alencar – UFC, 1996.
AZEVEDO, Sânzio. Aspectos da Literatura Cearense – Fortaleza: Ed. UFC, 1982.
AZEVEDO, Sânzio. Joaquim de Sousa: O Byron da Canalha ou o Castro Alves Cearense – Fortaleza:
Edições Poetaria, 2003.
BA, Amadou Hampâté. A educação tradicional na África. In: THOT n. 64, 1997
BAKUNIN, Mikhail.Deus e o Estado.pdf
BANDEIRA, Luís Cláudio Cardoso. Tem Exu do lado de lá, mas também tem Exu do lado de cá: O
Candomblé e a Umbanda em Portugal- In: Anais V Simpósio Internacional do Centro de Estudos do
Caribe no Brasil
BANDEIRA. Luís Cláudio Cardoso. Africanidades e Diásporas religiosas: O candomblé no Ceará –
In:Revista Historiar -Universidade Estadual Vale do Acaraú – v.4. n. 4 (jan./jun. 2011).Sobral-CE:
UVA, 2010. ISSN 2176-3267 [www.uvanet.br/revistahistoriar]
BARBOSA FILHO, Hildeberto. Letras Cearenses – Fortaleza: Acauã, 2004.
BARBOSA, Rogério Andrade. O segredo das tranças e outras histórias africanas – São Paulo:
Scipione, 2007.
BARCELLOS, Mario Cesar. Os orixás e a personalidade humana - 4ª edição - Rio de Janeiro: Pallas,
2007.
Barreira, Dolor. História da Literatura Cearense – Fortaleza: Instituto do Ceará, 1948.
BARROS, Rui Sá Silva Tomando o céu de assalto: Esoterismo, ciência e sociedade 1848-1914:
França, Inglaterra e EUA.pdf
BARTHES, Roland. Aula – Tradução: Leyla Perrone-Moisés – São Paulo: Cultrix, 2007.
BARTHES, Roland. O prazer do texto – [tradução J. Guinsburg]- São Paulo: Perspectiva, 2008.
BASTIDE, Roger. Religiões Africanas e Estruturas de Civilização. In: II Congresso Internacional de
Africanistas, realizado em Dakar, Dezembro de 1967.
BASTOS, Ivana Silva. A visão do Feminino nas Religiões Afro-brasileiras.In:CAOS – Revista
Eletrônica de Ciências Sociais – Número 14 – Setembro de 2009 – Pág. 156-165.
BATSIKAMA, Patricio.O sistema metafísico da existência: o caso dos muntu-angolano.pdf
BAUDELAIRE, Charles. A Apologia da Paisagem e a Crítica do Retrato.pdf
BAUDELAIRE, Charles. As Flores do Mal.pdf
BAUDELAIRE, Charles. Sobre a Modernidade – [organizador Teixeira Coelho] – Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1996.
BENISTE, José. Jogo de Búzios: um encontro com o desconhecido - 3ª edição - Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2004.
BENISTE, José. Orun - Aiyé: O encontro de dois mundos: o sistema de relacionamento nagôyorubá entre o céu e a Terra - 5ª edição - Rio de Janeiro:Bertrand Brasil,2006.
BERALDO, Alda. Trabalhando com poesia – Vol. 1 – São Paulo: Ática, 1990.
BERNARDET, Jean Claude. Brasil em tempo de cinema: ensaio sobre o cinema brasileiro de 1958 a
1966 – São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
Bíblia de Jerusalém – [coordenadores da edição em língua portuguesa: GORGULHO, Gilberto da
Silva; STORNIOLO, Ivo; ANDERSON, Ana Flora] - São Paulo: Paulus, 2002.
BIRMAN, P. O que é umbanda, São Paulo, Abril Cultural, Brasiliense.1985
BLANCHOT, Maurice. O livro por vir – [tradução Leyla Perrone-Moises] – São Paulo: Martins
Fontes, 2005.
BOFF, Clodovis. Teoria do método teológico:(Versão didática) – Petrópolis: Vozes, 1998.
BOFF, Leonardo.Experimentar Deus: A Transparência de Todas as Coisas.pdf
BONDER, Nilton. Sobre Deus e o sempre – Rio de Janeiro: Campus, 2003.
BORRILO, Daniel. Homofobia: história e crítica de um preconceito - [ tradução de Guilherme João
de Freitas Teixeira] – Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2010
BOSI. Alfredo. História concisa da literatura brasileira – 3ª edição – São Paulo: Cultrix, 1992.
BOTAS, Paulo Cezar Loureiro. Carne do Sagrado. Edun Ara:devaneios sobre a espiritualidade dos
orixás - Petrópolis: Koinonia Presença Ecumênica e Serviço/Vozes, 1996.
BOURNEFF, Roland. OUELLET, Réal. O universo do romance – Tradução: José Carlos Seabra Pereira
– Coimbra: Almedina, 1976.
BRAGA, Júlio. A cadeira de Ogã e outros ensaios. Rio de Janeiro: Pallas, 2005.
BRAGA, Julio. Candomblé da Bahia: repressão e resistência.pdf
BRANCO, Samuel Murgel. Evolução das Espécies: o pensamento científico, religioso e filosófico –
2ª ediçao reform. - São Paulo: Moderna, 2004.
Brasil, um país de Negros?/organizado por Jeferson Bacelar e Carlos Caroso. - 2ª ed.- Rio de
Janeiro: Pallas; Salvador, BA: CEAO, 2007.
BRITO, Bruno Eduardo da Rocha. Roberto Piva, panfletário do caos – Recife: O Autor, 2009.
BUDGE, E.A. Wallis. A religião egípcia - São Paulo: Cultrix, 1990
CAMPBELL, Joseph. Isto és tu: Redimensionando a metáfora religiosa – [Tradução: Edson Bini] –
São Paulo: Landy, 2002.
CAMPBELL, Joseph. O poder do mito – Org. Betty Sue Flowers – [tradução: Carlos Felipe Moisés] –
São Paulo: Palas Athenas, 1990.
CAMPOS, Zuleica Dantas Pereira. A Polícia no Estado Novo combatendo o Catimbó – In: Revista
Brasileira de História das Religiões – Ano I, n. 3, Jan. 2009 - ISSN 1983-2859 Dossiê Tolerância e
Intolerância nas manifestações religiosas
CANDIDO, Antônio. Formação da Literatura Brasileira, V.1 e 2 – 2ª edição – Belo Horizonte: Itatiaia,
1993.
CARAMELLA, Elaine.História da Arte: fundamentos semióticos: teoria e método em debate–
Bauru, SP : EDUSC, 1998.
CARDOSO, Gleudson Passos. Padaria Espiritual: biscoito fino e travoso. - Fortaleza: Museu do
Ceará: Secretaria de Cultura e Desporto do Ceará, 2002.
CARDOSO, Gleudson Passos.As repúblicas das letras cearenses: literatura, imprensa e política
(1873 – 1904). 2000. Dissertação de Mestrado – Pontíficia Universidade Católica, São Paulo.
CARNEIRO, Édison. Capoeira. In: Cadernos de Folclore Nº1 – Ministério da Educação e Cultura –
FUNARTE.
Cartas de Pierre Verger para Vivaldo da Costa Lima (1961-1963). In: AFRO-ÁSIA, 37(2007).
CARVALHO, Gilmar de. Mestres santeiros: Retábulos do Ceará – Fortaleza: Museu do Ceará:
Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, 2004.
CARVALHO, Gilmar de. Xilogravura: doze escritos na madeira – Fortaleza: Museu do
Ceará:Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, 2001
CARVALHO, José Jorge de. A Tradição Mística Afro-Brasileira- In:Revista Religião e Sociedade, Vol.
18, No. 2, maio de 1998
CASTAGNINO, Raúl H. Que é Literatura?: Natureza e função da Literatura – [tradução Luiz
Aparecido Caruso] – São Paulo: Editora Mestre Jou, 1969.
CASTRO, Yêda Pessoa de. Antropologia e Lingüística nos estudos afro-brasileiros.pdf
CHALUB, Samira. Funções da Linguagem. São Paulo: Ática.s/d.
CHEVITARESE, L. (2001): As ‘Razões’ da Pós-modernidade. In: Analógos. Anais da I
RJ.
SAF-PUC.
CISALPINO, Murilo. Religiões – São Paulo: Editora Scipione, 1994.
Coleção Formação do Movimento Negro unificado. Trajetórias históricas e práticas pedagógicas
da população negra no Ceará/Organização Ivan Costa Lima; Joelma Gentil do Nascimento –
Fortaleza: Imprece, Nº 1, Jan.2009.
CONCEIÇAO, José Maria Nunes Pereira.África um novo olhar – 1. ed. – Rio de Janeiro: CEAP, 2006.
CORÇÃO, Marcelo. O diabo no subúrbio. In Planeta – São Paulo, Novembro de 1973 – Nº 15
Editora Três
CORDEIRO, Sarita Costa Erthal.Por vias e desvios : um panorama sobre o protagonista de João
Gilberto Noll em suas trilhas contemporâneas-- Campos dos Goytacazes, RJ, 2008.
CORREIA, Ana Karina de Sousa. A influência dos chakras nos aspectos psicológicos e fisiológicos
do ser humano – Fortaleza: Fundação Edson Queiroz: Universidade de Fortaleza, 2007.
COSTA, Amanda Lacerda. 360 Graus: Uma Literatura de Epifanias: O inventário astrológico de
Caio Fernando Abreu – Alegre: UFRGS, 2008.
COSTA, Jurandir Freire. Sem fraude nem favor: estudos sobre o amor romântico – Rio de Janeiro:
Rocco, 1998.
COSTA, Nelson Barros da (org.) Práticas Discursivas; exercícios analíticos – Campinas: Pontes
Editores, 2005.
COSTA, Valdeli Carvalho da. Alguns marcos na evolução histórica de Exu na Umbanda do Rio de
Janeiro.pdf
CUCHE, Denis. Cultura e identidade. In: CUCHE, Denis.A noção de cultura nas ciências sociais –
Tradução: Viviane Ribeiro – Bauru: Edusc, 1999.
CUNHA, Carolina. Elegua e a sagrada semente de cola-São Paulo: Edições SM, 2007.
CUNNINGHAM, Scott. Vivendo a Wicca: guia avançado para o bruxo solitário – [tradução: Marcelo
Giusepp Lechinski] – São Paulo: Gaia, 2002.
DANDARA E ZECA LIGIÉRO. Iniciação à umbanda - Rio de Janeiro: Nova Era, 2000.
DAWKINS, Richard. Deus, um Delírio – Tradução de Fernanda Ravagnani – São Paulo: Companhia
das Letras, 2007.
DE TEMPO, Robson. O jogo de búzios na tradição do candomblé Angola - Rio de Janeiro: Pallas,
2008.
DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo – tradução: Estela dos Santos Abreu – Rio de Janeiro:
Contraponto, 1997.
DELEUZE, Gilles. Cinema: a imagem-movimento – Tradução Stella Senra – São Paulo: Brasiliense,
1983.
DEMO, Pedro. Política Social, Educação e Cidadania – 7ª edição – Campinas: Papirus, 1994.
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana - Brasília: MEC:SEPPIR, 2004.
DOCTOROW, E. L. Deus – um fracasso amoroso – [tradução de Robero Muggiati – Rio de Janeiro:
Record, 2003.
Documentos.revista do Arquivo Público do Estado do Ceará: Afro-brasileiro: história e
educação/Arquivo Público do Estado do Ceará.Fortaleza, v.7 – 2009.
DOMINGUES, Petrônio. A negritude brasileira na era global.pdf
DUBOIS, Jean et ali. Dicionário de Lingüística. São Paulo: Cultrix, 1996.
DUROZOI, Gérard. Dicionário de Filosofia. Campinas, SP: Papirus, 1993.
EAGLETON, Terry. As ilusões do pós-modernismo.pdf
EAGLETON, Terry. Ideologia: uma introdução – Tradução: Silvana Vieira e Luis Carlos Borges – São
Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista: Editora Boitempo, 1997.
EAGLETON, Terry. La Función de la critica – Barcelona: Ediciones Paidós Iberica, 1999.
EAGLETON, Terry. Una introduccion a la teoria literaria – Mexico: Fondo de Cultura Económica,
1988.
EAGLETON, Terry.A ideologia da estética – [tradução Mauro Sá Rego Costa] – Rio de Janeir.o: Jorge
zahar Ed., 1993
EDUCAÇÃO-AFRICANIDADES- Brasília: Centro de Educação à Distância - UNB, 2006.
ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano:a essência das religiões – 2ª edição – São Paulo: Martins
Fontes.2008.
ELIADE, Mircea.Imagens e Símbolos – [Tradução: Maria Adozinda Oliveira Soares] – Lisboa:
Arcadia, 1979
Emergência Espiritual: Crise e Transformação Espiritual/ Stanislav Grof, M.D., e Christina Grof
(Orgs.) - [tradução: Adail Ubirajara Sobral] – 12ª edição – São Paulo: Cultrix, 1997.
Entrevista com Pai Pedro – In: Revista Kàwé 1. Ilhéus, BA: Editus, 2000. p. 21-31
EPEGA, Sandra Soleye Medeiros. Ewé Njé Folhas Funcionam. In: R E V I S T A U S P, S Ã O P A U L O
( 2 9 ) : 1 6 6 - 1 7 3, M A R Ç O / M A I O 1 9 9 6
Estatuto da Igualdade Racial – Lei nº 12.288, de 20 de Julho de 2010 – In: Presidência da
República/Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR/PR: Brasília, 2010.
FARACO, Carlos. Aluisio Azevedo: O Povo como Personagem In:AZEVEDO, Aluisio.O Cortiço – São
Paulo: Ática, 1995.
FARIAS, P. F. de Moraes Afrocentrismo: Entre uma contranarrativa histórica universalista e o
relativismo cultural – In: Afro-Ásia, 29/30 (2003), 317-343
FARIAS, Paulo Fernando de Morais. Enquanto isso, do outro lado do mar... os arokin e a
identidade ioruba.pdf
FERREIRA, Ana Paula. Vídeopoesia: uma poética de intersemiose.pdf
FILHO, Aulo Barretti. A imortalidade Yorùbá nos Candomblés Kétu.pdf
FONSECA, Maria Nazareth Soares (org.) Brasil afro-brasileiro – 3ª ed. - Belo Horizonte: Autêntica
Editora, 2010.
FORTY, Conceição. Tarô dos Orixás - Porto Alegre: Artha Editora, 2008.
FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas – 8ª edição –
São Paulo: Martins Fontes, 1999.
FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 2; o uso dos prazeres; tradução de Maria Tereza da
Costa Albuquerque – 11ª ed. - Rio de Janeiro: Edições Graal, 2006.
FRANCASTEL, Pierre. A Realidade Figurativa – 2ª edição – São Paulo: Perspectiva, 1993.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido – 18ª edição – Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
FREITAS, Luiz Carlos de. Uma Pós-Modernidade de Libertação: Reconstruindo as Esperanças –
Campinas: Autores Associados, 2005.
FREUD, Sigmund.O Futuro de uma Ilusão, O mal-estar na civilização e outros trabalhos VOLUME
XXI (1927-1931).pdf
FREYRE, Gilberto. Casa-grande e senzala: formação da família brasileira sob o regime da
economia patriarcal - 49ª edição - São Paulo: Global, 2004.
FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mucambos: Decadência do patriarcado rural e desenvolvimento
urbano – 15ª edição – São Paulo: Global, 2004.
GARCIA, Othon M. Comunicação em Prosa Moderna: Aprenda a escrever, aprendendo a pensar –
24ª edição – Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004.
GASPAR, Eneida Duarte. Tarô dos Orixás - 3ª edição - Rio de Janeiro: Pallas, 2006.
GATHIER, Emile. O pensamento hindu – [tradução de Raul de Sa Barbosa] – Rio de Janeiro: Agir,
1996.
GERBER, Richard. Medicina Vibracional: Uma Medicina para o Futuro – [tradução: Paulo César de
Oliveira} – São Paulo: Cultrix, 2007.
GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade - São Paulo: UNESP, 1991.
GIORDANI, Mario Curtis. História da África: Anterior aos descobrimentos – 5ª edição – Petropólis,
RJ: Vozes, 2007.
GOERGEN, Pedro. Pós-modernidade, Ética e Educação – 2ª edição – Campinas: Autores
Associados, 2005.
GOMBRICH, Ernst Hans Josef. A História da Arte – 16ª edição – Rio de Janeiro: LTC, 2000.
GOMES, Paulo Emílio Sales. Cinema: Trajetória no subdesenvolvimento – 2ª edição – São Paulo:
Paz e Terra, 1996.
GORENDER. Jacob. A Escravidão Reabilitada – 2ª ed. - São Paulo: Ática, 1991.
GRAVES, Sue. O que é a Bíblia?: Uma Introdução ao Livro da Fé Cristã – 2ª ed. Revisada – Barueri:
Sociedade Bíblica do Brasil, 2004.
GREENE, Liz. Astrologia do Destino – 10 ª edição – Tradução: Carmen Youssef – São Paulo: Cultrix
Pensamento, 1995
GREENE, Liz. Saturno: un nuevo enfoque de un viejo diablo – Madrid: Ediciones Obelisco, 1998
GREENE, Liz.Os Astros e o Amor – [tradução: Mônica Joseph] – 9ª edição – São Paulo: Cultrix,
1993.
GREUEL, Sigolf. Religião e religiosidade na pós-modernidade – [manuscrito] Escola Superior de
Teologia – Instituto Ecumênico de Pós-graduação Religião e Educação: São Leopoldo, 2008.
GRUPO CRÍTICA RADICAL. Adeus às Ilusões. De que manhã se trata?/Grupo Crítica Radical.
Fortaleza: Sem Fronteiras, 2005.
GUIMARÃES, Antonio Sergio Alfredo. Resistência e revolta nos anos 60: Abdias do Nascimento.
In: Revista USP, São Paulo Nº 68, p.156-167, dezembro/fevereiro 2005- 2006
GULLAR, Ferreira. Etapas da Arte Contemporânea – Rio de Janeiro: Revan, 1998.
GUMBRECHT, Hans Ulrich. Modernização dos Sentidos – Tradução: Lawrence Flores Pereira – São
Paulo: Ed. 34, 1998.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade.pdf
HAWKING, Stephen. Breve História do Tempo : Do Big Bang aos Buracos Negros – [tradução:
Ribeiro da Fonseca ] - 3ª edição – Lisboa: Gradiva,1994.
HINOSHITA, Alice Mitiko Rocha.Ciência e Espiritualidade: uma análise antropológica das noções
de ciência presentes no Espiritismo Kardecista e na Apometria -In: Diálogos do Pet em maio de
2010
História geral da África, I: Metodologia e pré-história da África/editado por Joseph Ki-Zerbo – 2ª
ed. rev. – Brasília: UNESCO, 2010.
Histórias do movimento negro no Brasil: depoimentos ao CPDOC/org. Verena Alberti e Amilcar
Araujo Pereira – Rio de Janeiro: Pallas; CPDOC-FGV,2007.
Histórias do movimento negro no Brasil: depoimentos ao CPDOC/org. Verena Alberti e Amilcar
Araujo Pereira – Rio de Janeiro: Pallas; CPDOC-FGV,2007.
HOLANDA, Chico Buarque. Estorvo – São Paulo: Companhia das Letras, 1991.
HORKHEIMER, Max. Crítica de la rázon instrumental – [versión castellana de H.A. MURENA y D. J.
VOGELMAN] – 2ª edición – Buenos Aires: Editorial SUR, 1973.
INTERNACIONAL SITUACIONISTA. Da Miséria no Meio Estudantil considerada nos seus aspectos
econômicos, políticos, sexuais e especialmente intelectual e alguns meios para a prevenir. In: @s
enraivecid@s, Agosto, 2001.
JAMESON, Fredric. Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio - 2ª edição- São Paulo:
Ática, 2000.
JAPPE, Anselm. As aventuras da mercadoria; para uma nova crítica do valor – Tradução: José
Miranda Justo – Lisboa: Antígona, 2006
JAPPE, Anselm. Guy Debord – Tradução: Iraci D. Poleti e Carla da Silva Pereira – Lisboa: Antígona,
2008.
JUNIOR, Alberto.Jurema e Catimbó.Magia e conhecimento.pdf
JUNIOR, João-Francisco Duarte. O que é Realidade – 8ª edição. São Paulo: Brasiliense, 1991JUNIOR, Luiz Fernando Braga Lima. Caio Fernando Abreu: narrativa e homoerotismo – Belo
Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, 2006.
Juventudes homossexuais e sexualidades: comportamentos e práticas/Francisco Pedrosa e
Camila Castro [organizadores] – Fortaleza: GRAB, 2008.
KEHL, Maria Rita. O tempo e o cão: a atualidade das depressões – São Paulo: Boitempo, 2009.
KELLY, Henry Ansgar. Satã: uma biografia – [tradução de Renato Rezende] – São Paulo: Globo,
2008.
KENTON, Warren. Astrologia Cabalística: anatomia do destino – [tradução: Maio Miranda] – São
Paulo: Pensamento, s/d.
KOLAKOWSKI, Leszek. O diabo. In: Religião e Sociedade.Rio de Janeiro: Editora Campus,
1985.Nº12/2
KURZ, Robert. Razão Sangrenta.Ensaios sobre a crítica emancipatória da modernidade capitalista
e seus valores ocidentais – [tradução de Fernando R. De Moraes Barros ] - São Paulo: Hedra, 2010.
LAIN, Vanderlei Albino. Encontros para a Nova Consciência: uma experiência religiosa da cultura
pós-moderna? - Recife: o autor, 2007.
LARA, Eugênio.Racismo e Espiritismo- In: II Simpósio Brasileiro do Pensamento Espírita, de 1991
LELOUP, Jean-Yves.Terapeutas do Deserto: de Fílon de Alexandria e Francisco de Assis a Graf
Dürckheim – [tradução Pierre Weil] – Petropólis: Vozes, 1997.
LEMESURIER, Peter. Os Deuses e a Cura: A Magia dos Símbolos e a Prática da Teoterapia –
[Tradução: Claudia Gerpe Duarte] – 11ª ed. - São Paulo: Pensamento, 1997.
LIMA, Ivan. A fotografia e sua linguagem – 2ª edição – Rio de Janeiro: Espaço e Tempo, 1988.
LIPOVETSKY, Gilles, A sociedade da decepção / Gilles Lipovetsky; entrevista coordenada por
Bertrand Richard; [tradução Armando Braio Ara]. -- Barueri, SP: Manole, 2007.
LIPOVETSKY, Gilles. A era do vazio.pdf
LODY, Raul. Candomblé: Religião e resistência cultural – São Paulo: Ática, s\d
LODY, Raul.O povo do santo: Religião, história e cultura dos orixás, voduns, inquices e caboclos –
2ª edição –São Paulo: WMF Martins Fontes, 2006.
LOIOLA, Luis Palhano.Diversidade Sexual: Perspectivas Educacionais – Fortaleza: Edições UFC,
2006.LOPES, Nei. Logunedé - 2ª edição - Rio de Janeiro: Pallas, 2002.
LOPES, Nei. A presença africana na música popular brasileira.pdf
LOPES, Nei. Bantos, malês e identidade negra- Belo Horizonte:Autêntica Editora, 2008.
LOPES, Nei.História e cultura africana e afro-brasileira – São Paulo: Barsa Planeta, 2008.
LORETO, Nilton Azambuja de. Análise do diálogo inter-religioso entre novaeristas e cristãos na
internet: O diálogo como experiência religiosa da Pós-modernidade – [Manuscrito] Universidade
Federal de Juiz de Fora – Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião: Juiz de Fora, 2009.
LÜNING, Ângela. O mundo fantástico dos erês.pdf
LÜNING, Ângela. Pierre Fatumbi Verger e sua obra. In: AFRO-ÁSIA, 21,22(1998-1999).
LYOTARD, Jean-François. O Pós-moderno – 3ª edição – Rio de Janeiro: José Olímpio Editora, 1988.
MACEDO, Edir. Orixás, caboclos & guias: Deuses ou demônios? - Rio de Janeiro: Universal, 2000.
MACHADO, Arlindo. O diálogo entre cinema e vídeo.pdf
MACHADO, Arlindo. O vídeo e sua linguagem.pdf
MALAFAIA, Silas. Criação x Evolução: Quem está com a razão? - Rio de Janeiro: Central Gospel,
2005.
MARCUSE, Herbert. Eros e civilização: Uma Interpretação Filosófica do Pensamento de Freud – 5ª
edição – Rio de Janeiro: Zahar, s/d.
MARX, Karl. A ideologia alemã/Karl Marx e Friedrich Engels; [introdução Jacob Gorender];
tradução de Luís Cláudio de Castro e Costa – São Paulo: Martins Fontes, 1998.
MARX, Karl.ENGELS, Friedrich.O manifesto comunista – [tradução: Álvaro Pina] – São Paulo:
Boitempo Editorial, 2005.
MATOS, Matilde. A Bahia vista por Carybé(1911-1997). In: AFRO-ÁSIA, 29/30(2003).
MAURÍCIO, George. Como fazer você mesmo seu ebó - 4ª edição - Rio de Janeiro: Pallas, 2008.
MEDEIROS, Azize Maria Yared de. Peregrinos pós-modernos: A permanente busca do sagrado no
universo da Nova Era – [Manuscrito]Universidade Católica de Goiás – Departamento de Filosofia e
Teologia : Goiânia, 2007.
MENDONÇA, Fernando. A filosofia no cinema.pdf
MERCHIOR, José Guilherme. Verso Universo em Drummond. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1976.
Mitos, sonhos e religião: nas artes, na filosofia e na vida contemporânea / organizado por Joseph
Campbell; tradução de Angela Lobo de Andrade e Bali Lobo de Andrade. — Rio de Janeiro: Ediouro,
2001
MOISÉS, Massaud. História da literatura brasileira, v. 4: o simbolismo – São Paulo: Cultrix, 1984.
MOLINA, N. A. Trabalhos de quimbanda na força de um preto-velho – Rio de Janeiro: Editora
Espiritualista. s/d.
MORANT, Ronaldo. A câmera de vídeo.pdf
MORANT, Ronaldo. A História da televisão e do vídeo.pdf
MORIN, Violette et al. Cinema, estudos de semiótica – Tradução: Luiz Feliz – Petrópolis: Vozes,
1973.
MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de. Candomblé: Religião do Corpo e da Alma: tipos
psicológicos nas religiões afro-brasileiras - Rio de Janeiro: Pallas, 2000.
MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de. Culto aos orixás, voduns e ancestrais nas religiões afrobrasileiras - Rio de Janeiro: Pallas, 2004.
MOURA, Roberto. Tia Ciata e a Pequena África no Rio de Janeiro.pdf.
MUNANGA, Kabengele. Negritude: Usos e sentidos – 2ª edição – São Paulo: Ática, 1988.
MUNANGA, Kabengele. O negro no Brasil de hoje/Kabengele Munanga, Nilma Lino Gomes – São
Paulo: Global, 2006.
MUSSA, Alberto. Elegbara – Rio de Janeiro: Record, 2005.
MUSSA, Alberto. Meu destino é ser onça: Mito tupinambá restaurado – 2ª ed. - Rio de Janeiro:
Record, 2009.
MUSSA, Alberto. O enigma de Qaf – Rio de Janeiro: Record, 2004.
MUSSA, Alberto. O senhor do lado esquerdo – Rio de Janeiro: Record, 2011.
MUSSA, Alberto. O trono da rainha Jinga – Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
NASCIMENTO (ORG.), Elisa Larkin. A matriz africana no mundo - São Paulo: Selo Negro, 2008.
Negros no Ceará: história, memória e etnicidade/Cristina Rodrigues Holanda [ORGANIZADORA] –
Fortaleza: Museu do Ceará/Secult/Imopec, 2009.
NIETZSCHE, Friedrich. Além do Bem e do Mal: Prelúdio de uma Filosofia do Futuro – [tradução:
Antonio Carlos Braga] – São Paulo: Escala, s/d.
NIETZSCHE, Friedrich. Humano, demasiado humano – [Tradução: Antonio Carlos Braga] – 3ª
edição – São Paulo: Escala, s/d.
NIETZSCHE, Friedrich. O Anticristo: Maldição do Cristianismo – [tradução: Mario Fondelli] – Rio de
Janeiro: Fernando Chinaglia Distribuidora, 1996.
NIST, John. In the middle of the road. University of Arizona Press, 1965.
NJAMI, Simon. Moçambique:A chegada da fotografia e a sua aquisição pelos próprios africanos.
In: Imaginário – USP, Ano X, Nº10, 2004/2005
NOGUEIRA, Carlos Roberto F. O diabo no imaginário cristão – São Paulo: Ática, 1986.
NOGUEIRA, Renato Corrales. A noção de obrigatoriedade na relação entre homens e Orixás no
Candomblé.São Paulo:Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2009 (Dissertação de
Mestrado)
NOLL, João Gilberto. A Fúria do Corpo – Rio de Janeiro: Rocco, 1989.
NOLL, João Gilberto. Bandoleiros – Rio de Janeiro: Record, 2008.
NOLL, João Gilberto. Berkeley em Bellagio – São Paulo: Francis, 2003.
NOVELLO, Mário. O que é cosmologia?: A revolução do pensamento cosmológico – Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2006.
NUCCI, Priscila. Odisseu e o abismo: Roger Bastide, as religiões de origem africana e as relações
raciais no Brasil.pdf
O mal-estar no Pós-modernismo: teorias e práticas/organização de E. Ann Kaplan; tradução, Vera
Ribeiro – Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1993.
O mal-estar no pós-modernismo:teorias e práticas/organização de E. Ann Kaplan; tradução Vera
Ribeiro – Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1993.
OEHLER, Dolf. Quadros parisienses: A estética anti-burguesa (1830-1848) – São Paulo: Cia. das
Letras, 1997.
OLIVEIRA, Arilson S. Roger Bastide e a identidade nagocêntrica.pdf
OLIVEIRA, David Eduardo. Cosmovisão Africana no Brasil: elementos para uma filosofia
afrodescendente – Curitiba: Editora Gráfica Popular, 2006.
OLIVEIRA, Eloísa Elena Bárbara, AGUILERA, Vanderci de Andrade. Africanismo, Geolíngüística e
Lexicografia: Um estudo de convergências e divergências.pdf
OLIVEIRA, Hélio Alves de. O vazio e a vontade de sentido: uma análise da religiosidade pósmoderna – Belo Horizonte, 2010.
OLIVEIRA, Vicente Geraldo Amâncio Diniz. Cultura material, oralidade e simbologia: Existe uma
filosofia em África? - In:SCRIPTA, Belo Horizonte, v. 7, n. 13, p. 368-373, 2º sem. 2003
OLIVEIRA, Waldir Freitas. Brancos e Pretos em Angola.pdf
ONFRAY, Michel. Tratado de Ateologia:física da metafísica – São Paulo:WMF Martins Fontes.,
2007.
ORO, Ari Pedro. Axé Mercosul: As Religiões Afro-brasileiras nos Países do Prata – Petrópolis:
Vozes, 1999.
ORO, Ari Pedro. Axé Mercosul: As Religiões Afro-brasileiras nos Países do Prata – Petrópolis:
Vozes, 1999.
ORO, Ari Pedro. Religião e Mercado no Cone Sul: As Religiões Afro-brasileiras como negócio.pdf
PAPUS. Tratado de Ciências Ocultas(II) – [tradução: Luis Carlos Lisboa] – São Paulo: Editora Três,
1973.
PARES, Luis Nicolau. A Formação do Candomblé: História e Ritual da Nação Jeje na Bahia –
Campinas: Editora da UNICAMP, 2006.
PAULO, Jefter. Acarajé: Da cozinha sagrada à culinária laica. In: Revista África e Africanidades Ano I - n. 1 – Maio. 2008 - ISSN 1983-2354
PERRONE-MOISÉS, Leyla. Texto, crítica, escritura – 3ª edição – São Paulo: Martins Fontes,2006
PESSOA, Fernando. Obras em Prosa: em um volume – Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1990.
PIVA, Roberto. Estranhos sinais de Saturno, volume 3 – [organização Alcir Pécora] – São Paulo:
Globo, 2008.
PLATÃO. A República. Ri o de Janeiro, Ediouro. s/d.
POLLAK-ELTZ, Angelina. Donde Provem os Negros da Amércia do Sul?.pdf
PONDÉ, Luís Felipe. Do pensamento no deserto: Ensaios de Filosofia, Teologia e Literatura – São
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2009.
PONTE, Sebastião Rogério. Fortaleza belle èpoque: reformas urbanas e controle social (1860 –
1930) – Fortaleza: Fundação Demócrito Rocha: Multigraf, 1993.
PORDEUS JR., Ismael. A magia do trabalho: Macumba cearense e festas de Possessão – Fortaleza:
Secretaria da Cultura e Desporto do Estado do Ceará, 1993.
PORDEUS JR., Ismael. Umbanda: Ceará em transe - Fortaleza: Museu do Ceará, 2002.
PRADO, Marco Aurélio Máximo, MACHADO, Frederico Viana. Preconceito contra
homossexualidades: a hierarquia da invisibilidade - São Paulo: Cortez, 2008.
PRANDI, Reginaldo. As Religiões e a Cultura: Dinâmica religiosa na América Latina. In:
Conferência inaugural das XIV Jornadas sobre Alternativas Religiosas na América Latina. Buenos
Aires, 25 a 28 de Setembro de 2007.
PRANDI, Reginaldo. Mitologia dos Orixás - São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
PRANDI, Reginaldo. Os candomblés de São Paulo: a velha magia na metrópole nova – São Paulo:
HUCITEC : Editora da Universidade de São Paulo, 1991.
PRANDI, Reginaldo. Os príncipes do destino: histórias da mitologia afro-brasileira-2ª edição - São
Paulo:Cosacnaify, 2005.
PRANDI, Reginaldo. Segredos guardados: orixás na alma brasileira – São Paulo: Companhia das
Letras, 2005.
PROENÇA, Graça. Historia da Arte.pdf
QUEIROZ, José J. et al Pós-Modernidade, Linguagem e Religião. Uma Contribuição para a
Caracterização das Identidades Religiosas no Panorama Histórico Contemporâneo In: Revista
Brasileira de História das Religiões – Ano I, no. 1 – Dossiê Identidades Religiosas e História.
RAMATIS[Espírito], . Jardim dos Orixás, Livro 2/Ramatis: obra mediúnica psicografada pelo
médium Noberto Peixoto – 1ª ed. - Limeira: Editora do Conhecimento, 2004.
READ, Herbert.A arte de agora agora: uma introdução a teoria da pintura e escultura modernas –
2ª edição – São Paulo: Perspectiva, 1991.
REALE, Giovanni. História da Filosofia: Antiguidade e Idade Média/Giovanni Reale, Dario Antiseri;
- São Paulo: Paulinas, 1990.
Representação e complexidade / Candido Mendes (org.); Enrique Larreta (ed.). – Rio de Janeiro:
Garamond, 2003.
RIBEIRO, José. Catimbó: magia do Nordeste – Rio de Janeiro: Pallas, 1992
RIBEIRO, Ronilda Iyakemi. Alma Africana no Brasil: Os iorubás – São Paulo: Editora Oduduwa,
1996.
RIO, João do. As Religiões do Rio.- Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1976
RODRIGUÉ, Maria das Graças de Santana. Orí, Na Tradição dos Orixás: Um Estudo nos Rituais do
Ilé Àsé Òpó Afonjá.São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2009 (Tese de
Doutorado)
ROHDE, Bruno Faria.Umbanda, uma Religião que não Nasceu: Breves Considerações sobre uma
Tendência Dominante na Interpretação do Universo Umbandista- In: REVER – Revista de Estudos
da Religião – Março/2009/pp.77-96
SÁ-CARNEIRO, Mário de. Poesias de Mário de Sá-Carneiro. Lisboa:Ática,1946.
SÁ-CARNEIRO, Mário de. A Confissão de Lúcio. Rio de Janeiro:Ediouro, 1991.
SALES, Nívio Ramos. Búzios: a fala dos orixás: caídas, significados, leituras - 2ª edição - Rio de
Janeiro: Pallas, 2007.
SAMUEL, Rogel. Novo Manual de Teoria Literária – 2ª edição – Petrópolis: Vozes, 2002.
SANCHEZ. Sara M. Afro-cuban diasporan religions: A comparative analysis of the literature and
selected annotated bibliography.pdf
SANDRONI, Carlos.Transformações do Samba Carioca no Seculo XX.pdf .
SANTOS, Jair Ferreira dos. O que e pós-moderno – 22ª reimpressão – São Paulo: Brasiliense, 2004.
SANTOS, Jeová Rodrigues dos. Perspectivas de plausibilidade da religião na pós-modernidade
aplicadas à realidade brasileira In: Ciberteologia – Revista de Teologia e Cultura – Ano III, n. 21.
SANTOS, Joel Rufino dos. O que é racismo – São Paulo: Abril Cultural: Brasiliense, 1984.
SANTOS, Luiz A. Rebouças dos. Ioga Hoje – Porto Alegre: FEEU, 1992.
SANTOS, Milton Silva dos. PORDEUS JR., Ismael de A. Portugal em transe. Transnacionalização das
religiões afro-brasileiras: conversão e performance. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais,
2009.168p. In: Varia Historia, Belo Horizonte, vol.27, nº 46: p.757-760, jul/dez 2011
SARACENI, Rubens. As Sete Linhas de Umbanda: A Religião dos Mistérios – São Paulo: Madras,
2003.
SENNA, Ronaldo, TITA, Maria José de Souza. A Remissão de Lúcifer: O Resgate e a ressignificação
em diferentes contextos afro-brasileiros – Feira de Santana, Editora UEFS, 2002.
SERRA, Ordep. Águas do rei - Petrópolis: Vozes: Rio de Janeiro: Koinonia, 1995.
SILVA, Alberto da Costa. A enxada e a lança: A África antes dos portugueses.pdf
SILVA, Jacimar.Todos os segredos de Xangô – Rio de Janeiro: Ediouro, 1988.
SILVA, Jandson Ferreira da. “Quem é filha de Gérson não deve temer a ninguém!” [manuscrito] –
Trajetória de uma mãe-de-santo na Umbanda – 2009.
SILVA, José Maria da.Proximidades Teológicas à Pós-Modernidade em Hans Küng e Andrés Torres
Queiruga. In: REVER – Revista de Estudos da Religião Nº 2/2006/pp. 43-70
SODRÉ, Muniz. O terreiro e a cidade: a forma social negro-brasileira – Rio de Janeiro: Imago Ed.;
Salvador, BA: Fundação Cultural do Estado da Bahia, 2002.
SOLOMON, Robert C. Espiritualidade para céticos:paixão, verdade cósmica e racionalidade no
século XXI – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
SOUCHAL, Genevieve, CARLI, Enzo, GUDIOL, Jose. Gothic Painting – New York: The Viking Press,
1965.
SOUSA, Antonio Vilamarque Carnaúba de. Afro-cearenses em construção: discursos identitários
sobre o negro no Ceará - Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2008.
SOUTO, Lucineide.FILHO, José Capelo. Fortaleza 13 de Abril de 1726 – In: Prefeitura Municipal de
Fortaleza/Fundação de Cultura, Esporte e Turismo.
SOUZA, Marina de Mello. A África tem história?pdf
SOUZA, Marina de Mello. África e Brasil africano - São Paulo: Ática, 2008.
STRICKLAND, Carol. A Arte Comentada: da Pre-historia ao Pos-moderno.pdf
Superando o Racismo na escola.2ª ed. revisada/Kabengele Munanga, organizador – [Brasília]:
Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005.
TAVARES, Ildário. Xangô - 2ª edição - Rio de Janeiro: Pallas, 2002.
TEIXEIRA, João Marques. Depressão e Pós-modernidade. In: VOLUME VII Nº2 MARÇO/ABRIL 2005
THOTH: Escriba dos deuses. Pensamento dos povos africanos e afrodescendentes. - Nº 01
janeiro/abril 1997 - Secretaria Especial de Editora e Publicações.
TREVISAN, João Silvério. A arte de transgredir (uma introdução a Roberto Piva) In:
www.revista.agulha.nom.br
TREVISAN, João Silvério. Devassos no paraíso: (a homossexualidade no Brasil, da colônia à
atualidade) – Ed. revisada e ampliada – 6ª ed. - Rio de Janeiro: Record, 2004.
TREVISAN, João Silvério. Seis balas num buraco só (a crise do masculino) – Rio de Janeiro: Record,
1998.
TSHIBANGU, Tshishiku. Religião e evolução social. In: História geral da África, VIII: África desde
1935 / editado por Ali A. Mazrui e Christophe Wondji. - Brasília: UNESCO, 2010.
VANEIGEM, Raoul. A Arte de Viver para as Novas Gerações – [tradução: Leo Vinícius] – São Paulo:
Conrad Editora do Brasil, 2002.
VEIGA, Ericivaldo. A essência do sabor brasileiro: segredos da Bahia.pdf
VERGER, Pierre Fatumbi. As múltiplas atividades de Roger Bastide na África.pdf
VERGER, Pierre Fatumbi. Os orixás.pdf
WICKENBURG, Joanne. Um guia do mapa astral – [tradução: Aníbal Mari]- 10ª ed. - São Paulo:
Pensamento, 1995.
WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual – Petrópolis:
Vozes, s/d.
WUENSCHE, Carlos Alexandre. Dossiê Astronomia versus Astrologia- In: Revista Ciência Hoje –
v.43, Nº. 256, 2009
XAVIER, Ismail. O cinema brasileiro moderno – São Paulo: Paz e Terra, 2001.
ZOLRAK. Tarô sagrado dos orixás – 7ª edição – São Paulo: 2008
VELOSO, Caetano. Verdade Tropical – São Paulo: Companhia das Letras, 1997
Zumbi somos nós: Cartografia do racismo para o jovem urbano In: Disponível em:
http://www.frente3defevereiro.com.br
Download