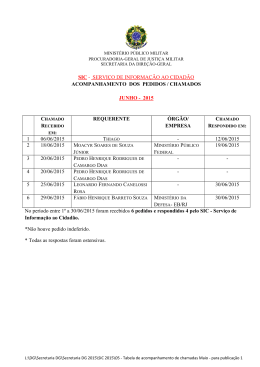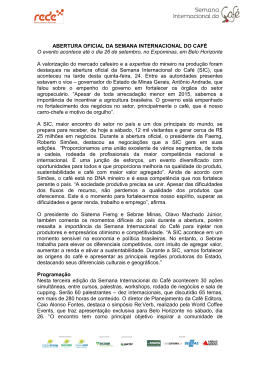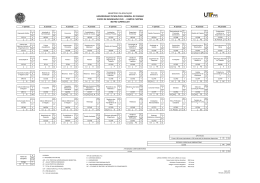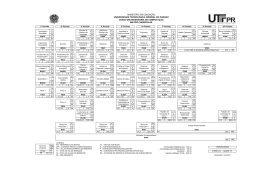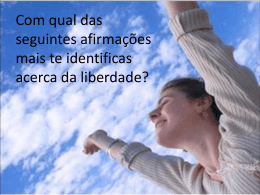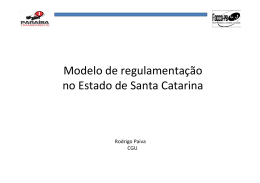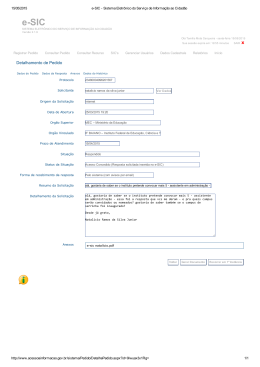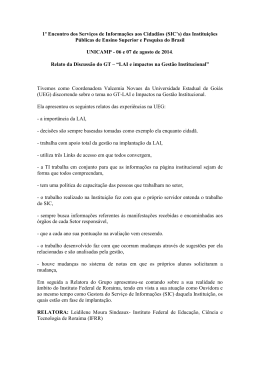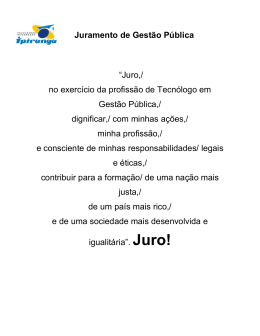DANIEL PENNAC MÁGOAS DA ESCOLA Tradução de Isabel St. Aubyn P I A lixeira de Djibuti Estatisticamente tudo se explica, pessoalmente tudo se complica. 1 Comecemos pelo epílogo: a minha mãe, quase centenária, vendo um filme sobre um autor que ela conhece bem. O autor está em casa, em Paris, rodeado dos seus livros, na biblioteca que lhe serve igualmente de escritório. A janela abre para o pátio de uma escola. Algazarra de recreio. Fica-se a saber que, durante um quarto de século, o autor exerceu o ofício de professor e que, se escolheu aquele apartamento voltado para dois pátios de recreio, foi ao jeito de um ferroviário que vive, após reformar-se, por cima de uma estação de comboios de mercadorias. Depois vê-se o autor em Espanha, em Itália, conversando com os tradutores das suas obras, gracejando com amigos venezianos, e no planalto do Vercors, caminhando, solitário, pela bruma das altitudes, falando sobre a sua arte, a língua, o estilo, a estrutura romanesca, as personagens... Novo escritório, desta vez aberto sobre o esplendor alpino. Estas cenas são entrecortadas por entrevistas com artistas que o autor admira, e que falam eles próprios do seu trabalho: o cineasta e romancista Dai Sijie, o desenhador Sempé, o cantor Thomas Fersen, o pintor Jürg Kreienbühl. Regresso a Paris: o autor em frente do computador, desta vez rodeado de dicionários. É uma paixão, afirma. Fica-se a saber, de resto, e é assim que o filme termina, que o autor entrou para o dicionário, Le Robert, na letra P, sob o nome de Pennac, que tem origem seu apelido completo Pennacchioni, nome próprio Daniel. 13 A minha mãe, portanto, vê o filme, na companhia do meu irmão Bernard, que o gravou para ela. Vê-o do princípio ao fim, muito quieta na poltrona, de olhar fixo, sem dizer uma palavra, ao cair da noite. Fim do filme. Genérico. Silêncio. Depois, voltando-se lentamente para Bernard, a minha mãe pergunta: – Acreditas que ele vai safar-se, um dia? 14 2 A verdade é que fui um mau aluno e que a minha mãe nunca se refez completamente desse desgosto. Hoje que a sua consciência de senhora muito idosa abandona os limites do presente e reflui lentamente para os longínquos arquipélagos da memória, os primeiros recifes que emergem recordam-lhe a inquietação que a devorou durante toda a minha escolaridade. Pousa em mim um olhar inquieto e, lentamente: – Que fazes na vida? O meu futuro afigurou-se-lhe tão comprometido desde sempre que nunca acreditou muito no meu presente. Não estando destinado a ter futuro, eu não lhe parecia preparado para durar. Eu era o filho instável. Porém, sabia que eu era independente desde o mês de Setembro de 1969, quando entrei na primeira sala de aula na qualidade de professor. Mas durante as décadas que se seguiram (isto é, durante a minha vida de adulto), a sua inquietação resistiu secretamente a todas as «provas de sucesso» de que a informavam os meus telefonemas, as minhas cartas, as minhas visitas, a publicação dos meus livros, os artigos de jornais ou as minhas passagens pelos programas de Bernard Pivot. Nem a estabilidade da minha vida profissional, nem o reconhecimento do meu trabalho literário, nada do que ouvira dizer de mim através de terceiros ou que pudera ler na imprensa a tranquilizavam completamente. É verdade que 15 se congratulava com os meus sucessos, comentava-os com os amigos, aceitava que o meu pai, falecido antes, se teria sentido feliz, mas, no fundo do seu coração, permanecia a ansiedade que o mau aluno dos primeiros tempos suscitara para sempre. Era assim que se exprimia o seu amor de mãe; quando eu a arreliava quanto às delícias da inquietação maternal, ela respondia alegremente com um gracejo à Woody Allen: – Que queres, nem todas as judias são mães, mas todas as mães são judias. E, hoje que a minha velha mãe judia já não está totalmente no presente, é de novo esta mesma inquietação que os seus olhos exprimem quando pousam no filho mais novo, de sessenta anos. Uma inquietação que talvez tenha perdido intensidade, uma ansiedade fóssil, que não é mais do que um hábito de si mesma, mas que permanece suficientemente viva para que a minha mãe me pergunte, pousando a sua mão na minha, no momento em que me despeço dela: – Tens um apartamento em Paris? 16 3 Eu era, portanto, um mau aluno. Na minha infância, chegava todos os dias a casa perseguido pela escola. As minhas cadernetas reflectiam a censura dos professores. Quando não era o pior da turma, era o penúltimo. (Bravo!) Impenetrável à aritmética primeiro, à matemática em seguida, profundamente disortográfico, refractário à memorização das datas e à localização dos pontos geográficos, inapto para a aprendizagem de línguas estrangeiras, considerado preguiçoso (lições não estudadas, deveres por fazer), levava para casa notas lamentáveis que nem a música, uma qualquer actividade desportiva ou extracurricular, de resto, conseguia remediar. – Compreendes? És ao menos capaz de compreender o que te explico? Eu não compreendia. Esta incapacidade de compreender remontava tão longe na minha infância que os meus familiares criaram uma lenda para datar a sua origem: a aprendizagem do alfabeto. Sempre ouvi dizer que precisei de um ano inteiro para aprender a letra a. A letra a, num ano. O deserto da minha ignorância começava antes do intransponível b. – Não entremos em pânico, daqui a vinte e seis anos ele dominará perfeitamente o alfabeto. Assim ironizava o meu pai para afugentar os seus próprios receios. Muitos anos mais tarde, repetindo o último ano do ensino 17 NCFI-CE-02 secundário em perseguição de um baccalauréat1 que fugia obstinadamente de mim, o meu pai disse-me: – Não te preocupes, mesmo para fazer o bac há automatismos que se adquirem… Ou, em Setembro de 1968, já na posse de uma licenciatura em Letras: – Precisaste de uma revolução para a licenciatura, devemos recear uma guerra mundial para a agregação? Tudo isto dito sem nenhuma animosidade particular. Era a nossa forma de conivência. Eu e o meu pai optámos muito cedo pela via do sorriso. Mas voltemos ao princípio. O mais novo de quatro irmãos, eu era um caso especial. Os meus pais não tinham tido tempo de se treinar com os mais velhos, cuja escolaridade, sem ser excepcionalmente brilhante, decorrera sem problemas. Eu era um objecto de estupefacção, e de estupefacção constante, pois os anos iam passando sem contribuir com a mínima melhoria para o meu estado de torpor escolar. «Fico de boca aberta», «Nem posso acreditar» são expressões familiares, associadas a olhares de adultos nos quais vejo que a minha incapacidade de assimilar o que quer que seja escava um abismo de incredulidade. Aparentemente, toda a gente compreendia mais depressa do que eu. – És totalmente tapado! Numa tarde do ano do bac (um dos anos do bac), enquanto o meu pai me dava uma aula de trigonometria na divisão que nos servia de biblioteca, o nosso cão deitou-se discretamente no divã, atrás de nós. Descoberto, foi de imediato expulso: – Sai daí, cão, vai para a tua cadeira! Passados cinco minutos, o cão estava de novo em cima do divã. Limitara-se a ir buscar a velha manta que protegia a cadeira 1 Diploma obtido no final do Ensino Secundário e que permite o ingresso no Ensino Superior. (N. do E.) 18 na qual se enroscava e a deitar-se em cima dela. Admiração geral, evidentemente, e justificada: que um animal pudesse associar uma interdição a uma ideia abstracta de higiene e daí tirar a conclusão que se impunha para desfrutar da companhia dos donos, bravo, com certeza, era um autêntico raciocínio! Foi um tema de conversa familiar que atravessou os tempos. Pessoalmente, concluí que mesmo o cão lá de casa compreendia mais depressa do que eu. Creio mesmo que lhe segredei ao ouvido: – Amanhã és tu que vais para a escola, lambe-cús. 19 4 Dois cavalheiros de uma certa idade passeiam nas margens do Loup, o rio da sua infância. Dois irmãos. Eu e o meu irmão Bernard. Meio século antes, mergulhavam naquela transparência. Nadavam no meio das fataças que não se assustavam com o alvoroço provocado. A familiaridade dos peixes sugeria que aquela felicidade duraria para sempre. O rio corria por entre falésias. Quando os dois irmãos o seguiam até ao mar, ora arrastados pela corrente ora saltitando sobre os rochedos, acontecia-lhes perderem-se de vista. Para voltarem a encontrar-se, tinham aprendido a soltar um assobio, levando os dedos à boca. Longas estridulações que se repercutiam contra as paredes rochosas. Hoje o nível das águas baixou, os peixes desapareceram, uma espuma viscosa e estagnada marca a vitória do detergente sobre a natureza. Da nossa infância, restam o canto das cigarras e o calor resinoso do sol. Além disso, continuamos a saber assobiar levando os dedos à boca; nunca nos perdemos. Anuncio a Bernard que tenciono escrever um livro tendo como tema a escola; não a escola que muda na sociedade que muda, como mudou este rio, mas, no cerne desta incessante agitação, sobre o que não muda, justamente, sobre uma permanência sobre a qual nunca ouço falar: a dor partilhada entre o cábula, os pais e os professores, a interacção entre estas mágoas da escola. 20 – Vasto programa… E como vais abordá-lo? – Interrogando-te, por exemplo. Que recordações guardas da minha própria nulidade, digamos… em matemática? O meu irmão Bernard era o único membro da família que podia ajudar-me no trabalho escolar sem que eu me fechasse como uma ostra. Partilhámos o mesmo quarto até à minha entrada para o sétimo ano, quando me internaram num colégio. – Em matemática? Começou com a aritmética, sabes! Um dia, perguntei-te o que fazer com uma fracção que tinhas à frente dos olhos. Respondeste-me automaticamente: «É preciso reduzi-la ao denominador comum.» Só havia uma fracção, portanto um único denominador, mas tu não desistias: «É preciso reduzi-la ao denominador comum!» Perante a minha obstinação: «Raciocina um pouco, Daniel, só tens uma fracção, portanto um único denominador», resolveste amuar: «Foi o profe que disse; é preciso reduzir as fracções a um denominador comum!» E os dois cavalheiros sorriram, ao longo do passeio. Tudo isto já ficou muito para trás. Um deles foi professor durante vinte e cinco anos: dois mil e quinhentos alunos, mais ou menos, alguns dos quais com «grandes dificuldades», segundo a expressão consagrada. E ambos são pais de família. «O profe disse que…», sabem como é. A esperança depositada pelo cábula na litania, sim… As palavras do professor são toros flutuantes aos quais o mau aluno se agarra num rio cuja corrente o arrasta para as grandes quedas. Repete o que o profe disse. Não para encontrar algum sentido, não para que a regra tome forma; mas sim para resolver o assunto, momentaneamente, para que «me deixem em paz». Ou para que gostem de mim. Custe o que custar. –… – Mais um livro sobre a escola, então? Não te parece que já há muitos? – Não é sobre a escola! Toda a gente se preocupa com a escola, eterna querela entre os antigos e os modernos: os programas, o seu papel social, as suas finalidades, a escola de ontem, a de amanhã… 21 Não, um livro sobre os cábulas! Sobre a dor de não compreender, e os seus danos colaterais. –… – Sofreste assim tanto? –… –… – Podes dizer-me mais alguma coisa sobre o cábula que eu fui? – Queixavas-te de falta de memória. As explicações que eu te dava à tarde evaporavam-se durante a noite. No dia seguinte de manhã tinhas esquecido tudo. De facto. Eu não decorava, como hoje dizem os jovens. Não compreendia nem decorava. As palavras mais simples perdiam substância logo que me pediam que as encarasse como objecto de conhecimento. Se tivesse de aprender uma lição sobre o maciço do Jura, por exemplo (mais do que um exemplo é, na verdade, uma recordação muito precisa), esta pequena palavra decompunha-se imediatamente até perder qualquer relação com o Franco-Condado, o Ain, a relojoaria, as vinhas, os cachimbos, a altitude, as vacas, os rigores do Inverno, a fronteira com a Suíça, o maciço alpino ou a simples montanha. Não representava mais nada. Jura, dizia para comigo, Jura? Jura… E repetia a palavra, incansavelmente, como uma criança que nunca mais acaba de mastigar, mastigar sem engolir, repetir sem assimilar, até à total decomposição do gosto e do sentido, mastigar, repetir, Jura, Jura, jura, juro, juras, jura, jurojurasjura, até a palavra se tornar uma massa sonora indefinida, sem o mais leve resquício de sentido, um ruído pastoso de ébrio num cérebro esponjoso… É assim que se adormece sobre uma lição de Geografia. – Afirmavas que detestavas as maiúsculas. Ah! Terríveis sentinelas, as maiúsculas! Parecia-me que se introduziam entre mim e os nomes próprios para me impedirem de me aproximar. Toda a palavra iniciada por uma maiúscula estava condenada ao esquecimento instantâneo: cidades, rios, batalhas, heróis, tratados, poetas, galáxias, teoremas, interdição de memória em virtude de maiúscula aterradora. Alto lá, exclamava a 22 primeira letra, não se entra pela porta deste nome, é demasiado próprio, não és digno dele, és um cretino! Precisão de Bernard, ao longo da caminhada: – Um cretino minúsculo! Riso dos dois irmãos. – E mais tarde, a mesma atitude em relação às línguas estrangeiras: não conseguia abstrair-me da ideia de que elas exprimiam coisas demasiado inteligentes para mim. – O que te dispensava de aprender as listas de vocabulário. – As palavras inglesas eram tão voláteis quanto os nomes próprios… –… –… – Em suma, inventavas histórias. Sim, é próprio dos cábulas, repetem à exaustão a história da sua cabulice: sou um zero, nunca conseguirei, nem vale a pena tentar, estou antecipadamente tramado, eu bem vos dizia, a escola não foi feita para mim… A escola afigura-se-lhes um clube muito fechado no qual se recusam a entrar. Com a ajuda de alguns professores, às vezes. –… –… Dois cavalheiros de uma certa idade passeiam ao longo de um rio. No final do passeio, alcançam um charco rodeado de canas e seixos. Bertrand pergunta: – Continuas a ser especialista em ricochetes? 23 5 Como é evidente, impõe-se conhecer a causa original. De onde vinha a minha cabulice? Filho da burguesia de Estado, oriundo de uma família afável, sem conflitos, rodeado de adultos responsáveis que me ajudavam a fazer os deveres… Pai formado na Escola Politécnica, mãe em casa, nem divórcios, nem alcoólicos, nem inadaptados, nem taras hereditárias, três irmãos já com o bac feito (com vocação para a matemática, em breve dois engenheiros e um oficial), ritmo familiar normal, alimentação saudável, biblioteca em casa, ambiente cultural adequado ao meio e à época (pai e mãe nascidos antes de 1914): pintura até aos impressionistas, poesia até Mallarmé, música até Debussy, romances russos, o inevitável período Teilhard de Chardin, Joyce e Cioran por ousadia… Conversas à mesa calmas, divertidas e cultas. E todavia, um cábula. Nenhuma explicação a tirar da história familiar. Trata-se de uma progressão social em três gerações graças à escola laica, gratuita e obrigatória, ascensão republicana em suma, vitória à maneira de Jules Ferry… Um outro Jules, o tio do meu pai, o Tio, Jules Pennacchioni, levou ao exame da quarta classe as crianças de Guargualé e de Pila-Canale, as aldeias corsas da família; devemos-lhe gerações de professores, de carteiros, de gendarmes, e outros funcionários da França colonial ou metropolitana… (porventura 24 também alguns bandidos, mas pelo menos fez deles leitores). O Tio, segundo dizem, obrigava a fazer ditados e exercícios de cálculo a toda a gente e em quaisquer circunstâncias; consta ainda que chegava a raptar as crianças que os pais obrigavam a faltar à escola durante a colheita das castanhas. Ia buscá-las ao campo, levava-as para casa e prevenia o pai esclavagista: – Devolver-te-ei o rapaz quando fizer o exame da quarta classe! Se é uma lenda, gosto dela. Não creio que o ofício de professor possa ser concebido de outra maneira. Todo o mal que se diz da escola esquece o número de crianças que salvou das taras, dos preconceitos, do desprezo, da ignorância, da estupidez, da cupidez, do imobilismo ou fatalismo das famílias. O Tio era assim. Porém, passadas três gerações, eu, o cábula! Que vergonha para o Tio, se tivesse sabido… Por sorte, morreu antes de me ver nascer. Não só os meus antecedentes me interditavam toda a cabulice como, enquanto último representante de uma linhagem cada vez mais diplomada, estava socialmente programado para me tornar o orgulho da família: da Escola Politécnica ou da Escola Normal, da Escola Nacional de Administração, evidentemente, o Tribunal de Contas, um ministério, vá-se lá saber… Não se podia esperar menos. E também, um casamento produtivo e o nascimento de criancinhas destinadas desde o berço ao Liceu Louis-le-Grand e propulsadas para o trono do Eliseu ou para a direcção de um consórcio mundial de cosmética. A rotina do darwinismo social, a reprodução das elites… Pois bem, não, um cábula. Um cábula sem fundamento histórico, sem razão sociológica, sem falta de amor: um cábula em si mesmo. Um cábula-padrão. Uma unidade de medida. Porquê? A resposta jaz porventura no gabinete dos psicólogos, mas ainda não tinha chegado o tempo do psicólogo escolar considerado como substituto da família. Cada um agia com os meios ao seu alcance. 25 Bernard, por seu lado, propunha uma explicação: – Aos seis anos, caíste na lixeira municipal de Djibuti. – Aos seis anos? O ano do a? – Sim. Era uma lixeira a céu aberto, na verdade. Caíste do cimo de um muro. Não me recordo de quanto tempo ficaste ali a macerar. Tinhas desaparecido, procuravam-te por toda a parte, e tu debatias-te ali dentro, debaixo de um sol que devia rondar os sessenta graus. Prefiro não imaginar ao que se assemelharia. Vendo bem, a imagem da lixeira adapta-se perfeitamente ao sentimento de detrito que o aluno perdido experimenta em relação à escola. De resto, «caixote do lixo» é um termo que ouvi proferir muitas vezes para qualificar as escolas privadas que aceitam sem contrato (a que preço?) acolher o refugo da escola. Estive numa destas escolas do sétimo até ao décimo primeiro, como aluno interno. E entre todos os professores a que tive de me submeter, houve quatro que me salvaram. – Quando te retiraram do monte de lixo, diagnosticaram-te uma septicemia; durante meses, deram-te injecções de penicilina. Custava-te imenso, morrias de medo. Sempre que o enfermeiro aparecia, passávamos horas a procurar-te pela casa toda. Um dia escondeste-te num armário que caiu em cima de ti. Medo da injecção, eis uma metáfora elucidativa: toda a minha escolaridade a fugir dos professores considerados Diafoirus2 armados de seringas gigantescas e encarregados de inocular em mim aquela queimadura espessa, a penicilina dos anos cinquenta – da qual me lembro muito bem –, uma espécie de chumbo derretido que injectavam num corpo de criança. Em todo o caso, sim, o medo foi sem dúvida a grande questão da minha escolaridade; o seu ferrolho. E a urgência do professor que vim a ser consistiu em apaziguar o medo dos meus piores alunos para fazer saltar o ferrolho, para conferir ao saber uma oportunidade de entrar. 2 Diafoirus – Médico arreigado a convicções rígidas e pouco preocupado com a saúde dos doentes, personagem da peça Doença de Cisma (Le malade imaginaire), de Molière, século XVII. (N. da T.) 26 6 Tenho um sonho. Não um sonho infantil, um sonho actual, enquanto escrevo este livro. Precisamente depois do capítulo anterior, para dizer a verdade. Estou sentado, de pijama, na berma da minha cama. Grandes algarismos de plástico, como aqueles com que brincam as crianças muito pequenas, estão espalhados pelo tapete, à minha frente. Tenho de «ordenar aqueles algarismos». É o enunciado. A operação parece-me fácil, estou feliz. Debruço-me e estendo os braços para os algarismos. Apercebo-me de que as minhas mãos desapareceram. Não há mãos dentro do pijama. As minhas mangas estão vazias. Não é o desaparecimento das mãos que me aterroriza, é não poder alcançar os algarismos para os ordenar. O que seria capaz de fazer. 27 7 Todavia, exteriormente, eu era uma criança vivaz e brincalhona, sem ser agitada. Hábil no jogo do berlinde e das pedrinhas, imbatível no jogo do mata, campeão mundial da luta de almofadas, eu gostava de brincar. Essencialmente falador e brincalhão, mesmo farsante, criava amizades com todos os colegas de turma, cábulas alguns, sem dúvida, mas também marrões – eu não tinha preconceitos. Alguns professores criticavam-me acima de tudo esta alegria. Aliava a insolência à nulidade. O mínimo que um cábula podia fazer era ser discreto: nado-morto seria o ideal. Simplesmente, a minha vitalidade era-me vital, se assim se pode dizer. A brincadeira furtava-me à tristeza que me invadia logo que sucumbia à minha humilhação solitária. Meu Deus, a solidão do cábula humilhado por nunca conseguir fazer o que deve! E a vontade de fugir… Senti muito cedo a vontade de fugir. Para onde? Deveras confuso. Fugir de mim mesmo, digamos, e contudo sem deixar de ser eu próprio. Mas um eu que os outros aceitassem. É sem dúvida a esta vontade de fugir que devo a estranha escrita que precedeu a minha escrita. Em vez de alinhar as letras do alfabeto, desenhava pequenos bonecos que fugiam para a margem da folha de papel, onde formavam um bando. Aplicava-me, pois, de início, contornava as letras o melhor que podia, mas elas, aos poucos, metamorfoseavam-se sozinhas 28 naqueles pequenos seres, saltitantes e alegres que iam divertir-se algures, ideogramas da minha necessidade de viver: Ainda hoje utilizo estes bonecos nas minhas dedicatórias. São-me preciosos para aligeirar a elegante trivialidade que somos levados a escrever na página de rosto dos exemplares para a imprensa. Permaneço fiel ao bando da minha infância. 29 8 Adolescente, sonhei com um bando mais real. Ainda não chegara o tempo, não era próprio do meu meio, o ambiente em que vivia não me proporcionava essa possibilidade, mas ainda hoje, afirmo-o sem rodeios, se tivesse surgido uma ocasião de pertencer a um bando, tê-lo-ia feito. E com que alegria! Os meus companheiros de folguedos não me satisfaziam. Para eles, eu só existia durante os recreios; na sala de aula, sentia-me comprometedor. Ah! Diluir-me num bando em que a escolaridade não contasse para nada, que sonho! Em que reside o atractivo de um bando? Na dissolução com a sensação de afirmação. Que bela ilusão de identidade! Tudo para esquecer o sentimento de estranheza absoluta no universo escolar, e fugir aos olhares desdenhosos de um adulto. Tão convergentes, esses olhares! Opor um sentimento de comunidade a esta perpétua solidão, um algures a este aqui, um território a esta prisão. Abandonar a ilha do cábula a todo o custo, mesmo que fosse num barco de piratas onde reinasse unicamente a lei do punho e que conduzisse, no melhor dos casos, à prisão. Sentia-os tão mais fortes do que eu, os outros, os professores, os adultos, e de uma força muitíssimo mais esmagadora do que o punho, tão aceite, tão legal, que me acontecia experimentar um sentimento de vingança próximo da obsessão. (Quatro décadas mais tarde, quando a expressão «sentir ódio» surgiu na boca de alguns adolescentes, 30 não me surpreendi. Multiplicada por uma quantidade de novos factores, sociológicos, culturais, económicos, continuava a exprimir a necessidade de vingança que me fora tão familiar.) Por sorte, os meus companheiros de folguedos não eram dos que formam bandos, e eu não era originário de nenhum bairro dos subúrbios. Formei, pois, um bando de jovens sozinho, como diz a canção de Renaud, um bando bem modesto, no qual representava em solitário represálias a tender para o sub-reptício. As línguas de vaca, por exemplo (uma centena), retiradas durante a noite da dispensa da cantina que espetei na porta de um ecónomo porque no-las servia duas vezes por semana e nos obrigava a comê-las no dia seguinte se não coméssemos tudo. Ou o arenque fumado atado ao tubo de escape do automóvel novo de um professor de inglês (era um Ariane, recordo-me, com a face lateral dos pneus pintada de branco como os sapatos de um chulo…), que começou inexplicavelmente a cheirar a peixe queimado ao ponto de, nos primeiros dias, o seu proprietário entrar na sala de aula empestado de cheiro a peixe. Ou ainda a trintena de galinhas, roubadas das quintas mais próximas do meu colégio interno na montanha, que povoaram o quarto do chefe dos vigilantes durante todo o fim-de-semana em que eu tinha ficado de castigo. Que magnífico galinheiro se tornou aquele quarto em apenas três dias: excrementos e penas coladas, com palha para parecer mais verídico, ovos partidos um pouco por todo o lado, e o milho generosamente distribuído por todo o lado! Sem falar do cheiro! Ah, que grande alegria quando o vigilante, abrindo inocentemente a porta do quarto, libertou para os corredores as prisioneiras aterradas que todos nos pusemos a perseguir! Foi uma parvoíce, claro, uma tolice, uma maldade repreensível e imperdoável… E ineficaz, ainda por cima: o género de sevícias que não melhora o carácter do corpo docente… Morrerei, contudo, sem me arrepender das galinhas, do arenque e das pobres línguas de vaca. Formavam juntamente com os bonecos saltitantes, parte do meu bando. 31 9 Uma constante pedagógica: salvo raras excepções, o desordeiro dissimulado (ou o zaragateiro, é uma questão de ponto de vista) nunca se denuncia. Se for um colega a cometer a façanha, também não o denuncia. Solidariedade? Não tanto. Mais uma espécie de volúpia, ao ver a autoridade esgotar-se em investigações estéreis. Que todos os alunos sejam castigados – privados disto ou daquilo – até que o culpado se confesse não o comove. Muito pelo contrário, constitui uma ocasião para se sentir integrado na comunidade, finalmente! Associa-se a todos para considerar «indecente» que tantos «inocentes» sejam obrigados a «pagar» por um único «culpado». Surpreendente sinceridade! O facto de ser ele o culpado em causa não entra, aos seus olhos, em linha de conta. Castigando toda a gente, a autoridade permitiu-lhe mudar de registo: já não estamos na ordem dos factos, que segue a investigação, mas no terreno dos princípios; ora, como bom adolescente que é, a equidade é um princípio sobre o qual não transige. – Não descobrem quem foi, portanto teremos de ser todos a pagar, é indecente! Que lhe chamem cobarde, ladrão, mentiroso ou o que quer que seja, que um supervisor tonitruante declare publicamente todo o desprezo que lhe merecem os abomináveis da sua espécie que «não assumem a coragem dos seus actos» não o incomoda 32 absolutamente nada. Primeiro porque vê nessa atitude a confirmação do que lhe repetiram mil vezes e concorda com o supervisor nesse ponto (é mesmo um prazer raro, este acordo secreto: «Sim, tens razão, sou o malvado de que falas, ou mesmo pior, se soubesses…») e depois porque a coragem de ir pendurar as três sotainas do prefeito encarregado da disciplina no cimo do pára-raios, por exemplo, não foi o supervisor que a teve, nem nenhum outro aluno ali presente, mas ele, e só ele, no meio da noite escura, ele mesmo, na sua nocturna e doravante gloriosa solidão. Durante algumas horas, as sotainas serviram na escola de bandeira negra de piratas e ninguém, nunca, saberá quem içou tão grotesco pavilhão. E se acusarem algum outro no seu lugar, permanecerá calado, pois conhece o seu mundo e sabe muito bem (como Claudel, que no entanto nunca lerá) que «também podemos merecer a injustiça». Não se denuncia. Porque construiu uma razão para a sua solidão e deixou finalmente de ter medo. Não baixa os olhos. Olhem para ele, é o culpado de olhar cândido. Enterrou no seu silêncio este prazer único: ninguém saberá, nunca! Quando sentimos que pertencemos a parte nenhuma, temos tendência para fazer juramentos a nós próprios. Mas o que ele sente, acima de tudo, é a triste alegria de se ter tornado incompreensível face aos dotados do saber que o censuram por não compreender nada de nada. Em suma, descobriu-se senhor de uma aptidão: provocar o medo naqueles que o aterrorizam; o que lhe causa um prazer intenso. Ninguém sabe do que ele é capaz, o que é bom. O nascimento da delinquência está no investimento secreto de todas as faculdades da inteligência na astúcia. 33 NCFI-MAGES-03 10 Mas faríamos uma falsa ideia do aluno que eu era se considerassemos apenas estas represálias clandestinas. (De resto, as três sotainas, não fui eu.) O cábula sempre em festa, urdindo golpes vingativos noite dentro, o invisível Zorro das punições infantis, bem gostaria de me circunscrever a esta santa imagem, simplesmente eu era também – e acima de tudo – uma criança capaz de todos os compromissos em troca do olhar benevolente de um adulto. Implorar em silêncio o assentimento dos professores e aceitar todos os conformismos: sim, professor, tem razão, sim… hem, professor, não sou assim tão estúpido, tão maldoso, tão decepcionante, tão… Oh! A humilhação quando o outro me remete, com uma frase seca, à minha indignidade. Oh! O abjecto sentimento de felicidade quando, pelo contrário, bastavam duas palavras vagamente delicadas que eu arrecadava de imediato como um tesouro de humanidade… E como me precipitava, nessa mesma noite, a falar do caso aos meus pais: «Tive uma boa conversa com o professor Fulano…» (como se se tratasse de ter uma boa conversa, devia pensar o meu pai, e com razão…). Durante muito tempo, arrastei comigo as marcas desta vergonha. O ódio e a necessidade de afecto tinham-me envolvido por completo nos meus primeiros fracassos. Tratava-se de domesticar 34 o ogre escolar. Fazer o possível para que não me devorasse o coração. Contribuir, por exemplo, para o presente de aniversário daquele professor do sexto ano que, no entanto, classificava todos os meus ditados com uma nota negativa: «Menos 38, Pennacchioni, a temperatura está cada vez mais baixa!» Puxar pela cabeça para escolher o que daria realmente prazer àquele patife, organizar o peditório entre os alunos e fornecer eu próprio o restante, dado que o preço da horrível maravilha ultrapassava o montante reunido. Havia cofres-fortes nas casas burguesas da época. Decidi arrombar o dos meus pais para participar no presente do meu torcionário. Era um daqueles pequenos cofres escuros e robustos que albergam os segredos de família. Uma chave, um manípulo em forma de roseta coberta de algarismos, outro de letras. Eu sabia onde os meus pais guardavam a chave, mas precisei de várias noites para descobrir a combinação. Manípulo, chave, porta fechada. Manípulo, chave, porta fechada. Porta fechada. Porta fechada. Achei que nunca conseguiria. E de repente, clique, a porta abre-se! Fiquei siderado. Uma porta aberta para o mundo secreto dos adultos. Segredos bem parcos, na verdade, algumas obrigações, suponho, de empréstimos russos que ali dormiam à espera da ressurreição, a pistola de ordenança de um tio-avô, cujo carregador estava cheio mas à qual tinham limado o percussor, e também dinheiro, não muito, algumas notas, do qual retirei o dízimo necessário ao financiamento do presente. Roubar para comprar o afecto dos adultos… Não se tratava exactamente de um roubo e não comprou, como é evidente, nenhum afecto. O crime foi descoberto quando, nesse mesmo ano, ofereci à minha mãe um desses horríveis jardins japoneses então muito em voga e que custavam os olhos da cara. O acontecimento teve três consequências: a minha mãe chorou (o que era raro), convencida de ter trazido a este mundo um arrombador de cofres (o único domínio em que o seu benjamim manifestava uma indiscutível precocidade), internaram-me num colégio e fui incapaz de roubar o que quer que fosse no resto da vida, mesmo quando o roubo se tornou culturalmente uma moda entre os jovens da minha geração. 35 11 A todos aqueles que hoje atribuem a constituição de bandos unicamente ao fenómeno dos subúrbios, digo: sim, têm razão, sim, o desemprego, sim, a concentração dos excluídos, sim, os reagrupamentos étnicos, sim, a tirania das marcas, a família monoparental, sim, o desenvolvimento de uma economia paralela e os tráficos de toda a ordem, sim, sim, sim… Mas evitemos subestimar a única coisa sobre a qual podemos agir pessoalmente e que, essa, data da noite dos tempos pedagógicos: a solidão e a vergonha do aluno que não compreende, perdido num mundo em que todos os outros compreendem. Só nós podemos tirá-lo dessa prisão, tenhamos ou não formação para o fazer. Os professores que me salvaram – e que fizeram de mim um professor – não tinham recebido nenhuma formação para esse fim. Não se preocuparam com as origens da minha incapacidade escolar. Não perderam tempo a procurar as causas nem tampouco a ralhar comigo. Eram adultos confrontados com adolescentes em perigo. Pensaram que era urgente. Mergulharam de cabeça. Não me apanharam. Mergulharam de novo, dia após dia, mais e mais… Acabaram por me pescar. E muitos outros como eu. Repescaram-nos, literalmente. Devemos-lhes a vida. 36 12 Remexo no monte da minha velha papelada à procura das minhas cadernetas escolares e dos meus diplomas, e deparo-me com uma carta guardada pela minha mãe. Data de Fevereiro de 1959. Tinha feito catorze anos havia três meses. Frequentava o oitavo ano. Escrevia-lhe do primeiro colégio onde fui aluno interno: Minha querida mãe, Eu também vi as minhas notas, fiquei muito desanimado, estou fartu [sic] quando cheguei a estudar duas horas sem parar durante uma aula de revisões e tive 1 num teste de álgebra que julgei [sic] estar bem há motivos de desânimo, por isso largei [sic] tudo para me preparar para os exames e o meu 4 em aplicação esplica [sic] com certeza o que estudei de geologia durante a esplicação [sic] de matemática, [etc.] Não sou suficientemente inteligente e estudioso para prosseguir os estudos. Não me interessam, fico com dores de cabessa [sic] por estar fexado [sic] rodeado de papéis, não persebo [sic] nada de inglês, de álgebra, sou uma nolidade [sic] em ortografia, que me resta? Marie-Thé, a cabeleireira da nossa aldeia – La Colle-sur-Loup –, mais velha do que eu, mas minha amiga desde a infância, confessou-me recentemente que a minha mãe, desabafando e 37 abanando-se com um leque debaixo do secador, lhe confiara a sua inquietação quanto ao meu futuro, algo aliviada, dizia ela, por ter obtido dos meus irmãos a promessa de que tomariam conta de mim depois da sua morte e da do meu pai. Ainda na mesma carta, eu escrevia: «Tiveram três filhos inteligentes e estudiosos… e um cábula, um perguiçozo» (sic)… Seguia-se um estudo comparado dos resultados obtidos pelos meus irmãos e por mim e uma vigorosa súplica para que pusessem termo ao massacre, me tirassem da escola e me enviassem «para uma colónia» (família de militares), «para um pequeno logarejo [sic] o único lugar onde eu seria feliz» (sublinhado duas vezes). O exílio, no fim do mundo, em suma, à falta de melhor nos sonhos, um projecto de fuga à maneira de Bardamu3 no filho de um soldado. Dez anos mais tarde, a 30 de Setembro de 1969, recebi uma carta do meu pai, endereçada à escola onde exercia há um mês o cargo de professor. Era a minha primeira colocação e a sua primeira carta dirigida ao filho que conseguiu ser alguém. Tivera alta do hospital, falava-me da doçura da convalescença, dos lentos passeios com o nosso cão, dava-me notícias da família, anunciava-me o provável casamento da minha prima em Estocolmo, aludia discretamente a um projecto de romance sobre o qual conversáramos ambos (e que eu nunca escrevi), manifestava uma viva curiosidade em relação às minhas conversas com os meus colegas, aguardava a chegada pelo correio de La loge du gouverneur, de Angelo Rinaldi praguejando contra a greve dos carteiros, elogiava Uma Agulha no Palheiro de Salinger e Le Jardin des délices de José Cabanis, desculpava a minha mãe por não me escrever («mais cansada do que eu por ter tratado de mim»), anunciava que emprestara a roda sobressalente do nosso 2 CV à minha amiga Fanchon («Bernard teve o grato prazer de lha mudar»), e mandava-me um abraço garantindo-me que se encontrava em boa forma. 3 Ferdinand Bardamu – Soldado, médico, aventureiro, personagem criada por Louis Ferdinand Céline e presente em várias das suas obras. (N. da T.) 38 Assim como nunca me ameaçara de um futuro calamitoso durante a minha escolaridade, também não fazia a mínima alusão ao meu passado de cábula. Quanto à maior parte dos assuntos, o tom era como de costume pudicamente irónico, e não parecia considerar que a minha nova posição de professor merecesse o seu espanto, as suas felicitações, ou alguma preocupação em relação aos meus alunos. Em suma, o meu pai tal como era, irónico e sensato, desejoso de conversar comigo, a uma distância respeitável, sobre a vida que continuava. Tenho à minha frente o envelope da carta. Só hoje reparo num pormenor. Não se limitara a escrever o meu nome, o nome da escola, o da rua e da cidade… Acrescentara a menção: professor. Daniel Pennacchioni professor na escola… Professor… Na sua caligrafia tão precisa. Precisei de uma vida inteira para ouvir este grito de alegria… e este suspiro de alívio. 39
Download