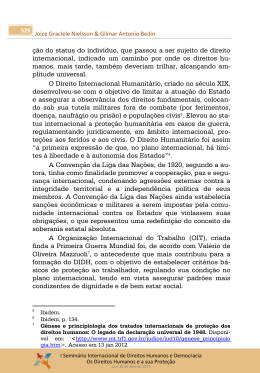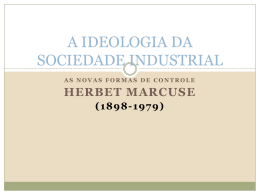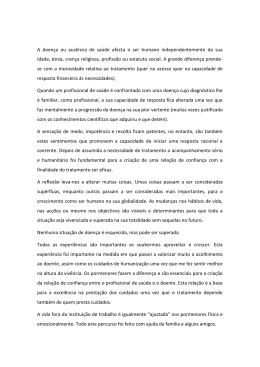PARA ALÉM DO UNIVERSALISMO DA METRÓPOLE E DO REGIONALISMO DA COLÔNIA: O DIREITO HUMANITÁRIO FORMA LINHAS ABISSAIS? Fernanda Otero Costa Gabriel Rezende de Souza Pinto Palavras-chave: Direito Humanitário – Linhas Abissais – Universalismo – Regionalismo. Resumo O artigo propõe uma análise das Teorias das Linhas Abissais de Boaventura de Sousa Santos, tendo como objeto a conformação atual do Direito Humanitário Internacional. Com efeito, intenciona-se discutir as fronteiras entre regulação/emancipação e apropriação/violência que são gestadas no discurso legitimador desse ramo do direito internacional, como é o caso do status de combatente ilegal. Pretende-se demonstrar, assim, a ineficácia dos usos de argumentos ligados ao Direito Natural que compõem um quadro equivocado de universalismo e regionalismo. Introdução: Delineamento da Teoria das Linhas Abissais Boaventura de Sousa Santos, em seu artigo “Para além do Pensamento Abissal: Das linhas globais a uma ecologia de saberes”1 ensina que o pensamento moderno é um pensamento formado por linhas abissais. As linhas abissais produzem distinções visíveis e invisíveis no campo da Ciência e do Direito, que dividem a realidade social em dois universos distintos: o lado de cá e o lado de lá da linha. A conseqüência desta divisão é que o lado de lá, Fernanda Otero Costa e Gabriel Rezende de Souza Pinto são bacharelandos em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. 1 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para além do Pensamento Abissal: Das linhas globais a uma ecologia de saberes. . In: Critical Review of Social Sciences, 78, October 2007: 3-46 ou seja, o outro lado da linha, torna-se inconcebível como realidade para o lado de cá da linha, sendo tomado como irrelevante e incompreensível na medida em que permanece externo, alheio ao conceito de “outro”e, conseqüentemente, inexistente. Para Boaventura, o pensamento moderno abissal reproduz de certa maneira a antiga realidade colonial, uma vez que na colônia estava presente tudo o que não podia ser pensado em termos de verdadeiro ou falso, de legalidade ou ilegalidade. Desta forma, os conhecimentos populares e nativos das colônias, por exemplo, por se encontrarem além dos conhecimentos científicos, filosóficos ou religiosos da metrópole desapareciam como conhecimentos existentes e válidos, podendo ser considerados, no máximo, como objeto ou matéria-prima de possíveis investigações científicas. Percebe-se que havia e há até hoje uma linha visível que separa os conhecimentos científicos dos filosóficos e religiosos do lado de cá da linha e que esta linha visível se fundamenta na invisibilidade da linha abissal que separa aqueles dos conhecimentos existentes do lado de lá, na zona colonial. O caráter abissal é conseqüência da eliminação de qualquer tipo de realidade existente do outro lado da linha. A Teoria das Linhas Abissais de Boaventura de Sousa Santos é o complemento necessário às reflexões realizadas por ele na Crítica da Razão Indolente. Ali o professor sustenta que a modernidade fora erguida sobre dois pilares, a emancipação e a regulação. Através destas duas grandes promessas modernas é que se desenvolveram política, econômica e socialmente nossas sociedades – incluindo aí instituições como o Direito e as artes. Seu argumento é o de que, num dado momento, estes pilares gêmeos passaram a concorrer entre si, o que fez com que o pilar da regulação superasse o pilar da emancipação tomando seu lugar. A conseqüência que se obtém é a que, com efeito, nenhuma dessas duas grandes promessas pôde se realizar por completo: observou-se que não houve emancipação e, da mesma forma, tampouco regulação satisfatória2. O complemento desta teoria precisou ser feito mais tarde. A teoria das linhas abissais é mais abrangente e concebe que, a competição paradigmática entre os pilares da modernidade só ocorre de fato naquilo que ele chamou de o lado de cá da linha. Do lado de lá, já citado por nós, há um outro paradigma em vigor, que é o da apropriação/violência. Lá não são nem pensadas as promessas da modernidade; se assemelhando às relações levadas a cabo nas antigas colônias. As pessoas são sempre 2 Cf. SANTOS, Boaventura de Sousa. Crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência São Paulo: Cortez, 2001. pensadas como objetos, jamais como sujeitos; não há conhecimento válido, não há critérios de legalidade. Isto é apropriação/violência. Tal fato não se dá apenas no plano epistemológico, mas do mesmo modo no âmbito do Direito. O sistema jurídico é formado, do lado de cá da linha, pelo código binário legalidade/ilegalidade. E, ao mesmo tempo em que o Direito transforma fatos do mundo da vida em fatos jurídicos, também constrói linhas abissais na medida em que ignora diversas existências que se tornam invisíveis, ininteligíveis e intraduzíveis por não pertencerem ao código legal, tampouco ao ilegal. Assim, o legal e o ilegal, postos pelo Estado ou pelo Direito Internacional, são, segundo Boaventura, as duas formas relevantes de existência perante a lei. Percebe-se que esta dicotomia deixa de fora uma vasta gama de realidades que não podem ser pensadas de acordo com o código legal/ilegal por não o possuírem como fundamento, como, por exemplo, o território sem lei, o território fora da lei, o território do alegal ou mesmo do legal ou ilegal de acordo com direitos não- oficialmente reconhecidos3. Todas estas realidades encontram-se do lado de lá da linha e a guerra, em qualquer uma de suas manifestações, pode ser compreendida como integrante deste locus. A guerra, para o lado de cá da linha, era vista como um conjunto de práticas reguladas não por regras e princípios jurídicos, mas sim por normas morais, não traduzíveis segundo o critério de legalidade/ilegalidade. Era, ainda segundo Boaventura, o terreno propício para a lógica da apropriação/violência em contraposição à lógica da regulação/emancipação, presente no lado de cá da linha. Com as sucessivas guerras ocorridas nos últimos séculos, continuamos a vivenciar uma série de atrocidades cometidas em nome de algum bem maior. Sob o suposto respaldo do bem, suspendeu-se a ordem jurídica vigente e, conseqüentemente, os direitos individuais outrora conquistados. Com este pano de fundo histórico, fez-se necessária a construção de um conjunto de normas internacionais a serem aplicadas em conflitos armados, que limitasse os seus métodos e visasse dar proteção às pessoas e aos bens por eles afetados. Assim, surge o Direito Humanitário Internacional, como um ramo do Direito Internacional Público, por meio de diversos tratados aos quais os Estados voluntariamente aderem, comprometendo-se a respeitá-los, e também pelo chamado direito costumeiro internacional, ou seja, pela prática reiterada de diversas condutas consideradas válidas e 3 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para além do Pensamento Abissal: Das linhas globais a uma ecologia de saberes. In: Critical Review of Social Sciences, 78, October 2007: 3-46 p. 4 aceitas como obrigatórias pelos Estados. Em 1949 foram redigidas as quatro Convenções de Genebra que protegem, respectivamente, os feridos e os doentes das Forças Armadas em campanha, os feridos, os doentes e os náufragos das Forças Armadas no mar, os prisioneiros de guerra e a população civil. No entanto, em 1977, sentiu-se uma necessidade maior de fortalecer o incipiente Direito Humanitário, mais especificamente as vítimas das guerras decorrentes da dominação colonial, ocupação estrangeira e conflitos internos. Desta forma, foram redigidos dois Protocolos adicionais às Convenções de Genebra. O primeiro reforça a proteção das vítimas de conflitos armados internacionais e amplia a definição dos mesmos às guerras de libertação nacional e o segundo reforça a proteção das pessoas afetadas por conflitos armados internos, completando assim o Artigo 3 comum às quatro Convenções de Genebra. O Direito Humanitário Internacional continua evoluindo, de maneira a regular ainda mais os conflitos armados e proteger as pessoas e os bens por eles afetados. Insta ressaltar que diversos outros tratados foram adotados, como a Convenção de Haia de 1954, que protege o patrimônio cultural em tempos de guerra, a Convenção da ONU de 1980 sobre a limitação do uso de determinadas armas, a Convenção das Armas Químicas de 1993 e o Tratado de Ottawa sobre as minas antipessoais. Percebe-se que toda esta regulamentação da guerra e dos conflitos armados é uma tentativa de posicioná-los do lado de cá da linha, de concebê-los de uma maneira inteligível que deve deixar de ser pensada simplesmente a partir do paradigma da apropriação/violência, passando a ser vivenciado sob os pilares gêmeos da regulação/emancipação. É claramente um movimento de expansão das linhas abissais e, exatamente por isso, é que nos interessa observar as características do Direito Humanitário que o permitem ser assim concebido. Uma certa incursão no direito humanitário Do que fora por nós sustentado nos tópicos anteriores fica claro que estamos absolutamente convencidos que, a fim de se superar os limites estabelecidos pelas modernas linhas abissais, é imprescindível uma nova forma de se encarar o direito, de vivê-lo e, principalmente, de pensá-lo. Se Boaventura de Sousa Santos está a defender uma nova epistemologia como passo primordial para qualquer movimento de resistência à conformação atual das linhas abissais, acreditamos que também um novo pensar deve estar subjacente à Ciência do Direito e à vivência dos direitos. Dessarte, há que se percorrer as práticas jurídico-políticas contemporâneas em busca de caminhos, vestígios, passagens que possam nos fornecer elementos para esta difícil empreitada que se avizinha: re-pensar o direito e as relações entre Estados e indivíduos por ele mediadas. É deste modo que o Direito Humanitário Internacional surge como uma das mais atraentes experiências, carregando em si um conjunto curioso de potencialidades emancipatórias. Ao longo da segunda parte deste artigo pretendemos realizar um estudo mais específico dos elementos que nos fazem crer que o Direito Humanitário Internacional apresenta características contundentes das exigências contemporâneas de uma nova epistemologia do Direito. Para tanto, será necessário precisar o atual estágio em que se encontra este ramo do Direito Internacional Público, demonstrando que em seu interior, por mais paradoxal que isto possa parecer, encontram-se algumas das mais visíveis linhas abissais de nosso tempo. Como conseqüência, notar-se-á que o Direito Humanitário está a todo momento - seja no plano acadêmico em que debatem seus doutrinadores, seja na política que lhe serve de pano de fundo, ou mesmo na realidade em que ele se desenvolve – envolvido em fortes discussões compostas pelo binômio universalismo-regionalismo, as quais por vezes assumem o liame formal de dialéticas, cisões ou tensões e, por não raras as vezes, têm o termo regionalismo substituído por relativismo. O objetivo aqui expresso é o de sustentar que o próprio Direito Humanitário porta em seu interior as ferramentas necessárias para romper com esta estrutura epistemológica produtora de lógicas tão perversas. O desafio que ele passa a nos impor é o de desnovelar tais possibilidades, o que só poderá ser feito a partir de um amplo esforço coletivo e solidário de todos os agentes, estatais ou não-estatais, com ele envolvidos. O Direito Humanitário e suas Linhas Abissais Em resposta à questão formulada no título deste trabalho, a resposta é afirmativa. Sim, o Direito Humanitário forma linhas abissais. Algumas delas, inclusive, são das mais evidentes, como dissemos anteriormente. Entretanto, dizer que o Direito Humanitário, enquanto instituição, é responsável por delinear linhas que separam um lado que se desenvolve sob o paradigma regulação/emancipação e outro, gerado sempre como invisibilidade, sob o paradigma apropriação/violência, não quer dizer que ele está fadado a ser desta forma. Não significa, portanto, que assim sempre será, ou que é impossível desenhá-lo de maneira outra. Para que possamos, de fato, demonstrar as imensas potencialidades deste ramo do Direito Internacional Público e, ademais, para sustentar uma redução das linhas abissais que atualmente ele conforma, é imprescindível que nós a conheçamos muito bem. Sem saber onde estão estas linhas divisórias jamais conseguiremos extirpá-las. Neste artigo nos preocupamos com apenas uma delas - a que de fato é a mais preocupante -: o uso reiterado e progressivo da categoria “combatente ilegal” para justificar, em verdade, práticas de total suspensão de direitos e garantias individuais4 na chamada Guerra Contra o Terror empreendida pelos EUA. Fato é que, neste momento, diversos são os países que aderem ao movimento de endurecimento das legislações nacionais a fim de coibir o terrorismo internacional; todos estes na esteira de duas das mais discutidas resoluções do Conselho de Segurança da ONU, as resoluções de número 1566 e 1373. A guerra contra o terrorismo toma contornos bastante incertos. Não nos interessa, por ora, discuti-la aqui, mas simplesmente notar como vem sendo feito o uso da categoria do combatente ilegal a fim de subverter garantias e direitos individuais concedidos pelas constituições nacionais e, principalmente, para voltar contra si a lógica protetiva do Direito Humanitário. O terrorista, segundo sustenta Boaventura de Sousa Santos, se encontra do lado de lá da linha. E ali não devem vigir o binômio licitude-ilicitude, porquanto não se tratar de um locus jurídico, mas tão só um espaço vazio de juridicidade próximo às teorias do estado de natureza. Da forma como passa a ser encarado o selo terrorista, a supressão total de seus direitos parece andar lado a lado com sua caracterização do lado de dentro da linha. Do lado de cá, o terrorista assume duas características fundamentais. Em primeiro lugar, ele é a personificação do mau. O maniqueísmo interessado utilizado para tanto nos faz crer que o terrorista anseia à destruição completa dos valores consagrados por nossa sociedade, incluindo democracia e liberdade. Com efeito, se ele se posiciona ao largo desta sociedade que ele pretende exterminar, por certo não merece aceder aos benefícios que somente ela pode proporcionar. Para aquele que quer nos destruir somente cabe a destruição. O outro lado da moeda é bastante conveniente para aqueles que assumem o papel de defesa da sociedade: ora, 4 Cf. SANTOS, Boaventura de Sousa. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes. In: Critical Review of Social Sciences, 78, October 2007: 3-46. se necessário é que nos defendamos, o preço a ser pago é a redução de parte de nossas liberdades individuais. Tal assertiva resta bastante evidente, por exemplo, em declarações de Donald Rumsfeld: “Anything that comes up in the United States tends to be looked at as a law enforcement matter, ‘. . . decide whether or not he’s guilty or innocent and give him due process.’ Of course if . . . you’ve got the risk of terrorists . . . killing thousands or tens of thousands of people, you’re not terribly interested in whether or not the person is potentially a subject for law enforcement” 5 Se esta é a face abissal em que o terrorista tem sido enclausurado, do lado de cá da linha ela parece, apesar de tudo, encontrar alguma resistência. Não é tão simples assim retirar o conteúdo das mais diversas legislações nacionais e internacionais. É desta forma que os grandes mestres do pensamento jurídico abissal passam a desempenhar o papel de justificação da mitigação de direitos dos indivíduos. Neste sentido é que se fala do uso abusivo da categoria jurídica combatente ilegal. O combatente ilegal é, via de regra, um conceito retirado do Direito Humanitário (ou Direito da Guerra). Desde o início do século XX, em especial a partir do Estatuto de Haia de 1907, a doutrina do Direito Humanitário vem tratando deste termo a despeito do fato de que, nem mesmo após as Convenções de Genebra de 1949 e os Protocolos Adicionais de 1977, esta terminologia é utilizada em tratados. Em verdade, tanto a idéia de combatente, como a de prisioneiro de guerra e de civil estão plenamente delimitadas pelo Direito Humanitário. Onde se localiza, com efeito, a noção de combatente ilegal? Knut Dörman define de maneira bem clara: “(...) o termo combatente/beligerante ilegal/desprivilegiado é entendido como hábil a descrever todos os indivíduos que se engajam diretamente nas hostilidades sem estar autorizados a tanto e que, desta 5 RUMSFELD, Donald. Apud: KANSTROOM, Daniel. “Unlawful Combatants” in the United States: Drawing the Fine Line Between Law and War. Disponível em: http://www. abanet.org/irr/hr/winter03/unlawful.html. forma, não podem ser classificados como prisioneiros de guerra sob o poder do inimigo” (tradução livre) 6. Apesar das possíveis divergências doutrinárias, a definição dada a esta locução por Dörman é bastante próxima daquilo que comumente tem se acordado a este respeito. Denota-se que a categoria combatente ilegal porta uma característica singular, i.e., refere-se a um sujeito ativo em determinada hostilidade sem possuir poderes para tanto, o que acarreta como conseqüência sua impossibilidade de se beneficiar dos privilégios e benefícios - que aqui preferiríamos tratar como direitos – dos prisioneiros de guerra. Tão e somente isto. Juridicamente isto significa que o combatente ilegítimo não perfaz os requisitos necessários para ser concebido como beligerante e, eventualmente, prisioneiro de guerra impostos pelo Art. 4º da Terceira Convenção de Genebra, o que resulta no fato de o mesmo não se encontrar no escopo de aplicação de suas normas. Por outro lado, como argumenta Dörman, tal constatação deve se seguir de uma outra, qual seja a de que, claramente, uma vez excluído do status de prisioneiro de guerra este indivíduo será protegido pela Quarta Convenção de Genebra. O Art. 4 da Quarta Convenção, lido em conjunto com diversos outros dispositivos, não pode gerar dúvidas a este respeito, uma vez que é abrangente na definição ratione personae de sua aplicabilidade. O texto em inglês da convenção pode ser lido da seguinte forma: “Persons protected by the Convention are those who, at a given moment and in any manner whatsoever, find themselves, in case of a conflict or occupation, in the hands of a Party to the conflict or Occupying Power of which they are not nationals.” Observa-se que o texto se refere a qualquer pessoas que esteja sob o poder de uma outra parte do conflito. Tal definição ampla pode ser muito bem avalisada pelo Art. 5º da mesma convenção e pelo Art. 45 (3) do Protocolo Adicional I. Dessarte, o único critério a ser preenchido para que se aplique a Quarta Convenção de Genebra, partindo-se da não aplicação da Terceira Convenção, é simplesmente aquele de nacionalidade. Ainda que se argumente que a Quarta 6 DÖRMAN, Knut. The legal situation of unlawful/unprivileged combatants. In: International Review of the Red Cross. March 2003, Vol. 85, No 849 (45-75), p. 47. O texto original se apresenta como se segue: “the term ‘unlawful/unprivileged combatant/belligerent’ is understood as describing all persons taking a direct part in hostilities without being entitled to do so and who therefore cannot be classified as prisoners of war on falling into the power of the enemy” Convenção possui diferentes graus de proteção, é inegável que para sua aplicação não interessa a formo, o modus com que este beligerante ilegítimo ingressou no conflito e por quais meios se viu sob o jugo de uma potência em guerra7. O fato é que o pensamento abissal e seus juristas parecem não chegar jamais a estas conclusões. Por vezes sustentam suas afirmações em hermenêuticas restritivas de textos cujo intento abrangente é sua maior característica. Em algumas ocasiões são usados casos paradigmáticos para a defesa de pontos de vista; é o que ocorre, por exemplo, com o famoso e muitas vezes citado ex parte Quirin, no qual a Suprema Corte Norte-Americana sustentou que certos beligerantes inimigos, aqueles considerados combatentes ilegais, não estariam protegidos por qualquer tipo de garantia constitucional, de modo que poderiam ser interrogados e punidos por tribunais militares. Diz muito o fato de que tal caso recorrentemente seja utilizado para justificar práticas abissais de total supressão de Direitos quando, a toda evidência, está-se a tratar de julgado anterior às Convenções de Genebra em geral e a Quarta Convenção em particular. É certo que devemos nos fazer as mesmas perguntas que se faz o professor Daniel Kranstroom8: afinal de contas, deve mesmo se esperar que os indivíduos capturados nesta Guerra Contra o Terror, atestados como beligerantes ilegítimos, tenham suprimidos todos seus direitos, tais como direito a um advogado, a visitas familiares, devido processo legal, entre outros? Será mesmo que nosso sistema de Direitos é tão frágil? Observa-se, portanto, que o terrorista passa realmente a ser uma das grandes linhas abissais de nosso tempo, e tal categoria, encontra-se pretensamente defendida no interior do Direito Humanitário sob a rubrica combatente ilegal. A total ausência de direitos em que são encarcerados tais indivíduos é absolutamente paradoxal com as promessas de regulação e emancipação da modernidade ocidental. Tal constatação parece corroborar a hipótese de Boaventura de Sousa Santos de que este pilar gêmeo da vida moderna no ocidente está ainda restrito a uma parcela da população. Esta parte outra que não tem condições de ascender ao status gozado deste lado da linha continua a ser tratada com base no paradigma da apropriação/violência, à revelia de todo o propalado progresso alcançado por nosso complexo civilizacional. 7 Id., Ibid., p. 59-60. 8 KANSTROOM, Daniel. “Unlawful Combatants” in the United States: Drawing the Fine Line Between Law and War. Disponível em: http://www. abanet.org/irr/hr/winter03/unlawful.html. O Direito Humanitário e o Choque Entre o Universalismo e o Regionalismo O tratamento dispensado ao terrorista que ocorre por parte do pensamento abissal no seio do Direito Humanitário Internacional é apenas um dos exemplos. Outros poderiam ter sido citados em seu lugar, mas, seguramente, não com a mesma importância ou relevância para as reflexões que se seguem. O ponto que buscamos sublinhar é este: o Direito Humanitário possui suas linhas abissais. Esta constatação pode ser analisada por diversos ângulos. Poder-se-ia, talvez, buscar as causas desta cisão forte que ocorre em seu interior e, ainda, lutar contra ela. Mas as análises típicas baseadas em relações lógicas de causa e conseqüência podem trazer dificuldades. Quando os verdadeiros limites não estão tão bem delineados perante os olhos das diversas esferas públicas é necessário um esforço coletivo mais amplo para que obtenhamos soluções prudentes. No entanto, pretendemos propor aqui uma possibilidade de reconstrução de caminhos, um trânsito por entre passagens. Para tanto, só mesmo uma filosofia não-linear da história poderá nos auxiliar. O recurso a uma filosofia da história de caráter não-linear faz sentido aqui porque pretendemos romper com algumas das comuns interpretações e teorizações do Direito Humanitário que buscaram lê-lo como um sopro máximo de evolução de nossas sociedades. Aparentemente inofensiva, tal afirmação, como buscaremos defender, carrega uma série de conseqüências que vêm a contribuir para o aprofundamento da fronteira entre o lado de cá e o lado de lá. É preciso reconstruir as bases do Direito Humanitário, mas isso obrigatoriamente deverá significar aprofundar seus pressupostos. Antes de avançarmos tais idéias, devemos atentar para o título desta secção: há ali referência aos termos universalismo e regionalismo. Acreditamos que há uma conexão íntima entre as linhas abissais do Direito Humanitário - entre elas o sulco tectônico do terrorismo e o status de combatente ilegal – e o modo como foram produzidos os argumentos responsáveis por sua legitimação. Segue-se que, em verdade, foram usadas em demasia proposições muito próximas da idéia de um direito natural a fim de criar sobre o Direito Humanitário uma aura de universalidade. O próprio nome dado a este ramo do Direito Internacional Público revela esta preocupação. Pretendeu-se associar o Direito Humanitário à idéia mesma de humanidade, de modo que este seria a expressão fiel de imperativos naturais desta humanidade. Isto fica bastante claro em diversos artigos e livros publicados por aquele que talvez seja o grande baluarte do Direito Humanitário e da atuação da Cruz Vermelha Internacional: Jean Pictet. Pictet deixa transparecer esta sua convicção em diversos momentos. Para ele a definição do Direito Humanitário como ramo do Direito Internacional Público deveria vir acompanhada da noção de que aquele era um conjunto de regras que visa à proteção da pessoa humana em casos de guerra, fundando-se precipuamente na idéia de humanidade9. Havia, em sua opinião, uma noção de universalismo que o era subjacente e que não poderia ser olvidada. Esta idéia lhe era tão cara que seu desenvolvimento em sua obra aparece como um pano de fundo irrenunciável: o universalismo é a razão de ser de todo o Direito Internacional, amparando uma enorme esperança depositada pelos povos do mundo no internacionalismo. Nisto ele conseguiu ver no Direito Humanitário uma vocação enorme a realizar todos estes ideais porque ele residia num quid compartilhado por todos os seres humanos, nos mais diversos complexos civilizacionais. O ideário humanitário estaria neste presente neste conjunto de identidades compartilhadas. O grande problema é que esta retórica não convence mais as pessoas. A modernidade ocidental conheceu um intenso processo de dessacralização do mundo, de racionalização social10. Com efeito, não mais se pode conceber uma ordem de valores que compõe um direito posicionado acima daquele direito positivo como dado da realidade. Não há mais um direito natural hierarquicamente superior de onde, a partir de sua concordância, o direito positivo possa retirar sua legitimidade. Ainda que se acredite numa ordem maior do que a mera concretude de nosso sistema de direitos, há que se convir que ela não pode mais se pretender singular, mas sempre e somente numa pluralidade. Ordens de valores, portanto. Assim, torna-se bastante problemática a tentativa de fundar o Direito Humanitário sob bases outras, naturais ou metafísicas que se engajem num processo de produção de universalidades. Tal universalidade, por seu artificialismo patente, não se mostra hábil a sustentar a legitimidade de um conjunto de normas que se pretenda aplicável a toda 9 PICTET, Jean. Le droit humanitaire: definition. In : Les dimensions internationales du droit humanitaire. Pedone/ Institut Henry Dunant/ Unesco, Genève, p. 13. 10 Sobre este processo, Cf. HABERMAS, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa. V.2. Trad.: Manuel Jiménez Redondo. Madrid. Taurus, 1988. diversidade da humanidade. Tudo vem a indicar que o fundamento de legitimidade do Direito Humanitário – bem como o de qualquer ordem normativa de caráter jurídico – só poderá ser buscado em seu próprio interior, no interior das relações que o compõe: o Direito Humanitário está fadado a legitimar a si mesmo. O modo como outros grandes pensadores procuram compor esse universalismo não é muito diferente daquele de Jean Pictet. Louis Lafrance, em sua dissertação de mestrado citada como contribuição no livro que hoje representa a bíblia sagrada do Direito Humanitário Internacional, How Does Law Protect in War, a secção entre práticas regionais e práticas universais fica ainda mais clara. O problema que Lafrance se põe é o de que o Direito Humanitário, assim como os Direitos Humanos, é colocado a prova no que diz respeito a sua relação com valores universais. Assim, ele parte de duas constatações: a primeira é a de que, de fato, o Direito Humanitário é composto, em grande parte, por contribuições advindas de uma tradição tipicamente ocidental-européia. Em segundo plano, Lafrance acredita ser demonstrável que grandes tradições não-ocidentais apresentam obstáculos reais ao Direito Humanitário, ao menos no plano de sua legitimidade. No entanto, o autor assume que valores como respeito à dignidade humana, o direito à vida e a proibição ao escravagismo são as bases deste ramo do direito e apresentam, sim, um caráter universal, mesmo que não sejam aplicados universalmente. Para ele, é um dado inegável que as culturas não-ocidentais estão sujeitas ao contato com a modernidade e a hibridização é inevitável. Portanto, sua crítica a um certo relativismo é dirigida ao fato de que reconhecer as diferenças não significa aceitá-las, pois isso seria perder a grande faculdade moderna que é o julgamento crítico: “Este é um rito de passagem necessário da natureza à cultura. Em verdade, muitas linhas que não podem ser ultrapassadas são exatamente o que nos faz humanos. O Direito Humanitário Internacional representa exatamente os limites que os combatentes jamais devem ultrapassar a fim de ao sacrificar sua humanidade e cair num estado de natureza. O conjunto do Direito Humanitário Internacional é universal? As fundações deste direito certamente o são, posto que derivadas do Direito Natural. (...). Se atribuídas à razão, à harmonia universal ou à origem divina da humanidade, trata-se da natureza humana. O Direito Humanitário Internacional possui uma dimensão universal ao simbolizar valores comuns"11. (tradução livre). Entendemos ser este tipo de posicionamento que, amalgamado com relações nãoparitárias de poder, acaba por gerar profundas linhas abissais. Ora, Lafrance pretende estar descobrindo um denominador comum, mas o que faz é, em verdade, proclamar a modernidade ocidental como último passo num processo civilizatório. Aí não haverá denominador comum, mas somente uniformização, padronização e, principalmente, violência cognitiva. Posto desta forma, sempre nos indagaremos porque as civilizações não-ocidentais não compactuam com um certo conjunto de normas que entendemos ser universais. A resposta será sempre a mesma: porque elas são atrasadas. Chama-se o diferente de passado e, como conseqüência lógica, proclama a si mesmo como futuro inevitável. O outro passa a ser, portanto, sempre um objeto a ser moldado com a finalidade de que consiga, enfim, ascender à nossa modernidade. Caso se recuse a tanto se deve passar a gerá-lo enquanto inexistência, violentando-o, suprimindo qualquer possibilidade de encará-lo também como sujeito ativo de processos de conhecimento. Nada mais é do que a formação de linhas abissais. Fundar o Direito Humanitário num pretenso universalismo que se baseie na natureza do homem não produzirá um comprometimento amplo dos atores globais, ainda mais quando este universalismo é, na realidade, uma universalização da modernidade ocidental e o preço a ser pago por ela é a extirpação das diversidades. Quando se defende que é um dado natural do homem a tendência ao humanitarismo, afirmando-o enquanto legado da modernidade, sustenta-se que é preciso ser moderno para cumprir suas normas. 11 LAFRANCE, Louis. Apud: SASSÒLI, Marco; BOUVIER, Antoine. How does Law protect in war? Cases, Documents, and Teaching Materials on Contemporary Practice in International Humanitarian Law. International Committee of the Red Cross, Geneva, 1999, p. 87. Reproduzo aqui o texto em sua versão original: “This is a necessary rite of passage from nature to culture. In fact, many lines that may not be crossed are precisely what makes us human. International humanitarian law represents precisely the limits that combatants must never exceed if they are not to sacrifice their humanity and revert to a state of raw nature. Is the whole of international humanitarian law universal? The foundations of that law certainly are, since they derive from nature law.(…) Whether attributed to reason, universal harmony or the divine origin of mankind , sound assertions are made about human nature. International humanitarian law therefore attains a universal dimension by symbolizing human values”. Este movimento está fadado ao fracasso; está fadado a produzir linhas abissais tão profundas como aquelas observadas no período colonial, deixando ao relento do paradigma da apropriação/violência uma quantidade enorme de seres humanos. O dado perverso desta distinção abissal é que aqueles que são postos do lado de lá da linha não parecem possuir boas possibilidades de conseguir atravessar a fronteira para o lado da linha em que vige o paradigma da regulação/emancipação; onde vige – como nos interessa – um sistema de direitos que seja levado a sério. E assim, permanecerá o universalismo sendo concebido como o universalismo da metrópole e o regionalismo como o regionalismo da colônia. Novos caminhos no interior do Direito Humanitário No tópico anterior procuramos demonstrar de que forma estão ligadas as linhas abissais produzidas no interior do Direito Humanitário e as tentativas de legitimá-lo com base em argumentos de direito natural. Tentamos sustentar ainda como a naturalização dos direitos e a recorrência a uma ordem que exorbita a do direito positivo para conferir-lhe legitimidade instaura sempre uma cisão entre universalismo e regionalismo que é a grande base de sustentação da fronteira que separa o lado de cá e o lado de lá no Direito Humanitário. Falávamos anteriormente da necessidade de uma nova filosofia da história para dar início a uma nova apropriação dos ideais que compõe o Direito Humanitário. Se as posições majoritárias das doutrinas do Direito Humanitário parecem alheias a qualquer estudo sobre filosofia da história, tal fato se dá apenas superficialmente. A verdade é que há todo um arcabouço teórico que pode ser lido por entre as defesas apaixonadas de Jean Pictet e outros tantos. A idéia primordial é a de que a história pode ser lida linearmente; um caminho singular que liga o passado a nosso presente e que não poderia ter ocorrido de outra forma. Os defensores destas idéias acreditam piamente na idéia de progresso e é ela que anima todas suas ações, todos seus estudos. A busca incessante pelo progresso funciona como uma viseira eqüina que direciona seus olhares para pontos únicos inalteráveis. Tudo passa a funcionar sob a lógica do progresso, inclusive o Direito Humanitário. O que pretendemos doravante é enxergar o Direito Humanitário não como uma rua de mão única 12 , mas uma mônada em que tanto o futuro quanto o passado são possibilidades abertas a construções e re-construções. Deste modo, defendemos que a legitimidade do Direito Humanitário não se baseie numa concepção linear da história que o tome como necessidade lógica de um esforço civilizacional ocidental. Nossa proposta, acompanhando Boaventura de Sousa Santos, é mais sutil e mais precária: intentamos pensar o Direito Humanitário como uma aposta13. A aposta que discorreremos adiante se baseia no fato de o Direito Humanitário Internacional apresentar, desde o seu nascedouro ou, ao menos, desde o início de seu movimento de codificação, características que o inserem num quadro epistemológico de oposição à modernidade hegemônica. O Direito Humanitário apresenta elementos para um novo Direito pensado a partir de uma nova epistemologia. Sublinharemos alguns destes elementos e tentaremos precisar quais são suas relações com uma reviravolta epistemológica. O primeiro grande elemento é que o Direito Humanitário parte de sua douta ignorância14. Isto porque ele sabe muito bem de seus limites: pensa-se a guerra como algo ruim que merece ser, através de um esforço coletivo, extirpado. Contudo, sabe-se que uma alteração tal no mundo não pode ser feita em tão curto espaço de tempo e, enquanto isso, milhões de pessoas são afetadas por conflitos armados e merecem ter um conjunto de normas que melhore suas situações, dando-lhes um pouco mais de dignidade15. Esta é uma premissa epistemológica bastante importante segundo Boaventura de Sousa Santos. Diz respeito ao conhecimento dos limites e possibilidades de uma determinada instituição; o Direito Humanitário propicia, em um nível elevado, a possibilidade de que ele possui limites identificáveis. As conseqüências disto são que, em primeiro lugar, ao conhecer seus limites, o Direito Humanitário pode se concentrar mais na solução de problemas concretos. Isto quer dizer que, em seu interior há uma dimensão pragmática que sempre o ligará à resolução de 12 Cf. BENJAMIN, Walter. Rua de mão única Obras escolhidas V.2 Trad.: Rubens Rodrigues Torres Filho e José Martins Barbosa. Editora Brasiliense, São Paulo, 2000. 13 SANTOS, Boaventura de Sousa. A Filosofia à venda, a douta ignorância e a aposta de Pascal. Revista Crítica de Ciências Sociais, 80, Março 2008: 11-43. 14 Id. Ibid. 15 Sobre este tema ver PICTET, Jean. La formation du droit humanitarie internaional. Revue International de la Croix-Rouge. 2002, Vol. 84, Nº. 846, p. 342. problemas concretos que ocorrem na realidade. Nas palavras de Boaventura, o Direito Humanitário seria não-ortopédico. Conhecedor de seus limites e da realidade a que se atem, a guerra e suas conseqüências excessivas para a vida das pessoas, podemos pensar na segunda conseqüência: por se saber limitado, o Direito Humanitário é obrigado a se confrontar com sua impossibilidade de, sozinho, resolver todas as mazelas do mundo. Com efeito, ele é forçado a respeitar, conviver e se coordenar com outros ramos do Direito e, assim defendemos, outros saberes. Do que foi dito se retira o segundo grande elemento. A despeito da filosofia da história que os doutrinadores tentam apor sobre o conjunto de regras do Direito Humanitário, ele apresenta uma forma outra de conceber a história. O Direito Humanitário é uma utopia. Com isto não pretendemos uma idéia ingênua de utopia como um futuro inalcançável ou coisa parecida. Aqui nossa utopia é uma utopia à Walter Benjamin; acreditamos que na obra desta autor marginal da modernidade ocidental se encontra um conceito de utopia muito útil às realidades abissais com que nos confrontamos. Walter Benjamin, especialmente em suas teses sobre o conceito de história, explora uma concepção não-linear do tempo em que o presente assume um papel fundamental. Aqueles que vivem o futuro devem se apropriar de suas histórias não com vistas a atingir um futuro projetado sob a idéia de progresso; sua intenção é outra, i.e., ao invés de resguardarmos um futuro do progresso, precisamos re-construir nosso passado a partir das promessas feitas e não cumpridas. É o que ele determina sob a metáfora de escovar a história a contra pêlos16. Precisamos reescrever nossa história não com base em seu devir inevitável que se construiu enquanto presente, mas devemos observar cada possibilidade que não se revelou, cada passagem que, por alguma razão, não foi explorada. Para Benjamin, este é o papel do historiador. Para nós, este também deve ser o papel de todo aquele que acredita e trabalha com o Direito Humanitário, pois esta é a concepção que nele se inscreve. Dizemos isto porque assim interpretamos o ideário humanitário que nos liga, por exemplo, a Henry Dunant. Há um desejo de transformar o mundo começando pelo hoje, começando por revelar no presente um passado que não se abriu, mas que poderia ter sido aberto. É por isso que, a despeito de não concordar com a guerra, o Direito Humanitário e seus defensores acreditam ser necessário regulá-la. É preciso atuar no hoje e no agora, nesta utopia imediatista que tem por fim a redenção do ontem perdido. Benjamin, em seus recursos 16 BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, Arte e Política. Obras escolhidas V. 3. Editora Brasiliense, 2000. p. 222 et seq. de linguagem baseados em estudos da cultura judaica, diz que precisamos redimir o passado e, para tanto, nosso compromisso não é com as gerações vindouras, mas com os nossos mortos, os mortos que lutaram, que construíram, mas que não foram capazes de ver as promessas da modernidade sendo cumpridas. Pensamos que foi este também o ideal de Henry Dunant, o homem responsável pelo impulso inicial do movimento de codificação do Direito Humanitário. O compromisso de Dunant, se bem analisarmos, era com os milhares de seres humanos mortos na horripilante batalha de Solferino presenciada por ele. Era com eles que Dunant firmou seu compromisso de atuação no presente, de alteração do mesmo com base naquele passado visto por ele: o passado daquilo que deveria ter sido e não foi. O Direito Humanitário, portanto, é um saber que se sabe precário, que se sabe limitado, que deve se saber plural e respeitoso, que deve respeito a uma reconstrução do passado e a uma utopia do presente. Um compromisso simples e sempre precário com a dignidade das pessoas e com a promoção, na dificílima situação dos conflitos armados, de uma vida um pouco mais decente às pessoas. Estas características não podem ser perdidas de vista se estamos buscando uma outra forma de legitimar o Direito Humanitário, para que ele rompa em definitivo com as linhas abissais geradas pela cisão entre universalismo e regionalismo. Conclusão: para além do universalismo da metrópole e do regionalismo da colônia no interior do Direito Humanitário – Notas programáticas Para que possamos romper com as linhas abissais formadas pelo Direito Humanitário a partir da sua legitimação através de critérios de universalidade é preciso expurgar este tipo de linguagem. A legitimidade do Direito Humanitário deve ser alcançada no interior de sua própria realidade e para além de cânones universais. Mas como isto é possível? A resposta não é e jamais será simples. Para alcançá-la será necessário muito mais do que simplesmente um artigo como este, é necessário um esforço comum e contínuo que envolva uma imensa gama de reciprocidade de saberes. É necessário que todos nós nos engajemos num projeto de ruptura com os quadros abissais observáveis na atualidade e passemos a conceber um novo modelo de interação entre saberes e culturas ao redor do direito. Boaventura de Sousa Santos chama isto de Ecologia de Saberes17. Nosso interesse aqui é mais limitado. Diz respeito somente a necessidade de composição de um novo plexo de legitimidade para o Direito Humanitário. Acompanhando Boaventura de Sousa Santos em sua interpretação de Blaise Pascal, entendemos que o Direito Humanitário deve ser doravante entendido como uma aposta. A aposta, como demonstra o autor, é uma confiança precária altamente pragmática. Em seu exemplo, ele diz que não se pode convencer alguém que Deus existe; contudo, pode-se convencê-lo que, em apostando em sua existência, há a possibilidade de que sua vida 18 seja mais digna e mais decente. É este o sentido que pretendemos dar ao Direito Humanitário. Pensamos ser impossível conceber, de fato, uma forma de convencer todos os afetados por conflitos armados que exista uma ordem natural das coisas que impila a humanidade em direção a um Direito Humanitário que assuma uma determinada conformação. Contudo, é possível que, havendo reciprocidade de saberes, acompanhada de reciprocidade de poderes, seja possível uma epistemologia de tradução intercultural em que os participantes possam se entender como apostadores: no nosso caso, a grande aposta seria num Direito Humanitário. Sua legitimidade, com efeito, não adviria de nenhum Direito Natural necessário em face do progresso ocidental, mas do simples fato de que as diversas culturas encontraram formas de estabelecer verdadeiras comunicações, souberam os limites de seus saberes e puderam apostar que com o Direito Humanitário é possível, em conjunto, horizontalmente, tornar a vida muito mais decente do que hoje ela é. Para além das linhas abissais. Para além das linguagens universais metropolitanas. Para junto de uma utopia do hoje. 17 SANTOS, Boaventura de Sousa. A Filosofia à venda, a douta ignorância e a aposta de Pascal. Revista Crítica de Ciências Sociais, 80, Março 2008: 11-43. 18 Id. ibid. p.33. Referências bibliográficas BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, Arte e Política. Obras escolhidas V. 3. Editora Brasiliense, 2000. BENJAMIN, Walter. Rua de mão única. Obras escolhidas V.2 Trad.: Rubens Rodrigues Torres Filho e José Martins Barbosa. Editora Brasiliense, São Paulo, 2000. DÖRMAN, Knut. The legal situation of unlawful/unprivileged combatants. In: International Review of the Red Cross. March 2003, Vol. 85, No 849 (45-75). HABERMAS, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa. V.2. Trad.: Manuel Jiménez Redondo. Madrid. Taurus, 1988. KANSTROOM, Daniel. “Unlawful Combatants” in the United States: Drawing the Fine Line Between Law and War. Disponível em: http://www. abanet.org/irr/hr/winter03/unlawful.html. LAFRANCE, Louis. Apud: SASSÒLI, Marco; BOUVIER, Antoine. How does Law protect in war? Cases, Documents, and Teaching Materials on Contemporary Practice in International Humanitarian Law. International Committee of the Red Cross, Geneva, 1999. PICTET, Jean. La formation du droit humanitarie internaional. Revue International de la Croix-Rouge. 2002, Vol. 84, Nº. 846. PICTET, Jean. Le droit humanitaire: definition. In : Les dimensions internationales du droit humanitaire. Pedone/ Institut Henry Dunant/ Unesco, Genève. SANTOS, Boaventura de Sousa. A Filosofia à venda, a douta ignorância e a aposta de Pascal. Revista Crítica de Ciências Sociais, 80, Março 2008: 11-43. SANTOS, Boaventura de Sousa. Crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência São Paulo: Cortez, 2001. SANTOS, Boaventura de Sousa. Para além do Pensamento Abissal: Das linhas globais a uma ecologia de saberes. In: Critical Review of Social Sciences, 78, October 2007: 3-46.
Download