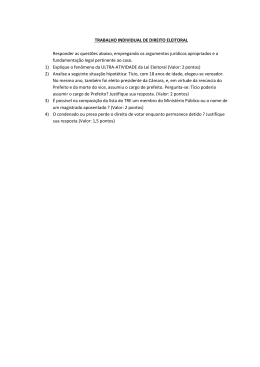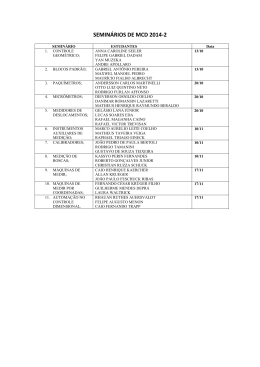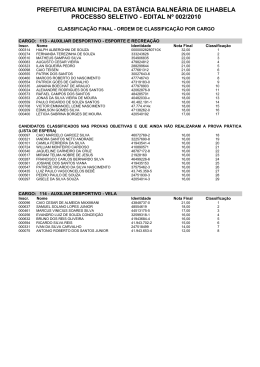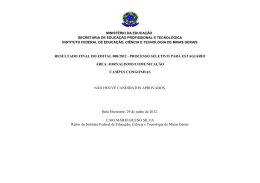PANFLETO SOBRE O RIDÍCULO EM DIREITO CIVIL Pedro Múrias Caiamos em nós sem amparo. O 408.º/1 é ridículo.1 Contradizer os romanos dá azar e, a nós, deu-nos o azar de um «princípio estruturante» risível, mas aprendido sem pasmo e ensinado com apego por gerações sucessivas de juristas. Em terras civilizadas — digamos, em Madrid, Londres, Amesterdão, Berlim, Atenas, Buenos Aires, Tóquio, Melbourne... — vigora o princípio oposto, como vigorava em Roma. A nossa regra é produto da frivolidade jusracionalista que culminou no código francês, código de que todos fogem a sete pés, salvo pruridos identitários. Por graça da diplomacia, tratados da ONU e leis europeias protestam não querer perturbar a idiossincrasia francófila. Bem entendido, aquelas terras civilizadas não se furtam a ridículo inverso, na crença de que a propriedade não pode transmitir-se por contrato. Querendo as partes transmiti-la, não se vê por que é que não hão-de poder fazê-lo, nem por que é que hão-de sujeitar-se a rituais patetas de traditio simbólica. A progressiva desmaterialização dos bens expõe o ridículo dos civilizados. A nossa regra, embora ridícula, também não faz grande mal. Poucos quererão levá-la muito a sério, conquanto digam o contrário, e, mais um jeitinho aqui, mais uma regra providencial acolá, tudo se resolve sem rebuliço. Mas vejamos o ridículo. Não se pode explicá-lo. Há que vê-lo com olhos de ver. O velho Caio entra numa loja de mobília antiga, namora uma mesa, pergunta pelo preço, diz que a compra e promete voltar mais logo ou no dia seguinte com o dinheirinho e um carro para o transporte. Por simpatia, probidade ou marketing, o vendedor Tício deixa em cima do móvel um papel a dizer «vendido», o que já nem seria preciso para o exemplo ficar pronto. Tente a minha estimada leitora explicar a um não-jurista com bom senso que Caio é o proprietário da mesa, tal como quem lha comprar no momento seguinte. Caio tem o famigerado direito, protegido pelas constituições liberais, que lhe permite reivindicar ubi rem suam inveniat. «A constituição ou transferência de direitos reais sobre coisa determinada dá-se por mero efeito do contrato, salvas as excepções previstas na lei.» Mais coisa menos coisa, era igual o art. 715.º do Código de Seabra, dobrado pelo 1549.º e outros que tais. Hoje, também temos o 879.º e mais uns quantos. 1 1 Tente dizer isto a um não-jurista e verá que reforça a opinião generalizada — com bons motivos! — de que o mundo das leis é o império do formalismo, do contra-senso ou do sem-sentido, conjugados para reafirmar a cada dia um estado burocrático mais ou menos kafkiano. Mas, como não podia deixar de ser, a regra asneada não faz grande mal. Uma possibilidade grave de moléstia estaria na sujeição do direito adquirido à execução pelos credores do adquirente, por fazer parte do seu património. No caso de Caio e Tício, que é modelar, tudo corre, porém, como deve ser, já que o sinalagma é oponível à execução até ao cumprimento,2 de modo que, v.g., a mesa por entregar não se integra eficazmente numa eventual massa falida sem que se pague por ela. A transferência da propriedade acaba irrelevante. Noutros casos, alguma imaginação e sangue frio tudo resolvem sem hesitação. Suponha-se que Caio, saindo da loja, vende a coisa a Semprónio. Dir-se-ia que, neste momento, Semprónio pode reivindicar a mesa a Tício, sem mais fundamento do que as compras sucessivas. Dir-se-ia isto, claro, se não se temesse o desconchavo. Com um módico de desfaçatez, todavia, pode tresler-se o 431.º3 e deixar Tício invocar a exceptio numa acção real! Suponhamos, por fim, que Caio não regressa nem nesse dia nem nos seguintes, e não vende a mesa a ninguém. Passam uns meses, Semprónio entra na loja, compra a mesa, paga-a e leva-a para casa. Tício tinha talvez mandado fora o papelinho a dizer «vendido». Os indefectíveis do 408.º/1 acharão razoável que Caio possa agora reivindicar a coisa a Semprónio, pretendendo que a usucapião e o 1301.º4 protejam suficientemente os segundos compradores. Dura lex, sed lex, dizem eles. Os sensatos, com alguma criatividade, dirão que Tício resolvera o contrato, reavendo a propriedade, o que até seria boa ideia se a declaração de resolução não fosse receptícia. Outros, com malandrice, mudariam os factos do exemplo, negando que tivesse havido inicialmente uma compra e venda acabada. Este o expediente preferido se o caso chegasse a tribunal. Os desesperados invocariam o abuso do direito,5 ou coisa parecida, para conseguir alcançar o que o bom senso impõe.6 Não nos vamos embora sem recordar duas consequências — uma nas regras, a outra nas práticas — do pavoroso 408.º/1. Isto resulta de leizecas extravagantes que não interessa transcrever. «A excepção de não cumprimento é oponível aos que no contrato vierem a substituir qualquer dos contraentes nos seus direitos e obrigações.» 4 «O que exigir de terceiro coisa por este comprada, de boa fé, a comerciante que negoceie em coisa do mesmo ou semelhante género é obrigado a restituir o preço que o adquirente tiver dado por ela, mas goza do direito de regresso contra aquele que culposamente deu causa ao prejuízo.» 5 Diz o art. 334.º: «É ilegítimo o exercício de um direito, quando o titular exceda manifestamente os limites impostos pela boa fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou económico desse direito.» 6 A leitora atenta reclama que o exemplo não é totalmente honesto, ao misturar os males do 408.º/1 com os problemas inevitáveis do não cumprimento. Esclareça-se: o lapso é o 408.º/1 levar estes problemas a terceiros! 2 3 2 A primeira é que o nefando preceito convive com a regra, em si mesma inocente, do 796.º/1,7 sobre «transferência do risco». Quer isto dizer o seguinte: estando dois amigos de férias no Algarve, e combinando com firmeza que um vende ao outro o seu carro, que ficara em Coimbra, se o carro for furtado nessa noite, o comprador tem de pagar o preço acordado, independentemente de o carro ser recuperado ou não. Talvez haja quem ache isto admissível. Só não é provável que ocorra ao vendedor sem formação em leis ir a tribunal exigir o pagamento. A segunda consequência é essa peculiaridade do burlesco nacional que dá pelo nome de «contrato-promessa». A propriedade de imóveis transmite-se por contrato, sim senhor, mas o contrato é a famosa «escritura pública», formalismo que antecede a formalidade mais vezes esquecida do registo. Notários e conservadores dividem irmãmente o controlo da legalidade. Claro que não se conseguiria viver assim, de modo que, no caminho para comprar uma casa, a única coisa que se parece com um contrato, o que deve ser cumprido, é o «contrato-promessa». Sejamos claros: não há nada de mau nem de contra naturam num contrato para celebrar outro contrato. O que há, mais uma vez, é uma boa dose de ridículo, quando o contrato a celebrar tem o conteúdo previamente estipulado! As pessoas obrigam-se a obrigar-se em vez de se obrigarem desde logo. Com certeza pelo gosto de duplicar papéis. Bis repetita placent ! O «contrato-promessa» floresce por causa da «escritura», que ninguém vê como um contrato, mas como momento final de execução do verdadeiro contrato, para transmitir a propriedade. Na dita «promessa», é claro, as partes obrigam-se ao pagamento e, em geral, à entrega da coisa, quando o pagamento for completado, tal qual uma venda nas nações civilizadas. Como nem a escritura é para levar a sério, a lei, desde os anos 80, ainda oferece ao comprador um célebre «direito de retenção» a partir do momento em que receba a coisa. O leitor sabe dos rios de tinta jurídica que o «contrato-promessa» e o «registo» têm feito correr. Advogados, juízes e professores já sobreviveriam mal sem eles. E sabe que tudo se resolve com paciência, hábito e bom senso, como se resolvem os casos menos razoáveis de reivindicação ou de transferência do risco. Mas é pena não podermos esperar que isto seja endireitado, como seria próprio do direito. Lisboa, Março de 2007 «Nos contratos que importem a transferência do domínio sobre certa coisa ou que constituam ou transfiram um direito real sobre ela, o perecimento ou deterioração da coisa por causa não imputável ao alienante corre por conta do adquirente.» Por causa das francesices, esta regra já não chega a documentos internacionais. Uma conhecida directiva comunitária, não podendo evitar mexer-lhe, jura a pés juntos no preâmbulo que não o faz (vide o Considerando 14 da Dir. 1999/44/CE)! 7 3
Baixar