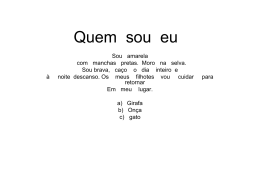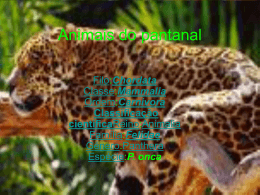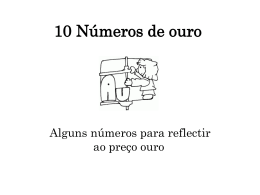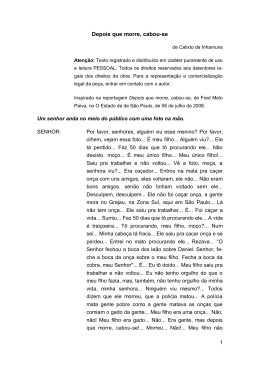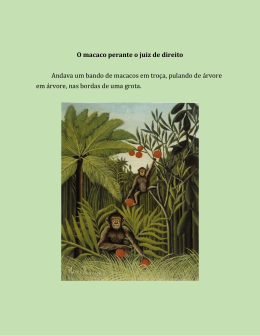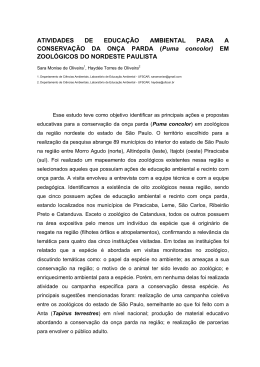Agradecimentos Agradeço ao professor Eduardo Viveiros de Castro pela orientação, pelo apoio ao longo de todo o trabalho e pelo suporte necessário para o trabalho de campo; aos professores Mauro Almeida, Tania Stolze Lima, Olivia Cunha e Marcio Goldman, por seus comentários sobre o trabalho; à Faperj, instituição na qual sou atualmente bolsista de pós-doutorado; ao CNPq, instituição da qual fui bolsista de doutorado. Aos pesquisadores Fernando Azevedo, Henrique Villas Boas Concone, Ricardo Boulhosa, Sandra Cavalcanti, Peter Crawshaw e Ronaldo Morato, da Associação Pró-Carnívoros; ao Centro Nacional de Predadores (Instituto Chico Mendes). Aos pesquisadores Leandro Silveira, Mariana Furtado e Eduardo de Freitas Ramos, do Fundo para Conservação da Onça-Pintada. Ao guia de campo João Batista Elias. Agradeço também a Roberto Coelho, Elisabeth Coelho e Carolina Coelho, pelo suporte para a pesquisa de campo; e a Giuliano Acunha Dias, Luiz Guilherme Farias, Jacir Teles, e Eliane Rocha. Assim como ao Sr. Ormir do Couto, a Paulo Acunha, Ramon Acunha, Edevaldo Antonio da Silva, Evandro Ramos Arguelho, Laucenildo Acunha Roca e João Celestino Ramos. A Ana Luiza Martins e Jayme Aranha pelo incentivo e interesse pelo trabalho. Aos colegas do Museu Nacional, da Rede Abaeté e do Núcleo de Antropologia Simétrica. A Déborah Danowski pelo apoio e pela supervisão do projeto de pós-doutorado que permitiu a publicação deste livro. Agradecimentos especiais a Maria Borba, pela leitura e pelas observações, e, finalmente, a Flora Süssekind, pela revisão cuidadosa e pelos comentários, que foram fundamentais para o texto ganhar sua forma final. Este livro contou com o apoio da Faperj através do Programa de Apoio ao Pós-Doutorado no Estado do Rio de Janeiro – Parceria Capes / Faperj. 7 * Os nomes próprios de todas as pessoas envolvidas neste projeto, assim como das fazendas nas quais fiz o trabalho de campo, foram alterados nos capítulos a seguir, de modo a preservar o anonimato daqueles que colaboraram com a pesquisa. Introdução I Por que olhar os animais? Essa pergunta é o título de um ensaio seminal de John Berger, escrito em 1977, sobre as relações entre humanos e animais (Berger, 2009). É também uma pergunta que tem me acompanhado nos últimos anos, desde que tomei os animais como temas de meus projetos de pesquisa. Este livro, até certo ponto, é uma tentativa de respondê-la, ou talvez, mais ainda, de explorar seu potencial como questão. O que sempre me atraiu em relação aos animais é o fato de eles de alguma forma escaparem ao domínio humano; essa dimensão, que poderíamos chamar de ‘selvagem’, é o que torna o tema realmente interessante do meu ponto de vista. No ensaio que mencionei acima, Berger afirma que os animais guardam segredos para nós, humanos (2009, p. 11). Considero essa uma bela imagem. Os segredos que os animais guardam se referem, penso eu, a um outro lado, àquilo que de alguma forma está fora da esfera conhecida, fora daquilo que podemos explicar racionalmente, além da linguagem humana. Considerar esse “outro lado”, ou “fora”, como sendo expressões da natureza, entendida como uma esfera externa ao mundo humano, no entanto, me parece já um passo na direção do controle, da domesticação, na direção de aniquilar aquilo que os animais mantém em segredo. Mas vou tentar explicar isso melhor. Nasci e cresci na cidade do Rio de Janeiro, e minha curiosidade pelos animais selvagens deriva em grande parte daquilo que li em livros, enciclopédias, ou que aprendi em filmes e programas de televisão. Mas, para quem se interessa pelos animais, evidentemente isso não é o bastante. É 9 preciso encontrá-los, experimentar diretamente o contato com eles. Como quase toda criança carioca, fui levado ao zoológico da Quinta da Boa Vista para ver os bichos, e lá experimentei o desapontamento de ver que eles nunca eram aquilo que eu esperava. É exatamente esse desapontamento (as crianças o experimentam diante de cada jaula) que Berger considera a questão mais interessante a ser formulada a respeito dos zoológicos. De acordo com ele, o zoológico não pode senão desapontar, justamente porque a experiência que ele oferece envolve um dispositivo que nos coloca na posição de sujeitos olhando para animais reduzidos à condição de objetos. O que o autor percebe, e essa me parece uma percepção fundamental, é que nunca encontramos ali o olhar de um animal. “O animal é sempre o observado” – diz ele – “O fato de que eles podem nos observar perdeu todo o significado” (Berger, 2009, p. 15). Nós, visitantes do zoológico, assim como os animais que observamos, estamos confinados em ambientes absolutamente distintos, de modo que aquilo que vemos é algo que se tornou absolutamente marginal, algo que não conseguimos trazer para nossa atenção, como uma imagem fora de foco. Da mesma forma, o animal olha para nós como espectros que atravessam seu campo de visão, mas que não fazem parte de seu ambiente. É por isso que o zoológico representa, para Berger, uma espécie de marginalização definitiva, um monumento ao desaparecimento dos animais da vida ocidental moderna.1 A pergunta a ser feita a partir dessa impossibilidade de encontro pode conter, então, não mais um porquê, mas um como. Como olhar os animais? Como resgatar a experiência do animal, a reciprocidade do olhar? Este é um modo de formular as questões que me levaram a desenvolver projetos envolvendo animais nos últimos dez ou doze anos. Primeiro, fiz um ensaio fotográfico sobre a fauna selvagem no espaço urbano: pássaros, macacos, quatis, animais que habitam a floresta dentro 1 10 O tema do desaparecimento da vida animal remete ao processo de extinção das espécies, tema que se articula a uma série de outros aspectos da gravíssima crise ambiental que vivemos atualmente, e que ameaça não só as espécies animais mas também o próprio modo de vida humano. O que estamos experimentando tem sido chamado por muitos autores de “Sexta Extinção”, e remete a outros cinco processos de extinção em massa de espécies de seres vivos ocorridos no passado remoto do planeta Terra. A ‘perda de biodiversidade’ é também o termo técnico que designa um dos nove processos de degeneração ambiental do tempo presente. Entre os outros estão o aquecimento global, a acidificação dos oceanos e o derretimento das calotas polares. A reflexão sobre a extinção das espécies, pensada em termos gerais, possui esse papel evidente em relação à ecologia política. O tema possui desdobramentos ainda mais interessantes, no entanto, quando pensado em função de ideias como os mundos próprios de Von Uexkull, ou a teoria do perspectivismo ameríndio, desenvolvida por Eduardo Viveiros de Castro por exemplo. Pretendo retomá-lo mais diretamente em outros trabalhos no futuro. da cidade onde vivo. Se a fotografia de natureza tem como característica, geralmente, o ideal de mostrar a vida animal purificada dos elementos humanos – os bichos em seu habitat natural –, o tema dos animais urbanos me parecia evocar uma camada interessante de significados que não obedecia nem à lógica da natureza domesticada na cidade, nem ao ideal de uma natureza intocada pelo homem. O projeto com a fauna urbana se desdobrou posteriormente em um pequeno filme sobre o aparecimento de uma capivara na área completamente urbanizada da Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro.2 O acontecimento e as narrativas que ele motivava sobrepunham conhecimentos populares e científicos, relações ecológicas e antropológicas. Foram essas duas experiências abordando relações entre humanos e animais que me levaram em seguida (no ano de 2005) a desenvolver um projeto acadêmico com essa temática – que acabaria resultando neste livro. O projeto foi motivado, em grande parte, pela leitura dos trabalhos de Eduardo Viveiros de Castro sobre o tema do perspectivismo ameríndio, e isso me motivou, na época, a procurá-lo para que me orientasse no curso de doutorado no Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro. A opção mesma pela onça-pintada como tema de pesquisa foi influenciada por essa escolha, na medida em que se trata de um animal que tem um papel central nas cosmologias dos povos indígenas sul-americanos. O tema final do projeto – a onça pantaneira – é a rigor meio inusitado para a antropologia social, e em geral precisa de alguma explicação. As disciplinas que tradicionalmente estudam a vida animal são a biologia, ou a ecologia; antropologia por definição estuda o humano. Como, então, fazer uma antropologia de um animal? Uma abordagem do tema pela via da ecologia a princípio se voltaria para o comportamento, os fatos, a realidade da natureza e o modo como ela pode ser investigada e descrita pelos métodos científicos; uma abordagem antropológica clássica, por outro lado, teria como foco as representações da onça e da vida animal – os discursos, valores, a realidade da cultura. A proposta deste trabalho, dado esse impasse, foi buscar uma ferramenta conceitual e descritiva que me permitisse escapar dessa alternativa, baseada na separação essencialmente moderna que funda nossas disciplinas acadêmicas, a partir da qual precisamos escolher natureza ou cultura. 2 O curta-metragem Capivara!, dirigido em parceria com Felipe Nepomuceno e com trilha sonora de Jano Nascimento, foi realizado em 2004. 11 Entendo que esta opção produz uma espécie de duplo vínculo (“double bind”), nos termos de Gregory Bateson, uma escolha na qual sempre saímos perdendo, da qual ficamos inadvertidamente reféns quando ingressamos na Universidade. Como então escapar dessa dicotomia e falar ao mesmo tempo das duas coisas? No caso da minha pesquisa de doutorado, essa questão se desdobrou em outras: como estabelecer conexões entre o comportamento das onças, as práticas de campo científicas, e as experiências dos moradores de fazendas do Pantanal? Como conectar os fatos e os valores, o comportamento empírico dos animais e o modo como ele é experimentado e vivido pelas pessoas? Essas foram algumas das perguntas que surgiram ao longo do trabalho. Assim como a maioria dos habitantes da cidade do Rio de Janeiro, entretanto, eu não tinha tido nenhum contato com uma onça até então, a não ser, como mencionei, no zoológico, ou então por meio de imagens como aquela que se vê estampada na nota de cinquenta reais. A onça está presente em muitos lugares diferentes na cultura brasileira. Sua presença se manifesta, por exemplo, em expressões populares como “ficar uma onça”, “bafo da onça”, “amigo da onça”, ou a “hora de a onça beber água”, que fazem parte das tradições orais brasileiras. As duas últimas expressões me parecem particularmente interessantes por estarem relacionadas à caça. No primeiro caso, o termo “amigo da onça” se origina de uma história exagerada contada por um narrador (numa piada que tem várias versões) que pergunta a seu interlocutor incrédulo: “você é meu amigo ou é amigo da onça?”. O “amigo da onça” tem o sentido de um falso amigo, um amigo “traíra”. Tornou-se ainda o nome de um personagem do cartunista Péricles de Andrade Maranhão, que fez sucesso nos anos 1940, em charges de O Cruzeiro, a popular revista semanal ilustrada publicada no Rio de Janeiro de 1928 até 1975. A expressão “hora de a onça beber água”, por sua vez, relaciona-se ao instante crucial, à hora em que, como diz outra expressão popular, “o bicho pega”. É o momento em que a onça sai de sua posição de caçadora à espreita e se revela. O que tanto diz respeito a essa hora especialmente perigosa, tendo o animal como agente, quanto ao momento em que o caçador humano é capaz de surpreendê-la. Essas camadas discursivas presentes na fala urbana teriam, portanto, relação com o ambiente rural brasileiro e com esse universo da caça, que é um tema importante dentro deste trabalho. Na época em que comecei a cursar a pós-graduação, eu já tinha conhecimento de projetos de pesquisa desenvolvidos por biólogos que estudavam 12 as onças-pintadas em fazendas do Pantanal. A ideia de acompanhar um projeto desse tipo me parecia interessante por envolver o conhecimento científico em produção e em algum tipo de interseção com o conhecimento tradicional pantaneiro. O Pantanal é um lugar habitado secularmente por gente e vacas, onde a onça sempre foi vista como um problema – ou até uma praga a ser combatida – por se alimentar do gado, ou seja, por se alimentar da mesma comida que nós, humanos. Essas sobreposições entre o científico e o tradicional, o doméstico e o selvagem, me pareceram propícias para um estudo antropológico, e foi esse um fator determinante no projeto. Hoje percebo que o movimento em direção à onça teve também uma série de outras influências. Uma delas certamente foi a leitura (há muitos anos, bem antes de ele se tornar efetivamente um projeto de pesquisa) da novela de Guimarães Rosa “Meu tio o Iarauetê”. O que me impressionou mais na novela foi o modo como o animal emerge da linguagem em uma dimensão própria, um mundo próprio, e também o modo como ele irrompe como uma força capaz de colocar em questão a condição humana, ou a centralidade do humano. A onça, neste caso, não é apenas objeto de uma descrição incrivelmente vívida, mas, mais do que isso, é o centro de uma experiência de transformação, uma transformação que se dá por meio da linguagem. Quando mistura gente e onça, Guimarães Rosa produz uma hibridização capaz de colocar em cheque as concepções literárias orientadas por uma visão homogeneizadora do personagem e do narrador. Esse foi possivelmente o primeiro impulso para os temas abordados neste livro, e um dos objetivos que eu tinha em minha pesquisa de campo no Pantanal, desde o início, era encontrar algum zagaieiro como aquele da novela de Guimarães Rosa. Como reporta Ana Luiza Martins Costa, a partir de trabalho com o arquivo do escritor, ele fez uma viagem ao Pantanal em 1947, na qual conversou com caçadores de onça, sendo que essas conversas foram aproveitadas posteriormente na composição da novela “Meu tio o Iarauetê”.3 Em relação a esse tema, encontrei zagaieiros vivendo apenas nas memórias de pessoas que conheci no Pantanal, que narraram caçadas de onça das quais participaram junto com eles. Os zagaieiros eram tios, avôs, sogros, geralmente uma geração acima 3 Sobre a viagem de 1947, Martins Costa afirma: “As conversas com diversos ‘zagaieiros’ – os intrépidos caçadores de onça – e o desenho detalhado que Rosa faz de uma azagaia, nomeando cada uma de suas partes, serão aproveitados na novela ‘Meu tio o Iauaretê’, publicada, catorze anos depois, na revista Senhor (Rio de Janeiro, 25.03.1961).” A pesquisadora observa, entretanto, que não se sabe o paradeiro das cadernetas referentes a essas viagens. (Martins Costa, 2006, p. 22-24) 13 dos meus interlocutores, e o fato de não os ter encontrado está ligado a um processo evidente de desaparecimento dessa técnica de caça rústica diante da expansão das armas de fogo. A caçada com a zagaia se extinguiu, e junto com ela uma certa relação com a onça, brutal certamente, mas também altamente significativa em termos de modos de devir-animal, na medida em que remete a processos de mistura, de hibridização. A mistura entre humanos e animais presente no conto de Guimarães Rosa dialoga também com a literatura antropológica sobre os povos indígenas da América do Sul, e em particular com os temas do xamanismo e da caça (Viveiros de Castro, 1996; Lima, 1996). No contexto ameríndio, a onça desempenha papéis cruciais tanto em termos míticos, quanto em termos daquilo que poderíamos chamar, de uma perspectiva externa e imprecisa, de relações sociais, ou ecológicas (imprecisas porque a distinção entre esses domínios é própria da nossa ontologia, mas não daquela dos índios). O olhar da onça é um tema recorrente na etnologia indígena, em ontologias nas quais a troca de olhares e de perspectivas entre humanos e animais é uma espécie de “fato social total”, para usar a expressão canônica de Marcel Mauss. Por outro lado, em um processo que tem origem na revolução industrial e na filosofia cartesiana, os animais se tornaram, para nós ocidentais, máquinas, objetos ou então membros da família. Inseridos no mundo moderno e submetidos ao racionalismo científico, eles não podem ser mais nada além de representações ou modelos para a origem do ser humano ou do humano enquanto objeto, corpo. Ou então suportes para vários tipos de metáfora ou imagens simbólicas que compõem o universo da cultura. Em todo caso, não se apresentam mais como figuras da alteridade, mas sim como espelhos que refletem a natureza humana. O que se perde, nesse sentido, me parece ser a própria relação com a alteridade. Uma característica do mundo ocidental moderno, quando institui uma temporalidade fundada na ideia de um progresso contínuo, é a conversão do outro, do estrangeiro, em “primitivo”. Os povos primitivos, na literatura antropológica do final do século XIX, representam etapas do desenvolvimento da sociedade ocidental, que por sua vez funciona como modelo universal para a humanidade. Não há mais alteridade, há apenas uma evolução unilateral e modelos por meio dos quais os modernos investigam seu próprio passado. A categoria do “animal” me parece ser de natureza semelhante àquela do “primitivo”. O animal, como mostrou Derrida, é o singular genérico que 14 designa a ausência daquilo que se convenciona como sendo a singularidade humana – linguagem, consciência, racionalidade, etc (Derrida, 2002). É um termo que não se refere a animal nenhum, mas antes ao não humano em geral, ou ao lado animal do homem. O animal, no ocidente moderno, deixa de existir como um ser um ser vivendo uma vida paralela, habitando um mundo diferente, e se converte em outra coisa: objeto, mercadoria, instrumento, espetáculo ou metáfora da condição humana. A potência de alteridade desaparece. E não me parece que estejamos mais próximos dos animais hoje porque desejamos protegê-los ou poupá-los; ao contrário, estamos ainda mais distantes. Os animais ameaçadores do passado se tornaram ameaçados. O medo desapareceu porque a interação desapareceu. Quando estabeleci minha pesquisa no Pantanal, o que pretendia era buscar uma outra referência de relação com os animais. Minha ideia era pensar a onça, em particular, não apenas como objeto para o olhar de um sujeito humano, mas como dotada de um ponto de vista. Buscar um contraponto para a constituição do animal como objeto, o animal classificado, domesticado, a partir de um lugar habitado por gente e onças, entre os quais a questão de ver e ser visto é uma questão crucial. Uma relação com a onça, no ambiente da onça, envolve necessariamente um jogo de olhares. Ver e não ser visto. Este é um tema que remete à etnologia indígena e à teoria do perspectivismo desenvolvida por Viveiros de Castro (1996). Essa temática da reciprocidade do olhar pode dar origem a uma série de questões. Qual é o mundo possível constituído a partir do ponto de vista da onça? Quais são as relações que se produzem quando o fato de que a onça é capaz de olhar para o humano é colocado em questão? Como se constituem as relações quando a onça deixa de ser um item numa coleção de história natural e passa a habitar um mundo? Qual a relação entre aquilo que a ciência afirma a respeito de seu objeto, constituído como algo quantificável, e aquilo que a ciência coloca em prática quando se engaja em um processo de conhecimento? Uma questão complementar a essa da visão surge quando imaginamos a diferença entre a paisagem que um turista fotografa quando visita o Pantanal e a paisagem percebida por um vaqueiro, ou morador da região. O ambiente dos pantaneiros é carregado de significados: rastros, vestígios de passagens de animais – trilheiros de gado, batidas de onça, cheiros, pegadas, sons, relações que ligam as pessoas ao ambiente que as cerca. Esses aspectos nos permitem pensar a relação entre humanos e animais 15 não a partir da visão, de uma perspectiva ótica, mas antes a partir do rastro, de uma perspectiva indicial ou indiciária. Encontrar e seguir rastros, como afirma Deleuze em seu Abecedário, indicam possibilidades de uma relação animal com o animal, que difere essencialmente de uma relação humana com o animal como aquela que em geral se estabelece entre os animais domésticos e seus donos no meio urbano. É preciso, para se pensar uma relação desse tipo, imaginar o animal como um ser cuja singularidade rompe com a imagem de uma natureza controlada, domada, formalizada. De algum modo isso me parece implicar a ideia de fazer com que o elemento propriamente selvagem da interação humanos-animais se mantenha como tal, o que significa repensar a própria ideia de domesticação numa ética que escape do antropocentrismo. De um lado, há uma série de dispositivos que tornam a onça (ou o gado, cavalos e cães) objetos de conhecimento ou instrumentos para os sujeitos humanos, mas eles podem ser contrapostos a outros dispositivos capazes de dar conta de uma experiência daquilo que seria o mundo próprio de cada um desses animais. As viagens e as experiências etnográficas afinal se tornam interessantes quando encontramos linhas de fuga, mundos possíveis capazes de deslocar aquele do qual partimos, sejam eles mundos humanos ou não humanos. II A parte principal da pesquisa para este trabalho foi realizada no Pantanal do Mato Grosso do Sul, em fazendas de gado que abrigavam projetos de conservação de onças-pintadas. Na proposta inicial, eu tinha pelo menos três objetivos diferentes, aparentemente difíceis de conciliar, que se mantiveram como temas importantes ao longo do projeto. O primeiro era descrever as práticas dos biólogos de campo nos estudos científicos sobre as onças. O segundo era realizar uma etnografia das fazendas de gado, com ênfase nos modos de percepção e classificação dos animais pelas comunidades locais. O terceiro propósito era encontrar caçadores tradicionais pantaneiros e produzir uma etnografia da caça regional. Pretendia, para isso, acompanhar a captura de uma onça para a colocação da coleira de rádio, um evento que eu via como um momento particularmente 16 interessante de interação entre os métodos tradicionais de caça e a tecnologia empregada pelos cientistas. As relações mais interessantes presentes no Pantanal me parecem ser aquelas que, de alguma forma, escapam ao controle e aos processos de manejo. A própria domesticação pode ser pensada, afinal, como a interpreta Despret (2004), como uma via de mão dupla na interação entre humanos e animais, e foi desta forma que procurei interpretá-la. A minha primeira visita ao Pantanal para dar início à pesquisa, com duração de duas semanas, foi realizada em março de 2006. A segunda foi apenas em outubro de 2007, concluindo uma longa negociação para acompanhar um projeto de campo científico que estava sendo iniciado por um pesquisador ligado à Associação Pró-Carnívoros. Posteriormente, a pesquisa foi dividida em duas viagens de campo, com duração de dois meses cada uma: a primeira realizada entre março e maio, e a segunda entre outubro e dezembro de 2008. A divisão em dois períodos foi motivada pelas diferenças ambientais notáveis entre os períodos da seca e da cheia na região. No total, fiquei aproximadamente seis meses no campo, tempo bastante curto para uma pesquisa etnográfica. Procurei compensar o pouco tempo que passei no campo com a realização de levantamentos bibliográficos e com análises de textos literários e científicos, tarefas que desempenharam um papel importante na elaboração deste trabalho. No início da pesquisa, a intenção era investigar as práticas de pesquisa e métodos de conservação da onça-pintada, tendo como referência teórica e metodológica os estudos de ciência (“Science Studies” ou STS) de modo geral. Com o decorrer da experiência de campo, no entanto, o objeto da pesquisa deixou de ser apenas a rede conservacionista (que se expande para fora, nos laboratórios, publicações e meios de circulação científicos). Meu objetivo passou a ser então o de produzir uma descrição das tramas ou redes intrincadas de relações nas quais as onças estavam inseridas com a implantação de projetos científicos e programas conservacionistas voltados para a espécie dentro das fazendas pantaneiras. Isso envolvia um emaranhado de pessoas, animais, coisas e instituições ligados tanto à pecuária quanto à conservação da vida selvagem. A princípio, a pecuária bovina e a conservação da onça-pintada são atividades vinculadas a duas ‘redes’ (em sentido convencional) muito diferentes entre si. No primeiro caso, a rede conservacionista inclui pesquisadores, organizações não governamentais, universidades e todo o aparato 17 governamental ligado ao gerenciamento do meio ambiente. No segundo, a rede da pecuária inclui proprietários rurais e vaqueiros, a indústria do abate e dos frigoríficos, supermercados, consumidores, além dos órgãos governamentais ligados a agropecuária. Não se trata, portanto, só de atividades diferentes entre si, mas também práticas ligadas a uma controvérsia ambiental de grande alcance, que se colocam muitas vezes em campos opostos no debate político. Vale lembrar, a esse respeito, que o Mato Grosso do Sul é movido economicamente pela pecuária, e os fazendeiros são figuras que dominam a cena política no estado. Fazendas com milhares de cabeças de gado se estendem por quase todo o Pantanal, que é habitado por aproximadamente quatro milhões de cabeças, de acordo com dados da Embrapa-Pantanal. Além disso, o Brasil possui um dos maiores rebanhos comerciais de gado bovino do mundo, e a pecuária é uma das principais frentes de desenvolvimento do agronegócio no país. Por outro lado, o Pantanal é considerado pela Unesco Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera, sendo uma região de grande interesse do ponto de vista da preservação ambiental. Para a conservação da onça-pintada, em particular, é uma área crucial (uma “área fonte”, em termos ecológicos) na medida em que abriga um dos dois últimos grandes remanescentes populacionais de uma espécie altamente ameaçada pela pressão antrópica sobre os recursos naturais. Em relação ao status de conservação da onça no Brasil, a outra população ecologicamente viável está na Amazônia; nos outros biomas em que a espécie ocorre, a situação é precária: na Caatinga e no Cerrado há populações isoladas, enquanto na Mata Atlântica as condições são críticas.4 A proposta da pesquisa foi abordar, de alguma forma, a interseção entre essas duas realidades – a da produção de gado e da conservação ambiental –, sem estabelecer entre elas uma distinção prévia. Isso significou acompanhar tanto atividades científicas quanto de manejo do gado, tratando-as como integrantes de uma mesma rede, no sentido de uma rede sociotécnica, como formulado pela Teoria-do-Ator-Rede, e em particular por Bruno Latour (1994, 2000, 2005). Ao contrário do que entendemos convencionalmente quando falamos em “redes sociais”, por exemplo, a noção de rede diz respeito, neste caso, a uma ferramenta analítico-descritiva, e não a alguma coisa lá fora, existente como uma realidade observável. 4 18 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/On%C3%A7a-pintada>. Acesso em: 12 out. 2013. Latour (2005) estabelece algumas precauções para se traçar uma rede desse tipo, ligadas a uma prática simétrica de evitar tanto as explicações sociais quanto as causas científicas. Estas últimas implicariam na atribuição, aos não humanos, das qualidades não intencionais, materiais e sólidas dos fatos objetivos (o que o autor chama de matter of fact) científicos. As explicações sociais, por outro lado, implicariam na atribuição aos animais do papel de símbolos, repositórios de projeções humanas ou sociais. Essas são as duas formas de purificação que a Teoria-do-Ator-Rede nos propõe evitar. A ideia é que, assim que um determinado ator é filtrado por uma delas, ele se torna simplesmente o efeito de alguma causa anterior, social ou natural. O modo que encontrei de mobilizar um campo de estudos, delimitando um lugar para a minha pesquisa etnográfica, foi o desenvolvimento de uma proposta de trabalho inspirada em modelos provenientes da literatura conservacionista e da etnobiologia. Essa proposta constituiu o principal instrumento de negociação para a realização da pesquisa, e se baseava na utilização de um questionário com formato semiaberto, incluindo vinte perguntas fixas, que foi utilizado ao longo de toda a pesquisa de campo em um total de sessenta e cinco entrevistas. O uso deste questionário serviu de base para uma discussão sobre os métodos empregados na minha pesquisa, a partir da qual procurei colocar em questão diversos impasses entre o enfoque das ciências naturais e o das ciências sociais. Esta discussão é tema do capítulo 6 deste livro. Foi por intermédio de biólogos que estudavam onças que pude levar adiante o projeto, e a constituição de alianças entre eles e os fazendeiros locais, em primeiro lugar, foi o que abriu caminho para a minha chegada até lá. Apesar de interessados na divulgação de seu trabalho, no entanto, os pesquisadores com os quais entrei em contato nunca pareceram à vontade com a ideia de serem, eles também, objetos de estudo; desse modo, a inclusão na minha proposta de um estudo antropológico da rede científica (ou técnica) foi recebida sempre com reservas por parte deles. O interesse que eu compartilhava com os biólogos era o de estudar as relações entre os moradores locais e as onças, e foi a partir desse horizonte comum que este trabalho se tornou possível. Procurei, no decorrer da pesquisa, abordar as designações regionais do gado a partir de uma dimensão temporal, ligada à colonização da região pela pecuária e também a partir do diálogo principalmente com duas fontes bibliográficas, Campos Filho (2002) e Banducci (1995), que 19 apontam para múltiplas relações regionais entre brabo e manso, doméstico e selvagem. Ao longo do trabalho, caracterizei as práticas de manejo e formas de classificação do gado pelos vaqueiros do Pantanal como modos de rastreamento. O abate das vacas para o consumo interno da fazenda e o processo de fabricação e de utilização do laço, atividades que fazem parte do cotidiano dos vaqueiros, foram definidos, por sua vez, como modos distintos de captura. Outra forma de captura é aquela em que as onças são perseguidas e anestesiadas – quando se tornam unidades produtoras de dados para a pesquisa científica. Este tipo de captura envolve a utilização de cães de caça e a assimilação de conhecimentos nativos, e é particularmente interessante, neste caso, como uma tradição ligada à eliminação das onças é redefinida como meio de preservação. O tema se desdobrou, em minha pesquisa, na leitura de uma série de fontes literárias sobre as caçadas de onça, e, de outro lado, na investigação sobre os modos de relação e de designação dos cães de caça. As práticas científicas que acompanhei ao longo da pesquisa eram ligadas à conservação e ao manejo das onças e baseadas principalmente na rádio-telemetria, uma metodologia fundadora da moderna biologia da conservação. Procurei mapear também o uso histórico das coleiras de rádio na região e investigar igualmente o modo como elas produzem um novo tipo de conhecimento sobre os animais. A partir de uma série de conexões transversais entre os horizontes de práticas presentes na etnografia, este livro é, portanto, um esforço de produzir uma descrição da onça pantaneira em seus múltiplos aspectos, sem estabelecer de saída uma separação entre os aspectos ecológicos e os aspectos sociais envolvidos no tema. É também uma reflexão sobre o olhar para o animal e sobre o olhar do animal. Uma relação com a onça, no ambiente da onça, envolve necessariamente um jogo de olhares. Ver e não ser visto. Se a onça se deixa ver, é porque ela não está caçando. O problema é justamente quando você não está vendo a onça no mato, porque ela pode estar vendo você. A sensação de que uma onça pode estar espreitando é uma sensação particular que marca a paisagem, que confere ao Pantanal uma qualidade própria. 20 21 Capítulo 1 Onças, cães e projetos de pesquisa uma primeira impressão Um homem chamou um caçador para ir atrás da onça. Quando eles chegaram no mato, ficou esperando enquanto os cachorros correram numa batida, e atrás deles o caçador. Mas a onça rodeou e voltou para trás de onde o homem estava esperando. Ele estava distraído pelo barulho dos cachorros e do caçador, e não viu a onça subindo numa árvore. Logo depois, o homem ouviu o barulho do caçador voltando com os cachorros, mas achou que a onça vinha na frente e fugiu, subindo na mesma árvore em que ela estava trepada. Quando o caçador chegou, e olhou pra cima, viu o homem e a onça na mesma árvore. Falou: – Não precisa pegar ela sozinho não, deixa que eu atiro aqui de baixo. Nisso, o cabra viu a onça em cima dele e despencou lá de cima, rolando no chão feito um quati. A cachorrada foi então para cima, achando que era um bicho, e acabou com ele. A história foi contada por um peão de gado pantaneiro para alguns outros peões e um pequeno grupo de pesquisadores que formavam uma roda para tomar o tereré, mate gelado típico da região sul do Pantanal. Era uma provocação bem-humorada aos integrantes do projeto conservacionista sediado na Fazenda Miranda, uma extensa propriedade localizada entre os rios Miranda e Aquidauana. Era começo de março, e eu fazia minha primeira viagem à região com o objetivo de conhecer projetos de pesquisa que tinham como objeto de estudo a onça-pintada. A Fazenda Miranda foi uma das primeiras a trabalhar com turismo ecológico nessa região e, 23 desde a década de 1980, conjugava a pecuária tradicional às atividades de turismo, voltadas sobretudo para a observação da vida selvagem e destinadas principalmente ao público estrangeiro. Estudos com animais selvagens no ambiente natural costumam ser feitos em parques nacionais ou reservas biológicas; isto é, lugares onde esses animais estariam idealmente isolados do contato humano. Os projetos realizados no Pantanal, por sua vez, precisam necessariamente lidar com as atividades humanas e com a presença dos rebanhos bovinos na paisagem. Ao problematizarem a relação entre os diversos agentes que constituem o mundo da onça, esses projetos trouxeram para o âmbito da pesquisa em ecologia diversos atores ligados ao universo humano – fazendeiros, caçadores, peões, gado, cães, turistas –, o que me parecia particularmente interessante para um trabalho antropológico. Nesta primeira viagem ao Pantanal, conheci projetos realizados por pesquisadores ligados a duas ONGs nacionais, a Pró-Carnívoros e o Fundo para a Conservação da Onça Pintada. Um tema central para esses trabalhos era a relação entre as onças e a criação de gado; uma relação historicamente conflituosa de eliminação dos predadores, tidos, em geral, como animais nocivos aos negócios. A situação começou a se modificar parcialmente com o desenvolvimento da ecologia e do turismo no Pantanal. Com a afirmação da imagem da região como “paraíso ecológico”, a onça, que sempre foi considerada um animal daninho, passaria aos poucos a ser vista como elemento central de uma nova economia. A Fazenda Miranda abrigou o primeiro estudo de longo prazo sobre a espécie, no início dos anos 1980 (Crawshaw e Quigley, 1984). Desde essa época, um tema central na conservação da onça era diagnosticar as causas e propor soluções para o problema da predação e para o consequente extermínio dos felinos pelos fazendeiros. As propostas que foram formuladas, nessas três décadas de pesquisa na região, para minimizar o conflito, incluem sugestões de mudanças no manejo do gado e de compensação financeira para os proprietários rurais (Silveira et al, 2008; Azevedo e Murray, 2007). Na época em que visitei a Miranda, em 2006, a propriedade fazia parte de um programa financiado pela Conservation International, uma das maiores ONGs conservacionistas do mundo, dentro do qual os pesquisadores identificavam ataques de onça a partir de registros fotográficos feitos pelos peões de gado da fazenda, e o proprietário recebia, pelas perdas, 24 o preço médio de mercado do boi na região. Outro aspecto do programa desenvolvido na fazenda e em seu entorno eram as atividades de educação ambiental, com a distribuição de livretos e cartilhas e a realização de entrevistas com as pessoas atendidas pelo projeto, além de assistência médico-odontológica prestada aos moradores locais. A fazenda contava também com um canil onde eram criados cães de caça com fins exclusivamente científicos, treinados para a captura das onças com o objetivo de se efetivar a colocação de coleiras de rádio. Não havia outros cães na propriedade, já que os animais de estimação tinham sido banidos a partir do momento em que o local se tornou refúgio ecológico. No dia seguinte à minha chegada, conheci o administrador da fazenda, o Sr. Estevão, que não pareceu gostar muito quando me apresentei. Ele disse: “Antropólogo? Tem muito antropólogo aí para defender os índios, mas nenhum para defender o fazendeiro”. Mais tarde, depois de superada a desconfiança inicial, contou-me que o avô viera do Rio Grande do Sul para a região, para trabalhar com gado: “Naquele tempo o gado era criado sem cerca, tudo no laço e no berrante”. Quando perguntei sobre as onças, disse que as mães costumam assustar os filhos no Pantanal, dizendo: “Não vai sozinho tomar banho lá no ribeirão que lá tem onça braba e te come”. Falou ainda que “antigamente tinha muita onça”, e que a fazenda tinha na época “um funcionário só para matar onça, senão, não tinha como criar gado”. Contou ainda que “naquele tempo, um bom cachorro onceiro valia vinte cabeças de gado, quando era cachorro bom mesmo, mestre”. A conversa se deu quando estávamos a caminho do canil, onde Sofia e Juliana, duas veterinárias que coordenavam a pesquisa na fazenda, iam fazer os preparativos para uma tentativa de captura que ocorreria na manhã seguinte. Chegando lá, elas me mostraram os cães, alguns importados dos EUA, de raças de caça: foxhounds, bloodhounds, coonhounds; mas o único cão mestre do canil era um pequeno vira-lata, “importado de uma fazenda vizinha” – disseram em tom de brincadeira –, chamado de mestrinho. O que fazia um cão ser considerado mestre, conforme me explicaram, era o fato de ele só seguir o rastro da onça, e não ir atrás de nenhum outro animal. Chamo a atenção para alguns nomes atribuídos aos cães do projeto: Maluca, Zagaia, Berrante, Bugio. Esses dois últimos nomes eram ligados ao uivo característicos das raças de caça (os hounds, em inglês). O grito do bugio, um macaco por vezes chamado de “uivador”, é um som 25 característico do ambiente pantaneiro, e de acordo com o capataz responsável pelo retiro, que também conheci na ocasião, era uma referência importante para os pantaneiros em suas relações com o ambiente: “A gente conhece bugio pelo vento. Se ele canta pra lá é vento sul, se é pro outro lado, é vento norte”. Assim se podia saber quando e de onde vem a chuva. O canil ficava num lugar chamado Retiro Tucano, a 15 km de distância da sede da fazenda, e passei alguns dias lá. No total, viviam no retiro dezoito pessoas. Os peões casados tinham suas próprias casas, onde moravam com suas famílias, enquanto os solteiros moravam num grande galpão, onde fica também uma das duas sedes do projeto de pesquisa na fazenda. O Tucano era o maior dos quatro retiros da fazenda, com um rebanho de mais de dez mil cabeças, cerca de um terço do gado que havia na propriedade. O retiro era administrado a partir de um cercado central, onde se trabalhava com os animais de montaria e com o gado. No mangueirão, como é chamado esse cercado, os animais eram periodicamente contados, vacinados, marcados e castrados; também eram separados aqueles que iam ser comercializados para as cidades de Miranda e Aquidauana. Os peões tinham categorias específicas para designar o gado manso – como os bois chamados de “sinuelos”, usados para facilitar o movimento do rebanho – e o gado bravo, ao qual se referiam como “bagual”. Este último tipo de gado, pelo que pude perceber no curto período em que estive no retiro, era fonte de muitas histórias de enfrentamento e provas de coragem entre os vaqueiros. Outro animal interessante no bestiário pantaneiro é o porco-monteiro. O porco doméstico, de origem europeia, que havia se adaptado ao ambiente do Pantanal e voltado à vida selvagem. É um animal interessante de observar para que se possa colocar em questão a relação entre doméstico e selvagem, ou entre exótico e nativo. O porco-monteiro ocupa um lugar próprio na cultura local, já que pode ser caçado e a carne dele é bem apreciada. Quando os peões o encontram ainda jovem, eles o laçam, amarram e capam, cortando um pedaço da orelha ou do rabo para marcar o animal. Fazem isso porque dizem que, se o bicho não for capado, a carne fica com o gosto ruim; é a mesma lógica que se usa para o gado. Chamam o animal inteiro de “guaiaco”, e capturam somente o “capado”, quando já está bem gordo para ser comido. Durante a minha estadia, um desses animais foi abatido pelos vaqueiros no campo e depois assado e servido na cantina do retiro. A caça ao porco-monteiro era a única permitida na fazenda, já que os animais nativos eram todos protegidos. Na 26 verdade, toda a área era um refúgio ecológico. Soube, por exemplo, que um dos moradores do retiro fora mandado embora por ter atirado num queixada, mas me contaram que ele teria sido recontratado depois. Acompanhei também a tentativa de captura de uma onça nesse período, na Fazenda Miranda, mas os pesquisadores não tiveram sucesso na empreitada. Pude, entretanto, registrar uma parte dos procedimentos envolvidos nesse processo. A caminhonete do projeto deixou o retiro antes de o sol nascer, com os cães na caçamba, em direção ao local onde um dos peões localizara o rastro fresco de uma onça. Como não me foi permitido acompanhar diretamente a atividade, apesar da minha insistência (a justificativa era que se tratava de atividade muito perigosa), fiquei recebendo notícias pelo rádio junto com um dos estagiários do projeto. No final da manhã, depois de uma longa e tensa conversa via rádio, veio a notícia de que um dos cães estava muito ferido e de que os pesquisadores haviam desistido da caçada. Algum tempo depois, uma caminhonete passou rapidamente pela base do projeto, levando o cão bugio para o veterinário em Aquidauana, para uma cirurgia de emergência. Mais tarde, ajudei Nilton, o guia de campo do projeto, a levar os outros cães, fatigados, de volta para o canil. Ele estava bastante preocupado. Repetia para os outros cães que tinham ficado: “Onça pegou bugio”. Mais tarde, já sabendo que o cão estava fora de perigo, contou mais detalhes de como tinha sido a caçada. De acordo com o relato, a onça, ao ser “acuada”, tinha ficado no chão, o que era uma situação especialmente arriscada. Como o mato era fechado, eles não conseguiram acertar o tiro de tranquilizante, que tinha que ser dado bem de perto. Nilton contou que a onça havia enfrentado os cachorros e que, depois de perdido o interesse neles, ficara olhando fixamente para os caçadores. Como ele era o que estava mais perto, fez uma “forquilha” com um galho de árvore, para se defender e, segundo ele, isso foi o que o salvou, já que a onça avançou direto em sua direção. Nilton contou tudo isso numa roda de tereré, no retiro, na manhã seguinte à tentativa de captura. O capataz do retiro, seu Antônio, que participava da conversa, falou que era assim que se caçava com a zagaia, a lança com a qual os antigos pantaneiros enfrentavam as onças: “tem que esperar a onça avançar, e firmar a zagaia no chão; quando a onça fica em pé para pular você coloca a zagaia na direção certa e ela mesma se fura”. Perguntei a ele se havia outros nomes para a onça, e ele respondeu que era mesmo onça-pintada, ou só pintada, 27 mas que brincavam às vezes chamando-a de mão-fofa. Distinguiu dois tipos: a malha larga e a malha fina, de acordo com o padrão das pintas dos animais. Chamou a onça-parda de “onça mansa, que só pega garrote, potro, carneiro, bicho macio”, e falou também da de lombo preto, segundo ele mais escura e maior do que a pardinha. Outro morador antigo da fazenda, com quem conversei um pouco depois, diferenciava a parda, ou pardinha, de outros dois tipos: a saçurana e a pata rajada. Essas duas últimas, de acordo com ele, eram maiores, e “pulam em bicho grande como a pintada”. Numa fazenda próxima, eu conversei também com um peão que havia sido surpreendido por uma onça-pintada quando passava de cavalo com o filho. Segundo ele, a onça estava de tocaia para pegar os cavalos, mas, quando viu os dois homens montados, deu um pulo para trás “igual um gato”, e voltou para o mato devagar. “Ela não tem medo de gente” – ele disse. Na mesma conversa, chamou a onça-parda de covarde, e contou uma história em que as vacas reagiram e mataram uma delas. Dinho, o praieiro do Retiro Tucano, contou ainda a história de uma parda que morava na região e tinha andado “comendo potrinho novo”. Segundo ele, outros dois peões tinham ido atrás e laçado a onça no campo para “dar um cacete nela”. Mais tarde, quando encontrei o peão que teria laçado a onça na história de Dinho, perguntei sobre o caso. Ele falou que tinha tentado, mas que não tinha conseguido pegar o bicho porque estava com um burro muito lento, mas que, “num cavalo bom, no limpo”, dava para laçar uma onça-parda sim. Mais tarde, Dinho me disse que o peão não tinha contado a verdade porque achava que eu fosse biólogo. Minha impressão nesta primeira estadia em uma fazenda pantaneira foi que as relações que os peões estabeleciam com os responsáveis pelo projeto eram parecidas com as que tinham antes com os caçadores: entravam em contato quando achavam rastros ou animais abatidos, acompanhavam e participavam das caçadas para a captura dos animais. Os peões se referiam aos pesquisadores como “onceiros”, ou como quem “mexe com onça”, assim como eles mesmos “mexem com o gado”. A questão da caça na região foi tema de uma série de conversas que tive com Luiz, o biólogo de campo do segundo projeto que visitei, na Fazenda Santa Luzia, localizada no Pantanal do Miranda. “Tem muita caça na região, e as fazendas onde não tem caça são a exceção”, ele me disse ao explicar que uma das principais dificuldades para a conservação das onças era a ausência de uma atuação efetiva do poder público em relação 28 à caça. A outra dificuldade, segundo ele, era a vontade dos fazendeiros, na medida em que as fazendas pantaneiras eram “como um Estado absolutista. Quem manda é o dono; ele determina que é proibida a caça e os peões da fazenda param de caçar”. A Santa Luzia trabalhava com turismo desde a década de 1990, e, na sede da fazenda, onde funcionava a pousada, havia uma sala com muitas fotografias antigas penduradas na parede, com imagens de caçadas. Sobre elas, uma zagaia (a lança usada nas caçadas de onça). A maioria dessas fotografias mostrava um caçador que viveu na região entre os anos 1930 e 40, chamado Sasha Siemel. De origem lituana, ele escreveu alguns livros contando suas aventuras. Sua principal obra é o livro Tigrero! (1957), escrito e publicado em inglês, no qual narra como ele teria sido o primeiro homem branco a aprender a manejar a zagaia, a partir das relações que estabeleceu com um índio guató que vivia na região. Siemel ficou também famoso enfrentando onças com a zagaia em um cercado construído em uma antiga fazenda da região sul do Pantanal, e as imagens dele circularam mundo afora. Independente da veracidade de seus relatos, trata-se de figura emblemática da caçada de aventura praticada nas primeiras décadas do século XX, que pode ser contraposta à imagem utilitarista da eliminação dos animais nocivos à criação de gado. Nas fotografias exibidas na sede da fazenda, a imagem mais comum era a de caçadores armados, ajoelhados em torno da onça abatida. Mas percebi que talvez essas imagens não fossem parte apenas do passado. Na entrevista que fiz com o guia de campo do projeto de pesquisa na Fazenda Santa Luzia, ele me falou que ainda eram comuns no Pantanal os “safáris”, como os da época de Sasha Siemel, nos quais os caçadores locais levavam gringos para atirarem nas onças. O projeto de pesquisa existente na Santa Luzia era sediado em uma casa da fazenda que contava com um auditório onde os biólogos faziam apresentações para os turistas hospedados na pousada. Em uma sala contígua ao auditório ficava o laboratório onde o material coletado no campo era reunido. Sobre uma mesa central estavam dispostos vários crânios de animais mortos pelas onças: veados, catetos, queixadas, capivaras, jacarés, vacas e outros. Essas ossadas, além das informações sobre o quando e o onde, falam também do como: nelas, os biólogos podiam identificar as marcas da mordida da onça e o modo como o animal tinha sido morto. 29 Um crânio de onça que estava nessa mesa tinha um significado especial para os pesquisadores. Era de uma onça que apareceu morta por um tiro numa fazenda vizinha. Luiz me mostrou o buraco feito pela bala e explicou que o animal estava com a coleira de rádio, o que permitiu que fosse localizado, mas o que significava também uma afronta aos pesquisadores. Tinha sido o maior animal capturado pelo projeto, um macho pesando 114 kg na ocasião da captura, e havia uma foto dele – cercado pela equipe de pesquisadores – pendurada na parede do auditório. Não pude deixar de observar a semelhança dessa imagem, em que os pesquisadores se reuniam em torno da onça anestesiada, com as antigas fotos de caça expostas na sede da fazenda. Comentei sobre isso com Luiz, que evidentemente não pareceu gostar muito da comparação, e que procurou me mostrar então como, nas fotografias tiradas nas capturas, havia todo um cuidado com a posição assumida em relação ao animal, para que ele não parecesse um troféu de caça. A relação entre a caça tradicional e a captura, com suas contradições e linhas de continuidade, tornou-se desde então um uma questão central para a minha pesquisa. o bezerro predado Pantanal do Abobral, Mato Grosso do Sul Na manhã do dia 3 de novembro de 2008, o biólogo de campo do Projeto Onça recebia uma mensagem pelo rádio. Era um aviso de que os peões da fazenda haviam encontrado os restos de um bezerro abatido por uma onça durante a noite. Desde que eu chegara ao local para retomar meu trabalho de campo, duas semanas antes, aquele era o primeiro caso de predação registrado pela equipe do projeto, e pude acompanhar os pesquisadores no percurso de caminhonete em direção ao ponto onde estava o bezerro. Eles levavam armadilhas fotográficas, antenas de rádio-telemetria e um computador portátil, que seriam usados em tentativas de localização das onças-pintadas que estavam sendo monitoradas no estudo científico. A Fazenda São Domingos, onde estávamos, localizava-se no município de Corumbá. Sua principal atividade era a criação de gado de corte, principal atividade econômica em todo Pantanal. Os dois integrantes da equipe de campo do projeto, naquela oportunidade, eram o biólogo Luiz, paulista radicado na região, e o mateiro Mariano, ou seu Mariano, morador local que fora anteriormente um caçador de onças. Os objetivos da 30 minha pesquisa na fazenda incluíam descrever as práticas científicas e as ações conservacionistas voltadas para a onça-pintada e também as atividades ligadas à domesticação e ao controle do gado dentro da propriedade. A interação predatória entre a onça e o gado era, neste caso, um tema de interesse comum entre biólogos, vaqueiros e fazendeiros. Um tema que repercutia – para além do campo – em uma série de discussões ligadas ao movimento ambientalista no Pantanal e às relações entre o atual e o tradicional na pecuária pantaneira. Um dos primeiros passos para o início da coleta de dados do projeto, praticamente um ano antes, em 2007, havia sido o estabelecimento de uma série de percursos fixos dentro da área da fazenda. Desde então, esses percursos tinham passado a ser feitos em intervalos periódicos pelos pesquisadores. Àquela época, eu havia acompanhado dois tipos de práticas de campo nos últimos dias. O objetivo da primeira delas era o estudo da densidade de animais silvestres na área, trabalho que era feito a partir dos registros das espécies observadas em saídas de carro, no começo da noite. O propósito da segunda era a localização de carcaças de animais, feitas em cavalgadas durante o dia. Era o final do período da seca. No dia em que o bezerro foi abatido, seguimos então na caminhonete do projeto por uma pequena estrada vicinal da propriedade, cortando a paisagem típica do pantanal do Abobral,1 uma planície composta de vastos campos de vegetação rasteira entremeados de formações isoladas de floresta, os chamados capões ou cordilheiras de mata. Depois de aproximadamente quarenta minutos de estrada – com algumas paradas para abrir porteiras – chegamos finalmente às proximidades do local onde o bezerro havia sido encontrado. O sol ainda estava alto, e a movimentação de uma grande quantidade de urubus sobre um capão de vegetação cerrada indicava a localização do animal (os maiores aliados dos pesquisadores nessa tarefa eram os urubus, sendo a observação do voo desses pássaros o melhor sinal para se chegar até os restos de um animal abatido por uma onça). O corpo do bezerro estava cerca de quarenta metros no interior da mata, sob um emaranhado de galhos e cipós. Examinando a carcaça, Luiz identificou perfurações causadas por uma mordida na base do crânio do bezerro – sinal típico do ataque de 1 Utilizo como referência as 11 sub-regiões propostas pela Embrapa Pantanal (Silva; Abdon, 1998). Disponível em: <http://www.cpap.embrapa.br/skel.php?end=paginasec/pantanal.html>. Acesso em: 13 jul. 2012. 31 uma onça-pintada. O biólogo anotou então em sua caderneta de campo o número do brinco do animal, o horário em que foi encontrado, as condições do terreno e as condições da carcaça, estimando o tempo decorrido desde o evento de predação; em seguida registrou as coordenadas de localização por meio de um aparelho de GPS portátil. Depois de fechar a caderneta, preparou a antena de rádio-telemetria e, usando um fone de ouvido, fez várias tentativas de localização de sinais sonoros utilizando as frequências VHF referentes às dez coleiras que estavam sendo usados pelas onças-pintadas. Enquanto isso, seu Mariano observou que somente uma parte das costelas do bezerro havia sido consumida, o que aumentava as chances de que o predador responsável voltasse ao local. Preparou em seguida duas armadilhas fotográficas, compostas de caixas de plástico resistente equipadas com câmeras e sensores de movimento, amarrando-as em troncos de árvores próximas. Os equipamentos foram apontados para a carcaça do bezerro e programados para disparos consecutivos com intervalos de dez segundos (ver fotos na p. 41). Originadas no manejo de animais de caça nos EUA, as armadilhas fotográficas foram desenvolvidas como ferramentas na biologia da conservação em pesquisas de campo com tigres na Índia (Sunquist, 1981). A partir daí, a técnica passou a ser utilizada para outras espécies de felinos, tais como leopardos e onças-pintadas, que podiam ser identificados pelos padrões gráficos da pelagem, sendo utilizada para estimar a abundância e a distribuição dessas espécies no ambiente natural (Silver, 2005, p. 3). Em 2006, quando visitei pela primeira vez os projetos de campo, as armadilhas ainda usavam filme em película, e os pesquisadores precisavam ir até a cidade para revelá-los antes de ver a imagem. A adaptação das câmeras digitais à função era dificultada pelo gap que havia entre o disparo e o registro da imagem. O problema, contudo, já fora solucionado em 2008, e as câmeras das armadilhas preparadas por seu Mariano eram digitais. Para aumentar as chances de identificação do predador, ele utilizou um cordãozinho vermelho que tinha no bolso para amarrar as patas traseiras do animal morto a um galho atravessado na horizontal. Explicou que aquilo não ia segurar a onça, mas poderia proporcionar um instante a mais para a fotografia. Seguimos então os rastros do felino até o lado de fora do capão, percorrendo em sentido contrário a trilha deixada por ele ao arrastar o bezerro, e chegamos até o ponto, em campo aberto, onde seu Mariano 32
Download