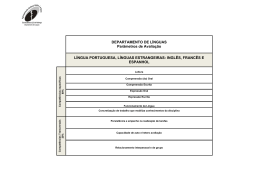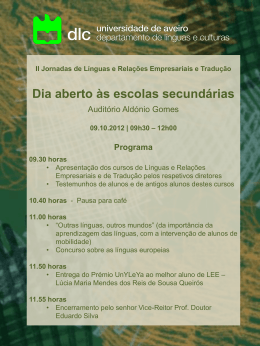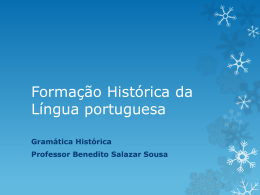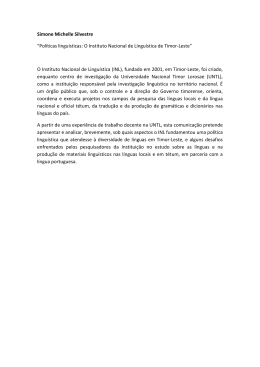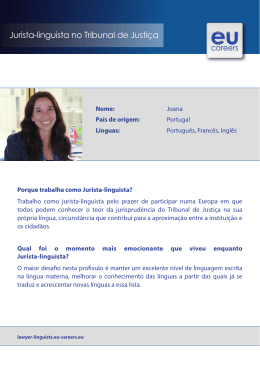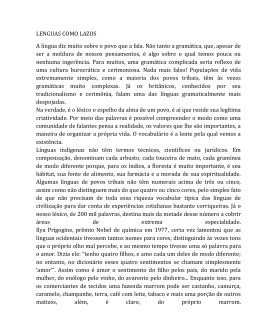UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE FACULDADE DE LETRAS E CIÊNCIAS SOCIAIS CÁTEDRA DE “PORTUGUÊS LÍNGUA SEGUNDA E ESTRANGEIRA” COLÓQUIO “PORTUGUÊS EM CONTEXTO AFRICANO MULTILINGUE: EM BUSCA DE CONSENSOS PORTUGUÊS: LÍNGUA DE FAZER MOÇAMBIQUE ? LUIS BERNARDO HONWANA O privilégio de usar da palavra antes da ‘ordem do dia’, como se diria noutro tipo de assembleia, dá-me a possibilidade de trazer à consideração dos participantes algumas preocupações que, embora se refiram também ao tema geral, não têm outra pretensão se não a de oferecer um pano de fundo aos debates que se vão seguir. Este colóquio está claramente voltado para os problemas da docência. As várias questões que condicionam a maneira como se perspectiva no nosso país o ensino do português relevam também da política linguística. Não me vou fixar nesse tema, mas o que tenho a dizer situa-se entre a inevitabilidade e as limitações das políticas linguísticas. Pergunta retórica é aquela que é formulada por quem se propõe dar-lhe resposta. É uma dúvida que só se coloca para acentuar o que na verdade se pretende afirmar. Um ponto de interrogação no título de uma palestra será, se quiserem, um ‘caso agravado’ de pergunta retórica: é que daí se depreende que o objectivo da palestra não é outra coisa senão responder longamente e positivamente à interrogação formulada. E, tratando-se, como é o caso desta apresentação, da língua portuguesa, mais razões haverá para acreditar que de facto o discurso só pode ter esse propósito. Imagina-se o palestrante armado com um saco de argumentos e pronto para esmagar em definitivo quaisquer posições contrárias... Acredito que para alguns dos que me escutam a questão do português já está de há muito resolvida. Para eles, hoje já não pode haver dúvidas sobre o lugar e papel desse idioma no processo moçambicano. Lugar e papel, como sabemos, inscritos na matriz da pátria moçambicana desde o próprio processo libertador e refirmados depois nos textos fundamentais, nas leis e na administração; lugar e papel proclamados por quantas opiniões qualificadas se têm registado sobre o assunto em jornais e em 1 debates públicos. E, mais do que tudo, consagrados pela prática, pois o português é a língua do ensino, a língua da comunicação social e da literatura, a língua da política, a língua, enfim, em que verdadeiramente se exerce a cidadania. Quaisquer dúvidas a este respeito deveriam por isso ser resolutamente afastadas, por ociosas e inúteis. Pois eu quero e devo esclarecer é que o ponto de interrogação no título desta minha intervenção é de facto genuíno. Ele exprime, se não dúvida total, pelo menos inquietação e desconforto perante a maneira como entre nós se abordam estas questões. Eu não vejo como se pode ser, por exemplo, tão assertivo (e até prescritivo), em relação a uma matéria tão sensível e tão complexa. São para isso demasiadas as variáveis e por demais evidentes os riscos que apresentam as vias únicas. Aliás, as vias únicas são pouco saudáveis, seja para o que for. Não faz muito tempo eu escutei com pasmo, num programa televisivo, a tentativa emocional de demonstrar a inevitabilidade histórica da evolução do quadro linguístico de Moçambique para uma situação semelhante à do Brasil. Ora, entre nós e o Brasil existem, e ainda bem, algumas semelhanças importantes, mas também muitas diferenças fundamentais. É batota passar por cima destas, no afã de sobrevalorizar aquelas. É certo que o Brasil colonial configurava também uma sociedade multilingue em que, além do português, se falavam – e ensinavam! - várias outras línguas. Além das próprias línguas indígenas, o quimbundo e o ioruba, línguas africanas levadas pelos escravos, tinham também grande presença em cidades como Salvador da Baía e Rio de Janeiro. Em 1757, num dos seus actos de ‘déspota iluminado’, o Marquês de Pombal, no mesmo passo em que tornava obrigatório nas escolas metropolitanas o ensino da gramática portuguesa, proibiu o ensino e o uso público no Brasil das línguas indígenas e das línguas africanas. Essa decisão teve inteiro sucesso, no ponto de vista do Marquês, porque aquelas línguas ou desapareceram totalmente do mapa linguístico do Brasil ou, se persistem, perderam a projecção social que alguma vez teriam alcançado. Em Moçambique o colonialismo também reprimia aquilo que se designava por ‘landim’ ou por ‘dialecto’ nas escolas, nas igrejas e nas repartições.1 Também se tentou, por todas as formas, impôr o uso exclusivo do português, primeiro nos meios ditos ‘civilizados’ e depois, tendencialmente, no conjunto do território. 1 Daniel Marivate, um compositor tsonga que emigrou para a África do Sul em inícios do Século XX, gravou músicas que ficaram famosos por denunciarem a proibição do ensino de línguas moçambicanas, particularmente nas escolas das missões protestantes, e a imposição do português como língua de ensino. 2 Como sabemos, essa política não resultou. E não podemos explicar esse insucesso pelo facto de, no caso de Moçambique, não se ter ido ao extremo de, exemplarmente, cortar a língua aos prevaricadores, como aconteceu no Brasil. Mesmo aí, o sucesso não se explica unicamente pelo zelo sanguinário com que se fizeram cumprir as decisões do Marquês. Tanto num caso como no outro, os dados demográficos e o quadro socio-político é que foram determinantes. O português no Brasil não é apenas a língua do antigo colonizador, como aqui gostamos de acentuar; ele é igualmente a língua materna da vasta maioria da população e, especialmente, daqueles estratos sociais que sempre foram politicamente relevantes. Ao tempo do ‘grito de Ipiranga’, não havia diferenças étnicas (e também não de classe, religião ou cultura) entre os que defendiam os interesses da coroa e os que queriam a emancipação. A independência do Brasil, consequência previsível da chamada ‘inversão metropolitana’ e do efeito de contágio da Revolução Americana – é, ironicamente, o triunfo de um príncipe absolutista, em conflito com o rei seu pai e apoiado por uma burguesia rural esclavagista. Nesse contexto, as línguas ‘índias’ ou as línguas africanas que o tráfico escravo levou para o outro lado do Atlântico não poderiam nunca alcançar uma expressão social e política comparável à dos diferentes grupos etno-linguísticos que fazem a realidade moçambicana. No Brasil, nunca se colocou, nunca se poderia colocar, a questão língua ou línguas nacionais vs língua oficial. As circunstâncias que em Moçambique elevaram ao estatuto actual a língua comum são totalmente distintas: não traduzem uma evidência, revelam um compromisso. No nosso caso, quando o português é proclamado a ‘língua de unidade nacional’ ou quando passa a ser a língua oficial do país, explícita ou implicitamente, há um proviso quod que contempla e salvaguarda um espaço para o desenvolvimento das línguas portadores da nossa diversidade cultural. E, porque de compromisso se trata, devemos reconhecer a existência de uma tensão como que inerente à problemática da língua. Temos, por um lado, o desejo legítimo de modernidade e progresso e, por outro, o imperativo de garantir que se faça ouvir a voz de todos os moçambicanos exprimindo a sua vontade, os seus anseios e a sua opinião quanto à forma de alcançar os objectivos comuns nas línguas em que melhor o sabem fazer. Esta seria talvez uma outra forma de conceber a construção da unidade nacional. 3 As necessidades comunicativas na perspectiva do estado e na perpectiva da nação – melhor dizendo, do processo de construção nacional – nem sempre são convergentes. A nação, no quadro histórico da África sub-sahariana é sempre um compósito multi-étnico, multicultural e plurilingue. Para a maioria dos nossos concidadãos, as tradições, as práticas culturais e as crenças específicas do grupo a que pertencem constituem os grandes blocos da construção identitária – ao lado da própria identidade nacional e, não poucas vezes, precedendo-a na ordem de importância.2 A língua materna é para esses moçambicanos o único instrumento de socialização. O estado - que se deve afirmar na arena internacional e tem por obrigação promover e defender a coesão nacional, a regularidade de funcionamento das instituições e o desenvolvimento geral - privilegia a eficácia e a economia de custos na comunicação. Dada a impraticabilidade da utilização das línguas nacionais e o receio de criar ressentimentos insanáveis com a escolha arbitrária de uma delas para a prossecucão dos seus fins, a designação da língua da antiga potência colonizadora como língua oficial é a opção lógica. Porém, não são apenas considerações de ordem pragmática o que pesa na designação da língua oficial nos estados pós-coloniais. A criação de um estado moderno é o primeiro objectivo do movimento nacionalista mas temos de conceder que essa forma específica de organização do poder, como modelo conceptual, corresponde a uma experiência histórica alheia ao nosso continente. No processo da sua implantação nos novos espaços, ela não perdeu a malha idiossincrática que necessariamente traz de origem. A primeira prefiguração do estado moderno é para os povos dominados de África o próprio aparelho administrativo do colonialismo, com instituições que, embora de forma imperfeita e distorções evidentes, trazem para o espaço da colónia o princípio da separação dos poderes e estendem a todos (à exclusão, evidentemente, das massas colonizadas), os direitos, liberdades e as garantias constitucionais. Mas também com o seu centralismo, com a sua mística e com os seus rituais. A adopção da língua do colonizador como a língua oficial dos novos estados é explicada e justificada pelos teóricos do nacionalismo africano. Mas não é indiferente a essa decisão, mesmo se de maneira não racionalizada, o carácter de língua da liturgia do estado que o idioma do colonizador assume, na percepção do colonizado. 2 O que não deixa de ser aceitável, se pensarmos a identidade nacional como um processo, um objectivo a atingir e não como um dado à partida. 4 A política linguística, normalmente, surge como forma de mediação do conflito percebido entre as necessidades correntes do funcionamento de um estado moderno e a essência multicultural do projecto de sociedade. Tollefson (1991:201) introduz uma nota de dúvida quanto à eficácia das políticas linguísticas, pois, elas acabam sempre por promover interesses de grupo. Diz mesmo que ‘A hegemonia do inglês ou de outras línguas não é meramente tolerada nos países em desenvolvimento; ela é considerada um modelo legítimo para a sociedade. Em muitos países recentemente independentes, uma pequena elite de falantes de inglês controla os órgãos de decisão do estado à exclusão das massas populares’. Aqui também conta a incidência do sindroma que Ingrid Goglin (1994) baptizou de monolingual habitus. Efectivamente, a questão linguística reconduz sempre às relações de poder. A transmutação da língua oficial em língua dominante nunca tarda a ocorrer. O conceito de ‘mercado linguístico’ e a manipulação das políticas linguísticas de modo a preservar o monopólio de acesso à língua ou variedade linguística simbolicamente associada ao poder - de que nos fala Bourdieu (1991) também apontam no mesmo sentido. Neville Alexander da universidade de Cape Town, na sua comunicação ‘After Apartheid: The Language Question’, descreve as características essenciais da política linguística que é unanimemente considerada a mais avançada do continente: a da África do Sul. Mas o que Neville Alexander pretende evidenciar nesse ensaio é a modéstia dos ganhos dessa política linguística - incluindo no ensino - e a ausência de vontade política para promover a aplicação rigorosa dessa política, numa atitude que afinal não é distante da ‘elite closure’ descrita por Meyers-Scotton (1990:27)3. É difícil não ver o paralelismo entre a situação descrita por Neville Alexandre e a nossa própria situação, em Moçambique. Mas não nos devemos comprazer com a enumeração das limitações (que são tantas!,) das medidas até aqui adoptadas para fazer a gestão do multilinguismo dos nossos estados. O objectivo não é a denúncia da política linguística, mesmo quando a crítica é severa, como em Alexander – mas sim o seu resgate. 3 A ‘elite closure’ (fechamento das elites) é a prática que envolve, formal ou informalmente, a institucionalização dos hábitos linguísticos da elite, de modo a limitar a mobilidade socio-económica e o poder político ao grupo pessoas que possuam o necessário domínio da língua, ou suas variedades, tidas por apropriadas. Este fenómeno pode verificar-se em relação às próprias línguas nacionais. Observa a autora que na África Sub-Saariana o fechamento das elites é agravado pelo facto de as línguas dominantes serem as dos antigos colonizadores. 5 Falando do nacionalismo africano, Ali Mazrui, em ‘The Power of Babel’ (1998), ironicamente lamentou que o mesmo tenha surgido num momento em que as guerras inter-fronteiras, incluindo as guerras de conquista, já não eram moralmente aceitáveis. A construção das nações da Europa, mesmo as que se têm por mais sólidas e consolidadas, fêz-se através de guerras. Do mesmo modo, a construção das línguas. As formas de coaccão que o Marquês utilizou para impôr o uso exclusivo do português no Brasil, não são facto isolado na história da construção da hegemonia linguística. A política linguística é uma conquista do nosso tempo histórico. A sua importância decorre da mudança de paradigma no conceito de nacionalismo. No lugar da construção da nação por um processo de hegemonização em volta de uma cultura dominante – em que o território que essa nação se arroga é o definido pela comunidade de língua, como ocorreu no nacionalismo clássico, o nacionalismo africano concebe a nação como um projecto a realizar no espaço multilíngue pelas fronteiras herdadas do colonialismo. O estado é simuntaneamente o objectivo final do movimento nacionalista e o instrumento para a construção da nação que, consequentemente, deve ter uma natureza multicultural. A política linguística vem assim substituir os processos violentos que levaram à formação das actuais línguas universais e línguas nacionais eurásicas. Ela é um elemento fundamental na validação e defesa do multiculturalismo como alternativa nacional. Em vez de ser tratado com algum descaso, como infelizmente acontece, esse instrumento fundamental para a pacificação social e até para a sustentabilidade do projecto nacional deveria ser objecto de investigação aprofundada, e debate alargado e permanente. O multilinguismo que se projecta não é o que consiste na actual divisão de funções, em que, no nosso caso, às línguas moçambicanas cabe uma agenda local – a educação informal, os assuntos familiares, os interesses da comunidade próxima, as tradições culturais, etc. – e, ao português, a agenda nacional – o ensino e a investigação, a comunicação social, a gestão da economia, a administração e a actividade política ... A situação de paridade, há que aceitá-lo, é um projecto a prazo e tem custos elevados, mas nem por isso deixa de ser prioritário. Maiores custos, talvez não apenas económicos, importará o adiar indefinidamente a nobilitação e o desenvolvimento das línguas moçambicanas com a introdução no seu uso de todos os registos possíveis, como sugere Armando Jorge Lopes (2004). Mas mesmo antes do desenvolvimento que se preconiza , o virtual confinamento das possibilidades de participação às áreas cobertas pela ‘agenda’ particular da língua que se fala, representa um ónus elevado na nossa actividade 6 pública. Para além de importar em situações cujo caricato só escapa a quem não conheça a fundo qualquer língua moçambicana. O mesmo indivíduo que vemos numa assembleia meio perdido dos assuntos e a exprimir-se em português com dificuldades evidentes, pode revelar-se surpreendentemente articulado e até sofisticado na sua argumentação , se o transportarmos para o ambiente onde ele tem a liberdade de falar na sua língua mãe. Em qualquer tribunal consuetudinário em qualquer culto religioso onde se falem línguas moçambicanas, em qualquer cerimónia familiar – podemos ouvir verdadeiras peças de eloquência onde se descreve com gosto, se analisa com profundidade e se demonstra um conhecimento da vida e dos problemas que nem sempre se manifesta nas reuniões onde muitas vezes pessoas deficientemente escolarizadas se sentem constrangidas a falar em português. É difícil concordar com os repetem a todo o momento que ‘os povos é que fazem as línguas’, com o intuito de desencorajar qualquer atitude de planificação linguística. Mas também não acredito que as dinâmicas próprias dos processos linguísticos fiquem suspensas enquanto os homens discutem e decidem sobre o que deve ser feito. No que diz respeito às línguas, elas sofrerão certamente alguma evolução consoante a incidência sobre os seus falantes do impactos de movimentos populacionais, da miscigenação cultural, da maior disseminação de informação e até do possível enfraquecimento da capacidade congregadora das estruturas da sociedade tradicional. Particularmente nos meios urbanos, o conceito de ‘identidade’ deixa progressivamente de ser entendido como uma muralha defensiva em volta de um sistema de práticas, de tradições e de uma determinada cosmogonia; o convívio mais alargado e diversificado leva a que se encontrem novas redes de afinidade, e ao lado das referências de origem, se escolham outras pertenças. Mas mesmo no seio de comunidades rurais onde as tradição são mais vivas e actuantes, sempre ocorrem transformações e se reformulam conceitos. O princípio de ‘Gestão das Transformações Sociais’4 assenta precisamente no estudo das dinâmicas sociais de forma a introduzir medidas de ajustamento ou correcção que ajudem a viabilizar os modelos que se tem por mais justos e mais equitativos. Pela ordem natural das coisas, o número de línguas faladas tenderá sempre a diminuir e nunca a aumentar. Mas será profundamente errado e ofensivo dos 4 MOST (Managemente of Social Transformation) é um programa do Sector de Ciências Sociais da UNESCO iniciado nos anos 1990 e destinado a assistir as instâncias de decisão com dados de investigação e instrumentos de análise cobrindo os mais variados campos de acção. 7 direitos mais elementares (como històricamente aconteceu no caso das línguas universais e com as línguas nacionais) tentar antecipar ou forçar essa diminuição. O questionamento metódico, a reavaliação de argumentos e posições, o aprofundamento do estudo da nossa realidade – constituem seguramente a forma mais sensível e também mais sensata, de abordarmos estas questões. O que nos conduz ao que penso ser o grande mérito da abordagem académica, de uma maneira geral, e a deste colóquio, de modo particular. O nosso tema geral é, como sabem, ‘O Português em contexto Africano Multilingue’. O enfoque deste exercício não é portanto a problemática geral da comunicação no nosso país, mas tão somente a língua portuguesa. Não obstante, a abordagem que se propõe tem implícita não só a nossa essência multicultural como também a clara rejeição de uma perspectiva eurocêntrica. Dá-me prazer sublinhar o uso do qualificativo ‘africano’, de tão comedida ser entre nós a sua utilização, mesmo em exercícios académicos. O tema abre-se às contribuições de diferentes sensibilidades e competências mas, pela colocação do assunto, os participantes estarão de sobreaviso contra as ambiguidades, as formulações subjectivas e os voluntarismos que muitas vezes marcam o debate à volta do português de Moçambique. É realmente neste quadro que se pode apreciar e valorizar devidamente – isto é, sem que na apreciação pesem considerações decorrentes das insuficiências da política linguística ou as incidências de certas agendas políticas – o enorme acervo de informação, de reflexão e até de criatividade que os moçambicanos têm produzido com recurso à língua portuguesa. Falar-se-á mais adiante no programa deste colóquio na indigenização do português – pois o nosso património ficcional e ensaístico e jornalístico ilustram de forma brilhante o processo de nacionalização do português na sua vertente cultural. O português é língua de pensar Moçambique porque tem-no sido. E tem-no sido desde as manifestações do proto-nacionalismo até à luta de libertação nacional e ao essencial do que se tem dito e feito no equacionamento dos problemas do país. As intervenções públicas de Samora Machel que, retransmitidas vinte e cinco anos após a sua morte, concitam o interesse da juventude que o não conheceu e do público em geral que recorda a frontalidade, a coerência, a elevação moral e também a capacidade de comunicação que caracterizavam o fundador do estado moçambicana – são em português. E isso não diminui a sua enorme popularidade e adesão espontânea. 8 Caso curioso: ninguém se lembrou de traduzir essas intervenções para línguas moçambicanas, talvez pela ideia (claramente errada) de as questões nelas levantadas apelarem essencialmente a um público urbano. Este episódio dos discursos samorianos é uma ilustração da importância estratégica inquestionável do português, no nosso processo. E também uma oportuna chamada de atenção quanto às obrigações que, como nação, temos para com a língua oficial. O notável crecimento da rede escolar tem contribuído para a expansão da língua portuguesa pelo país, mas começa a ser preocupante a deterioração do nível de competência do falante médio do português em Moçambique. Apontase como causa principal a impreparação dos nossos professores e a falta de infrastruturas físicas e de apoio, mas penso que talvez também se possa questionar a adequacidade da filosofia e das estratégias adoptadas pelo sistema de educação, pelo menos no que respeita à questão da lingua. Porque estou perante uma plateia essencialmente de educadores dispenso-me de invocar os inúmeros estudos e as insistentes recomendação da UNESCO no sentido de os primeiros anos do processo de ensino/aprendizagem serem feitos na língua-mãe. Houve, como sabemos, muitos anos de hesitação antes da adopção desse princípio pelo nosso sistema de educação e, mesmo na actualidade, a sua implementação ainda é em regime experimental. Ora as situações históricas mais conhecidas de competência no uso da língua portuguesa, por parte de moçambicanos, são igualmente ilustrativas de casos de perfeito bilinguismo. Trata-se de indivíduos que embora em poucos casos tenham ido para além da instrução primária como nível educacional, tiveram de comum a sorte de ‘adquirir’ a língua portuguesa depois de escolarizados na sua língua mãe. Muitos foram figuras de grande projecção social, dirigentes associativos e líderes religiosos. Alguns deixaram obra escrita – note-se, em português mas também em línguas moçambicanas. Sobre a qualidade desse legado dão-nos uma ideia publicações como ‘O Africano’, ‘O Brado Africano’, ‘A Voz Africana’, ‘A Voz da Zambézia’ e o ‘Itinerário’, entre outras5. Profissionalmente, eram escriturários, operários, empregados de comércio, funcionários na Fazenda ou na Imprensa Nacional, enfermeiros...6 5 E até em jornais portugueses como ‘O Combate’, órgão socialista nos anos 20 do século passado. Cf. De Escravo a Cozinheiro de Valdemiro Zamparoni (2007). 6 Rocha (2006) reproduz, num dos anexos da sua obra ‘Associativismo e Nativismo em Moçambique’, a lista de sócios do Grémio Africano de Lourenço Marques recenseados entre 1908 e 1940 – um documento que ilustra amplamente o que se afirma. 9 Não obstante os reparos e as críticas que legitimamente se lhe fazem é essencialmente ao sector da educação que se pede esse duplo esforço de melhorar os níveis de competência línguística quer no português quer nas nas outras línguas nacionais. Em paralelo com o monitoramento contínuo do processo de moçambicanização do português, deve-se melhorar o nível de preparação dos professores a todos os níveis e deve-se apoiar a sua acção com um maior nível de exigência no uso que se faz da língua na comunicação social. O jornal, a rádio e a televisão, pelo seu grande impacto junto das audiências, podem e devem, nesta fase, complementar a acção da escola, na difusão das línguas – quer na sua programação geral, quer através de rubricas especificamente elaborados com esse propósito. Mas a resposta decisiva cabe sem dúvida às políticas línguísticas. Se continuarmos com o conservadorismo extremo que nos tem caracterizado no ensino das línguas nacionais e com os modestos níveis de proficiência na uso da língua portuguesa, arriscamo-nos a comprometer a própria capacidade de comunicação no país. E, para fazer Moçambique, comunicar é preciso! Muito obrigado pela vossa atenção. Referências Bibliográficas ALEXANDER, Neville (s/d ) After Apartheid: The Language Question, Yale University (não publicado) BAYART, Jean-François (2005) The Illusion of Cultural Identity. Londres: Hurst & Company. BOURDIEU, Pierre (2003) Language & Symbolic Power. Harvard: Harvard University Press. 10 CRUZ E SILVA, Teresa (2001) Igrejas Protestantes e Consciência Política no Sul de Moçambique: O caso da Missão Suíça. Maputo: PROMÉDIA. FIRMINO, Gregório (2005) A “Questão Linguística” na África Pós-Colonial: o caso do português e das línguas autóctones em Moçambique. Maputo: Texto Editores. HONWANA, Raul Bernardo (1985) Memórias. Porto: Edições ASA. LOPES, Armando Jorge (2004) A Batalha das Línguas. Maputo: Imprensa Universitária. MAZRUI, Ali & Alamin M. Mazrui (1998) The Power of Babel: Language and Governance in the African Experience. Chicago: The University of Chicago Press Book. MYERS-SCOTTON, C. (1990) Elite closure as boundary maintenance. The case of Africa. In B. Weinstein (ed.) Language Policy and Political Development. Norwood, NJ.: Ablex Publishing Corporation. ROCHA, Aurélio (2006) Associativismo e Nativismo em Moçambique. Maputo: Texto Editores. ROCHA, Ilídio (2000) A Imprensa de Moçambique História e Catálogo (1854-1975). Lisboa: Livros do Brasil. SERRA, Carlos (Org.) (1998) Identidade Moçambicanidade Moçambicanização. Maputo: Livraria Universitária Universidade Eduardo Mondlane. TOLLEFSON, J. (1991) Planning Language, Planning Inequality. Language Policy in the Community. Londres: Longman. 11
Baixar