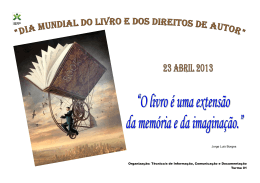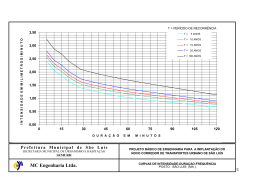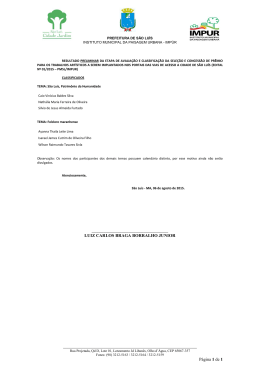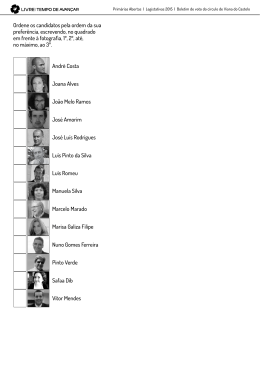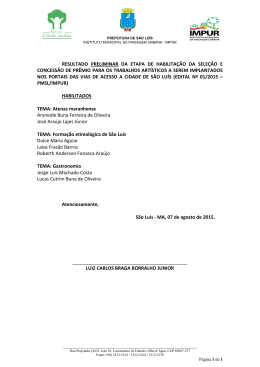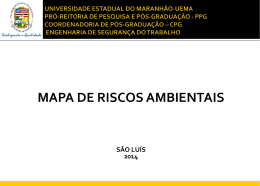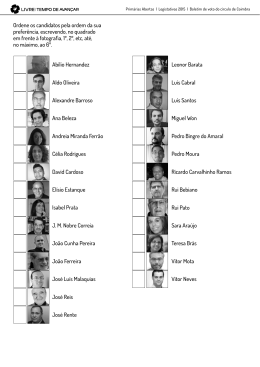1 Nuances culturais: o fazer festeiro de São Luís Álvaro Roberto Pires Universidade Federal do Maranhão (UFMA) Resumo: Os tambores, as danças de rua compõem o mosaico das manifestações culturais produzidas em São Luís (MA). Instrumentos e movimento (re)criam as estruturas da cultura popular, produzida num ambiente social que experimenta, há bem pouco tempo, conviver com o paradigma da modernidade tardia. Existe uma mulher chamada Catirina, muito provavelmente assemelhada às diversas moças que habitam as cidades nordestinas. Catirina possui um desejo intenso de comer a língua do boi mais bonito da fazenda onde mora e trabalha, compelindo Pai Francisco, seu marido, a satisfazê-lo, furtando o tal boi. O boi é roubado e levado para longe da fazenda, ato logo descoberto pelo “amo”, dono do animal que furioso manda perseguir o culpado. Pai Francisco é capturado, confessando seu crime; o “amo” perdoa sua falta e tudo acaba em festa com muita música e celebração. O auto se desenvolve “...com cenas e cantorias, às vezes cômicas, às vezes conceituais, críticas e até filosóficas, quando não poéticas”. (Carlos de Lima, Comissão Maranhense de Folclore, Boletim 11,agosto/98). A pantomima, revisitada todos os anos nas diversas comunidades, Centro Histórico, arredores da cidade de São Luís, estado do Maranhão, faz parte dos eventos juninos. Os festejos presenciam grande afluência de pessoas espalhadas pelos quatro cantos da ilha, empurradas pela bonita poesia que sai da boca dos cantadores em forma de cantigas, repetidas pela multidão sempre no compasso das matracas1 e pandeiros2. O cancioneiro faz ecoar seu canto: 1 “As matracas são duas peças de madeira, que batidas uma contra a outra provocam um som estridente. Elas podem ser de madeira rústica, polidas ou enceradas, usadas em separado ou juntas pôr um fio ou cordão. São de tamanhos variados, as quais podem trazer um furo no meio para darem melhor som e serem penduradas no pescoço de seus donos, que funciona como ponto de apoio para que sejam tocadas com as mãos de maneira ágil e rápida”. (CARVALHO, 1995:196). 2 “Os pandeiros representam rodas de madeira, que são os aros do instrumento, geralmente cobertos de couro de cabra, que tem pele mais fina, daí “esquentar” mais depressa, propiciando um melhor som. [...] Na sua confecção o couro é bem esticado e pregado sob os aros com pregos 2 “As matracas e pandeiros É que faz tremer o chão Esta herança foi deixada por nossos avós Hoje cultivada por nós Prá compor tua história Maranhão”3 O desejo de Catirina em comer a língua do boi serve de pivô para que aconteça um dos momentos mais criativos e verdadeiros das manifestações populares desenvolvidas na capital do “meio norte”: a brincadeira do bumba-meu-boi. A motivação para o desenrolar desse folguedo possui variados significados além da pequena estória narrada acima. Outras interpretações dessa brincadeira popular dizem que o “bumba-meu-boi maranhense é, tradicionalmente realizado na intenção de São João, com base na crença de que agrada a esse Santo organizar um boi ou participar de um que já se ache organizado. Através dos cantos, danças e demais elementos do ritual de bumba, seus participantes rendem homenagens a São João, pagam promessas feitas, ou seja, o boi funciona como veículo de comunicação espiritual, como ponte de ligação entre o Santo e o devoto. [...] Embora essa explicação de cunho religioso ligada à figura de São João seja a mais forte, a mais evidente e comumente aceita como justificativa e motivação para a realização do Bumbaboi maranhense, existe, secundariamente, como um componente da fértil imaginação popular, uma ligação entre o Bumba-boi e a curiosa “Lenda de Dom Sebastião”, rei de Portugal. Conta-se que esse rei, depois de desaparecer em Alcácer-Quibir, veio com toda a corte de Queluz, encantar-se na Praia dos Lençóis, localizada no município de Cururupu, no Estado do Maranhão. A partir daí, ou “arestas”, isto é, “taxinhas”. Para serem bem afinados, os pandeiros são sempre trazidos “quentes”, e, para tal são esquentados sistematicamente no fogo. Pôr isso, onde chega o boi precisa improvisar uma fogueira, pois o vento vai batendo nos pandeiros e eles vão esfriando, amolecendo, necessitando de um calor para poderem “soltar” o seu som. [...] (op. cit., p.196). 3 Trecho da cantiga “Maracanã e suas raízes”, interpretada por Humberto do Maracanã, CD “25 anos de toadas do guriatã no Maracanã”. 3 justamente durante o período das festas juninas, ele se transforma em luzente touro coberto de pedras preciosas, com olhos de fogo, fulgurante estrela na testa, chifres de ouro e boca de brasa. E, assim, transfigurado, aparece em desabalado galope e apavora os pescadores incautos.” (CARVALHO, 1995:40). O certo é que as explicações ancoradas na presença de Catirina e seu esposo Pai Francisco ou na lenda de Dom Sebastião proliferam o imaginário popular ludovicense4, tornando-o incomum. A bem da verdade, o cotidiano social da cidade de São Luís já se encontra repleto de lendas habitadas por répteis míticos e figuras lendárias (conta-se, por exemplo, que abaixo da ilha mora uma grande serpente encantada, que está num sono profundo. Quando a tal serpente acordar – caso isso aconteça um dia! – a ilha desaparecerá). Sob a base real do fazer social construído, quase sempre, de maneira penosa pelos habitantes desta cidade, em sua maioria de negros e mestiços, reside um inesgotável conteúdo simbólico, repleto de lendas, sabiamente contadas pelos ludovicenses. Da mesma forma é lícito afirmar que as festas juninas são realizadas com a aprovação dos santos católicos – São João, São Pedro, São Marçal – cuja população da cidade rende-lhes homenagens nos dias apropriados quando o evento acontece (dias 24, 29, 30 do mês de junho, respectivamente). A festança, no entanto, inicia-se a partir do mês de abril, quando acontecem os vários ensaios nos arraiais espalhados pela cidade. É durante o mês de junho que a cidade-ilha, transforma-se num grande arraial para receber turistas, gente da terra, na celebração coletiva e de rua, pois a brincadeira do bumba-meu-boi só pode acontecer nos logradouros públicos, nos locais onde a alegria, o sonho, a pantomima, o brilho possam prevalecer, contagiando todos os brincantes. Um deles diz: “é, o boi é que domina mesmo tudo. O pessoal todo fica doidinho quando ele aparece e vai atrás como se tivesse enfeitiçado. Deixa tudo mais de lado prá seguir de perto a danada dessa nossa brincadeira gostosa, que mexe tanto com a gente. E nenhum arraial 4 Termo usado para designar as pessoas que nasceram na cidade de São Luís. 4 que se preze pode deixar de apresentar ela, senão, sabe como é, não anima. Sei lá, São João sem boi fica sem graça, uma coisa assim fria, esquisita, que não é da gente, por isso não pega mesmo, não ganha aquele pique”. (CARVALHO, 1995:45). O bumba-meu-boi é uma manifestação cultural bastante difundida em todo país, possuindo nuances em cada região onde ela é desenvolvida. Luís da Câmara Cascudo (1972) chama a atenção para o caráter nacional que possui esse evento popular. Afirma que a região Nordeste é indiscutivelmente a área de desenvolvimento dessa manifestação, chegando a dizer que o Brasil Central, como os estados do extremo Norte e Sul do país receberam a exportação do folguedo a partir do conjunto de estados nordestinos. O bumbameu-boi vem a ser uma manifestação popular desenvolvida a partir das influências culturais dos conjuntos étnicos negro, indígena, branco, conforme os comentários de Câmara Cascudo: “...o Bumba-meu-boi surgiu no meio da escravaria do nosso país, bailando, saltando, espalhando o povo folião, suscitando grito, correria, emulação. O negro que desejava reviver as folganças que trouxera da terra distante, para distender os músculos e afogar as mágoas do cativeiro nos meneios febricitantes de danças lascivas, teve participação decisiva nessa criação genial, nela aparecendo dançando, cantando, enfim, vivendo. Os indígenas logo simpatizaram com a “brincadeira”, foram conquistados por ela e passaram a representá-la incorporando-lhe também suas características. O branco entrou de quebra, como o elemento a ser satirizado e posto em cheque pela sua situação dominante”. (CASCUDO apud CARVALHO, pp.35-6). Assim sendo podemos identificar no bumba-meu-boi os traços do amálgama produzido na confluência de culturas, aparentemente tão distintas mas que nos milhares de quilômetros que compõem o território brasileiro foram “historicamente obrigadas” há criar 5 a mínima socialidade, a despeito das diferenças políticas, étnicas, sócio-econômicas que possam existir entre sujeitos distintos. Em nosso país “dependendo da região, além da diferença de denominação, identificam-se, igualmente, variações quanto ao processo de elaboração e forma de apresentação da dança, do auto, das personagens, da música, das cantigas, dos instrumentos... Entretanto onde quer que exista no território brasileiro, o bumba, em meio a essas diferenciações, tem um ponto comum: encarna comprovadamente um dos mais populares exemplos do teatro popular nacional, que é adaptado às peculiaridades regionais”. (CARVALHO, 1995:39). Podemos encontrar também em determinados bairros da cidade, um conjunto formado por mulheres negras que mexem-se animadas, numa dança buliçosa, cheia de malícia. Estamos falando do tambor de crioula, dança feminina, sempre realizada em círculo, espécie de samba de roda, cantado com solo coreográfico, no qual introduz-se a umbigada (chamada “punga”); as dançantes, denominadas de “coreiras”, revezam-se na roda à frente dos tambores. O conjunto formado pelo tambor grande, meião, pererengue ou crivador, compõem juntos o que se chama de “parelha”. O mais importante deles é chamado de tambor grande. As coreiras dançam à sua frente, enquanto outros membros da comunidade, incluindo-se os homens, entoam as cantigas apropriadas para este evento. Os homens tocam os tambores, batem palmas, cantam... As mulheres rodopiam graciosas no círculo formado, usando saias estampadas, blusas brancas bordadas, turbantes, geralmente na mesma padronagem que a saia, colares, maquiagem, deixando transbordar a satisfação de lá estarem junto à comunidade, com os devotos, os santos. Uma mulher de cada vez dança no meio do círculo, requebrando o corpo em movimentos circulares, cadenciados, insinuando-se para o tambor e seu tocador. Em determinado momento outra “coreira”, que estava fora do círculo, fabrica um movimento com seu corpo, dando a entender que pretende entrar na roda. Intensifica-se o canto, o toque dos tambores para que as duas mulheres, no centro da roda, comecem a se aproximar para o momento esperado da “punga”, onde a coreira que entrou no círculo assumirá a continuidade do folguedo. 6 Esta dança, em ocasiões especiais – naquelas onde uma pessoa encontra-se devedora de alguma promessa feita ao seu santo de devoção - é realizada com todo o cerimonial que a ocasião exige: todos os presentes cantam as ladainhas, geralmente em latim, na devoção do santo que fez a graça. As ladainhas são entoadas por um longo tempo. As pessoas mais próximas da pequena capela, improvisada algumas vezes para cumprir uma finalidade religiosa, acompanham a reza; aquelas que se encontram do lado de fora conversam em pequenos grupos ou observam os tocadores esquentarem os tambores junto ao fogo. Somente após a saudação realizada em latim aos santos devotos, os tambores começam a tocar seguindo noite adentro até o raiar do dia para satisfação dos presentes. Com o dia amanhecendo, as cozinheiras servem a todos mocotó ou feijão. São diversas as manifestações populares no Maranhão onde podemos observar a inclusão do tambor de crioula na estrutura organizacional desses eventos. Por ocasião do ciclo das festividades do Divino Espírito Santo, realizado na cidade de Alcântara (MA), pudemos constatar a prática de um tambor em frente a igreja de São Benedito, o qual contou com a participação de diversas coreiras, o revezamento de vários tocadores, além de um número significativo de pessoas que lá estiveram, vindas de diferentes partes de São Luís, para participar dos festejos. A festa trouxe consigo novo colorido à cidade de Alcântara, geralmente pacata com seu cotidiano relativamente “previsível”, como é comum acontecer em pequenos conglomerados urbanos. Tanto o bumba-meu-boi como o tambor de crioula são manifestações populares nas quais o povo se reconhece nelas; a simbiose entre profano e sagrado, existente na realização dessas manifestações, é uma característica marcante no cotidiano construído neste pedaço afastado do Brasil. Em São Luís, a cultura popular produzida possui, via de regra, enorme facilidade para convergir às categorias de profano/sagrado, sem que existam antagonismos no momento mágico (ou real) em que seus cidadãos (re)criam os eventos que alimentam o vir-a-ser. Assim sendo, a força do bumba-meu-boi que estoura nas ruas e praças possui sua razão de existir na crença de que os santos católicos aprovam a realização da brincadeira, numa vertente da compreensão popular maranhense sobre o significado da festa; o tambor de crioula quase sempre é realizado a pedido de alguém que recebeu a graça do santo 7 devoto, devendo retribuir-lhe com a dança das coreiras, o som dos tambores, a reza cantada em latim antes do folguedo tomar corpo e atravessar a noite. A diversidade rítmica e melódica de São Luís é surpreendente; pode-se encontrar na ilha além dos folguedos destacados neste texto, outras danças típicas da cidade como: coco, bambaê de caixa, cacuriá, fita, boiadeiro, todas elas marcadas fortemente pelo elemento percursivo. A força dos tambores é tão marcante que a ilha foi cenário para a realização de uma obra-prima da literatura brasileira, o romance Os Tambores de São Luís, de Josué Montello. O autor foi acostumado, desde muito pequeno, a ouvir os tambores da centenária Casa das Minas5, fato este que o possibilitou construir a bela narrativa que se passa “durante uma noite e algumas horas da manhã seguinte. Mas, dentro desse espaço de tempo, que constitui seu arco narrativo básico, outro arco se abre, para conter, ao longo da epopéia romanesca, três séculos de lutas e insurreições negras”. (N. do E.). O mosaico da cultura popular de massa estruturada em São Luís completa-se com as festas de reggae, “...ritmo musical que se desenvolveu na Jamaica e, desde o início dos anos Setenta, foi adotado como expressão cultural por amplo segmento da juventude negra que habita principalmente as regiões formadas por ocupações e palafitas, na periferia urbana”. (SILVA, 1995:12). Desde a década de 70 para cá o reggae proliferou-se pelos quatro cantos da cidade, bem como atingiu outros municípios circunvizinhos de São Luís; suas festas deixaram de ser freqüentadas pelos jovens residentes nas periferias da cidade – desocupados, bandidos, desclassificados, termos usados pelas elites locais quando queriam referir-se àqueles que gostavam do reggae – para atingir os bairros médios e nobres, diversificando a população que lota os salões. O reggae apreciado em São Luís possui uma característica própria: ele é dançado aos pares, juntinho, como se fosse dança de salão. Explica-se para tanto que devido a “...sua aproximação rítmica com algumas manifestações culturais da região, 5 “Casa das Minas é o nome pelo qual é conhecido o mais antigo terreiro de tambor de mina de que se tem notícia no Maranhão, sendo provavelmente o que deu origem a esse culto em terras maranhenses, e que aqui serviu de modelo a outras casas semelhantes. É também chamada de Casa Grande das Minas ou Casa das Minas Jeje, por ter sido fundada por negros jeje, denominação dada a grupos étnicos provenientes do sul do Benim – o ex-Daomé – vindos em grande número para o Brasil no século passado”. (FERRETTI, S., 1996:11). 8 como a dança do lelê, o bumba-meu-boi, o tambor de crioula, além das fortes influências rítmicas caribenhas, predominantes nas festas locais como o merengue, a lambada...” (op. cit., p.15) ele assumiu, hoje, a peculiaridade descrita acima. Como é possível perceber, os pontos que demarcam a cultura popular de massa produzida na cidade de São Luís e circunvizinhanças é rica, diversificada, cuja trama urdida abusa das (re)leituras que são introduzidas pelos agentes cotidianos que dão vida ao fazer social, criando, às vezes, concepções controversas a respeito das categorias que estão em cena. Existe, por exemplo, um debate instituído há muito tempo entre os tradicionalistas e os modernistas, no qual os segundos afirmam ser o reggae mais um produto cultural ludovicense, ao passo que os primeiros argumentam que a legitimidade popular deve ser dada ao bumba-meu-boi, genuinamente fruto da terra. Podemos apreender nesse debate, a existência de duas visões bastante distintas acerca da produção cultural popular; aquela que enxerga o resultado das inter-relações sociais como algo extático, fossilizado na “tradição”, e outra que vislumbra o dinamismo, a mudança, nas construções culturais realizadas nas cidades brasileiras, verdadeiros camaleões que trocam de pele a cada novo ciclo das estações. O antropólogo Hermano Vianna, escrevendo a respeito da sobrevivência do folclore ligada a capacidade de absorver novas influências argumenta que “...Cada mestre de brincadeira, ou cada brincante, não atua como o espectador passivo de uma tradição secular sobre a qual não tem nenhum controle e só pode “preservar”. Seu papel é mais o de um DJ, ou de qualquer outro produtor musical cibernético, que faz suas próprias colagens a partir de determinado repertório: o gigantesco e multiforme banco de dados da biodiversidade brincante brasileira. Cada mestre recompõe os elementos de todas as outras brincadeiras. Não existe, portanto, problema de origem. (grifo nosso). Cada brincadeira é, nesse sentido de não estar presa a nenhuma cartilha, absolutamente original.” (A circulação da brincadeira, publicado no caderno mais! do jornal Folha de São Paulo, 14/02/99). 9 Ficamos, pois, com a argumentação que demarca, de maneira indiscutível, os espaços dinâmicos, abertos, fluídos de construção da teia relacional que vem a ser a cultura popular de massa, não importando em qual universo social ela possa ser tecida. É mister, nos tempos atuais, “...voltar-se para a “proliferação disseminada” de criações anônimas e “perecíveis” que irrompem com vivacidade e não se capitalizam”. (CERTEAU, 1994:13). Levando-se em conta a posição assumida pelos continuadores do status quo cultural, Vianna diz que “...O erro de muito preservacionista bem-intencionado é achar que, para salvar um folguedo da ameaça de desaparecimento, é necessário isolá-lo do resto do mundo, mantendo à força sua “verdade” ou “autenticidade” (uma idéia avessa à mistura e à circulação”)”. (artigo citado no mesmo jornal). A bem da verdade o contexto sócioeconômico, cultural da cidade de São Luís vem experimentando vertiginosas transformações que certamente lançarão indagações futuras sobre a continuidade da produção cultural nesta cidade. Durante as décadas de 70 e 80 a cidade experimentou um crescimento sem precedentes em sua história, obrigando-se dessa maneira a enfrentar “...os problemas decorrentes de pressões demográficas. (...) Concebida desde 1979, a maior experiência de restauração e revitalização de conjunto histórico edificado se deu em 1988, com o Projeto Praia Grande6, atingindo 10 hectares de área tombada, dando um sentido cultural a um espaço que surgira com vocação comercial.”7 A construção desse auspicioso projeto em área destinada ao embarque e desembarque de mercadorias abriu o caminho para a edificação de outros empreendimentos de grande porte, estes necessários a consolidação das estruturas sociais que pudessem 6 Este projeto foi a ação restauradora de toda a parte histórica de São Luís, área que ocupa alguns quarteirões onde está localizado o maior acervo de azulejos portugueses do século XIX. Este projeto só foi possível graças a elaboração do Plano de Preservação para São Luís e Alcântara, idealizado pelo arquiteto Viana de Lima, a serviço da UNESCO. 7 Ananias Alves Martins e Deusdedit Carneiro Leite Filho, São Luís através dos tempos (16121997), álbum ilustrado. Prefeitura de São Luís/jornal “O Estado do Maranhão”, 1997. 10 colocar a cidade na órbita das metrópoles contemporâneas, determinando desta feita um novo “fazer” na vida de seus cidadãos. Assim sendo, “Ao aglutinar recursos e pessoas, a cidade potencializa o desenvolvimento econômico, científico-tecnológico, político e cultural, dando diversidade, mobilidade, instabilidade e transitoriedade aos comportamentos e valores sociais.” (RUBIN, 1998:122-23). O crescimento, embora tardio, experimentado pela cidade nas décadas de 70/80, foi decisivo para o estabelecimento do projeto da pólis estruturada segundo os moldes das metrópoles e grandes cidades brasileiras. Na São Luís de hoje, podemos ver largas avenidas construídas para a demanda cada vez maior de automóveis, viadutos, shopping centers espalhados nos bairros de classe alta e média tornando o consumo asséptico; expansão da rede telefônica visando aumentar a demanda dos usuários que utilizam tais serviços; telefonia móvel; expansão dos servidores que conectam-se a rede mundial de computadores (Internet); concorrência pela expansão dos serviços desencadeada pelos servidores locais e de outras cidades que dão acesso a navegação na Internet; implementação do turismo, etc. Diríamos que os ventos da modernidade chegaram em São Luís. Qual é a modernidade instaurada na cidade? Para responder a pergunta, começaríamos dizendo que nada será como antes na pouco conhecida São Luís, a capital do reggae, patrimônio cultural da humanidade, segundo título outorgado pela UNESCO. Seus cidadãos serão lançados “...num turbilhão de permanente desintegração e mudança, de luta e contradição, de ambigüidade e angústia.” (BERMAN, 1988:15). A ilha-cidade que experimentou o crescimento tardio, cuja urbanização mais acelerada somente efetivou-se a partir de 1958, atraso este marcado pelas iniciativas desenvolvimentistas implementadas em 1955 pelo presidente Juscelino Kubtchek privilegiando a industrialização da região Sudeste em detrimento do investimento em outras regiões, interrompendo, pois, as expectativas de crescimento de São Luís. O século XX trouxe em seu bojo o processo de modernização cuja expansão abarcou todas as sociedades; ao expandir-se “...o público moderno se multiplica em uma multidão de fragmentos, que falam linguagens incomensuravelmente confidenciais; a idéia de modernidade, concebida em inúmeros e fragmentários caminhos, perde 11 muito de sua nitidez, ressonância e profundidade e perde sua capacidade de organizar e dar sentido à vida das pessoas.” (op. cit., p.17). À luz das recentes transformações que ainda estão iniciando-se na vida social ludovicense, poderemos compreender o significado da “modernidade tardia” reportandonos a noção de “descontinuidades”, utilizada por Anthony Giddens quando menciona que “... os modos de vida colocados em ação pela modernidade nos livraram, de uma forma bastante inédita, de todos os tipos tradicionais de ordem social. Tanto em extensão, quanto em intensidade, as transformações envolvidas na modernidade são mais profundas do que a maioria das mudanças características dos períodos anteriores. No plano da extensão, elas serviram para estabelecer formas de interconexão social que cobrem o globo; em termos da intensidade, elas alteraram algumas das características mais íntimas e pessoais de nossa existência cotidiana”. (Giddens apud Hall, 1998, p.16). Enxergando o mesmo fenômeno, porém sob outro ponto de vista, Ernest Laclau argumenta que as sociedades atingidas pela modernidade “...são caracterizadas pela “diferença”; elas são atravessadas por diferentes divisões e antagonismos sociais que produzem uma variedade de diferentes “posições de sujeito” – isto é, identidades – para os indivíduos”. (Laclau apud Hall, 1998, p.17). Os argumentos lançados pelos autores muito embora estejam tratando de sociedades nas quais a modernidade já esteja consolidada, também podem ser aplicados àquelas cujo processo inicia-se agora. É o caso da cidade de São Luís. As grandes transformações que atingiram em cheio a vida social ludovicense, num processo irreversível, muito antes que o conjunto dos seus cidadãos possa entender o que ocorre, afetarão todos os níveis do fazer comunitário, da trama social, até atingir as individualidades (ou partindo delas). É nesse contexto que está sendo delineada a cultura popular maranhense e suas produções. O fazer social de São Luís encontra-se, hoje, sob a pressão paradoxal de aceitar, por um lado, os conteúdos transformadores que compõem a modernidade e, criar as defesas necessárias para preservar o cotidiano provinciano que ainda prevalece nas relações dos 12 ludovicenses, por outro lado. Talvez a Catirina do próximo século se canse da língua do boi e parta em busca de alimento e diversão em outros lugares, sob o movimento de novas brincadeiras. Um possível caminho, entre tantos, na construção do fazer festeiro de São Luís. 13 Referências bibliográficas BERMAN, Marshall Tudo que é sólido desmancha no ar – a aventura da modernidade. São Paulo, Cia. das Letras, 1986. CARVALHO, Maria Michol Pinho de Matracas que desafiam o tempo: é o bumba-boi do Maranhão – um estudo da tradição/modernidade na cultura popular. São Luís, [s.n.], 1995. CASCUDO, Luís da Câmara Dicionário do folclore brasileiro. Rio de Janeiro, Ediouro, 1972. CERTEAU, Michel A invenção do cotidiano – artes de fazer. Petrópolis, Vozes, 1994. FERRETTI, Sergio Querenbentã de Zomadônu: etnografia da casa das Minas do Maranhão. São Luís, EDUFMA, 1996. HALL, Stuart A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro, DP&A Editora, 1998. LIMA, Carlos de Comissão Maranhense de Folclore, Boletim nº 11, agosto/98 MONTELLO, Josué Os tambores de São Luís. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1985. RUBIN, Antonio Albino Canelas Viver na cidade da Bahia. In: Lugar comum – estudos de mídia, cultura e democracia, nº 5-6 (maio-dezembro de 1998), Núcleo de estudos e projetos em comunicação/Pós-graduação da Escola de Comunicação da UFRJ. SILVA, Carlos Benedito Rodrigues da Da terra das primaveras à ilha do amor: reggae, lazer e identidade cultural. São Luís, EDUFMA, 1995. 14 VIANNA, Hermano A circulação da brincadeira. Artigo publicado no caderno mais! do jornal Folha de São Paulo, 14/02/99.
Download