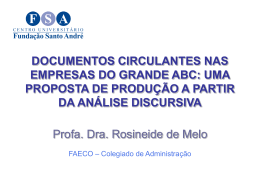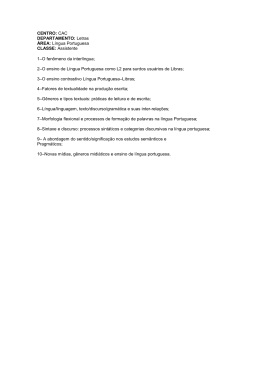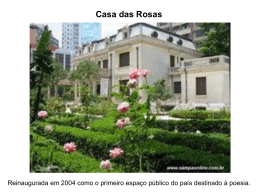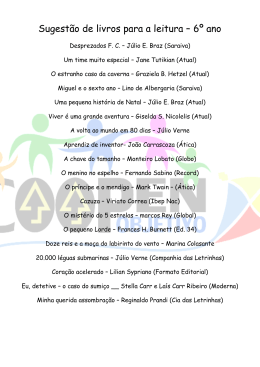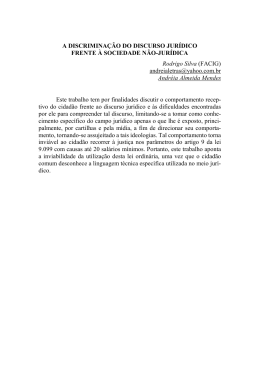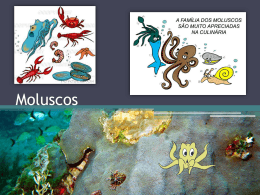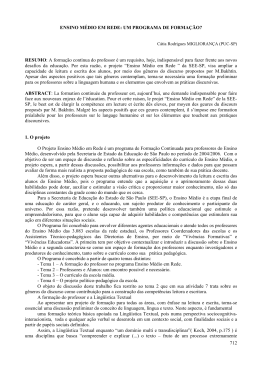ENSINO DE CIÊNCIAS, LEITURA E LITERATURA Antônia Aurélio Pinto1 Júlio César David Ferreira2 Paulo César de Almeida Raboni3 1. Introdução Entre o vácuo e o caos O ensino de ciências naturais e de suas especialidades (física, química e biologia) na educação básica é quase inexistente. Seja pela efetiva falta de aulas na grade curricular praticada, seja pela falta de relevância dos temas e de seus tratamentos nas aulas que ocorrem. Essa quase inexistência é acompanhada, talvez como um de seus efeitos, pela carência de sentidos para o aluno daquilo que é ensinado. Paradoxalmente, mas com todos os indicadores de causalidade para a falta de sentido, os currículos de ciências para essas séries (e talvez para todas as demais) são recheados de detalhes e de sofisticação, assentados em um tratamento formal e aparentemente rigoroso, levando à memorização de palavras que só geram interesse em especialistas de cada uma das disciplinas envolvidas. As tentativas de superação dessas e de outras dificuldades, fundamentadas na compreensão de como os alunos aprendem e na busca de maior sentido aos conteúdos ensinados, já somam mais de vinte anos no Brasil. Quase todos os elementos de propostas com aparência da atualidade já estavam presentes nas propostas construídas nos anos 80 do século passado, resumidamente: adequação ao nível intelectual dos estudantes, relevância social e científica e relacionamento com o cotidiano. e 2 Mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Ciências e Tecnologia, campus de Presidente Prudente, Universidade Estadual Paulista – UNESP. 1 3 Professor do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Ciências e Tecnologia, campus de Presidente Prudente, Universidade Estadual Paulista – UNESP. 1 Nesse sentido, a proposta curricular da CENP (SÃO PAULO, 1988) tomava o ambiente como tema gerador e articulador dos conteúdos de ciências. Em outras palavras, propunha como ponto de partida a problematização da realidade, pelo uso dos conhecimentos prévios dos alunos, seguida pelo tratamento conceitual das ciências e pelo retorno ao ambiente, porém com o olhar enriquecido pelas articulações que só os conceitos permitem. A formalização necessária ocupava, naquela proposta, a culminância do processo, ficando para as séries finais do ensino fundamental. O que acompanhamos nesses últimos vinte e cinco anos no ensino de ciências foi o agravamento daquela crise: aumento da fragmentação dos conteúdos, pulverização dos conteúdos, inclusão de outros tópicos em um currículo já inchado, mas em um contexto de quase universalização do ensino fundamental, sem o necessário aumento quantitativo e qualitativo da formação de professores, a precarização do trabalho docente, a pauperização do magistério, a expansão sem critérios - além daqueles ditados pelo mercado - da rede de formação de professores e o desfacelamento das vozes opositoras, entre outros. Cabe, portanto, resgatar e manter vivos os elementos dessas e de outras propostas, fundamentadas em pesquisas que representaram e ainda representam avanços, para evitar a oscilação entre modelos, sempre descartando integralmente o seu inverso. Isso deve ser lembrado pois, com freqüência, surgem manifestações em defesa do ensino tradicional, cobrando seu retorno, embora na prática nunca tenha estado ausente. 2. Desenvolvimento As linguagens e as ciências Entre as propostas de construção de um ensino de ciências significativo aos alunos, que dê suporte à compreensão da realidade, a nosso ver merecem destaque os trabalhos que envolvem questões de linguagem. No Brasil, um dos primeiros trabalhos publicados em que são explicitadas as relações entre ensino de ciências e linguagem (Almeida e Ricon, 1991) coloca como objetivo principal da escola a formação do bom leitor. Em outras palavras, para os autores a formação do leitor é incumbência de todas as disciplinas. 2 Bom leitor, o estudante continuará mais tarde, já fora da escola, a buscar informações necessárias à vida de um cidadão, a checar notícias, a estudar, a se aprofundar num tema, ou, simplesmente, a se dedicar à leitura pelo prazer de ler.(ALMEIDA e RICON, 1991, p.9). Esse posicionamento é consonante com a afirmação de Ezequiel T. da Silva, apresentada em três teses: 1ª tese: todo professor, independente da disciplina que ensina, é professor de leitura; 2ª tese: a imaginação criadora e a fantasia não são exclusividade das aulas de literatura; 3ª tese: as seqüências integradas de textos e os desafios cognitivos são pré-requisitos básicos à formação do leitor. (SILVA, 1998, p. 123/127 apud ZANETIC, 2006, p.47) Considerando que nem todos os alunos serão físicos, químicos ou biólogos, seguindo a idéia proposta por Zanetic (2006), um currículo permeado por especificidades, detalhes, sofisticação e formalização próprios de cada disciplina fica completamente desprovido de sentido para o ensino fundamental, e talvez até para o ensino médio. Para Zanetic, é necessário levar em conta os múltiplos sentidos que os conceitos científicos podem assumir quando presentes em contextos diversos, como a música e a literatura tratados por esse autor, e dessa forma interessando e fazendo sentido para muitos (ou todos) alunos. Essas abordagens do ensino de ciências, da leitura e da literatura, estabelecem as ligações com o que tomamos como objeto neste texto: a presença de conceitos científicos e concepções de ciência e de cientista na literatura infantil e infanto-juvenil, em especial na obra de Julio Verne. Formar o bom leitor requer, a nosso ver, o trânsito pelos vários gêneros literários, compreendendo em cada um deles os sentidos, múltiplos ou restritos, e a intencionalidade dos autores. A apropriação de elementos das ciências naturais pela literatura de ficção é muito comum. Temas ambientais, espaciais, de saúde e sexualidade estão entre os mais freqüentes. São também freqüentes as imagens estereotipadas de cientistas e do trabalho científico. Essa presença caracteriza o que Mikhail Bakhtin denomina apropriação entre gêneros do discurso. No entanto as diferenças de intencionalidade entre os vários gêneros, e entre os dois aqui tratados (científico e de ficção), fazem com que um conceito que no gênero 3 científico possui um único sentido, ou pelo menos nele busca-se uma unicidade de sentido, possua na ficção múltiplos sentidos, quase sempre diferentes do sentido científico original. Não há nada de prejudicial nessa apropriação. Muito pelo contrário, ela é extremamente necessária e quase sempre provoca deslocamentos interessantes tanto na arte como na ciência. Embora não seja intenção da literatura de ficção ensinar conceitos e concepções, a aquisição de conceitos podem aparecer como efeito colateral da leitura. Quando a leitura é desatenta aos gêneros e às intencionalidades, conceitos equivocados ou com deslocamentos de sentido podem ser tomados como verdade. Assim, é possível que uma criança construa uma idéia equivocada sobre um conceito a partir de uma obra de ficção onde a palavra que representa o conceito comparece com o sentido distorcido, deliberadamente modificado pelo autor, com a finalidade de criar um efeito de linguagem, um contraste ou um exagero. Os mesmos desvios de sentido podem aparecer de forma não deliberada (erros), por descuido ou por desconhecimento. Fenômeno idêntico acontece relativamente à imagem do cientista ou do trabalho científico. Neste trabalho não nos ateremos a essas diferenças. Apenas indicaremos algumas ocorrências através de exemplos. Apesar disso é possível afirmar que tantos conceitos distorcidos quanto estereótipos de cientistas e de ciência podem construir obstáculos difíceis de remover no futuro (AMARAL, 1997), além daqueles já existentes pela vivência prática e pela exposição a outras formas de divulgação, em especial a televisão. A má formação do leitor interfere diretamente no aprendizado de conceitos científicos, pois a ciência requer mais de um tipo de linguagem: possui seus signos, sequências lógicas e estruturação de conceitos próprios (Robilotta, 1997). Por outro lado, pesquisas constatam também que apenas 25% dos brasileiros têm “habilidades mais refinadas” para ler um texto e compreendê-lo. Este resultado foi discutido no 15º Congresso de Leitura (COLE, 2005), por Marina Colasanti: Poderíamos dizer que o brasileiro está lendo pior. Ou seja, está lendo um número considerável de livros absolutamente lineares, de texto elementar, ao alcance de qualquer pessoa minimamente letrada. (COLASANTI, p.23, 2005) Esses dois quadros – a dificuldade no ensino-aprendizagem de ciências e a questionável qualidade da formação dos nossos leitores –, a nosso ver, estão 4 correlacionados, pois a leitura nunca pode ser desvinculada das diversas esferas do conhecimento. Neste trabalho, partindo de resultados de duas pesquisas2, apresentaremos possibilidades de interação entre a literatura e o ensino de ciências naturais. A primeira pesquisa toma como objeto de estudo, conceitos científicos e concepções de ciência presentes na literatura infantil. Consiste na realização de um levantamento seguido de análise, dos títulos disponíveis nas bibliotecas das escolas sobre ciência e cientista bem como de alguns conceitos científicos. Buscou-se estabelecer relações entre essas duas esferas propondo um trabalho alternativo com a literatura para o ensino de ciências. Nas segunda pesquisa mostramos uma análise da obra de Júlio Verne, apresentando suas possibilidades de utilização nas aulas de física. Buscamos na leitura de textos de Verne, elementos que contextualizem os conceitos de física, analisando a intencionalidade de ensinar conceitos, por parte do autor, e buscando evidenciar a estreita relação que a ciência e a literatura podem estabelecer. Além da aproximação dessas pesquisas a partir do objeto comum que tomam para estudo, a saber, conceitos científicos presentes na literatura, também as aproxima o fato de se apoiarem no mesmo referencial para análise – a teoria de Mikhail Bakhtin, em especial o conceito de gênero do discurso. A apropriação entre gêneros do discurso Da complexa compreensão de Mikhail Bakhtin sobre a linguagem, expressa em sua teoria da enunciação, utilizaremos aqui o conceito de gênero do discurso. Temos como foco na pesquisa a presença de elementos das ciências naturais – conceitos e concepções de ciência e de cientista – na literatura infantil. Tais transposições podem, a nosso ver, ser vistas como apropriações entre gêneros do discurso, como são compreendidos por Mikhail Bakhtin, autor que tomamos como referência para o trabalho. Os gêneros do discurso são entendidos por Bakhtin como tipos relativamente estáveis de enunciados, dentro de esferas da utilização da língua. As esferas da utilização da língua, por sua vez, estão ligadas a atividades humanas, nas quais os enunciados ocorrem e ganham seus sentidos específicos. Como a atividade humana é 2 Pesquisas de iniciação científica financiadas pela FAPESP realizadas pelos dois primeiros autores deste trabalho, orientadas pelo terceiro autor, com desdobramentos nas pesquisas de mestrado que atualmente desenvolvem. 5 inesgotável em sua variedade e complexidade, não há limites para o desenvolvimento e a delimitação de gêneros do discurso. Essa característica dispersa, porém, não retira dos gêneros sua importância para análise do funcionamento da língua. Segundo Bakhtin, Uma dada função (científica, técnica, ideológica, oficial, cotidiana) e dadas condições, específicas para cada uma das esferas da comunicação verbal, geram um dado gênero, ou seja, um dado tipo de enunciado, relativamente estável do ponto de vista temático, composicional e estilístico. (BAKHTIN,1997, p.284) Bakhtin analisa as transformações que sofrem os gêneros primários (enunciados cotidianos) quando apropriados pelos gêneros secundários (romance, teatro, discurso científico, discurso ideológico). Também ocorrem apropriações entre gêneros secundários do discurso, nas quais são impostas transformações aos objetos apropriados. A didatização do discurso científico – transposição didática – para adaptá-lo à realidade de sala de aula, por exemplo, é, a nosso ver, uma apropriação entre gêneros do discurso. Entre os gêneros secundários as apropriações que nos interessam são as de objetos e conceitos das ciências naturais pela literatura de ficção. Se considerarmos os sentidos produzidos a partir da interação da criança com o texto escrito, nas condições de produção da leitura em aula, passam a ter papel fundamental as características do texto. Entre elas, a intencionalidade do autor, de que lugar ele fala, que recursos da língua ele emprega, que elementos de outros gêneros ele traz para o seu texto, que sentidos esses elementos passam a ter quando apropriados, que sentidos eles têm em seu gênero de origem, de quais estruturas dependem para a produção de determinados sentidos. A complexidade do processo de leitura e produção de sentidos fica melhor compreendida quando consideramos a atitude do leitor, bem como sua história de leitura (e de vida). Para Bakhtin, De fato, o ouvinte que recebe e compreende a significação (linguística) de um discurso adota simultaneamente, para com este discurso, uma atitude responsiva ativa: ele concorda ou discorda (total ou parcialmente), completa, adapta, apronta-se para executar, etc., e esta atitude do ouvinte está em elaboração constante durante todo o processo de audição e de compreensão desde o início do discurso, às vezes já nas primeiras palavras emitidas pelo locutor. (BAKHTIN,1997, p.290). A compreensão de um texto pressupõe a elaboração de uma réplica pelo leitor. Sobre compreensão e réplica, escreve Bakhtin, 6 Compreender a enunciação de outrem significa orientar-se em direção a ela, encontrar o seu lugar adequado no contexto correspondente. A cada palavra da enunciação que estamos em processo de compreender, fazemos corresponder uma série de palavras nossas formando uma réplica. Quanto mais numerosas e substanciais forem, mais profunda e real é a nossa compreensão. (BAKHTIN, 1995, p.131-132) A formação de leitores na escola pressupõe a percepção do gênero. No caso específico que aqui discutimos, a leitura de um livro de ficção não pode chamar para si a tarefa de ensinar conceitos, embora isso possa estar presente na obra. Em outras palavras, se um leitor procura formação em determinados conceitos, o lugar mais seguro não é a obra de ficção onde eles aparecem, justamente pelo fato de que o autor de ficção não está comprometido com a correção dos conceitos que emprega, podendo inclusive promover distorções intencionais para criar efeitos que enriqueçam a obra e promovam visões diferentes das usuais. Conceitos científicos e concepções de ciência presentes na literatura infantil De todos os lugares onde a leitura pode ser incentivada e ocorrer, sistematicamente ou não, a escola reúne particularidades que merecem um destaque especial. As bibliotecas das escolas, mesmo que em condições precárias, continuam sendo um dos poucos lugares de acesso à leitura, e para muitos alunos, talvez o único local para essa atividade. Além disso, a leitura possível nas bibliotecas das escolas ocorre paralelamente ao ensino sistemático de conceitos e linguagens, e mesmo que de forma desvinculada, nos interessam particularmente as influências que essas duas esferas podem exercer uma sobre a outra. Por outro lado, a aprendizagem de conceitos científicos pelos alunos e o desenvolvimento de concepções sobre ciência e cientista, não ocorre exclusivamente na escola, sendo até possível inferir que destas últimas (concepções de ciência e de cientista) a maior influência não seja a escolar, mas sim das várias fontes de informação às quais o jovem fica exposto ou tem acesso (televisão, gibis, revistas e literatura infanto-juvenil). O conhecimento científico é um conhecimento especializado, que rompe com o conhecimento cotidiano na sua constituição. No caso da física, esse conhecimento é produzido em linguagem formal, com signos abstratos e a linguagem matemática. Como aponta Robilotta (1997), o conhecimento físico é altamente estruturado, e a apropriação do mesmo pelos estudantes depende da (re)construção de conceitos que se entrelaçam, 7 formando uma rede complexa que se lança na compreensão de uma importante dimensão da realidade. A dificuldade no ensino de ciências surge muito cedo. Entre os problemas apontados por estudiosos do ensino de ciências, está a má qualidade dos livros didáticos, que contém erros conceituais e uma forma de apresentação fragmentada que direcionam uma forma igualmente fragmentada de uso pelo professor e pelo aluno. Além dos erros conceituais, encontramos nos livros didáticos concepções de ciência e de cientista distantes da realidade, que mistificam o trabalho nessa área de conhecimento, afastando ainda mais as crianças do universo da ciência, destruindo um interesse quase natural que elas demonstram no início da escolaridade. Amaral (1997) aponta que, entre os equívocos encontrados nos livros didáticos, muito mais graves que os erros conceituais são os de concepção de ciência e de cientista, sendo esses últimos muito mais difíceis de remover e que marcam profundamente a atitude dos indivíduos diante da produção do conhecimento e, conseqüentemente, da compreensão da realidade. O ensino de ciências nas séries iniciais do ensino fundamental apresenta dificuldades históricas, desde a inclusão dessa disciplina no currículo. Conforme mostra Raboni (2002), não há por parte dos professores uma definição clara sobre o que deve ser ensinado, e os projetos de ensino e as propostas oficiais, muitas vezes, aprofundam o drama vivido pelos professores sobre o que e como ensinar nas aulas de ciências. O tratamento dado aos temas é superficial e desconexo de outros temas, mesmo entre os de ciências, contrariando as propostas oficiais de ensino (SÃO PAULO, 1989; BRASIL, 1997) quando estas sugerem um tratamento interdisciplinar reforçado pelos temas transversais e pela proposição do ambiente como tema gerador. O ensino de ciências é fragmentado e essa característica tem desmotivado alunos e professores, provocando um quase abandono das aulas de ciências nos dois primeiros ciclos da escolaridade (1a a 4a série). A ênfase dada e a quase totalidade do tempo das aulas é destinado à Matemática e Português. Os critérios para a análise dos livros infantis foram sustentados pela teoria dos gêneros do discurso de Bakhtin onde o autor analisa a apropriação dos gêneros secundários, interessando a esta pesquisa a apropriação de objetos e conceitos das ciências naturais pela literatura infantil. Desta forma, Bakhtin (1997) discute os gêneros do discurso abrindo possibilidades, para o entendimento da apropriação que a literatura 8 infantil faz com temas gerados no contexto das ciências naturais, sendo, portanto interpretada segundo o referencial bakhtiniano, como transição entre gêneros. A partir de um estudo realizado em projeto de iniciação científica (PINTO, 2005) foi possível constatar a presença de temas científicos na literatura infantil disponível em grande parte das escolas, e também que a associação entre leitura de textos infantis e o ensino de ciências provoca nas crianças a construção de múltiplos sentidos, constituindo campo fértil para a exploração, tanto do ponto de vista da leitura quanto do ensino de ciências. Os exemplos abaixo, extraídos de livros infantis, ajudam a compreender a amplitude da questão por nós levantada. O primeiro deles, extraído do livro “Os cachorros vieram do espaço?”, mostra o uso da figura do cientista louco, de comportamento excêntrico, isolado do mundo e realizando projetos secretos. O segundo exemplo mostra o uso da explicação equivocada de um fenômeno natural, comum nos conteúdos de ciências – fases da lua – para explicar o comportamento do personagem principal de “O Homem-lua”: Todo esse cuidado é porque nesse castelo mora um cientista louco, que tem projetos secretos guardados a sete chaves. (CHAMLIAM, 1994) A cada noite, a lua ia ficando mais magra e, com ela, o Homem-lua também ia emagrecendo. Finalmente ele ficou tão magro que conseguiu passar pelas grades da janela da prisão. (UNGERER, 2000) Explicações errôneas, imagens de cientistas loucos, laboratórios repletos de instrumentos de pesquisa em meio a livros e objetos estranhos, ajudam a formar na criança conceitos errôneos e idéias equivocadas da atividade científica, que precisam ser questionadas em todas as suas manifestações. Isso implica, no mínimo, em conhecimento e cuidado por parte do professor na seleção e no uso de livros infantis. Sem a intenção de retirar da literatura o seu caráter de fantasia, essencial para a finalidade a que é elaborada, argumentamos que os conceitos e as imagens de ciência por ela veiculados necessitam aprofundamento e discussão na escola. As possibilidades de utilização da obra de Júlio Verne nas aulas de física Selecionamos fragmentos que ilustravam o envolvimento direto entre a Física e a Literatura, ou seja, um contraste de ambientes: o científico e o literário, o futurista e o 9 primitivo, o concreto e o abstrato. Posteriormente, o material foi analisado e suas possibilidades discutidas, de acordo com o contexto onde estavam inseridos. Uma defesa precursora desse tipo de atividade foi apresentada pelo físico e escritor inglês Charles P. Snow (SNOW, 1993, apud ZANETIC, 2006) quando, há cerca de 40 anos, sugeria que a separação que existia entre as comunidades de cientistas naturais e de escritores, dificultava a solução de diversos problemas que envolviam a humanidade à sua época. Snow defendia que uma aproximação entre os dois universos intelectuais era essencial para possibilitar um eficaz diálogo inteligente com o mundo. Através dos nossos estudos realizados no projeto de iniciação científica (FERREIRA, 2007), foi possível obter uma grande diversidade de fragmentos e particularidades da obra de Júlio Verne. Escolhemos para análise os livros Vinte Mil Léguas Submarinas; A Volta Ao Mundo Em Oitenta Dias e Viagem ao Centro da Terra. Utilizando como referencial teórico, Bakhtin (1997), foi possível estabelecer relações díspares entre o discurso utilizado por Júlio Verne e a Física juntamente com a Literatura. Pode-se dizer que Verne utiliza em tal narrativa, uma linguagem bilateral, onde o discurso científico se entrelaça com o literário. Em várias passagens dos livros, notam-se expressões de caráter fantasioso, situações de aventura em ambientes peculiares, entretanto, reforçados pela linguagem científica, pelos signos numéricos. Notamos na narrativa de Júlio Verne, uma intencionalidade de se ensinar conceitos, uma série de efeitos que mobilizam a atividade mental do leitor a qual podemos chamar de Pedagogia das Ciências3. A nosso ver, tais elementos podem contribuir muito para a divulgação das ciências e para o ensinoaprendizagem nas aulas de física. Seguem alguns exemplos: [...] Pois bem! Suponhamos a arma dez vezes maior e o animal dez vezes mais possante. Lancemo-lo com a velocidade de vinte milhas por hora. Multipliquemos a massa pela velocidade, e teremos choque capaz de produzir a catástrofe referida. (VERNE, 1972, p. 19). [...] – Sim, não resta a menor dúvida de que o calor eleva-se de um grau em cada vinte e três metros de profundidade abaixo da superfície do globo. Ora, admitindo-se esta constante proporção e sendo o raio terrestre de mil e quinhentas léguas, existe no centro temperatura superior a duzentos mil graus. As matérias no interior da terra encontram-se em estado de gás incandescente, visto que os metais, Simone Vierne (1994) denomina tais efeitos como "efeito Júlio Verne", mostrando que os recursos literários utilizados na "inclusão, nítida e confessa, da ciência no discurso literário", atribuem novos significados sociais à ciência e à própria literatura. (VIERNE, 1994, p.91, apud PINTO NETO, 2004) 3 10 como o ouro, a platina e as rochas mais duras, não resistem a tal calor. Tenho, portanto, o direito de perguntar se é possível penetrar-se em semelhante meio! (VERNE, 1964, p. 42). Estes e outros diversos fragmentos por nós selecionados confirmam a nossa tese de que a obra de Júlio Verne possui um grande potencial para o ensino-aprendizagem nas aulas de física, representa uma aproximação entre duas esferas do conhecimento: a Literatura e a Física. A obra de Verne pode ser considerada uma ponte entre essas duas culturas. Nas aulas de física, cabe ao professor, em seu discurso, tentar aproximar o objeto de estudo, do cotidiano do aluno. Bakhtin (1997), referindo-se a significação lingüística, relata: O ouvinte que recebe e compreende a significação (lingüística) de um discurso adota simultaneamente, para com esse discurso, uma atitude responsiva ativa: ele concorda ou discorda (total ou parcialmente), completa, adapta, apronta-se para executar, etc., e esta atitude do ouvinte está em elaboração constante durante todo o processo de audição e de compreensão desde o início do discurso, às vezes já nas primeiras palavras emitidas pelo locutor. (BAKHTIN, p.290) Defendemos aqui uma aproximação entre dois gêneros de discurso: o científico e a ficção. Em concordância com Zanetic (2006), acreditamos que tais leituras se complementam, como verificado na obra de Júlio Verne. Existe uma aparente contradição entre a construção de sentidos pelos alunos a partir de textos de diferentes gêneros, que fazem referência aos mesmos objetos, vistos sob diferentes perspectivas. Um exemplo nos ajuda a compreender essa contradição: em A Ilha Misteriosa, Júlio Verne narra a aventura de Cyrus e sua tripulação composta de cinco passageiros e um cachorro, a bordo de um balão, sobrevoando o Oceano Pacífico, no ano de 1865. Os personagens encontram-se em apuros, pois o balão começa a perder altitude, supostamente pelo vazamento de gás por um furo. Começam a arremessar objetos para fora da barquinha, na tentativa de reduzir o peso do balão. A mesma situação de equilíbrio de forças é comumente trabalhada em sala de aula através de esquemas baseados na segunda lei de Newton, tendo as forças representadas por setas (vetores) e os objetos por um bloco genérico. A partir dele são determinados os estados possíveis para o bloco: repouso, movimento uniforme ou movimento uniformemente variado. 11 O conceito de tema desenvolvido por Bakhtin (1997), fundamental para a compreensão dos enunciados, está muito mais desenvolvido na primeira forma, embora a situação física seja equivalente. É válido deixar claro que não se trata de didatizar o uso da literatura, mas sim o de formar o leitor que transita livre e conscientemente em cada gênero literário e constrói os sentidos possíveis para cada um. Num texto científico busca-se a restrição dos sentidos (SILVA e ALMEIDA, 1998, p.136) e, no limite, a redução a um sentido único. Num texto de ficção, busca-se justamente o oposto disso. O leitor deve ser formado para estar atento a essas diferenças, desde muito cedo. Considerações Finais As duas pesquisas que serviram de base para este trabalho mostram o quanto a literatura de ficção faz uso de elementos das ciências naturais, e que procuramos deixar claro nesta breve apresentação. Se à escola cabe a tarefa de formar o leitor, a aproximação entre gêneros do discurso no contexto das disciplinas escolares e seus currículos é não somente possível mas necessária. O ensino de conceitos associado à leitura de livros de ficção, a nosso ver, multiplica as possibilidades de construção de sentidos pelos alunos e, consequentemente, as possibilidades de aprendizagem dos conceitos. Da mesma forma, possibilita o transito entre vários gêneros literários e de linguagem, formando um leitor atento a essas diferenças e conhecedor das fontes para cada tipo de leitura que desejar realizar no futuro, após sua passagem pela escola. Referências Bibliográficas AMARAL, Ivan A. do; MEGID NETO, Jorge. Qualidade do Livro Didático de Ciências: o que define e quem define? Ciência & Ensino. Campinas, SP: FE/Unicamp. n.2. p.13-14. Junho. 1997. ALMEIDA, Maria José P. M. Discursos da Ciência e da Escola: Ideologia e Leitura Possíveis. 2004. BACHELARD, Gaston. O racionalismo aplicado. Trad. Nathanael C. Caixeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 1977. 12 BAKHTIN, Mikhail Mikhailovitch. Estética da Criação Verbal. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997. ______. Marxismo e Filosofia da Linguagem. 7. ed. São Paulo: Hucitec, 1995. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: ciências naturais. Brasília: MEC/SEF. 1997. CHAMLIAM, Regina. Os cachorros vieram do espaço? São Paulo : Studio Nobel, 4.ed. 1997. COLE (Congresso de Leitura do Brasil). Caderno de Resumos do 15o COLE: Pensem nas crianças mudas telepáticas. Unicamp, Campinas, SP. 5 a 8 de julho de 2005. FERREIRA, Júlio César D. A obra de Júlio Verne: suas possibilidades de uso em aulas de física e a construção de sentidos pelos alunos. Relatório de Iniciação Científica. São Paulo: FAPESP. Presidente Prudente, SP. Novembro de 2007. MENEZES, Luis Carlos de. De Corpo Inteiro e Viva, a Física. Física na Escola. v.6. n.1, 2005. PINTO, Antônia A. Conceitos Científicos e Concepções de Ciências na Literatura Infantil Brasileira. Relatório de Iniciação Científica. São Paulo: FAPESP. Presidente Prudente, SP. Outubro de 2005. PINTO NETO, Pedro da Cunha. Júlio Verne: o propagandista das ciências. Ciência & Ensino n.12. Dezembro de 2004. Portal do Governo do Estado de São Paulo. Secretaria da Educação. Programa Nacional do Livro Didático 2006. Em: [http://www.lendoeaprendendo.sp.gov.br/2006], acessado no dia 14 de Agosto de 2007. RABONI, Paulo César de A. Atividades práticas de ciências naturais na formação de professores para as séries iniciais. FE/Unicamp. Tese de Doutorado. Campinas, 2002. ROBILOTTA, Manoel R.; BABICHAK, Cezar C. Definições e Conceitos em Física. Cadernos Cedes, ano XVIII, nº 41. Julho, 1997. SÃO PAULO (ESTADO). Proposta curricular para o ensino de ciências e programas de saúde: 1o grau. SE/CENP. 1989. SILVA, Ezequiel Theodoro da. Ciência, leitura e escola. In: ALMEIDA, Maria José P. M. de; SILVA, Henrique César da (orgs.). Linguagens, leituras e ensino da ciência. Campinas: Mercado de Letras, 1998, p. 121/130. SILVA, Henrique C. e ALMEIDA, Maria José P. M. Condições de Produção da Leitura em Aulas de Física no Ensino Médio: um Estudo de Caso. In: ALMEIDA, Maria José P. M. e SILVA, Henrique C. (orgs.). Linguagens, Leituras e Ensino da Ciência. Campinas, SP: Mercado de Letras: Associação de Leitura do Brasil – ALB, 1998. p.131-162. 13 SNOW, C. P. The two cultures. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. UNGERER. Tomi, O homem-lua : tradução Mônica Stabel. São Paulo: Martins Fontes. 2000. VERNE, Júlio. Viagem ao Centro da Terra. Série Júlio Verne. Edições de Ouro. Editora Matos Peixoto S.A. Rio de Janeiro, 1964. ______. Vinte Mil Léguas Submarinas. Tradução do original: Vingt Mille Lieues Sous Les Mers, feita por José Gonçalves Vilanova. São Paulo, 1972. VIERNE, Simone. Ligações tempestuosas: a ciência e a literatura. In: CORBOZ, A. et. al. Ciência e imaginário. Brasília: Editora UnB, 1994. ZANETIC, João. Física e Arte: uma ponte entre duas culturas. Pro-Posições, v.17, n.1 (49) jan./abr. 2006. 14
Download