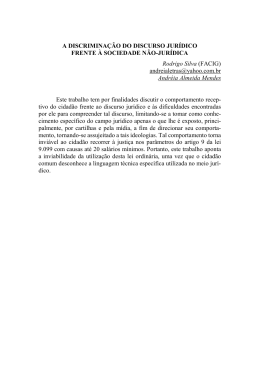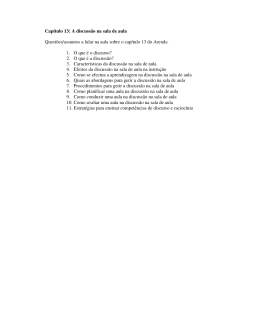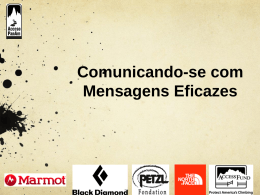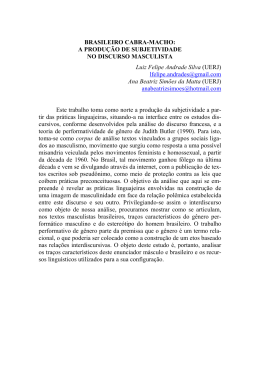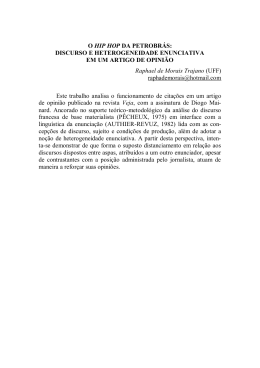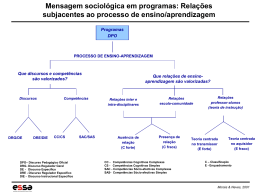XII Encontro de Pós-Graduação e Pesquisa Universidade de Fortaleza 22 à 26 de Outubro de 2012 O LUGAR DA SEMIÓTICA NA INTERPRETAÇÃO DOS TEXTOS JURÍDICOS SOB UMA PERSPECTIVA HERMENÊUTICA Rodrigo Ferraz de Castro Remígio 1 * (PQ), Mariana Dionísio de Andrade 2 (PQ) Professor do Curso Direito da Faculdade Integrada de Pernambuco - FACIPE Professora do Curso de Direito da Universidade de Fortaleza - UNIFOR [email protected] [email protected] Palavras-chave: Semiótica. Teoria da interpretação. Interpretação do discurso jurídico. Resumo O presente estudo tenta demonstrar que o jurista deve submeter à criteriosa análise o sentido da terminologia da qual se utiliza, mas, principalmente, reconhecer que a produção, a objetividade e a efetividade das normas dependem de um rigoroso processo interpretativo, que o Direito e suas normas não possuem positivação infalível. Nesse sentido, a pesquisa tem por objeto o estudo da semiótica e a consideração dos elementos linguístico e textual do discurso jurídico como instrumentos de interpretação e reconstrução do Direito, analisando, ainda, as dimensões da semiótica, aspectos da semiótica jurídica, a interpretação do discurso jurídico, uma abordagem mais específica da matéria no que diz respeito à interpretação constitucional e, finalmente, a observação da semiótica no contexto da interpretação jurídica e da interpretação pragmática das normas constitucionais. Introdução Quando uma lei ou norma jurídica entra em vigor, é possível observar que passa a haver certa euforia no que se refere aos estudos sobre essa lei, além das discussões e debates que se originam acerca de sua aplicabilidade, da atualidade quanto aos anseios populares a que se prestam, ou das mudanças que poderá ocasionar no ordenamento em que for adotada. Urge acentuar que o principal ponto de convergência desses questionamentos perpassa, inevitavelmente, o campo da interpretação normativa, já que a busca para o sentido do texto jurídico é de fundamental importância para sua compreensão e efetividade. A partir dessa perspectiva, é premente compreender o estudo da semiótica no que concerne à interpretação legal, haja vista que o objeto da semiótica é, justamente, o sentido depreendido do texto observado. A vontade do legislador, o contexto social em que a norma foi elaborada, os reclames que pretende absorver, as questões que se propõe a dirimir e, principalmente, a efetividade almejada pela norma, devem ser estudadas sob um olhar semiótico pela produção de sentido dentro das relações sociais, mister essencial da construção do texto legal. A formatação dos artigos, a aplicação de teorias, os elementos e efeitos que produz; tudo constitui foco de análise sobre o discurso jurídico, análise esta que não pode dispensar a profundidade na leitura e interpretação sobre os critérios em direito adotados. Textos de cunho jurídico tendem a complementar-se mutuamente, revelando manifesto desejo de ocupar lacunas normativas. As normas dialogam e estabelecem suas teorias entre si, contudo, manifesta-se evidente a necessidade de verificar a real intenção do legislador, para que eficácia e sentido das normas não restem comprometidos. A observação sobre o sentido do discurso revela-se, portanto, fundamental. O presente trabalho tem como objetivo a compreensão da semiótica no contexto da interpretação, verificar seu estudo sob a perspectiva da linguagem na interpretação do discurso jurídico, analisar as dimensões da semiótica, ISSN 1808-8457 1 além de compreender os elementos constitutivos do discurso jurídico e o lugar da semiótica na teoria da interpretação. Ainda, busca demonstrar as correspondências entre os recursos linguísticos e a articulação da lógica jurídica. Metodologia A metodologia utilizada na elaboração da pesquisa constitui-se em um estudo descritivo-analítico, desenvolvido através de pesquisa do tipo bibliográfica, pura quanto à utilização dos resultados, e de natureza qualitativa. Resultados e Discussão A evolução humana e o recurso ao uso da linguagem são objetos que se complementam. Por mais diversos que sejam os mecanismos de expressão utilizados pelo homem, nenhum ultrapassa a linguagem no que tange à flexibilidade e poder de comunicação que exerce, ou na importância que desempenha. (PALMER, 1969, p. 22). Historicamente, a interpretação revela-se como atividade de considerável valor na seara dos significados e da linguagem. Conforme Umberto Eco (1993, p. 4) essa relevância caracteriza-se pela longevidade dentro do pensamento ocidental, em particular no que se refere à atribuição de significado para a Palavra de Deus, do contexto bíblico e das percepções relativas ao espírito humano. Justifica-se, assim, pela própria evolução da humanidade, o estudo da compreensão, a hermenêutica, a avaliação do ato de interpretar, a reconstrução do diálogo e a busca pelo conhecimento por intermédio da apreensão do sentido das coisas. Para ilustrar o referido, é relevante acentuar: Consideremos por um momento a ubiqüidade da interpretação e a generalidade da utilização da palavra: o crítico literário chama interpretação à análise que faz de uma obra. Chamamos intérprete ao tradutor de uma língua estrangeira; um comentador de notícias ‘interpreta’ as notícias. Interpretamos, por vezes erradamente, uma observação de um amigo, uma carta de familiares, ou um sinal da estrada. Na verdade, desde que acordamos de manhã até que adormecemos, estamos a ‘interpretar’. (PALMER, 1969, p. 20). O processo semiótico depende, portanto, da interpretação. Não que o fato de interpretar ofereça o mesmo sentido a diferentes discursos, mas permite a compreensão do Direito por meio de sua linguagem, respeitando-se as particularidades inerentes ao discurso jurídico. Conforme Francisco Alberto da Motta Peixoto Giordani (1997, p. 33), “interpretar é fixar o alcance de uma norma jurídica, numa determinada época e dentro de um determinado grupo social, visando a sua posterior aplicação.” Configura-se, portanto, que a interpretação da norma jurídica capta, além do sentido, as transformações e circunstâncias sociais. Saliente-se a esse respeito: A interpretação jurídica cria, assim, condições para tornar decidível o conflito significativo, ao trabalhá-lo como relação entre regras e situações potencialmente conflitivas. O que se busca na interpretação jurídica é, pois, alcançar um sentido válido não meramente para o texto normativo, mas para a comunicação normativa, que manifesta uma relação de autoridade. Trata-se, portanto, de captar a mensagem normativa, dentro da comunicação, como um dever-ser vinculante para o agir humano. (FERRAZ JÚNIOR; MARANHÃO, 2007, p. 274). Mas a interpretação não é completamente livre e possui critérios. Estabelecer que a interpretação, na qualidade de característica básica da semiótica, é ilimitada, não significa enunciar a ausência de objeto ou lógica. (ECO, 1993). A finalidade da lei possui seu valor garantido pelo legislador, mas esse mesmo valor pode ser reconhecido não apenas por nexos de causalidade, e sim, por um processo de compreensão da norma posta. Quedar-se-ia infrutífera uma norma sem a correlata compreensão de seu sentido, bem como ISSN 1808-8457 2 pareceria destituída de valor a norma com texto carecedor de efetividade; afinal, consiste a interpretação da lei em designar seu sentido e valor no contexto em que esta se fizer presente. Nesse diapasão, importa destacar: É verdade que os sentidos objetivos são construídos em cada contexto específico de uso, mas os sentidos construídos socialmente passam a ter uma força que ultrapassa a vontade ou a disposição subjetiva do eventual intérprete ou utente. Portanto, na interpretação jurídica, não se trata de extrair arbitrariamente de uma infinidade de sentidos dos textos normativos a decisão concretizadora, nos termos de um contextualismo decisionista, mas também é insustentável a concepção ilusória de que só há uma solução correta para cada caso, conforme os critérios de um juiz hipotético racionalmente justo. A possibilidade de mais de uma decisão justificável à luz de princípios e regras constitucionais parece-me evidente. O problema está exatamente em delimitar as fronteiras entre as interpretações justificáveis e as que não são ‘atribuíveis’ aos textos constitucionais e legais no Estado Democrático de Direito. Como veremos, não se trata de limites estáticos, uma vez que metamorfoses normativas sem alteração textual podem conduzir à mudança das fronteiras entre os campos das interpretações legítimas e ilegítimas. (NEVES, 2006, p. 206-207). Nesse sentido, é válido assinalar que não consiste a interpretação em único método de compreensão do real sentido da norma. A interpretação não é o todo necessário em sua amplitude, mas apenas um elemento no processo de concretização da norma. (MÜLLER, 2005, p. 47). Ainda, é necessário assinalar a distinção entre a figura do cidadão comum e do jurista no que concerne à interpretação normativa. O primeiro o faz ordinariamente, buscando a compreensão apenas sobre o que está posto, sobre o que lhe fora comunicado pela letra da lei. O cidadão comum capta o sentido da norma no intuito de orientar suas ações. Enquanto isso, o jurista pressupõe que no discurso normativo são fornecidas razões para agir de um modo ou de outro, o que vem a estabelecer sua postura diante de um amplo espectro de possibilidades, e envolver o direito como um fenômeno complexo. (FERRAZ JÚNIOR; MARANHÃO, 2007). 1 Elementos do discurso jurídico O discurso jurídico, relacionado ao texto argumentativo e à dissertação, necessita de uma linguagem em que suponha a defesa de determinada tese, sustentada por argumentos capazes de formular um juízo de valor sobre os fatos aduzidos e ensejar o convencimento. Para a defesa de uma tese, o jurista pode utilizar-se de argumentos teóricos, princípios destacados em leis e costumes e, inclusive, das palavras de autoridades científicas no assunto sobre o qual planeja garantir a credibilidade do posicionamento. A análise do discurso, orientada linguisticamente, pressupõe uma abordagem sobre os elementos que o constituem e que não são independentes entre si. Sobre a análise do discurso, destaque-se: A análise do discurso, ao lado de estudos tipológicos, trabalha na elaboração de modelos teóricos capazes de descrever a produção discursiva enquanto processo lingüístico, em níveis teóricos mais abstratos que aquele do tipo de discurso realizado. (PIETROFORTE, 2008, p. 31). A linguagem é um mecanismo de expressão de opiniões, de defesa de ideias e esclarecimento de posturas, de tal sorte que a maneira como é utilizada pode torná-lo mais ou menos acessível ou convincente. A respeito do uso de linguagem, cumpre destacar o seguinte: Na tradição iniciada por Ferdinand Saussure (1959), considera-se fala como não acessível ao estudo sistemático, por ser essencialmente uma atividade individual: os indivíduos usam uma língua de formas imprevisíveis, de acordo com seus desejos e suas intenções, uma langue (língua) que é em si mesma sistemática e social. (FAIRCLOUGH, 2008, p. 90). ISSN 1808-8457 3 Sob a ótica linguística, o ato de interpretar consiste em estabelecer uma nova definição quanto ao significado das palavras contidas na letra da lei, possibilitando, desse modo, sua aplicação em situações não vislumbradas anteriormente. Por intermédio da linguagem expressam-se dados e valores comunicáveis, e por esse motivo é possível compreender que cada ciência possui seu tipo de linguagem, adequada à realidade de suas características e funções. A terminologia jurídica, correspondente à temática abordada pelo presente estudo, merece especial atenção pela íntima correlação com os fenômenos sociais que se propõe a tutelar. Conveniente ressaltar: Inegavelmente, a linguagem jurídica, enquanto um tipo de linguagem ordinária ou natural especializada, e não uma linguagem artificial, ambígua e vaga, o que dá ensejo a interpretações divergentes. Tal assertiva, que se tornou um lugar-comum, sendo adotada pelas mais diversas tendências da teoria do direito, não deve ser assumida sem uma avaliação específica das particularidades da sociedade moderna. (NEVES, 2006, p. 204-205). A evolução do discurso adotado na linguagem jurídica justifica-se pelo fato de que o direito possui uma linguagem particular e normativa. O direito possui sua própria linguagem e resta evidente que necessita dela para sua existência, assim como ocorre em outros ramos da ciência. No entanto, deve o direito ser recepcionado com particular interesse, haja vista que atua, dentre outras funções, como agente de controle social, estabelecendo condutas socialmente aceitáveis e disciplinando comportamentos normativamente descritos. Não se trata a semiótica de um processo puramente mecânico. A compreensão da norma nos caracteres de linguagem em que é disposta é depreendida do discurso jurídico, que deve muito da construção de seu sentido à hermenêutica. Assim como uma norma jurídica, para ser compreendida, necessita de clareza e polidez em seu discurso, a definição de termos e expressões utilizados no direito deve restar eivada de precisão. Quando ausente a clareza quanto à definição ou significado real da norma, considerando-se, evidentemente, padrões éticos e a realidade social em que a mesma é evocada, emerge a possibilidade de corrupção da prática jurídica e consequente diminuição de direitos. A coerência das decisões tomadas pelo magistrado depende dessa compreensão, principalmente no que tange às peculiaridades do caso concreto que exigem a aplicação da norma. Ora, a proteção dos direitos individuais do homem subentende a criação de circunstâncias que lhe permitam a oportuna busca pela prestação jurisdicional que se fizer conveniente em cada caso. No entanto, se a linguagem jurídica existente nas normas não é interpretada coerentemente, ou se a sensibilidade do aplicador da norma não atinge o caso concreto em suas particularidades, o direito e a justiça, objetivos máximos da ciência jurídica, tornam-se palavras despidas de sentido e efetividade. 2 Interpretação pragmática das normas constitucionais Trata-se a interpretação das normas constitucionais de um processo que demanda contextualização com a temática apresentada, exigindo ainda, objetividade na resolução de questões que dependem dessa interpretação. Para iniciar o tema proposto, é necessário observar o disposto no artigo primeiro da Constituição Federativa do Brasil de 1988, conforme segue: “Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] I - a soberania;II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana;[...]”. O teor do discurso constitucional referente ao citado artigo não esclarece ou enuncia o conteúdo significativo do termo “dignidade da pessoa humana” no que tange à definição, por exemplo, do que se poderia constituir um padrão de dignidade a ser erigido como fundamento do Estado Democrático de ISSN 1808-8457 4 Direito. É possível inferir, a partir da leitura, que a referida expressão denota uma especial atenção do Estado para com a condição de dignidade do ser humano, no entanto, o diploma constitucional permanece silente quanto aos critérios que formulariam a ideia de dignidade da pessoa humana, quanto ao que pode ser considerado digno ou indigno. Determinado cidadão comum, trabalhador, provedor de seu sustento e de sua prole, mereceria maior proteção do Estado que um indivíduo marginalizado e em diferente situação, ou, pelo contrário, ambos receberiam igual amparo constitucional? Sobre a interpretação das expressões descritas pelo texto constitucional, urge enunciar: Outro exemplo é o tratamento interpretativo que se dá à expressão: ‘direitos do homem’. Tomada literalmente, por interpretação especificadora, a expressão haveria de referir-se apenas ao ser humano, em sentido psicofísico. A doutrina, contudo, para atingir um espectro maior de proteção, dá-lhe uma interpretação extensiva. (FERRAZ JÚNIOR; MARANHÃO, 2007, p. 310). Enquanto a interpretação semântica das normas constitucionais objetiva delimitar a significação de seus postulados, extraindo os possíveis significados apenas por intermédio da leitura, em abstrato, do texto da norma, encarando a norma jurídica tão-somente como um texto; a interpretação pragmática é realizada no plano dos argumentos, desdobrando-se sobre um caso concreto para a elaboração da norma jurídica. (MENDES; MOREIRA, 2008). Sobre o assunto, importa destacar: A interpretação pragmática visa elucidar o significado da norma em atividade, perante um caso concreto, caracterizando-se, portanto, pelo seu dinamismo e complexidade. Ela transcende o significado estático do texto normativo, sendo indicada exatamente para a exegese de preceitos com elevado grau de abstração e generalidade, prenhes em conceitos indeterminados, para a solução de conflitos entre princípios e direitos fundamentais, enfim e sobretudo para casos difíceis. (MENDES; MOREIRA, 2008, p. 99). A partir do exposto, é possível compreender que a utilização da interpretação pragmática representa grande evolução no que concerne ao alcance da eficácia das normas constitucionais, principalmente no que se refere à materialização dos direitos fundamentais. Quando os preceitos constitucionais não favorecem a plena compreensão do que está descrito em seus dispositivos, ou quando não expressam de maneira evidente seu sentido, a eficácia da norma resta comprometida, o que aduz essencial importância ao auxílio de elementos complementares ao texto constitucional para elucidar seu sentido e corroborar para sua compreensão. Sob o aspecto pragmático a comunicação não se constitui em ato isolado, não é apenas o envio de mensagens entre receptor e emissor. Trata-se de um processo contínuo e ininterrupto de trocas de mensagens. Esse momento do processo de comunicação, pela terminologia positivista, poderia ser denominado por normas jurídicas. (MARTINS, 2004). Nesse diapasão, é possível perceber que, na esfera pragmática, a validade não diz respeito a uma relação entre as normas, mas, sim, entre discursos. Dentro de um sistema democrático, esse cuidado quanto à interpretação deve ser intensificado, para que o cidadão comum tenha acesso à linguagem exarada pelas normas e para que possa se reconhecer como sujeito de direitos quando da compreensão do significado da norma. Há ainda de se ressaltar que a norma jurídica, quando não interpretada e compreendida em seu sentido, torna-se discurso vazio, cuja aplicabilidade resta comprometida. Conclusão A pesquisa realizada demonstrou a possibilidade de considerar a semiótica jurídica como proposta de compreensão de um discurso jurídico, bem como sua contribuição para que o conhecimento deixe de ser considerado particular de uma esfera hermética. O excessivo formalismo, das instituições, e também do ISSN 1808-8457 5 próprio Direito, afasta a tradução de elementos jurídicos baseados em expressões da manifestação cultural da sociedade em que estão inseridos. A busca de sentido no discurso jurídico é justificável pela dificuldade de elucidar questões decorrentes da interpretação da linguagem destacada na esfera normativa. Ademais, é notório que a terminologia quase inacessível do Direito, mesmo crescente e exaltada pelas academias, constitui óbice que vem a comprometer a eficácia da prestação jurisdicional, resultando em descrédito por parte do cidadão comum. Urge salientar que essa aparente obscuridade tem o condão de gerar consequências, principalmente no que diz respeito às decisões judiciais, que tornar-se-iam despidas de efetividade sem a correlata interpretação e compreensão do discurso jurídico. A leitura do Direito, a partir da construção de argumentos que validem a aplicação das leis e legitimem o sentido das normas é prerrogativa do cientista jurídico, pois denota apurada reflexão sobre a prática legal e, eminentemente, sobre a filosofia do direito. Referências BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, Senado, 1988. ECO, Umberto. Interpretação e superinterpretação. São Paulo: Martins Fontes, 1993. FAIRCLOUGH, Norman. Discurso e mudança social. Brasília: Universidade de Brasília, 2008. FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio; MARANHÃO, Juliano Souza de Albuquerque. Função pragmática da justiça na hermenêutica jurídica: lógica do ou no direito. Instituto de Hermenêutica Jurídica, Porto Alegre: Instituto de hermenêutica jurídica, v. 1, n. 5, p. 273-318, ano 2007. GIORDANI, Francisco Alberto da Motta Peixoto. Estudo sobre a interpretação das leis. Campinas: Copola, 1997. MARTINS, Ricardo Marcondes. Racionalidade e sistema normativo: na teoria pura e na teoria pragmática do direito. Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo: Malheiros, n. 47, p. 174-208, ano 2004. MENDES, Ana Araújo Ximenes Teixeira; MOREIRA, Rui Verlaine Oliveira. A eficácia das normas constitucionais e a interpretação pragmática da Constituição. Themis Revista da ESMEC – Escola Superior de Magistratura do Estado do Ceará, Fortaleza: ESMEC, v. 6, n. 2, p. 1-403, ago./dez. 2008. MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional. Tradução: Peter Naumann. 3. ed. São Paulo: Renovar, 2005. NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. O estado democrático de direito a partir e além de Luhmann e Habermas. São Paulo: Martins Fontes, 2006. PALMER, Richard E. Hermenêutica. Lisboa: Edições 70, 1969. PIETROFORTE, Antônio Vicente. Tópicos de semiótica: modelos teóricos e aplicações. São Paulo: Annablume, 2008. Agradecimentos Agradecemos à Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação Lato sensu da Universidade de Fortaleza e Faculdade Integrada de Pernambuco. ISSN 1808-8457 6
Download