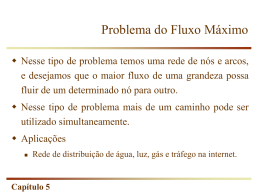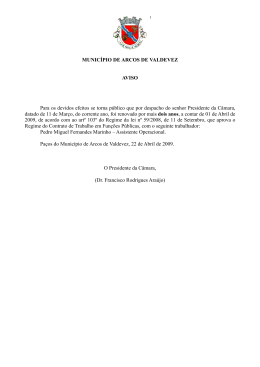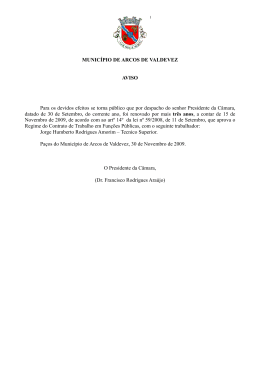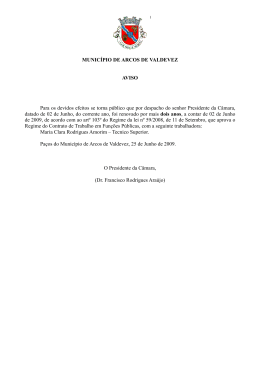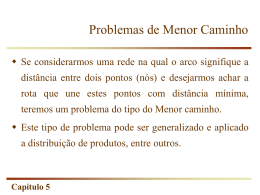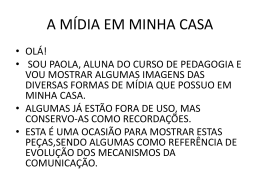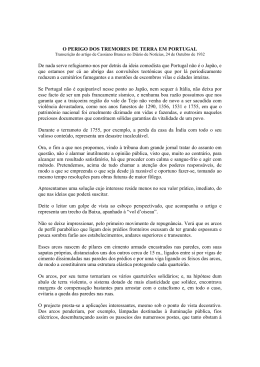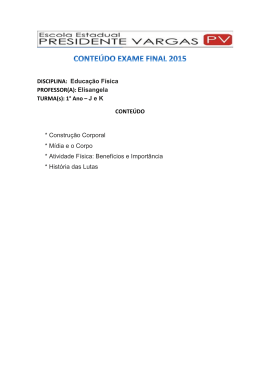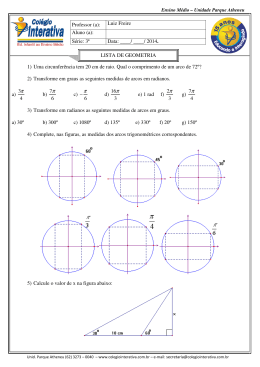Morreu? Apareceu! A publicização da morte em Arcos como fenômeno Folkcomunicacional BONFIM, Filomena Maria Avelina – Professora doutora em Comunicação e Cultura UFRJ – PUC Minas Arcos – MG. MACEDO, Francisca Carolina Vidal – 7º período de Comunicação Social – Habilitação em Publicidade e Propaganda – PUC Minas Arcos – MG. MICHELLI, Fabyanna – 7º período de Comunicação Social – Habilitação em Publicidade e Propaganda – PUC Minas Arcos – MG. OLIVEIRA, Tatielle Samara de – 7º período de Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo – PUC Minas Arcos – MG. Resumo O culto fúnebre é uma prática habitual nas mais diversas sociedades. Em Arcos, no entanto, ele vem acrescido de particularidades que incluem a utilização da mídia alternativa. Assim, quando há a morte de um membro da sociedade arcoense, familiares ou amigos dele fazem com que a finitude daquela vida seja tornada pública. Para isso, um carro de som percorre as ruas do município, informando o acontecimento, local do velório e sepultamento, além dos horários. Essa prática se dá numa perspectiva de que a população – ao tomar conhecimento do que aconteceu – vá prestar condolências àqueles que perderam um ente querido, numa perspectiva de compartilhamento da dor. É nesse contexto que a pesquisa nasce. O objetivo é a investigação científica sobre como a identidade regional pode interferir nas práticas midiáticas de um povo, levando também em consideração, a inferência do folclore neste processo. Por isso, valida-se do desejo em comprovar que a Publicização da Morte em Arcos é um fenômeno de Folkcomunicação - teoria criada pelo doutor Luiz Beltrão e defendida em 1967, na Universidade de Brasília. É importante salientar que este é um trabalho de monografia que está em fase de desenvolvimento. Palavras-chaves: Publicização da Morte – Folkcomunicação - Mídia Alternativa – Identidade Regional Introdução: da morte ‘nasce’ uma investigação científica Comunicação + Folclore = Folkcomunicação. A adição simplificada é a síntese do resultado dos estudos do pesquisador Luiz Beltrão. A tese desenvolvida por ele, em 1967, na Universidade de Brasília, tem como objetivo analisar as manifestações culturais como meios de difusões informativas. Segundo Melo (2003, p.11), a “(...) a Folkcomunicação caracteriza1 se pela utilização de mecanismos artesanais de difusão simbólica para expressar, em linguagem popular, mensagens previamente veiculadas pela indústria cultural”. Paralelamente a este movimento, em Arcos1, Minas Gerais, a forma como o culto à morte acontece, emerge como uma realidade que, aparentemente, agrega elementos folclóricos e comunicacionais. É neste campo que a pesquisa nasce, com intuito de estudar e, consequentemente, mostrar ou não – o que vai depender do resultado dos estudos – se ela pode ser considerada um fenômeno Folkcomunicacional. Nas páginas que se subscrevem, o leitor será convidado a conhecer como a morte é cultuada em Arcos. O tema ganha propulsão no campo da Comunicação Social porque é pela mídia – no caso a alternativa – que essa tradição se concretiza. No município, familiares e amigos de uma pessoa que faleceu publicizam um momento de dor e privacidade. O tema desta prática investigativa científica é Um paralelo da publicização da morte em Arcos com as teorias da Folkcomunicação. Os pesquisadores tentarão elencar todas as características de como um óbito é tornado público no município para, posteriormente, correlaciná-las com as teorias do autor Luiz Beltrão, numa perspectiva de comprovar que em Arcos emerge um fenômeno Folkcomunicacional. Esse é o objetivo geral da pesquisa. Para concretização deste experimento científico, pretende-se cumprir quatro objetivos específicos. O primeiro deles é o de apresentar o modelo de publicização da morte no município, para que o leitor entenda em que contexto ele se manifesta, como e o motivo que leva uma sociedade a mantê-lo. Por conseguinte, tem-se a pretensão inicial de conceituar Folkcomunicação com base no pensamento de Luiz Beltrão. 1 Arcos é uma cidade localizada na região Oeste de Minas Gerais. É separada dos grandes centros não apenas pela questão cultural, mas espacial. O município fica a 237 quilômetros da capital do Estado. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatítica (IBGE), a cidade tem uma população estimada em 36 mil pessoas. A economia local é baseada nas atividades advindas do extrativismo mineral, prestação de serviços, comércio e agropecuária, com destaque para a lavoura de tomate. Foi povoada por açorianos em 1769, mas a emancipação político-administrativa aconteceu apenas em 1938. Características obituárias: Arcos possui dois cemitérios. Um deles, o mais antigo, é da paróquia Nossa Senhora do Carmo e está localizado no centro, aos fundos do prédio da prefeitura. Só são enterrados nele pessoas que adquirem um terreno, orçado em aproximadamente R$ 4 mil. O outro cemitério é municipal e fica no bairro Novo Cruzeiro, uma área periférica do município. A Prefeitura doa a cova, o trabalho do coveiro e, inclusive, transporte para que as pessoas que moram mais longe tenham condições de participar da‘despedida’ do morto. O cemitério tem o nome de “Aristides Pires Andrade”, que era um ávido freqüentador de velórios em Arcos. Conhecendo ou não o morto, ‘Tide Bota Ovo’ – apelido dado a ele – passava a noite toda velando o defunto e ajudava a transportar o caixão até a cova. A cidade possui apenas uma funerária, a ‘Bom Pastor’, de propriedade do sr. Dilermando Modesto Teixeira, também mais conhecido pelo apelido de ‘Dilo’. 2 1. Cada morte é um ‘flash’... Arcos não é uma cidade prolífera de celebridades e são raras as vezes que um morador do município ganha visibilidade na mídia. Exceto em uma situação: quando ele morre. Levantamento do empresário Dilermando Modesto Teixeira, de 64 anos, que é dono da única funerária da cidade, cerca de 98% dos falecimentos locais são divulgados pelo carro de som. Os outros 2% referem-se aos ‘não-reclamados’2, que, por tal condição, não têm quem divulgue a finitude da vida deles. O modelo de publicização da morte pelo carro de som, que de acordo com Dilermando Teixeira foi criado por ele, existe há aproximadamente 10 anos. Ele foi instituído para sanar ruídos comunicacionais percebidos pelo próprio empresário fúnebre. Anteriormente, as mortes eram divulgadas pelo sino da igreja católica - a matriz de Nossa Senhora do Carmo – no centro da cidade. Os arcoenses – atores sociais que ‘encenam’ o cotidiano no município e que, por isto, compactuam do mesmo modo de vida, cultura e tradição – sabiam que o barulho emitido pelo toque advindo da torre da igreja, era índice de morte, por volta dos anos 50. Eles, inclusive, distinguiam pelo som o gênero do moribundo. Assim, toque agudo indicava que uma mulher tinha morrido; toque grave, a morte era de um homem. Mas segundo Dilermando Teixeira, esta prática foi perdendo a eficácia com o crescimento da cidade, pois, os moradores dos bairros mais distantes não ouviam o sino e não ficavam sabendo da morte. Em meados da década de 60, o proprietário do bar ‘Triângulo’, Olívio Vieira de Faria, criou um novo método de fazer os anúncios, por meio de um altofalante, instalado na porta do comércio. O modelo era similar ao do rádio-poste, no entanto, o que se percebe é que em Arcos existia um ‘rádio-bar’. Porém, pelo mesmo motivo do crescimento territorial do município, só quem transitasse pelas áreas mais centrais é que tomariam conhecimento da morte. Para sanar o problema, o empresário Dilermando Teixeira decidiu implantar o carro de som. “Como ele percorre todas as ruas da cidade, é uma forma de toda população ficar sabendo quem morreu”, explica. A proposta foi tão pertinente que, hoje, está simbolicamente relacionada à finitude da vida no município. “Quando morre alguém e o anúncio atrasa por algum motivo, as pessoas começam a perguntar: ‘Nossa, mas está demorando a anunciar’”. Houve também a época da divulgação por boletins, antes dos anos 50. Mas, provavelmente pela demora da tipografia em entregar o anúncio, este modelo não perdurou. 2 ‘Não-reclamados’ é um termo utilizado no Instituto Médico Legal (IML) para denominar os cadáveres não identificados e que, por isto, são enterrados como indigentes. 3 Para divulgar uma morte, o interessado pagará R$50, por duas horas de anúncio, o que também dá direito a chamadas durante todo o dia na Rádio Cidade AM. O texto 3 veiculado é padronizado e tem como trilha sonora a música Pour Elise, de Beethoven. 2. Luz, câmera, ação... Estrelando: a morte A pesquisa A publicização da morte como fenômeno Folkcomunicacional se sustentará em quatro palavras-chaves que, metaforicamente, serão a base deste experimento científico. São elas: publicização da morte, mídia alternativa, identidade regional e folkcomunicação. No decorrer de todo artigo, o leitor vai de deparar constantemente com os termos citados acima e, por isso, é necessário que ele compreenda a significação de cada um isoladamente e no contexto da pesquisa. Inicialmente, eles serão definidos a partir dos estudos de outros pesquisadores que já desenvolveram teorias acerca deles. Após esta fundamentação teórica, pretende-se desenvolver novas conceituações de acordo com a questão espaço/temporal em que as palavras estão inseridas e serão pesquisadas. O título do projeto já contém uma das palavras que deve ser estudada: publicização da morte. As pesquisadoras não conseguiram encontrar nenhum autor que abordasse o tema. No entanto, ela (palavra-chave) será explicada a partir das definições da professora titular do I Programa de Pós Graduação em Comunicação da Unisinos, Maria Lilia Dias de Castro, que definiu publicização isoladamente. Mesmo que não dicionarizado, o neologismo publicizar, e com ele publicização (termo hoje praticamente consagrado na área, tem, na sua constituição, a raiz comum public, à qual se agrega o sufixo izar, elemento linguístico, que exprime uma relação causal, factiva que resulta no entendimento de publicizar como ação de tornar público algum fazer. (CASTRO) 3 Modelo de texto divulgado pelo carro de som: “A funerária Bom Pastor informa: nota de falecimento. José da Silva (marido); Antônio, Maria Clara e Pedro (filhos), noras, genro, netos e demais familiares comunicam com pesar o falecimento de: Joana Aparecida Silva, a ‘Joanita do Zé Caminhoneiro’. E convidam parentes e amigos para seu sepultamento, a ser realizado hoje, às 15h, no cemitério municipal. O férito está sendo velado na funerária Bom Pastor”. OBS: os nomes, locais e data são fictícios. 4 É o significado de ‘tornar público algum fazer’, citado por Castro, que será usado para embasar a proposta de que a publicização da morte é uma forma encontrada pelas pessoas de Arcos para ‘tornar público’ que alguém morreu, numa perspectiva de compartilhar um momento de dor. A ação de divulgar o falecimento, que parte geralmente de algum parente do morto, pode ser entendida como o ‘algum fazer’, proposto pela autora. Por publicizar a morte deve ficar claro que não é um termo relacionado à publicidade e/ou propaganda, afinal, no município ninguém tem o objetivo – pelo menos aparente – de vender algum morto, alguma idéia relacionada ao defunto e, tampouco, consolidar a imagem dele. A proposta é torná-la pública, difundindo o acontecimento, de forma que o maior número de pessoas possível tenha acesso a ele. A princípio, em uma análise superficial, o trabalho distinguirá os três termos – publicização, propaganda e publicidade – da seguinte forma: propaganda é a utilização de suportes tecnológicos com o objetivo de difundir um ideal ou fortalecer uma imagem institucional. Em contrapartida, à publicidade será atribuído um sentido estrito de meio de consolidar uma venda, de acordo com Rabaça e Barbosa, citados por Pinho (p. 16, 1990). “Qualquer forma de divulgação de produtos ou serviços, através de anúncios geralmente pagos e veiculados sob a responsabilidade de um anunciante identificado, com objetivo de interesse comercial”. No entanto, a publicização - no caso da morte, em Arcos – terá outra abordagem, pressuposto o contexto em que está inserida. Assim, por exemplo, para o dono do carro de som (que veiculará o anúncio fúnebre), a publicização da morte recairá no conceito de publicidade, pois ele, o ator social empresário de anúncio fúnebre, tem o interesse comercial em propagar a morte, diferente da família do morto, que apenas quer difundir o acontecimento pelos meios de comunicação alternativos, para que a sociedade arcoense sensibilize-se com a dor vivida naquele momento da perda de um ente querido. Essa ‘sensibilização’ é manifestada subjetivamente no receptor da mensagem fúnebre que, ao decodificá-la, vai acrescentar a ela elementos da própria experiência ideológica e cultural em cultuar a morte, característica geralmente presente nos indivíduos arcoenses, já que a cidade preserva essa prática. Decorrente disso, o decodificar prestará as devidas condolências à família do morto, seja pela participação no velório e/ou enterro. Para ‘tornar pública’ a mensagem fúnebre é necessário que haja um canal entre ela e o público receptor. Para isso, os anunciantes – parentes ou familiares que querem divulgar a morte – poderiam usar jornais, rádios, internet ou qualquer outro suporte tecnológico convencionado para este fim. No entanto, a população de Arcos não utiliza nenhum deles. No município, o meio é o carro de som, uma segmentação da mídia alternativa. 5 Nessa linha, torna-se também fundamental para essa pesquisa o estudo da definição de identidade regional. Ela será embasada na proposta de Ortiz (1985), que define apenas a palavra identidade: (...) identidade é uma construção simbólica (a meu ver necessária), o que elimina, portanto, as dúvidas sobre a veracidade ou a falsidade do que é produzido. Dito de outra forma, não existe uma identidade autêntica, mas uma pluralidade de identidades, construídas por diferentes grupos sociais em diferentes momentos históricos. Portanto, o termo identidade regional, no universo desta pesquisa, está relacionado a algo comum à cultura da população arcoense. Ato este que causa estranheza aos visitantes que não estão acostumados a esta prática. Já faz parte da identidade da população, que se sente à vontade com estes anúncios fúnebres, ao ponto de já conhecerem até a música que antecede a publicação da mensagem. Outro conceito essencial é o de Folkcomunicação. A princípio fica registrada a contribuição que Corniani dará à pesquisa, ao delimitar o universo em que a teoria produzida por Luiz Beltrão emerge: O termo Folkcomunicação surge em decorrência dos estudos de Luiz Beltrão com sua tese de doutorado (1967). Esta tese germinou de um artigo da revista Comunicações & Problemas (1965), tratando das esculturas, objetos, desenhos, e fotografias depositadas pelos devotos nas igrejas, que possuíam nítida intenção informativa. Eram peças que deixavam de ser acerto de contas celestiais, veiculando jornalisticamente o potencial milagreiro dos santos protetores. (CORNIANI) Posteriormente, a pesquisa terá uma página dedicada à temática. A definição de mídia alternativa inicialmente utilizada será a proposta pelo Sebrae de São Paulo, disponibilizada no próprio site da instituição. “Mídias alternativas são todas aquelas que não se encaixam dentro dos padrões das mídias tradicionais mais comuns do mercado, tais como: jornal; revista; TV; rádio; Outdoor”. Abaixo, um breve histórico e considerações acerca dela no universo desta pesquisa. 3. “Fulano de tal morreu”. Foi o carro de som que informou 6 São inúmeros casos em que a comunicação se manifesta longe dos holofotes das grandes mídias. Um deles, o principal a termos desta pesquisa, é o meio utilizado pela população de Arcos para comunicar a morte de alguém: o carro de som. O carro de som é um veículo de comunicação que tem uma linguagem coloquial, uma mensagem objetiva, não trabalha com imagens e é exclusivamente auditivo, ou seja, tem características próprias do rádio e alcance comparado ao da televisão, com a diferença de que não requer que o público tome a iniciativa, ou seja, não acontece como no rádio e na televisão em que o uso deles depende da ação do consumidor em ligar os aparelhos. Na realidade, o carro de som invade a esfera privada da família e intimidades cotidianas. Muito utilizado nas cidades do interior, ganha até do rádio, tanto em uso, quanto em audiência. O segredo do sucesso e da alta penetração dessa mídia está na cobertura (100% do público-alvo), preços muito acessíveis, além da obrigatoriedade da recepção da mensagem, acima já citada. (CARVALHO, et. al, 2005) O carro de som é uma das ramificações da mídia alternativa. Para entendê-la, inicialmente, torna-se importante recorrer à definição dicionarizada proposta a ela. Como é um substantivo composto (da junção de mídia + alternativa), as palavras neste primeiro momento serão discutidas de forma individual. Mídia advém do latim media. É um substantivo feminino que significa meio de comunicação (desconsiderando a efeito da pesquisa o substantivo masculino ‘o mídia’, profissional do ramo da publicidade). “(...) Os meios noticiosos conferem notoriedade pública a determinadas ocorrências, idéias e temáticas, democratizando o acesso às (representações das) mesmas e tornando habitual o seu 'consumo'” (DALTOÉ, 2004). É a mídia o canal que ligará o emissor ao receptor, e é por onde a mensagem codificada passará até a possível decodificação. Bordenave (2003) cita diversos exemplos de meios de comunicação. Dentre eles: a imprensa, rádio e cinema. No entanto, o capítulo dedicado à temática desconsidera os meios alternativos, embora eles sejam mencionados em outros trechos do livro O que é Comunicação, mas sem um nome que os identifique. Ou seja, eles não são denominados, apenas citados como possibilidade de comunicação. Alternativa também é um substantivo feminino. De acordo com Holanda (1993, p.25) significa: “Sucessão de duas coisas mutuamente exclusivas; Opção entre duas coisas; Exclusão recíproca entre duas proposições, admitida a possibilidade de ambas serem 7 verdadeiras”. Em uma contextualização com o campo da Comunicação Social pode-se entender alternativa como uma nova possibilidade de se fazer comunicação, ou ainda, um novo meio de se propagar mensagens, que não sufoca ou sobressai aos demais, mas que emerge na condição de outra possibilidade. Segundo Peruzzo (1993) as mídias alternativas ganham ênfase entre os anos de 1883 a 1993, influenciadas pelo crescimento no interesse por parte de científicos acerca da comunicação popular. Afinal é pela utilização de meios que divergem dos tradicionais que, essencialmente, o povo – no sentido de massa – se comunica. São poucas as vezes, exceto em casos que sejam ‘vendáveis’ aos grandes meios de comunicação, em que eles darão visibilidade a esse público, em grande parte marginalizado pela questão cultural, financeira ou geográfica. São os meios tidos como alternativos que se fomentam como ferramenta na propagação de informações de todos os tipos, sejam elas de difusão de idéias, valores, notícias, utilidade pública, dentre outras. Anteriormente a esse período, até mesmo por uma questão histórica, o que se observa é uma supervalorização dos meios tradicionais, que chegaram à América Latina, e consecutivamente ao Brasil, sob influência dos colonizadores ibéricos (MELO, 1998). Por nacionalidade européia – estes veículos de comunicação – iniciaram em um contexto economicamente bem mais estabelecido do que o dos países latinos. Por isso, eles têm como característica constituírem um sistema elitista. “(...) construídos a partir dos interesses das minorias governantes que se beneficiaram das potencialidades da imprensa- livros e revistas”. Os altos preços de anúncios na ‘grande-imprensa’, a exemplo da TV, também constituem outro fato que dificulta o acesso a ela. Se os anúncios na TV são relativamente altos se comparados à renda de grande parte dos empresários, tornam-se ainda mais improváveis para a grande parcela da população, que é formada pela classe operária e, em muitos dos casos, assalariada, exemplificada neste caso por Arcos. Os meios alternativos também ganharam visibilidade por apoiarem o golpe de 64, já que a censura silenciava a ‘grande-imprensa’. Data dessa época o surgimento oficial da nomenclatura ‘alternativo’ no Brasil, com publicações oposicionistas que surgiram dentro deste novo modelo de se fazer comunicação. Dentre elas: “O Pasquim” (1969), “Opinião” (1972), “Movimento” (1975) e “Em Tempo” (1977)”. Há um acervo extenso de pesquisadores que agregam mais significados à mídia alternativa. Dentre eles, destaca-se Henrique Moreira Mazetti (2007). O teórico estuda a expressão sob a ótica político-social. Assim, ele acredita que ela é um importante veículo 8 usado contra inverdades publicadas pelos meios de comunicações tradicionais, ou quando estes últimos se negam a publicar fatos que possam, por exemplo, prejudicá-los na ordem econômica ou ainda escondam notícias por desinteresse particular, menosprezando interesses coletivos. Este fenômeno denominado de ‘contra-informação’, como propriamente sugere, busca novas perspectivas que vão além das informações tidas como oficiais. Peruzzo (1998) também percebe o caráter de ‘contra-informação’ da mídia alternativa. A autora aborda o fato de que a ‘grande-imprensa’ prioriza os interesses pessoais, políticos e econômicos quando uma matéria jornalística é veiculada. Assim, o que é noticiado pode não condizer com a realidade tal como ela é, indo contra o direito do indivíduo de ter acesso às informações verídicas e isentas. Também tem congruência com a questão de que as camadas mais pobres não têm dinheiro, por exemplo, para adquirir um jornal impresso. É neste contexto que os meios alternativos emergem. Se a imprensa tradicional omite-se, é preciso encontrar outros mecanismos de difusão de conteúdos informativos, pois – como define a máxima – “Comunicar é preciso”. Então, se os meios tradicionais ainda exercem censura, amordaçando e silenciando o povo – na maioria das vezes não pela violência física, mas por negar oportunidades de liberdade de expressão para a massa – torna-se pertinente recorrer aos alternativos. Essa opressão dos meios tradicionais ao que é popular descende do período de colonização brasileira. Assim, índios, escravos e trabalhadores braçais que não tinham oportunidade de se expressarem nestas mídias instituídas, procuravam novas possibilidades de difundir informações. “Para disseminar essa cultura mestiça, as massas empobrecidas do nosso continente criaram modelos originais de comunicação popular, preservando seus valores éticos e estéticos” (MELO, 1998, p. 387). Os meios utilizados pela classe marginalizada, de acordo com o mesmo autor eram o “canto, dança, poesia, humor e sátira” que “permaneciam fiéis aos valores populares, resistindo à dependência externa e consolidando padrões nacionais ou regionais”. Mazetti (2007) dá à mídia alternativa uma previsão positiva neste novo século, domado pelo surgimento ‘na velocidade da luz’ de meios cada vez mais modernos de comunicação, tais como a televisão digital. Para o teórico, esta proliferação de mídias, acrescida ao boom de informação, possa ter causado no público uma reação de inércia. Ponto a favor para os meios alternativos. “O excesso de informação a que somos oferecidos pode estar fazendo com que a busca das mídias alternativas por ‘quebrar o silêncio’ se transforme em uma tentativa de angariar a atenção das pessoas no meio de tanto ‘barulho’”. Até porque sendo alternativas, essas mídias são constituídas de recursos que possam prender a atenção do 9 público. Em Arcos, por exemplo, os comunicadores utilizam a música Pour Elise, de Beethoven, para atrair a atenção do público. Assim, quando o toque musical é entoado, é comum as pessoas pararem das atividades para prestarem atenção na mensagem. Algumas, involuntariamente, já questionam: “A música da funerária. Quem morreu?”. A esse recurso estilístico, usado para despertar a atenção do público e que é propício na mídia alternativa, Assis (2006) – citado por Mazetti – denomina de “táticas lúdico-midiáticas”. Definida por Mazetti (2007) como “(...) manifestações criativas de mídia ou que buscam quebrar a ‘seriedade’ como costumeiramente se trata a política”. No entanto, o que interessa nesta pesquisa é entender a mídia alternativa como um novo meio eficaz e eficiente de se difundir informação em Arcos, pois se os anunciantes – familiares ou amigos do morto – recorressem à imprensa, por exemplo, talvez não houvesse tempo hábil para a divulgação das mensagens fúnebres. Isto pelo fato de não haver um jornal diário na cidade. O veículo que tem maior regularidade é um bissemanal, que circula as quintas-feiras e domingos. A partir desta questão temporal, torna-se inviável a utilização da imprensa, até porque se uma pessoa morrer na segunda-feira, o anúncio teria que esperar até a próxima edição, na quinta, para ser publicado. Quando a população tivesse acesso a ele, já seria tarde demais para ir ao velório, pois nesta altura, o corpo já teria sido velado, enterrado e, possivelmente, os parentes próximos já deveriam estar mais conformados com a dor da partida do ente. A proposta de ‘contra-informação’ não se torna pertinente neste contexto, porque as famílias não estão em aversão com a imprensa tradicional, apenas encontraram na mídia alternativa uma nova possibilidade, que tem um custo/benefício rentável, acrescida à condição temporal. Tendo em vista que o carro de som pode percorrer durante o dia todo as ruas de Arcos – lógico que dentro do horário comercial – difundindo os anúncios fúnebres. Desconsiderando também a TV. A informação divulgada por este meio não é tão interessante – no contexto da morte – porque grande parte da população trabalha durante o dia e só tem acesso ao aparelho à noite. Diferente da mídia sonora, que invade todos os ambientes, inclusive os de trabalho. 4. Público X Privado: a dor da família transposta para a sociedade 10 O ato de tornar as atividades públicas é intrínseco à condição humana. Desde os primórdios, os homens o faziam, ao codificar cenas do cotidiano nas paredes das cavernas. As imagens representadas eram projeções da vida cultural daquelas pessoas que ainda desconheciam os códigos lingüísticos, mas que, de alguma forma, se comunicavam ou publicizavam as ações diárias. Com a evolução dos tempos, a institucionalização da língua falada e escrita, além do aparecimento de novos suportes tecnológicos, a forma de publicização do dia-a-dia passou por mudanças, mas permaneceu enraizada na sociedade contemporânea. A cidade de Arcos é um exemplo que comprova a teoria ao publicizar a morte pelo carro de som, transpondo um momento privado – que inicialmente referiria apenas ao ambiente familiar – para a esfera pública. Este ato faz alusão ao trabalho feito pelas carpideiras4, no Brasil do século XIX. Arcos mostra a importância que a população interiorana do oeste de Minas Gerais dá à mídia alternativa. Mesmo que seja motivada pelo senso comum, a sociedade sabe que para difundir a informação, mais eficaz que fazê-la pelo boca-a-boca, é utilizar meios comunicacionais que atinjam a população, a exemplo do carro de som. A aplicabilidade do ato de publicizar, no contexto de Arcos, também é objeto de reflexão. Se geralmente são festas, marcas e produtos que se tornam públicos, com o objetivo geralmente de venda ou consolidação de imagem, em Arcos é a morte o foco dos comunicadores, que transformam em códigos lingüísticos – sonoro, no caso do carro de som – o desejo dos familiares e amigos do morto, em divulgar a dor. A pesquisa apresenta um novo viés para a Comunicação Social, que não se atém à difusão de informação e/ou persuasão, mas exerce papel determinante para a cultura regional, ao destacar traços marcantes da identidade do povo no oeste mineiro e preservar uma prática de ares folclóricos e que não sofreu influências – pelo menos por enquanto – dos mass-media, perdendo assim, características singulares no decorrer dos tempos. Esta prática comunicacional parece similar ao modelo proposto pelo teórico Luiz Beltrão, em 1967, denominado por ele de Folkcomunicação. De acordo com o estudioso, a Folkcomunicação é a interface entre a comunicação e o folclore, que se faz presente principalmente no que Adorno e Horkheimer denominaram de ‘cultura popular’, ou seja, o movimento adverso à cultura erudita. Deve-se entender que Arcos, uma modesta cidade do interior, pode não refletir os avanços e mudanças susceptíveis 4 Carpideiras eram mulheres que ganhavam para, em dias de velórios, saírem gritando e anunciando a morte. 11 aos grandes centros, principalmente, na escolha dos meios de difusão. E por isso – ao ir contra os atuais e modernos meios de propagar a informação, o município pode assumir a condição de ‘marginalizado culturalmente’. Como está enraizada na cultura local, o ato de publicizar a morte pode se manter por gerações, já que a tradição é passada de pai para filho, da mesma forma que a publicização do cotidiano advém de tempos remotos e permanece na atualidade. Principalmente pela Folkcomunicação, já que uma das principais características deste modelo, é a transmissão de informação pelo folclore. 5. Publicização da morte: uma manifestação folclórica/comunicacional Os meios comunicacionais vão muito além dos convecionados como ‘mídia tradicional’. Há inúmeras possibilidades de se transmitir conteúdos, e o folclore é um deles. É através das manifestações da tradição cultural de um povo, que as novas gerações se informam acerca de um determinado assunto, mantendo também viva aquela característica da comunidade de pertença. Por folclore, muitas das vezes, estão associados as lendas, personagens místicos, música ou culinária, por exemplo. No entanto, há outros vieses, tais como os ‘usos e costumes’, exemplificados no site Brasil Escola: “ritos de passagens, usanças agrícolas, pastoris, medicina rústica e trajes”. Nota-se que a população arcoense compactua de uma manifestação folclórica, que é o costume, ao cultuar a morte, por meio da publicização. Pois, se não fosse pela extrema valorização dela, não teria necessidade de torná-la pública, no intuito de comover a sociedade, a participar desta última fase do ciclo biológico de um indivíduo, que é a finitude da vida. O que se observa é que ela acontece sem hierarquias, ou seja, conforme o dito: ‘do povo para o povo’. É neste contexto que se torna possível elencar traços que evidenciem este fenômeno de Arcos, com o que Beltrão (2004, p. 11) denominou de Folkcomunicação. “A Folkcomunicação constitui uma disciplina científica dedicada ao estudo dos agentes e dos meios populares de informação de fatos e expressão de idéias”. Entende-se por essa afirmação que ela estuda as manifestações populares que se tornaram parte do cotidiano e da cultura de uma comunidade. Cada grupo – constituído por pessoas geograficamente ou ideologicamente unidas – tem uma maneira particular de cultuar um fato que, para o outro grupo, pode não ter significado algum. 12 É evento comunicacional, pois, a tradição de gerou signos que são facilmente decifráveis pelos habitantes do município. Assim, quando a música Pour Elise toca, por exemplo, as pessoas já associam o som à morte. Essa prática é totalmente desconhecida pelos estrangeiros – que não compactuam dos hábitos folclóricos arcoenses – e, por tal condição, não decodificam a música como uma prévia de anúncio de morte. CONSIDERAÇÕES FINAIS, MAS NÃO, FUNESTAS Começo, meio e fim. A vida segue a seguinte ordem cronológica. Este fim, como sinônimo de morte, está relacionado ao término e não permite continuidade. Diferente do meio científico, que a finitude de um trabalho é algo inatingível, pois, a ciência é passível de mudanças e novas descobertas, o que a torna tão interessante e instigante. O presente trabalho não tem, como o óbito na maioria dos casos, um caráter funesto. A partir dele, novos experimentos e teorias podem ‘nascer’ e proliferar, porque uma realidade observada em Arcos – uma pequena cidade do Oeste de Minas – pode se manifestar em tantos outros municípios brasileiros e evidenciar que os meios alternativos exercem papel fundamental longe dos grandes centros (e também dentro deles), não apenas como canais de informação, mas na condição de meios mantenedores de uma tradição e de socialização entre os indivíduos que, encontraram neles, uma forma de expressar e dividir com a sociedade um momento de dor e sofrimento, que é a morte de um ente querido. O artigo Morreu? Apareceu! – A Publicização da Morte em Arcos como Fenômeno Folkcomunicacional é a síntese de uma pesquisa que está em desenvolvimento em Arcos, por pesquisadoras da PUC Minas. A conclusão está prevista para novembro de 2008. Mas com as comemorações do bicentenário da imprensa brasileira, mostrar a valorização que os arcoenses dão – mesmo que subjetivamente – à mídia alternativa, tornou-se o desejo prioritário das pesquisadoras, que desejam registrar nas páginas da história, o modelo arcoense de publicização da morte. A proposta torna-se pertinente, pois, além de um marco histórico, mostra também uma tendência que emerge, fazendo concorrência direta – no caso de Arcos – aos meios tradicionais de comunicação. Devido à credibilidade e contribuição histórica que a Rede Alfredo de Carvalho tem, a publicação do artigo no VI Congresso Nacional de História da Mídia, que acontece em parceria com a Universidade Federal Fluminense, emerge como uma possibilidade única de mostrar que, se não existe vida após a morte, um dado é certo: 13 após a morte, existe visibilidade e um certo momento de fama proporcionados pelos meios alternativos, pelo menos em Arcos. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BELTRÃO, Luiz. Folkcomunicação: a comunicação dos marginalizados. São Paulo: Cortez, 1980. BELTRÃO, Luiz. Folkcomunicação, teoria e metodologia. São Bernardo do Campo (SP): Editora Metodista, 2004. BELTRÃO, Luiz. Folkcomunicação. Porto Alegre (RS): EDIPUCRS, 2001. BORDENAVE, Juan E. Diaz. O que é comunicação. São Paulo: Brasiliense, 2003. CARVALHO, Maria Cristina de Oliveira et al. O carro de som como mídia alternativa eficaz no Oeste Mineiro. In: COLÓQUIO INTERNACIONAL DE COMUNICAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO, 10, 2005, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: INTERCOM, 2005. 1 CD-ROM. CASTRO, Maria Lilia Dias de. Televisão: entre a divulgação e a promoção. Acesso em 17 de outubro de 2007. Disponível em <http://www.unicap.br/gtpsmid/artigos/2005/MariaLilia.pdf> CORNIANI, Fábio. Afinal, o que é Folkcomunicação. Acesso em 12 de março de 2008. Disponível em http <//www2.metodista.br/unesco/agora/pmc_acervo_pingos_fabio.pdf> DALTOÉ, Andrelise. Teorias da Notícia: uma tentativa de construção. Disponível em http://www.jornalismo.ufsc.br/redealcar/cd/grupos%20de%20trabalho%20de%20historia%20 da%20midia/historia%20dos%20jornalismo/trabalhos_selecionados/andrelise_daltoe.doc. Acesso em 14 de dezembro de 2007. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Minidicionário da Língua Portuguesa. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993 MAZETTI, Henrique Moreira. Mídia alternativa para além da contra-informação. Trabalho apresentado ao GT de Mídia Alternativa, do V Congresso Nacional de História da Mídia. São Paulo: 2007. 14 MELO, José Marques de. Taxinomia da Folkcomunicação: gêneros, formatos e tipos. Comunicação destinada ao XXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Rio de Janeiro, INTERCOM/UERJ, 6-9 setembro de 2005. MELO, José Marques de. Teoria da Comunicação: paradigmas Latino-americanos. Petrópolis (RJ): Vozes, 1998. NEGRINI, Michele. A morte como espetáculo televisivo: a imagem do criminoso e da vítima no programa Linha Direta. Tese de monografia defendida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul: 2005 ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. São Paulo: Editora Brasiliense, 1985. PERUZZO, Cecília Krohling. Comunicação nos movimentos populares. Petrópolis (RJ): Vozes, 1998. PINHO, J. B. Propaganda Institucional: usos e funções da propaganda em Relações Públicas. São Paulo: Summus, 1990. SEBRAE-SP. O que é e quais são as mídias alternativas? Disponível em: <http://www.sebraesp.com.br/principal/melhorando%20seu%20neg%C3%B3cio/orienta%C3 %A7%C3%B5es/marketing/comunica%C3%A7%C3%A3o/m%C3%ADdiasalternativas.aspx >. Acesso em 05 de setembro de 2007. BRASIL ESCOLA. Folclore Brasileiro. Disponível em <http://www.brasilescola.com/historiab/folclore-brasileiro.htm>. Acesso em 05 de setembro de 2007. 15
Download