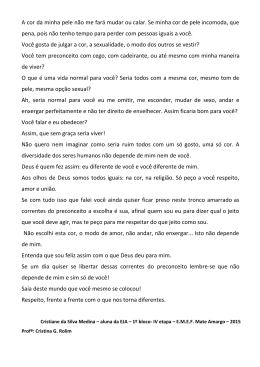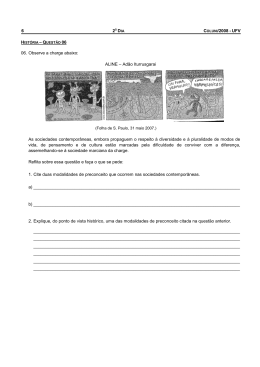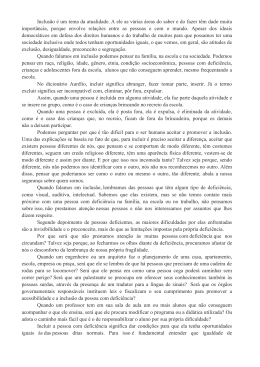GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA O PRECONCEITO O PRECONCEITO Vários autores SÃO PAULO IMESP 1996/1997 AGRADECIMENTOS Aos palestrantes, Diretoria Funcionários e estudantes da Faculdade de Direito, Pela dedicação e interesse demonstrados durante todo o simpósio. Aos realizadores deste livro, digitadores, produtores, gráficos e demais colaboradores. Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil) O Preconceito/ Julio Lerner editor - São Paulo Imprensa Oficial do Estado, 1996/1997 Abaixo do título: Vários autores 1. CIDADANIA 2. DIREITOS HUMANOS 3. PRECONCEITOS I. LERNER, JULIO INDICE BELISÁRIO DOS SANTOS JR. - APRESENTAÇÃO................................................................................ 5 JULIO LERNER - PRIMEIRO UM, DEPOIS O OUTRO......................................................................... 6 RUTH CARDOSO - A CIDADANIA EM SOCIEDADES MULTICULTURAIS .................................... 7 MARIA RITA KEHL - VOCÊ DECIDE E FREUD EXPLICA ............................................................... 12 EUGÊNIO BUCCI - SOCIEDADE DE CONSUMO OU CONSUMO DE PRECONCEITOS............. 18 ALBERTO DINES - MÍDIA, CIVILIDADE E CIVISMO........................................................................ 32 ROSISKA DARCY DE OLIVEIRA - A IGUALDADE FAZ TODA A DIFERENÇA........................... 41 DALMO DE ABREU DALLARI - POLICIAIS, JUIZES E IGUALDADE DE DIREITOS................. 49 MARILENA CHAUI - SENSO COMUM E TRANSPARÊNCIA............................................................ 65 MILTON SANTOS - AS CIDADANIAS MUTILADAS ........................................................................... 77 SANTIAGO KOVADLOFF - CRIAÇÃO, IMAGINAÇÃO E PRECONCEITO ................................... 84 PRECONCEITO Belisário dos Santos Jr. Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania Jamais coexistiram tantos instrumentos de defesa dos direitos individuais e coletivos, seja no plano nacional e internacional. Nunca foi tão presente e consistente a consciência universal da importância dos direitos humanos. Não há Estado que deixe de proclamar em sua Constituição o objetivo de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Esta proclamação em alto e bom som, convive com a prática diária de condutas discriminatórias individuais e coletivas, muitas se inserindo na raiz de políticas públicas, ou constituindo um substrato de providências legais e administrativas. Uma das primeiras medidas do Governador Mario Covas foi anunciar a volta à escola de filhos de imigrantes estrangeiros que, por problemas de documentação, vinham tendo sistematicamente negado o direito à educação. Isto em São Paulo, anos 90, véspera do século XXI. No entanto, nem só o Estado discrimina. O Fórum das Minorias, promovido pela Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania e pelo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, em audiências públicas para ouvir segmentos ou categorias especialmente afetados por violações de direitos humanos, verificou que inúmeras situações afrontantes dos direitos se realizam no dia a dia, em práticas altamente preconceituosas estabelecidas, sobre as quais ninguém mais reflete. Como sugere o educador uruguaio Perez Aguirre, seria fundamental realizar e educar para que sempre realize um passeio diário, pelo nosso cotidiano e pela nossa cidade, identificando a realidade de discriminação. Este primeiro e grande susto, seria importante passo - ainda que apenas um passo - para motivar alteração de condutas individuais e coletivas. Ao lado do uso das garantias jurídicas dos direitos da cidadania, o processo educativo é igualmente fundamental contra a violação dos direitos calcada em discriminação de qualquer natureza. Por tal razão, a SJDC e a Secretaria da Cultura do Governo Mario Covas, dentro do Programa Convivência Cidadã, uniram-se à Universidade de São Paulo e a sua Faculdade de Direito, ombrearam-se com forças da sociedade civil, como a Comissão Justiça e Paz de São Paulo, e aos estudantes representados pelo C.A. XI de Agosto e seu Presidente, para patrocinar esta discussão, que tem o apoio do Ministério da Justiça. A instância de reflexão que foi o Seminário e este livro constituirão referência obrigatória, na luta pela igualdade, pela tolerância, pela convivência cidadã. PRIMEIRO UM, DEPOIS O OUTRO Julio Lerner Comecemos com o Simpósio: 1200 inscritos, público atento, envolvido, participante. Já na segunda noite a publicação das palestras se afigurava como a extensão natural e lógica do evento. Era preciso aproveitar os impulsos da paixão, criar as condições necessárias para que tamanha produção intelectual, de indiscutível qualidade, não se perdesse na névoa do esquecimento. “O Preconceito” agora transforma-se em livro, fluxo coerente das coisas importantes que animam a vida inteligente de nosso país. Esta publicação exprime o que foram esses grandes encontros dos conferencistas com o público. Informações objetivas: alguns momentos (poucos) foram suprimidos . Há palestras que são transcritas na íntegra, aproveitando seus aspectos mais espontâneos (Ruth Cardoso, Rosyska Darcy de Oliveira, Milton Santos). Outras aqui estão conforme os textos trazidos por seus autores (Marilena Chauí, Santiago Kovadloff, Alberto Dines). E há também aquelas que posteriormente foram reelaborados ( Dalmo Dallari, Maria Rita Kehl, Eugenio Bucci). Na noite reservada à questão “Mulher e Preconceito”, a escritora Nélida Piñon estabeleceu um encontro informal e criativo com o público. Porém, autora que gera seus textos com grande cuidado, Nélida nos enviou mais tarde uma simpática carta em que solicitava que sua fala, “por seu caráter oral, natural, não se prestava a ser publicada”. Embora discordando, respeitamos o pedido da prezada imortal. Resta-nos o consolo de registrar uma de suas respostas sobre a questão do “politicamente correto”. A também imortal Lygia Fagundes Telles, que pretendia permanecer anônima, foi convidada para compor a mesa e acabou recebendo inesperadas perguntas. Dada a multiplicidade das questões propostas pelos espectadores, optamos por publicar também - após os textos - uma síntese das perguntas encaminhadas. Textos e diálogos revelam agudas e amargas interpretações, mas não impedem o leitor de perceber um discreto veio subterrâneo de fina ironia, que em certas ocasiões é a única possibilidade de que dispomos para lidar com a mediocridade. “O Preconceito” estimula nossa lucidez. Diante de tantas realidades perversas, este livro coloca de modo irrefutável a necessidade essencial de nos reeducarmos. Todos nós. 1 – Abertura A CIDADANIA EM SOCIEDADES MULTICULTURAIS Ruth Cardoso Professora universitária e antropóloga Antes de iniciar minha participação neste simpósio, gostaria de agradecer a todos pela recepção calorosa que estou tendo. Quero também dizer que considero extremamente importante discutir esse tema, a Cidadania e a Multiculturalidade nas Sociedades. É realmente oportuno retomarmos o problema do preconceito, das discriminações, entendê-lo melhor para lutar mais eficientemente contra toda e qualquer forma de discriminação. O título que foi escolhido para essa minha palestra, “Cidadania em Sociedades Multiculturais”, tenta reunir dois aspectos, que nem sempre são apresentados conjuntamente: o da cidadania e o da multiculturalidade, ou seja, a questão da diversidade das nossas sociedades, da complexidade cultural nas sociedades atuais. O problema da cidadania já é reconhecidamente uma das mais importantes questões do nosso tempo. Ele reaparece com esta força, domina as preocupações dos grupos envolvidos com o resgate daqueles que estão excluídos da nossa sociedade e, por isso, ganha uma importante dimensão política, além de se configurar também em instrumento intelectual de bastante força. O conceito de cidadania é hoje aceito por todos, mas deve se reencontrar com a questão de direitos e deveres que a sociedade começa a colocar. Nós temos definições muito precisas do que seja cidadania. Mas hoje, como lemos em revistas, jornais e até mesmo em trabalhos acadêmicos e discursos, o conceito não é usado de maneira tradicional, não corresponde mais à formulação do fim do século XVIII e do século XIX. Ele tem outro significado. Hoje, claramente, cidadania quer dizer inclusão de populações excluídas, ou seja, todos numa sociedade devem tornar-se cidadãos. O conceito de cidadania ortodoxo implicava em que sempre há pessoas fora do mundo da cidadania. Atualmente, esse conceito não é mais definido por seus limites. Ao contrário, ele não deve ter limites. Deve ser um instrumento de inclusão de todos os segmentos da população que estão excluídos. Essa discussão aflora exatamente como o aflorar de problemática que a sociedade nova está trazendo. Os instrumentos ficam antigos para a realidade nova e a realidade força uma redefinição. Isso é um desafio, um desafio sobre qual nós temos que pensar. É importante ressaltar que isso não é uma problemática brasileira. Freqüentemente no Brasil considera-se que tudo o que está acontecendo, está acontecendo exclusivamente aqui. Este é um defeito do nosso pensamento. Aprenderemos mais se pensarmos sobre problemas semelhantes no resto do mundo. Como a redefinição da idéia de cidadania é hoje universal, nós temos aliados no mundo todo. Certamente os problemas não são os mesmos, mas têm aspectos muito semelhantes e as formas de lutar contra eles talvez sejam também semelhantes. A questão da cidadania começa a se modificar, nos anos 60, quando a sociedade passa a ter outros registros e outras maneiras de manifestar a sua vontade. Nós todos identificamos os anos 60 como sendo os anos das explosões e das manifestações dos segmentos que não faziam parte da política, não tinham instrumentos para se manifestar, mas passam a aparecer no cenário para representar a sua vontade e reverter sua situação. Estes segmentos estavam então, em graus diferentes, excluídos da cidadania, conceito agora usado em seu sentido moderno. Quando eles começam a ter voz, a arena das discussões muda e passa a incorporar novos atores que com esta face, com essas reivindicações, só aparecem a partir dos anos 60. Esses segmentos, as mulheres, os negros, os jovens, reivindicavam autonomia e poder de decisão. Se nós lembrarmos um pouco o que foi 1968 e de todas as outras manifestações da juventude durante os anos 70 veremos a busca pelo poder de influência. Não pelo poder em seu sentido vago, mas pela presença, pelo poder numa nova arena na qual os problemas se discutem de modo diferente. E é esse o momento do mundo contemporâneo em que se recoloca a questão da cidadania. Para entendermos o que aconteceu nessa recolocação dos limites da cidadania, é importante pensarmos um pouco sobre a contribuição que o movimento da mulheres deu neste campo. Entre todos os movimentos que surgiram nessa época, o de mulheres tem um caráter especial. Segmentado, dividido em vários caminhos, o movimento de mulheres acaba por traçar caminhos diferentes. Ele se tornou universal muito rapidamente, teve apoios e assumiu características próprias nos diferentes continentes do mundo. Mas encontrou suporte para a reivindicação de igualdade nestes continentes, ainda que de maneiras muito diversas. Embora tenha assumido posturas bastantes radicais em certos momentos, nunca foi violento. Este é um traço importante quando se pensa sobre esse modo de aparição pública de novos segmentos na sociedade contemporânea. Freqüentemente a luta pelo ingresso na cidadania foi feita usando instrumentos que podiam levar ao enfrentamento e à violência. O movimento de mulheres é paradigmático neste sentido; ele pode ter sido radical, mas não violento. Além disso, por suas próprias características, deu uma contribuição extremamente importante, teórica e conceitual, à compreensão dos processos tais como eles estavam ocorrendo na sociedade. E a reivindicação das mulheres é aquela que busca a igualdade num mundo que reúne homens e mulheres. É uma reivindicação de que este seja um mundo de iguais. Esta reivindicação incide diretamente sobre o próprio conceito de cidadania. As mulheres já vinham lutando pela igualdade perante a lei desde o começo do século. Em alguns países desenvolvidos, até o direito a votar e ser votada foi muito tardio, mas foi conquistado. Ou seja, a noção de igualdade entre homens e mulheres já era plenamente aceita e aparentemente condizente com o conceito de igualdade perante a lei, com a garantia dos direitos individuais a todos. A eclosão do movimento feminino mostrou que a igualdade não se realizava plenamente. A garantia de direitos iguais era garantia legal, mas não se estendia imediatamente ao cotidiano e à cultura. A sociedade alimentava uma diferença que estava subjacente ao conceito de cidadania. Uma importante autora feminista, Carol Peterson, num trabalho denominado “O contrato sexual”, demonstra que o contrato social supõe o direito individual. A garantia do direito individual subjacente a este contrato, era um outro, o chamado contrato patriarcal, no qual a diferença continua a existir. Esse é o fundamento da luta das mulheres. Elas foram, junto com o movimento negro e o movimento jovem, responsáveis por trazer a luz para a questão da vida privada, mostrando como a vida privada é também um campo da política. Aí aparecem as discriminações. Ainda que não estejam inscritas nas leis e nem sejam coerentes com a situação legal, elas persistem. Não são leis, são costumes e como tal permanecem subjacentes a toda noção de igualdade. O movimento de mulheres tem este caráter exemplar. Entre todos os esforços dos movimentos nos anos 60 e 70, foi o das mulheres que mostrou com maior clareza que os direitos garantidos a um indivíduo abstrato - o cidadão continua a encobrir todas as diferenças. E essas diferenças não podem ser tomadas como elementos de discriminação. Por isso o lema das mulheres é “Diferentes, porém iguais”. Não se trata de eliminar as diferenças, mas de garantir a igualdade. Novamente as mulheres são exemplo, porque as diferenças biológicas continuam a existir. As mulheres, mantendo o seu papel, querem ver reconhecido seu direito à diferença. Ou seja, as mulheres querem exercer plenamente seus direitos; enquanto iguais e enquanto diferentes. Essa é uma questão que se coloca para todas as minorias que sofrem discriminação. O grande problema é exatamente reconhecer essas diferenças ao mesmo tempo em que se garante a igualdade. A ampliação do alcance das comunicações e o desenvolvimento tecnológico levaram o mundo, rapidamente, à globalização e ao aumento das diferenças culturais dentro de cada sociedade. De modo que a diversidade aflora com mais intensidade. Até a primeira metade do século XX, as categorias que realmente importavam para se entender o mundo eram categorias gerais, eram categorias de universalização dentro de uma sociedade. Hoje todas as categorias com as quais nós lidamos para entender o cotidiano de uma sociedade são segmentadas, parceladas, são grupos de novos atores presentes no espaço público, que querem reconhecimento e legitimidade como grupo. O movimento de mulheres foi o primeiro a também construir o slogan “A política da vida privada”, ou o privado é político, e esse foi um grande slogan do movimento feminista. É na vida privada, e não no aparato legal ou na vida pública, que está a discriminação. E isso é verdade também para o racismo. Nós conhecemos, no Brasil, esta situação. Vivemos num país que tem uma grande capacidade de encobrir o racismo. Ele quase não aparece à luz do dia, mas existe, é forte e produz a discriminação. A entrada destes elementos da vida privada na vida política configura um salto fundamental, nesta última metade do século XX. Temos que incorporá-los conceitualmente e, a partir daí, saber trabalhar. A igualdade já garantida entre as raças, entre os sexos, a igualdade de todos, é um arcabouço absolutamente fundamental. Sem ele nenhuma luta é possível. Mas agora trata-se de entender essa igualdade e identificar quais são as fontes que alimentam a desigualdade. Insisto no exemplo das mulheres até porque eu o conheço mais. Eu apresentei esta questão na IV Conferência das Mulheres, em Pequim. Na América Latina toda houve um progresso muito grande no nível educacional das mulheres. Hoje no Brasil, nos mesmos segmentos de idade, as mulheres têm maior escolaridade que os homens. Se avaliarmos esta situação sob o ângulo das faixas etárias, as mulheres têm maior número de anos de estudo. Isto mostra que as nossas sociedades não são excessivamente preconceituosas com as mulheres. Quando houve a expansão das oportunidades de escolaridade, as famílias não impediram as meninas de irem para a escola. Elas estão incorporadas à escola e conseguindo um nível de desempenho maior que o dos meninos. Entretanto, a conclusão da minha apresentação em Pequim não foi tão favorável. O salário das mulheres é ainda, em média, a metade do salário dos homens. Ou seja, é vã a expectativa de que o aumento da oferta educacional tenha um efeito imediato sobre a desigualdade. É preciso continuar também lutando em outras frentes. Da questão que envolve as mulheres, devemos tirar uma lição. Elas têm a garantia de ingresso no sistema educacional, mas continuam vivendo uma situação de desigualdade sancionada exclusivamente pela cultura, os costumes e as tradições. Isto é preconceito, é discriminação. E temos que lutar até mostrar que as diferenças que as mulheres podem ter são limitações que atingem a toda a sociedade. Quando uma vai mulher vai ter um filho, e tem quatro meses de licença, ela está servindo à sociedade. Este direito tem que ser reconhecido, garantido. É preciso assegurar a idéia de que igualdade é igualdade em todos os níveis, inclusive na vida cotidiana. Os exemplos de discriminação são inúmeros. Em cada segmento, com uma face política distinta, existem direitos específicos que têm de ser reconhecidos. Novos problemas e indicadores de discriminação estão vindo a público, estão sendo trazidos à arena política. Isto significa que a demanda é o reconhecimento de direitos específicos de diferentes segmentos. Quanto aos negros, precisam lutar contra o racismo. Da mesma maneira que as mulheres, eles têm de lutar contra tudo aquilo que está sedimentado e que, quase inconscientemente, é posto em circulação na nossa sociedade. Para lutar contra o preconceito é preciso realizar atos que demonstrem a necessidade de que os segmentos vítimas de discriminação tenham reconhecidos os seus direitos específicos. Para que se concretizem os direitos específicos é preciso garantir seu reconhecimento político. É preciso disseminar a noção dos direitos específicos e a necessidade prática de seu reconhecimento, para que se possa lutar. No caso das mulheres, isto significar reconhecer que trabalho igual deve corresponder a salário igual; no caso dos negros, trata-se de atuar contra a discriminação com a idéia das chamadas políticas de discriminação positiva, que são aquelas que garantam alguma vantagem específicas a grupos que foram tradicionalmente discriminados. São vantagens que buscam neutralizar a discriminação onde ela sempre se mostrou mais efetiva e digamos, tradicional. Este é um ponto chave da extensão da cidadania, porque na medida em que nós que aceitamos a idéia de direitos específicos para as minorias discriminadas legitimamos a luta por esses direitos. Apesar de a discriminação atuar no nível da sociedade, o Estado tem um papel fundamental nessa questão. São dois planos e duas ações. É tarefa do Estado atuar para construir uma igualdade inexistente e que é sempre imperfeita. Por isso o Estado deveria usar mais os instrumentos de discriminação positiva. As cotas, por exemplo, são uma parte da política de discriminação positiva. Hoje já se tem uma avaliação mais coerente do seu efeito. Políticas de cotas são bastante criticadas hoje. Elas não produziram o que se esperava delas. Nas escolas, por exemplo, ou no trabalho, elas produziram, às vezes, efeitos perversos que não eram previstos. Estamos num momento especialmente rico que a eclosão de questões na sociedade nos trouxe. Temos arcabouço teórico que, não sendo suficiente para o debate de todas essas questões, nos obriga a repensar, a redefinir conceitos. Um exemplo claro disto é o que eu estou tentando mostrar sobre o conceito de cidadania. Estamos hoje frente às sociedades multiculturais, onde o número de segmentos que tem presença pública é muito grande. Os velhos conceitos não são suficientes para a compreensão dos problemas. Temos portanto que trabalhar com os novos. Penso que a multiplicidade de grupos nas sociedades multiculturais ganharam uma importância muito grande, conferindo força a novos atores. Anteriormente, eles até existiam como grupos, mas suas reivindicações tinham menos eficácia e menos pertinência em relação à vida política. Isto porque o Estado teve que reconhecer esta arena nova e tem de reconhecer que a sociedade não é mais feita pelas categorias amplas, e generalizadas, mas se compõe de novas identidades, que são o lucro da política das minorias hoje. Os grupos sociais, como os indivíduos, definem sua identidade a partir da criação de ligações internas, ao mesmo tempo em que encontram sua diferenciação com relação ao outro. Isto cria processos complexos nas sociedade multiculturais. Precisamos ficar atentos aos processos de construção social de grupos novos. Se observarmos o exemplo dos hispânicos nos Estados Unidos veremos que antes dos anos 70, havia pouco em comum entre os mexicanos e os porto-riquenhos, que aliás eram tradicionais inimigos. Hoje o processo político de criação de identidade e de reconhecimento do outro criou um grupo, o dos hispânicos, que tem força, presença, identidade e reivindicações próprias. A política hoje tem de lidar com estes novos grupos. Um exemplo brasileiro desta situação é o homem do campo. O conceito chave para este grupo, nos anos 50, era dado pela palavra camponês. Essa palavra criava uma categoria generalizadora, que acomodava todas as diferentes situações vividas na zona rural brasileira pelos homens do campo. Hoje, a palavra camponês é estranha no nosso vocabulário político. Falamos atualmente de segmentos, capazes de se apresentar com identidade própria: sem-terras, bóia-frias, e cada grupo desses tem suas reivindicações específicas. Uns se distinguem dos outros porque constróem identidades diferentes e desta maneira são legitimados. Nesse processo o Estado tem um papel importantíssimo: reconhecer categorias novas. À sociedade cabe o papel de permitir a gestação desse diferentes segmentos, que se apresentam e mostram suas diferenças. A partir daí se estabelece uma espécie de luta pelo reconhecimento de direitos específicos, ao mesmo tempo em que se cria uma contraofensiva. Depois do avanço, há um retrocesso. É importante que se entenda como isso aconteceu. Muitas vezes a luta pelos novos direitos assume um caráter ingênuo e parece que o não-reconhecimento de direitos é uma maldade ou uma injustiça a ser corrigida. Certamente é uma injustiça e é certamente por isso que temos que dar legitimidade a essa luta. Mas não podemos pensar que as sociedades se movem pelos mecanismos da justiça. Nós sabemos que não é assim. Freqüentemente vemos a negação da competição entre dois grupos. A competição existe e está posta. Precisamos trazêla para nossas considerações. É esta competição, freqüentemente negada, que reafirma a necessidade de lutarmos contra o preconceito. Depois de Hobbes, é difícil acreditarmos numa sociedade de direito natural, numa sociedade de justiça. Temos de reconhecer então que a luta desses novos parceiros para serem reconhecidos na arena política não exclui um processo de competição entre eles mesmos. É evidente que é preciso unir o nível do espaço privado ao nível em que ele se transforma em espaço público. No espaço público, é preciso verificar se o preconceito aparece como falta de informação e se mostra como instrumento de defesa e de competição dentro de um mundo cada vez mais segmentado. É curioso que a mesma sociedade que, como vimos aqui, contribui para a ampliação do conceito de cidadania e reconhece a existência de direitos específicos, atua na multiplicação do preconceito. Ainda hoje temos guerras étnicas, impensáveis há vinte ou trinta anos atrás. Considero importante observarmos com atenção estes dois lados da questão e estou convencida de que a solidariedade, nesta situação, tem uma importância muito grande. Mas se não entendermos melhor esta questão, se não fizermos um esforço para compreender o que está acontecendo, não teremos armas para lutar contra o preconceito que se reinstala e se reinventa a cada dia. Vou dar apenas mais um exemplo que serve a esta discussão. Vários estudos mostram que as metrópoles do mundo contemporâneo - há estudos sobre a cidade de São Paulo que mostram isso claramente - estão sofrendo um processo de urbanização diferente desde os anos 80. Há uma transformação nas formas de urbanização, nas formas de apropriação nas cidades. Levamos muito tempo para perceber isso. Ainda pensamos a cidade de São Paulo, por exemplo, a partir de um modelo superado, no qual a periferia abriga a população pobre, deserdada, e o centro, em seu sentido amplo, é o centro preservado e cuidado. Esse modelo não serve mais para explicar a cidade de São Paulo, como não serve para explicar as grandes metrópoles do mundo. O avanço tecnológico, a globalização, as novas formas de exploração comercial também atuaram nesta transformação. Hoje temos em toda parte grandes condomínios fechados com grades, que vendem a idéia de segurança. Os preços dos terrenos na cidade de São Paulo vêm se equalizando porque numa ampla área se pode construir esse tipo de condomínio fechado. Eles se multiplicam e não existem apenas no Morumbi, mas também na Moóca, em Santana, no Tatuapé, em São Miguel Paulista porque são ilhas, e as ilhas podem estar em qualquer lugar. A existência dessas ilhas produziu, por outro lado, uma degenerescência de outros espaços na cidade, que estão, estes sim, sendo ocupados pelos mais pobres. Como conseqüência há uma diminuição das favelas e um avanço enorme dos cortiços. Isto é resultado de algo muito mais amplo. O medo das pessoas e o preconceito na nossa cidade crescem muito a cada dia e o medo da violência justifica, muitas vezes, uma violência prévia. As pessoas se isolam porque descobrem que estão do lado daqueles que constituíam a classe perigosa, e que, do seu ponto de vista, estavam longe. Estando próximos, forçam uma redefinição da sociabilidade para permitir a convivência com esse novo fenômeno, com esta nova sociedade. Esta redefinição pode se dar a partir da idéia da solidariedade, que é a idéia de que a igualdade é um bem que deve ser garantido a todos para que a sociedade possa efetivamente se organizar. O conceito de cidadania se ampliou já na prática e isso ocorreu porque nós temos uma sociedade que coloca politicamente esta questão na arena da realidade, incorporando novos conceitos à vida política. O medo do bandido, que se confunde freqüentemente com o medo dos pobres, é uma questão que tem de ser enfrentada imediatamente. Os pobres estão mais próximos, estão dentro da mesma área. Se nós não combatermos esse preconceito, teremos um esgarçamento muito maior das relações sociais. É preciso entender também que muitas vezes os pobres, obrigados a se distinguir dos bandidos, manifestam opiniões que parecem assustadoras para nós, que somos liberais, condescendentes e solidários. Se por exemplo se realiza uma pesquisa de opinião pública, e uma grande maioria se manifesta favoravelmente à pena de morte para os bandidos, devemos procurar explicações para isso. Certamente as pessoas têm que se distinguir dos bandidos, têm de se mostrar como diferentes, afirmando algo como “tudo bem que venha pena de morte, porque ela não virá para nós, homens de bem, que somos pobres, mas somos homens de bem”. Diante dessa dinâmica da própria cultura e da sociedade que nós vamos ter de encontrar os lugares onde está alojado o movimento de solidariedade, e onde e porque ainda estão vigentes esses preconceitos que nós temos que desarmar. Para desarmá-los, nós temos evidentemente que compreendê-los e acho que vivemos um momento fundamental. É por isso que eu estou participando desse simpósio, que certamente trará uma contribuição para esta questão. Agradeço a atenção de todos. 2 - A. Sociedade de Consumo I - Você Decide...e Freud Explica Maria Rita Kehl Psicanalista A dobradinha “você decide e Freud explica” sintetiza, a meu ver, duas formas de alienação características da subjetividade moderna: de um lado, o delírio de autonomia que consiste em acreditarmos que não devemos prestar contas a ninguém a respeito de nossas escolhas, nem pagar qualquer preço por elas. De outro, a esperança de que uma certa psicanálise venha nos socorrer para fundamentar e desculpar nossos atos através da explicação das motivações inconscientes, que serviriam assim como justificativa para o exercício da soberania narsísica do cidadão reduzido ao estatuto de consumidor. A psicanálise e a publicidade funcionam, assim, como duas técnicas privilegiadas de produção de subjetividade. Em entrevista ao psicanalista Contardo Calligaris para o caderno Mais! do jornal Folha de São Paulo (5/11/94), o fotógrafo Toscani, responsável pelas campanhas publicitárias da Benetton, chamou a atenção para o fato de que os gastos com publicidade nos países ricos, hoje, são cerca de duas vezes superiores aos gastos com educação pública. Guardadas as devidas diferenças orçamentárias, o número revela que a publicidade é mais presente e mais eficiente como produtora de subjetividade do que a formação escolar tradicional, no Ocidente. A publicidade convoca os sujeitos a apostar em sua onipotência. O sujeito das “culturas do narcisismo” no dizer de Christopher Lasch, adaptado às condições desejantes das grandes sociedades de mercado (independente de suas condições materiais), acredita que tem uma espécie de direito natural ao desfrute de todos os bens que a publicidade lhe oferece ou, pior ainda, acredita que tem uma espécie de dever de desfrutar deles. No discurso publicitário, evidentemente, o dever de gozar suplanta toda interdição ao gozo que funda as sociedades humanas - suplanta até mesmo a dimensão fundamental do Princípio de Realidade, que nos ensina que nenhum desfrute é possível sem um adiamento inicial, seguido de um certo investimento de, digamos, trabalho físico ou mental. O sujeito onipotente da Cultura do Narcisismo vive um delírio semelhante ao que Freud descreveu como o estado psíquico regido pelo Princípio do Prazer: sem história, sem mediação de tempo e esforço entre desejar e obter, sem dívida para com nenhum passado, nenhuma instância paterna. É o self-made-man imaginário (como todo self-made-man), que se acredita sem outro compromisso a não ser com o próprio gozo, ao qual a mídia publicitária - ou a mídia em geral, já que toda mídia é pautada pelos imperativos da publicidade - apela incessantemente. Ora, gozar plenamente é tão impossível ao ser humano quanto renunciar completamente ao gozo, mas o sujeito contemporâneo não sabe disto - esta é a dimensão de sua alienação que chamei de “você decide”, quando a “decisão" se inscreve não no registro político da cidadania (dimensão construída coletivamente) mas no registro privado do consumo. Esta forma de alienação exige o recalque da dimensão simbólica que sustenta as formações sociais. O sujeito das culturas do narcisismo se esquece de que até mesmo a liberdade de escolhas de que desfruta hoje é fruto de uma história de trabalho e sacrifícios humanos - encarnados e atualizados nas mercadorias. O esquecimento é necessário para produzir a dimensão imaginária de um gozo sem dívidas e sem limites. O consumidor contemporâneo representa a si mesmo como um eterno filho do presente, sem história e sem lei, regido por um pastiche do Princípio do Prazer e voltado para um futuro imediato que só lhe promete mais mercadorias. Na velocidade própria das sociedades industriais sustentadas por uma produção de tecnologia que ultrapassa os indivíduos, tudo parece “caído do céu”: os objetos não têm história nem parecem encarnar um capítulo da grande construção das sociedades humanas. 1 A filósofa Hannah Arendt chama a atenção para o fato de que, ao contrário do que as aparências poderiam indicar, o preço pago por este esquecimento ativo das nossas origens é de conformismo e resignação em relação às condições do presente, já que todo desejo de mudança, apartado da consciência do que nos determina, se esgota numa rebeldia inútil. Ou na crença de que nada se pode fazer para transformar o que está posto, pois ignoramos que o que está posto foi, algum dia, construído por nossos antepassados. Arendt escreve que somos prisioneiros das tradições que recalcamos: “o fim de uma certa tradição não significa necessariamente que os conceitos tradicionais percam poder sobre as mentes dos homens. Pelo contrário, às vezes parece que este poder das noções e categorias cediças e puídas torna-se mais tirânico à medida que a tradição perde sua força viva e se distancia da memória de sua origem. Ela revela toda sua força coercitiva somente depois de seu fim, quando os homens nem ao menos se rebelam contra ela”. Ao que está se referindo esta passagem, senão ao poder de “eterno retorno” próprio do recalcado? O texto de Hannah Arendt não faz um apelo conservador pela manutenção das tradições; faz um apelo ao desesquecimento das origens do presente, do caráter histórico (portanto mutável) de situações que tendemos a considerar como naturais e imutáveis. Uma das respostas a esta forma de alienação contemporânea é a neurose. Por que as sociedades modernas produzem culpa e neurose, se elas apelam incessantemente para que o sujeito goze sem culpa e seja feliz? Por que as formações sociais não sustentam mais os sujeitos, escreveu Freud em Totem e Tabu. Em sociedades arcaicas, as estruturas simbólicas determinavam os destinos dos sujeitos. Laços de parentesco, a posição dentro da família, origem de classe, etc, decidiam pelo sujeito, em grande parte, a vida que ele deveria ter. A neurose se produz quando o sujeito se acredita senhor de seu destino, e inteiramente responsável (portanto culpável) pelo que fizer dele. Penso que esta esperança moderna contém um germe de libertação individual - vivemos aliás em sociedades do individualismo - mas contém também as condições para que o oposto se realize, o aprisionamento dos sujeitos na culpa neurótica pelo que não consegue realizar. Não quero me aprofundar aqui sobre todas as condições de produção da neurose, mas apontar para uma delas, a meu ver fundamental: o recalque da dimensão simbólica que transcende os indivíduos e, em larga medida, ainda determina seus destinos. O sujeito moderno é neurótico porque se acredita soberano e o que é pior, acredita que a soberania é condição de sua liberdade. Assim, ele está sempre angustiado diante de um excesso de responsabilidade não para com os outros mas para consigo mesmo - só o reconhecimento do Outro, da dimensão coletiva que também determina sua vida e delimita seu destino poderia aliviá-lo deste sofrimento, desta eterna culpa por não conseguir ser tudo, possuir tudo, gozar de tudo. A psicanálise, outra técnica moderna de produção de subjetividade, vem sendo convocada pela mídia para resolver este impasse, da pior maneira possível, como se lhe coubesse inventar uma solução de compromisso entre o imperativo do gozo e a angústia neurótica dos sujeitos, que nem ao menos entendem por que não conseguem gozar da herança que lhes foi legada pela história. Nas últimas décadas, a mídia vem tentando transformar a psicanálise numa espécie de panacéia 1 - Hannah Arendt, “O que é Tradição”? em: Entre o Passado e o Futuro. SPaulo, Ed.Perspectiva, 1976. consoladora das frustrações e/ou legitimadora das transgressões que se cometem em obediência ao imperativo do gozo. A psicanálise substitui as ciências sociais como fantasia de panacéia universal na medida em que o homem social, político, vai sendo substituído pelo homem psicológico. É claro que os sujeitos das culturas do narcisismo são tão sociais quanto quaisquer outros, mas têm que se acreditar livres e soberanos para tudo desejar e tudo consumir. A mídia recorre à psicanálise em busca não de intervenções que destruam esta forma de alienação, mas de explicações apaziguadoras da angústia que a onipotência produz. “Você decide e Freud explica" seria a dobradinha ideal para apaziguar a má consciência do homem moderno sem estragar sua condição de criança mimada do discurso publicitário. Em nome de uma explicação “freudiana”, tudo é permitido. A idéia de que a verdade freudiana do desejo é passível de realização e reconhecimento no mundo das mercadorias é um subproduto da banalização da psicanálise pela mídia, que busca num certo discurso psicologizante legitimar a infantilidade de seu próprio público. Do mesmo modo, as ideologias neoliberais banalizam os direitos de cidadania dos indivíduos, confundindo-os com direitos do consumidor - o que significa que os que estão abaixo de um padrão significativo de consumo, não possuem direito algum. No Brasil, particularmente, o enfraquecimento das instituições que deveriam sustentar a lei e zelar por seu cumprimento para todos sem exceção, contribuiu para esta passagem tipicamente moderna, em que os conflitos que deveriam se dar entre os indivíduos e as instâncias públicas se transformam em conflitos íntimos, entre instâncias psíquicas subjetivas. Aquilo que deveria ser decidido fora da subjetividade, pelo temor à lei ou pelo enfrentamento entre os que transgridem e os que defendem a lei, transforma-se num drama subjetivo cuja solução deve ser “explicada" pela 2 psicanálise. Dostoiévski antecipou este mal-entendido moderno criando o jovem Raskólhnikov , compelido a praticar um crime, qualquer crime, para comprovar a liberdade que lhe conferia sua superioridade intelectual, livre das amarras terríveis do catolicismo russo. Se o pacto simbólico foi esquecido - ativamente esquecido, esquecimento que a mídia produz diariamente - ou desqualificado; se a dimensão coletiva das interdições que sustentam a vida em sociedade está obscurecida pela onipotência das elites que se acreditam acima da lei; se todos os indivíduos são igualmente convocados a gozar de privilégios que por sua própria natureza excluem a grande maioria, estão dadas as condições para a expansão, no melhor dos casos, do conflito neurótico - no pior, da perversão dos laços sociais. Se cada indivíduo vive suas escolhas como se fosse soberano, às custas de todos os seus iguais, paga por isto o preço altíssimo de se ver destruindo os laços sociais que o sustentam. Por fim, gostaria de sugerir alguns preconceitos produzidos em conseqüência deste mal-entendido contemporâneo. Em primeiro lugar, já que todos são convocados para gozar de privilégios - o que seria impossível logo se estabelece uma distinção entre quem goza e quem não goza nas sociedades de consumo, implicando numa diferença de qualidade entre os sujeitos: capazes e incapazes, competentes e incompetentes até, no limite da perversidade, merecedores e não merecedores (de privilégios, de excessos, etc). A sociedade se divide entre os que “conquistam” o direito de gozar e os outros, otários, a serem usados e abusados pelos mais espertos. Em outras palavras: quem é e quem não é cidadão, no sentido definido pela Declaração dos Direitos do Homem (que fundou a modernidade!), passa a ser decidido em termos de quem é e quem não é consumidor. No Brasil isto fica ainda mais terrível , uma vez que cerca de um terço da 2 - Fiódor Dostoiévski, Crime e Castigo. São Paulo, Editora Abril, 1979. Tradução de Natália Nunes. população está abaixo dos padrões de consumo considerados mínimos pelas pesquisas de mercado - abaixo do que as empresas de publicidade chamam de “classes C e D”. Excluídos tanto do “você decide" quanto do “Freud explica”, estes milhões de brasileiros, estes absolutamente outros, parecem não pertencer à mesma ordem simbólica que nós - não sendo consumidores, também não seriam cidadãos. Assim, o maior preconceito em vigor no Brasil, hoje, não é de raça, gênero ou credo - é o preconceito contra os pobres. A palavra deve ser politicamente incorreta, mas já que convivemos tranqüilamente com o fato, ela não deveria nos chocar: estamos convencidos de que os que não consomem, valem menos do que nós. Junto a isto, cria-se um preconceito contra todos os projetos que ainda chamaria de esquerdistas, isto é, que partem do ideal iluminista de que uma sociedade deva ser capaz de criar soluções coletivas, racionais, que sacrifiquem privilégios individuais a favor de direitos democráticos. Diante do imperativo do gozo, tais ideais parecem ingênuos, fantasiosos. Já nos esquecemos que até mesmo os privilégios “conquistados" por uma elite, hoje consolidada, na sua origem dependeu de condições coletivas favoráveis - ou, o que é pior, de uma certa prática consentida de apropriação de bens públicos. O esquecimento nos condena a uma eterna indiferença, perturbada somente pela angústia que nos avisa que nenhuma situação de privilégios dura para sempre. Nos condena a um estado de adolescência permanente, impotente e ansiosa, em que cada um se acredita sempre capaz de, sozinho, partir do zero e conquistar o mundo - e quanta culpa sentimos ao ver que isto não acontece! Esta adolescência envelhecida do homem contemporâneo, acompanhada do medo pânico de nossos únicos limites naturais- o envelhecimento, a morte - não oferece nenhum porto onde possamos ancorar ou de onde zarpar o navio de nossos sonhos, já que nos rouba a dimensão coletiva e histórica a que pertencemos. Assim, até os mais belos sonhos se transformam em delírios narcísicos, impotentes na medida justa da nossa fantasiosa onipotência. Termino com um verso da poeta Ana Cristina Cezar sobre a adolescência: “É sempre mais 3 difícil/ ancorar um navio no espaço”. Consumo: o que é, o que não é... P: Quando a psicanálise vai chegar às favelas e aos cortiços de São Paulo? Bom, na verdade a psicanálise não chega às favelas e aos cortiços. De vez em quando alguém de cortiços e favelas procura um psicanalista. Às vezes chega, não sei como. O cara conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, cai no consultório do psicanalista, e funciona, todo mundo no inconsciente é igual, ou seja, essa história de que não adianta fazer psicanálise, porque eles não vão entender, porque a cultura é outra, não tem, o inconsciente é uma coisa muito democrática. Eu já tive poucos pacientes quase analfabetos, que me vieram por caminhos muito obscuros, e você fala "talvez o seu desejo seja esse, e talvez eu esteja entendendo que você quer dizer isto", e o cara entende como se fosse um universitário. Quer dizer, a linguagem do inconsciente talvez seja uma das mais universais, então eu não teria nenhum problema da psicanálise chegar aos cortiços e favelas. P: A sociedade de consumo privilegia a individualização. A libertação dessa sociedade de consumo deve então partir de uma iniciativa individual para que se possa alcançar a dimensão coletiva? Por favor, comente. 3 - Ana Cristina Cézar, “ Recuperação da Adolescência”, em A Teus Pés. SPaulo, Ed. Brasiliense, 1983. Bom, não é que eu não ache que, individualmente, a gente não possa sair disso que eu estava chamando da alienação produzida pela sociedade de consumo. Eu acho que se pode. Em geral os tipos românticos de todas as sociedades, não só da nossa, são os tipos que individualmente rompem com os padrões e que bom quando a gente consegue, é um prazer duplo! É o prazer de romper e o prazer de se sentir um indivíduo muito especial, porque não está no padrão de todo mundo. Mas isso já é um critério bem sacana de individualidade. "Eu sou melhor do que os outros, porque eu rompi com os padrões individualistas". Eu acho que de qualquer maneira, soluções e rompimentos só são possíveis coletivamente. Indivíduos podem até morar no deserto, como tentaram os jovens nos anos 70, com toda a ruptura da cultura hippie, etc., etc. Agora essas rupturas que isolam, em geral elas tendem a ser de novo engolidas. A ruptura que isola, o próprio mercado faz daquilo um paradigma, faz daquilo um padrão desejável, e você se vê de novo sendo engolida. Toda mudança consistente tem que ser coletiva, mudanças individuais servem para a história de vida de cada um, mas não é isso que vai mudar a sociedade. P: De onde vem a influência que possibilitou a formação das inúmeras ONG’s, as Organizações NãoGovernamentais, que defendem direitos humanos, ambiente, interna e externamente ao sujeito narcisista? É um novo tipo de ocupação "cult" permitido pela sociedade de consumo? Olha, eu não posso historiar da onde vem a formação das ONG’s. Eu entendo a ironia de quem fez essa pergunta, e eu vou fazer a minha leitura dessa ironia, que numa sociedade de mercado, de mídia, de imagem, de narcisismo, qualquer iniciativa de ruptura pode ser tomada como um fenômeno de mercado, cult ou não cult. Mas eu não acho que isso esgota o assunto, eu acho que as ONG’s vem substituir outras organizações da sociedade civil que foram engolidas. Eu acho que isso sempre vai acontecer, quer dizer, cada vez que instituições que são feitas para civilizar a sociedade forem engolidas pela corrupção, enfim por toda essa incivilidade reinante, novas instituições vão se formar, sejam ONG’s, sejam novos partidos políticos, etc. Eu acho que isso é muito saudável. Pior é se ficassem aquelas velhas instituições tentando dar conta de tudo, se corrompendo e se esvaziando de sentido. Eu acho que as ONG’s são mais interessantes do que meramente um fenômeno cult. Eu acho que são instrumentos de luta mesmo. P: Existe a possibilidade de gozo e cidadania a quem não admite corromper-se, sem querer levar vantagem em tudo e sempre? Existe a possibilidade de se tornar um consumidor de educação, lazer, cultura, bem-estar em geral, bens de consumo em uma sociedade de consumo? Como consumir sem se corromper? Primeiro eu acho que tem aí uma espécie de um preconceito, não no sentido negativo, do preconceito intencional, mas com uma má formação de conceito da pessoa que faz a pergunta, de que achar que educação, lazer, saúde, etc. são bens de consumo. Não são bens de consumo. Seriam direitos coletivos que a própria sociedade devia garantir a todos cidadãos, isso é muito diferente de bem de consumo. Justamente o que eu percebo é que tem já uma perversão do nosso pensamento de achar que tudo isso é consumir, isso não é consumir, isso é usufruir de direitos, o consumo já são necessidades secundárias. Quer dizer, eu ter que comer, o que vestir, onde morar, isso não é consumismo, isso são direitos para poder ser um cidadão civilizado numa sociedade que concede a todos esse direito, dentro da perspectiva de direitos humanos. Então isso não tem nada a ver com consumismo. Além disso, aquilo que eu vou consumir, eu acho que a questão é você consumir dentro do que você pode, o problema é você achar que você tem consumir tudo, e cair nessa alienação de que se você não consumir tudo você é um otário. Uma vez eu achei muito graça de ouvir uma esposa de um prefeito de cidade do nordeste, o estado queria que se tornasse área de proteção ambiental e a prefeitura queria lotear e vender. E a esposa do prefeito, que estava ali na sua casa de esposa de coronel nordestino, que já agora não era mais coronel mas político, manipulando ali, dizia assim: “bom a gente não pode ser ingênuo, né, eu também tenho que comer.” Essa pessoa não estava com nenhum problema de ter que comer, o problema dela não era de sobrevivência, ela queria lotear a área, vender e passar a mão no que pudesse daquele dinheiro, já não tinha mais nada a ver com comer, e nem com consumir sapatos, bolsas e cinemas, tinha a ver com o excesso do excesso do excesso, porque ela achava que ela tinha que ter direito, porque ela era a esposa do prefeito, e ela nasceu numa elite, afinal de contas, econômica, e evidentemente numa ralé mental. Mas de qualquer maneira, é essa mentalidade que alia o consumo à corrupção, quer dizer, as pessoas dizem: “é, eu tenho meus filhos para criar, eu não posso passar fome”, ou seja, eu tenho que ter piscina, jatinho, isso não tem nada a ver com passar fome. Então eu acho o seguinte, não tem para todos nesse nível, não tem e não tem porque ter. O prazer pode passar por mil outras coisas, e principalmente pela convivência, pelas formas de sociabilidade, pelas formas criativas de produção de lazer, de arte, etc. Então achar que tem que ter jatinho, celular, carro importado, helicóptero para todos, evidentemente não vai ter e esse “pega para capar”, desculpem a expressão, é para ver quem chega primeiro. Eu acho que nesse nível não há como consumir sem se corromper. P: Se existem preconceitos em todas as épocas, em todas as sociedades, em todas as culturas, será que o preconceito não faz parte da natureza humana? Eu acho que sim, eu acho que faz parte da natureza humana, e é por isso que a gente tem que combater. Como o crime faz parte da natureza humana, como o estupro faz parte da natureza humana, como o incesto faz parte da natureza humana, e como eu coloquei, e não é uma idéia minha, a gente cria civilizações para melhorar a natureza humana, se a gente estiver entregue à natureza humana, a gente está entregue à barbárie. Então dizer que o preconceito faz parte da natureza humana de maneira alguma justifica que a gente o aceite. P: Esta palestra, você a tem publicada em algum livro, ou em caso negativo, duas ou três obras que você recomenda para leitura? Pelo que o Júlio acabou de nos informar ela vai ser publicada, então até aí não tem problema. Ela nem está redigida, mas eu vou entregar em tempo e ela vai ser publicada nesse livro, que os organizadores estão fazendo. Eu citaria um obra. Minha fala não foi muito baseada em obra, eu fui juntando essas coisas, mas tem um trabalho que para mim foi fundamental, que foi, e até é uma coisa muito conhecida e muito antiga já, de uma pensadora que é Hannah Arendt. É um livro, já tem vinte ou trinta anos, chama-se Entre o Passado e o Futuro, era da Editora Perspectiva, não sei se está reeditado, se ainda está em circulação. Ele tem dois capítulos que são fundamentais sobre essa questão da alienação contemporânea, um que se chama O que é tradição?, e um outro que se chama O que é Liberdade?. Nesses dois capítulos eu fundamentei muito minhas reflexões, se alguém estiver interessado, eu recomendo. 2 – B. SOCIEDADE DE CONSUMO SOCIEDADE DE CONSUMO (OU O CONSUMO DE PRECONCEITOS) Eugênio Bucci Jornalista Antes de começar, vamos lembrar o “parêntesis irritante” de um velho livro brasileiro: “Um parêntesis irritante: Abramos um parêntesis... A mistura de raças mui diversas é, na maioria dos casos, prejudicial. Ante as conclusões do evolucionismo, ainda quando reaja sobre o produto o influxo de uma raça superior, despontam vivíssimos estigmas da inferior. A mestiçagem extremada é um retrocesso. O indo-europeu, o negro e o brasílio-guarani ou o tapuia, exprimem estádios evolutivos que se fronteiam, e o cruzamento, sobre obliterar as qualidades preeminentes do primeiro, é um estimulante à revivescência dos atributos primitivos dos últimos. De sorte que o mestiço — traço de união entre as raças, breve existência individual em que se comprimem esforços seculares — é, quase sempre, um desequilibrado. (...) Como nas somas algébricas, as qualidades dos elementos que se justapõem, não se acrescentam, subtraem-se ou destróem-se segundo os caracteres positivos e negativos em presença. E o mestiço — mulato, mameluco ou cafuz — menos que um intermediário, é um decaído, sem a energia física dos ascendentes selvagens, sem a atitude intelectual dos ancestrais superiores. Contrastando com a fecundidade que o acaso possua, ele revela casos de hibridez moral extraordinários. (...) O mulato despreza, então, irresistivelmente, o negro e procura com uma tenacidade ansiosíssima cruzamentos que apaguem na sua prole o estigma da fronte escurecida; o mameluco faz-se o bandeirante inexorável, precipitando-se, ferozmente, sobre as cabildas aterradas...” Fim do parêntesis. Estamos ainda no início de Os Sertões, na segunda parte, O homem, e só o que se lê são ofensas à qualquer indivíduo que não seja de uma raça pura. Branca, de preferência. Algumas páginas mais adiante, porém, Euclides da Cunha escreveria a sua frase célebre: “O sertanejo é, antes de tudo, um forte”. Assim, concederia um histórico elogio àquele que é produto de uma intensa miscigenação. Interessante é que o elogio vem seguido de uma ressalva: “Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral.” Euclides detectou no sertanejo, apesar de todas as “conclusões do evolucionismo”, uma subcategoria étnica dotada de uma originalidade surpreendente. Mas quis destacar que o caso constituía uma exceção à mestiçagem. Os Sertões é um clássico, uma obra magnífica sem paralelos na cultura brasileira. Não obstante, está repleto de frases e pensamentos racistas, terrivelmente racistas. Preconceituosos, como dizemos hoje. É verdade que o próprio autor registrou, nas notas que preparou para a terceira edição, de 1905, que se encontram em seu livro “coisas disparatadas”. Explica-se: apesar dos impropérios contra a mestiçagem, ele mesmo escreveu, quase quinhentas páginas adiante, que o sertanejo era “o cerne da nacionalidade”, “a rocha viva da nossa raça”. Mais ainda, Os Sertões, para além dos trechos que possamos hoje chamar de racismo, é a defesa eloqüente do sertanejo. Euclides descreve, denuncia e condena o crime que contra o sertanejo foi cometido. Em Canudos, “a rocha viva da nossa raça” foi em parte destruída por um poder que não o admitia como interlocutor, como igual, como cidadão. Para conforto daquele poder e de seu exército, era preciso varrer da terra árida o Antônio Conselheiro e sua gente (que não era para ser tratada como gente). Quero insistir nessa idéia de “coisas disparatadas”. Eu poria da seguinte forma essa contradição: um pensamento filiado a uma ciência racista, de fins do século XIX, que acreditava em raça superior e outras coisas assim, serve para erguer uma obra-prima do humanismo, uma obra contra a prepotência, a intolerância e a matança. Retomo a contradição para alertar que, em matéria de preconceitos, as “coisas disparatadas” fazem parte do nosso dia-a-dia. Em matéria de preconceitos, não há pecadores e santos, não há preconceituosos nojentos e não-preconceituosos puros. Entre os dois, há uma bagunça imensa. E é dela que eu gostaria de tratar. O meu tema é a sociedade de consumo. Não vou aqui tratar dos preconceitos já exaustivamente apontados na publicidade, que dá preferência às mulheres jovens e esguias de olhos claros; não vou reclamar dos shopping centers que não têm rampas para as cadeiras de rodas, nem pretendo denunciar a inexistência de xampus para negros no mercado brasileiro. Isso tudo já foi mais do que registrado, denunciado, e até já começa a ser corrigido. Creio que o debate será mais produtivo se buscarmos contradições e preconceitos menos comentados do que aqueles. Daí eu ter recuperado o trecho de Os Sertões. Ele nos obriga a raciocinar a partir do contraditório. Se podemos encontrar e, com os olhos de hoje, delimitar claramente as “coisas disparatadas” no livro de Euclides, na atual sociedade de consumo há coisas ainda muito mais disparatadas, das quais nós mal tomamos consciência. Percebê-las é muito mais difícil. O que pretendo expor aqui é de que modo o ato de consumir mercadorias nos leva a consumir preconceitos inadvertidamente; em muitas ocasiões o desejo de consumir pode nos conduzir a posturas preconceituosas e nós nem percebemos. Para aumentar a confusão, nem sempre esses preconceitos se mostram como tal. A minha hipótese é que a intensa propaganda, a celebração permanente e reiterada do consumo nos meios de comunicação e mesmo o gesto de consumir como via de afirmação e de realização pessoal, para além da simples satisfação de necessidades materiais objetivas, são processos que a um só tempo produzem e ocultam preconceitos de uns homens em relação a outros. Não pretendo cair em generalizações e nem condenar as relações de consumo de um modo dogmático (em princípio, não há nada de errado em consumir mercadorias; trata-se, aliás, de um direito das pessoas), mas a busca obstinada de cada um em saciar desejos, desejos erotizados pela publicidade, a procura do prazer individual como orientação para o consumo, embora possa apresentar-se como um caminho para algum tipo de felicidade, talvez seja o agravamento do egoísmo (e do egocentrismo) numa sociedade em que a autoestima depende da desvalorização do outro, isto é, uma sociedade em que o indivíduo, para afirmar-se, precisa se imaginar melhor, ou maior, ou mais poderoso, ou mais rico, ou mais afortunado, ou mais atraente, ou capaz de ter mais prazer que os seus semelhantes. Sei bem que não se trata de uma hipótese de fácil aceitação. Como eu disse, no início, vamos lidar aqui com “coisas disparatadas”. Há preconceitos onde há satisfação de necessidades, assim como há racismo numa obra clássica, vocacionada a combater a prática da exclusão social e, portanto, a combater o racismo e o próprio preconceito. A ambição da reflexão que proponho não é convencer a todos. A mim bastaria que admitíssemos as ambigüidade das situações, ou melhor, a sua polaridade, bastaria que não nos pretendêssemos libertos de todo preconceito acusando a multidão à nossa volta de preconceituosa. A ambição, aqui, é encarar as polaridades e pensar alguma coisa (“disparatada”) a partir delas. * * * Muitos têm preconceito contra filmes brasileiros. Ou têm mesmo uma birra justificada: sentiram-se desconfortáveis vendo filmes nacionais e não querem mais repetir a dose. Assim, dá-se o “não vi e não gostei” a cada novo longa metragem brasileiro que aparece. Quanto a mim, tenho um preconceito ao contrário. De filme brasileiro eu gosto por princípio. Gostei especialmente de um (na verdade uma co-produção entre Brasil e Estados Unidos), lançado em 1995: Jenipapo, dirigido por Monique Gardenberg. É um bom ponto de partida para a nossa discussão. O filme conta a história de um padre estrangeiro no Brasil, o fictício padre Stephen (interpretado por Patrick Bauchau), que apóia o movimento dos trabalhadores rurais sem-terra. Padre Stephen, reconhecido internacionalmente por seu trabalho humanitário, tem sua paróquia numa região marcada por conflitos agrários. O que intriga o espectador é que, enquanto as tensões políticas se agravam no país, e exatamente no momento em que uma importante lei agrária será votada no Congresso Nacional, o padre Stephen se recusa a dar entrevistas. Uma palavra dele poderia influenciar os deputados a adotar uma posição favorável aos sem-terra mas, mesmo assim, ele se recusa a falar. Justo ele que era tão falante. Antes, em seus pronunciamentos dentro e fora do Brasil, ele demonstrava que sobre os sem-terra pesava não apenas a pobreza, mas um certo desprezo da opinião pública. Eles não eram vistos como pessoas no exercício de seus direitos, ou melhor, pessoas que buscam o atendimento de um direito. Eram retratados como baderneiros, não como cidadãos. Antes, as declarações do Padre deixavam claro que os sem-terra, além da violência física, sofriam a violência de um preconceito de classe. Agora, a razão de seu silêncio é um mistério. Um repórter americano, Michael (Henry Czerny), decidido a entrevistar o padre, não se rende àquela resistência. Homem de muita ambição e pouco caráter, Michael resolve inventar uma entrevista. Profundo conhecedor das idéias e da biografia do líder religioso, forja declarações que soam como se fossem verdadeiras. E sua entrevista repercute decisivamente. Graças àquelas falsas declarações, a maioria do Congresso vota favoravelmente aos sem-terra. Surge aí uma primeira contradição. Uma mentira (a entrevista forjada) leva a realização de uma justiça. Em função dela, os excluídos sociais obtém uma vitória legislativa. Uma falsificação jornalística contribui para o não agravamento de um preconceito de classe, para atenuar uma iniqüidade. Vendo isso, o padre Stephen não desmente o repórter sem escrúpulos. Quer dizer: alia-se a um mentiroso. Com sua anuência, torna verdadeiras as falsas declarações. É só então que vem a tona o motivo do silêncio do padre Stephen. Ele vinha sendo chantageado pelos latifundiários. Nunca mais poderia dizer nada à imprensa. Seus inimigos conseguiram contra ele um argumento incontornável: fotos íntimas em que o sacerdote aparece fazendo amor. Caso ele se manifeste, as fotos serão divulgadas. Portanto, após a publicação da entrevista, o religioso se encontra na iminência de sua completa desmoralização diante do país e do mundo. O desfecho será trágico. Se o preconceito contra os despossuídos não bastou para imobilizar o trabalho daquele homem, que dedicou a vida a combater a injustiça no campo, o preconceito sexual terá sido bastante para emudecê-lo. Tivesse ele um romance com uma mulher e a situação poderia até ser vencida de alguma maneira, mas o caso de amor do padre Stephen é um caso de amor homossexual. Isso nem mesmo os trabalhadores sem-terra aceitariam. Vem daí, do preconceito que os excluídos sociais compartilham com os fazendeiros mais reacionários, a grande força da chantagem armada contra o padre. Se ele não perdeu a guerra contra os latifundiários, arrisca-se a perder a honra (e a própria vida) para o preconceito sexual. Por isso lembro aqui a história de Jenipapo. O filme nos ajuda a perceber que, em matéria de preconceitos, não existem apenas dois lados: um absolutamente compreensivo e generoso e outro perverso e inteiramente intolerante. Os dois pólos se confundem e se entrelaçam, num complexo difícil de ser repartido de modo maniqueísta. É ingênua, ou é pretensiosa, a postura dos que se imaginam livres de preconceitos. Entender os mecanismos pelos quais preconceitos e não-preconceitos se misturam é uma tarefa árdua mas indispensável aos que procuram um mundo mais fraterno e de mais respeito entre os homens. Antes de tudo, temos de assumir que existimos em meio às “coisas disparatadas” que Euclides da Cunha identificou dentro de sua própria obra-prima. Essas “coisas disparatadas” fazem parte da rotina de cada um de nós. * * * Quando se vai definir o que seja preconceito, diz-se que preconceito é um pré-julgamento. Mas isso é pouco. Os pré-julgamentos são inevitáveis — ainda que suas conseqüências não sejam necessariamente drásticas. Todo mundo, de um jeito ou de outro, acaba pré-julgando e, com base nisso, orienta um pouco de sua conduta individual. É triste: um pré-julgamento pode ser limitante, mesmo sem ferir outra pessoa, pode impedir a expansão cultural e existencial de cada um. É triste mas é assim. Tem gente que nunca vai comer pratos orientais porque se recusa a prová-los. Resolveu assim e ninguém tem nada a ver com isso. Tem gente que não ouve música de um ou de outro gênero porque sequer admite a possibilidade de conhecê-los. Tem gente não quer saber de filme alemão. Ou brasileiro. O que mais importa aqui, no entanto, não é esse pré-julgamento para consumo individual — é a conseqüência do preconceito no campo dos direitos. Em função de preconceitos, muitas vezes, pessoas são excluídas, humilhadas, prejudicadas. Em função do preconceito, muitos vêem cassada a sua possibilidade de felicidade. Nesses termos, é preciso tratar do preconceito como algo associado ao poder — o preconceito nos importa à medida que produz efeitos na vida prática e impõe sofrimentos às suas vítimas. Devemos observar também como os preconceitos são a um tempo causa e conseqüência de realidades perversas. Muitos imaginam que mentes preconceituosas fabricam situações injustas. Outros acreditam que a sociedade de classes é quem gera todos os preconceitos. O fato é que as duas alternativas são verdadeiras. Os negros da África do Sul, para ficarmos num dos exemplos mais recorrentes, não tinham os mesmos direitos dos brancos (e, em certa medida, não os têm até hoje). Isso era (ou é) resultado de preconceito e também era (ou é) origem de mais preconceito. Nessa matéria, não basta mudar a situação concreta. Também não basta mudar as mentalidades. É preciso atuar nas duas frentes. São muitos os meandros, as sutilezas, os fios delicados, quase imperceptíveis, que atam essas duas frentes uma à outra. É muito comum que o preconceito de cor, ou de classe, não se manifeste como tal, mas se expresse, quando não se esconde por completo, como um preconceito cultural. Até o início deste século era bastante generalizada a recusa da sociedade branca à musicalidade da cultura negra. Era o tempo do “madame não gosta que ninguém sambe” 4. Hoje, não é difícil perceber que, no fundamento daquela recusa, havia um preconceito de cor e de classe. Um preconceito que, bem adiante, ia dar na recusa de democratizar a sociedade. A mesma “madame” que andava “dizendo que o samba é vexame” não queria saber de “mistura de raça, mistura de cor”. 4 “Pra que discutir com madame?”, de Janet de Almeida e Haroldo Barbosa. Por isso, descaracterizava a produção da cultura negra: “o samba brasileiro, democrata, é música barata sem nenhum valor”. Atualmente, quase como antítese (como negação da “madame” implicante cantada com afinada ironia por João Gilberto), a “música de preto”, no dizer de Djavan, entrou definitivamente na moda. Paul Simon gravou com o Olodum, Caetano Veloso proclamou “eu sou neguinha” e o grupo Raça Negra é o grande fenômeno de vendas de discos em 1996. Podemos identificar aí um desejo mais difundido de democracia, inclusive de uma democracia racial. Mas a pergunta que temos que fazer aqui é: será mesmo? Será que isso nos garante que estamos na direção do final do preconceito? A nova abertura do mercado cultural para as produções de antigas minorias políticas, de povos antes oprimidos, de etnias antes desprezadas, ganhou até um rótulo. No campo musical, vivemos hoje um tempo em que se fala em música do gênero étnico. Mas o que significa dizer que uma determinada sonoridade pertence ao gênero étnico? As respostas são bem variadas. Recentemente, folheando um livro francês sobre história da música, em que os compositores são classificados segundo estilos e escolas, vi que Villa-Lobos mereceu um destaque de algumas linhas por seu “valor étnico”5. Ora, argumentaria o leitor, mas se Villa-Lobos é étnico, todo mundo é étnico. Temos aí um gênero que pode ser “qualquer nota”. Para fugir da conclusão “qualquer nota”, talvez devêssemos achar um outro caminho para chegar a uma definição. Poderíamos tentar definir, por eliminatória, o que são sonoridades “não-étnicas”. Novamente, porém, corremos o risco de bater no vazio pois, ainda que indireta e remotamente, qualquer som se refere à cultura de alguma etnia, ou de algumas delas. Sim: direta ou indiretamente, qualquer obra humana é étnica. Até Villa-Lobos. Resta-nos então apenas um recurso. Voltando os olhos para os critérios com que são dispostos os discos nas lojas, encontramos um conceito mais aceito: étnico é um tipo de música mais puro, ainda não contaminado pela civilização, um tipo que conserva suas características originais ancestrais. Indo além, é possível supor que étnico seja um termo adotado de forma generalizada a partir das preocupações e da vigilância do movimento conhecido como “politicamente correto”. O termo étnico, nessa perspectiva, pode ser entendido como uma tentativa de superar outros termos, como “primitivo” ou “selvagem”, hoje tidos como depreciativos. Mais ou menos como o termo “afro-americano” substituiu “black”. Assim, o termo étnico não apenas procura revogar uma abordagem antes preconceituosa, que menosprezava expressões culturais de etnias e povos da periferia do capitalismo, como representa um esforço para transformar em mercadoria cultural o que teria sido excluído pelo modelo social globalizado. Claro que, entre a existência e a não existência dos discos étnicos nas prateleiras de lojas de todos os continentes, a existência é moralmente preferível à inexistência. Garante-se, ao menos, o direito de visibilidade (ou audibilidade) às culturas minoritárias. Mas, como o objetivo aqui é problematizar, é útil verificar em que bases o gênero étnico se apóia. Uma hipótese que não deve ser descartada é a de que, sendo um eufemismo, ele seja um mecanismo para aliviar o peso da consciência daqueles que usufruem da riqueza. Comprando o étnico, os consumidores estão sustentando, mesmo que marginalmente, produções culturais que o modelo econômico (quase) matou. 5 Émile Vuillermoz, Histoire de la musique, Librairie Arthème Fayard, Paris, 1973. Vejamos o que acontece com a entrega do Oscar, todo ano. Ali não são premiados os produtores, os atores, os diretores, mas os valores que eles defenderam com seus filmes: as vítimas da guerra, as vítimas do racismo, das agressões sexuais, os explorados, os deficientes físicos, os aidéticos. Na premiação do Oscar, um ritual e uma celebração que unificam a indústria do entretenimento da América e, por extensão, do mundo inteiro, podemos entender ou, no mínimo, vislumbrar um pouco do mecanismo da má consciência que alimenta o próprio mercado cultural. Aplaudindo e premiando a tragédia dos injustiçados, os astros e os administradores da indústria do entretenimento se sentem aliviados. Assim há de se dar com os consumidores. Mas, se trata mesmo de má consciência, devemos então presumir que ela não se empenha em corrigir as barbaridades: a ela basta bater palmas para o sofrimento de suas vítimas, ou talvez comprar um disco de suas culturas minoritárias, étnicas, que isso serviria para aplacar-lhe a culpa. Aparentemente, o gênero “étnico” desponta como reação ao preconceito contra sonoridades “primitivas” ou “selvagens” e, por decorrência, busca atenuar, pelo mercado cultural, os efeitos nefastos da exclusão social e da pobreza econômica que se encontram, com enorme freqüência, nas localidades produtoras das sonoridades étnicas. O problema é que, se isso é verdade, as próprias leis de mercado (que produzem a valorização mercantil do étnico) nos põe diante de uma outra ordem de preconceito, um preconceito reciclado, moderno. Trata-se de um preconceito que reduz uma identidade cultural a um tipo qualquer de exotismo, uma beleza em estado bruto, em estado virginal — mas política e economicamente indefesa. Esta beleza, por não ter meios próprios para se defender e se preservar, por não representar uma cultura soberana, chega ao mercado precisando de proteção e compreensão, carente de caridade — ela só pode sobreviver da indulgência dos mais ricos. Ao ser vista assim, essa beleza foi envolvida por um novo tipo de preconceito. Trata-se de um preconceito que reduz o outro a um estereótipo e, logo, torna-o de mais fácil consumo. Esse preconceito que se apresenta como a negação do velho preconceito, ou esse preconceito disfarçado pelo manto do politicamente correto, consome o diferente como quem consome o exótico porque o exótico é inofensivo, inócuo, superficial, decorativo, bonitinho mas impotente. Com isso, a vítima desse preconceito não encontra no mundo seu lugar de sujeito. Tem que se contentar com o seu lugar de objeto. Objeto de consumo. Ou, pior ainda, objeto desnaturado de consumo. Objeto desinfectado, esterilizado, pasteurizado e plastificado para o consumo. Outra vez, dentro do que aparece como um não-preconceito, temos uma nova forma de preconceito. A “música de preto” não é mais rechaçada como antigamente, mas aplaudida pela “madame”. As conseqüências do velho preconceito, no entanto, que são a exclusão, a injustiça, a ausência de direitos iguais, não necessariamente estão revogadas. Ao contrário, muitas vezes são reforçadas pelo novo preconceito e pela mercantilização do gênero étnico: étnico, afinal, é aquilo que não foi tocado pela civilização e assim deve permanecer, intocado, sob pena de perder o fetiche que lhe dá o valor de troca. * * * Na base desse novo preconceito (um preconceito cínico que consome e aplaude o oprimido sem resgatá-lo da opressão) está o funcionamento de um mercado obstinado por traficar intimidades, prazeres e caprichos. Seduzida pela esfera privada, a sociedade de consumo esvazia o debate das soluções políticas próprias da esfera pública. Richard Sennet, em O declínio do homem público, identifica a falência dos espaços públicos, da esfera pública e do domínio público no mundo contemporâneo. Segundo ele, estaríamos hoje fascinados pelos processos intimistas, e só podemos ter uma visão e uma compreensão da esfera pública a partir de modelos dados pela psicologia, pela desenfreada busca do “eu” (uma busca necessariamente egocêntrica). Sennet afirma que “vemos a sociedade como uma coisa significativa somente quando a convertemos num grande sistema psíquico”. É assim que, no nosso tempo, os debates políticos são permeados e até formatados pelos códigos da publicidade, que personalizam, sentimentalizam e dramatizam todos os temas públicos. Quer dizer: os temas públicos são tratados como assuntos da intimidade feito os namoros, as intrigas pessoais e as fofocas. Nesse contexto, o mercado cultural cuida da absorção sentimental —fútil — das realidades alheias como se fossem elas meros bens descartáveis, retratos num álbum de figurinhas ou acessórios de decoração da sala de estar. É por isso que ele, mercado cultural, apresenta-se como um exercício inconseqüente: transforma até mesmo a miséria alheia num bem de consumo (em fotos caríssimas, filmes de gigantesca bilheteria, documentários laureados) mas nada reverte de substantivo para sanar a miséria original. O consumidor do Primeiro Mundo, nos países desenvolvidos, vê-se convidado a contemplar com certo encantamento a produção rítmica de povos esquecidos e excluídos. Isso lhe dá uma doce sensação de indignação, um gozo humanitário, um prazer existencial. Mas dessa contemplação não resulta uma alteração das injustiças. Diz Richard Sennet: “A crença nas relações humanas diretas em escala intimista nos seduz e nos desvia da conversão de nossa compreensão das realidades do poder em guias para nosso próprio comportamento político. O resultado disso é que as forças de dominação ou a iniqüidade permanecem inatacadas”. 6 Assim, o que vemos hoje é o consumo do exótico, do único, daquele que está ameaçado de extinção e que, portanto, adquire valor (de mercado) cultural. A mercadoria étnica parece portar algum resquício de aura sagrada, vindo intacta de um estágio anterior à era da reprodutibilidade técnica da obra de arte. Temos assistido à distribuição em escala planetária de mercadorias culturais étnicas, primitivas, intocadas no melhor estilo “pegue antes que acabe”. O vendedor promete: diretamente da barbárie para você. E você compra. * * * Se a loja de discos promete “diretamente da barbárie para você”, nas agências de turismo mais “modernas” o vendedor promete levar você diretamente para a barbárie. Desenvolve-se no turismo um novo fetiche: ver de perto, ver in loco, olhar e consumir com os olhos, os ouvidos, o olfato, o tato, o paladar e o sexo o primitivo, o “étnico”, o produto genuíno da barbárie que viceja nos subúrbios da civilização. Recentemente, ficamos sabendo no Brasil da empresa que faz citytour nas favelas cariocas7. Sim, há um lado positivo na iniciativa. Há gente interessada em conhecer como moram, quem são, como vivem os favelados — e isso é bom. Melhor conhecê-los que ignorá-los. Mas, novamente, há o que problematizar nesse ecoturismo que passeia por paisagens humanas. Nós, que já sabemos da violência que o preconceito de classe produz contra os necessitados — os recusados no mundo do conforto, da cidadania e mesmo no mundo do consumo —, agora somos apresentados, de novo, a um outro preconceito invertido. É o caso de perguntarmos aos visitantes o que é que eles achariam de ônibus lotados de favelados visitando seus condomínios em Paris, em Hamburgo, em Amsterdã, em Londres. Será que eles abririam a esses viajantes os seus espaços privativos? Como é que eles reagiriam ao ver turistas de terras longínquas olhando com olhos cobiçosos as suas filhas, verificando suas salas, fotografando suas roupas a secar, comentando em línguas incompreensíveis o vaie-vem pelas portas de suas casas? 6 Richard Sennet, O declínio do homem público: as tiranias da intimidade, Companhia das Letras, 1995, página 414. Folha de S. Paulo, 24 de março de 1996, reportagem de Mauricio Stycer. Um grupo de franceses da empresa CNT visita a favela conduzido pela empresa Jeep Tour. 7 São perguntas que talvez pareçam forçadas, mas devem ser consideradas. A favela é um espaço compartilhado de moradia: a casa, o domínio particular de cada um ali não começa da porta para dentro, pois às vezes nem porta existe direito. Na favela, o domínio da privacidade se confunde com o espaço coletivo em reentrâncias, em limites permeáveis, porosos, onde o que é íntimo atinge o que é público e o que é público abriga o que é pessoal de um modo improvisado, singular, mutante. Os turistas que adentram as favelas em cima de jipes estão passeando dentro da intimidade de cada um habitantes. É mesmo provável que pressintam isso, que saibam disso, mas se julgam no direito de fazê-lo. Com sua consciência antenada para as desigualdades sociais, ficam à vontade para observar de perto a miséria alheia, embora não permitissem intromissões iguais em suas próprias vidas. Eis aí uma outra face do preconceito produzido pela má consciência do mercado. Talvez os turistas e as empresas desse tipo de turismo nem se dêem conta de que a exposição das intimidades nas favelas não é uma opção, não é uma realidade voluntária, mas é uma condenação social que vitima gerações inteiras sem que lhes tenha sido dada alguma escolha. Eles sobrevivem daquela forma porque aquela forma de sobreviver é a única que lhes restou — e não os dignifica fazer deles atração turística. Quem consome o favelado como atração, por mais que as intenções sejam boas, está reforçando o preconceito que exclui o favelado. Quem consome o favelado como atração turística, e se delicia em seu city tour pelas ruelas da miséria, está reforçando a violência que o atinge. * * * O público adquire os bens (culturais, turísticos e vários outros) e, junto com os bens, consome os preconceitos que eles carregam. Esses preconceitos, que nunca se apresentam como preconceitos (preferencialmente, apresentam-se como a negação de qualquer preconceito), penetram a existência de quem consome acabando por lhe dar, a ela própria, existência do consumidor, uma significação mais coerente com a ordem que está posta no mundo. Consumindo, o indivíduo se situa. Num tempo em que a esfera e os espaços públicos estão enquadrados pelos meios de comunicação e pela linguagem publicitária, o homem se contextualiza pelo consumo. Com a indústria cultural refeita em indústria do entretenimento, a linguagem publicitária, amplificada meios de comunicação e seus desdobramentos tecnológicos, globalizou-se. No mesmo movimento, globalizou seus valores próprios, mundializou-os, dando o contexto em que a sociedade de consumo está posta. Como veremos, as relações de consumo, mediadas pelos valores da linguagem publicitária, proporcionam ao homem, em grande medida, o seu sentimento de estar no mundo — e mesmo o seu sentimento de cidadania. Já no início da década de 60, Habermas detectava: “A cultura integracionista preparada e difundida pelos meios de comunicação de massa, embora pretenda ser apolítica, representa ela mesma uma ideologia política.” 8 Agora, na era da globalização, podemos dizer que a categoria de cidadão foi englobada pela categoria de consumidor, o que nos leva a uma potencialização jamais vista dos preconceitos próprios do consumo. Em Consumidores e Cidadãos, Nestor García Canclini, é preciso ao afirmar: “Homens e mulheres percebem que muitas das perguntas próprias dos cidadãos — a que lugar pertenço e que direitos isso me dá, como posso me informar, quem representa meus interesses — recebem suas respostas mais através do consumo privado de bens e dos meios de comunicação de massa do que das regras abstratas da democracia ou pela participação coletiva em espaços públicos.”9 De fato, como veremos a seguir, em inúmeros aspectos o consumo como conceito e como prática expandiu- 8 Jürgen Habermas, em Mudança estrutural na esfera pública, Editora Tempo Brasileiro, 1984, página 251. Néstor García Canclini, Consumidores e Cidadãos, conflitos multiculturais da globalização, Editora da UFRJ, 1995, página 30. 9 se demais e deixou de ser um dos direitos próprio da cidadania. Em conseqüência, foi a cidadania que se tornou um dos vários atributos do consumidor. É exercendo a sua condição de consumidor que o homem se reconhece cidadão. Todos os dias, em comícios de políticos, em programas de rádio e televisão, em artigos de jornais e revistas e em conversas informais, todos os dias alguém reclama do poder público invocando a sua condição de contribuinte. Por pagar impostos, homens e mulheres se sentem cidadãos e, como cidadãos que são contribuintes, cobram ruidosamente providências dos governantes. (A verdade, como sabemos, é que nem cobram tanto assim. Mas fazem lá sua encenação cívica.) Ninguém aqui pretende contestar o direito de reclamar que tem o contribuinte. Não se vai recusar a ele o direito de exigir, de cobrar, de contestar as providências da administração pública. Ao contrário, o contribuinte até que poderia exercer com mais eficácia e mais método esse direito. O que se perde de vista, no entanto, é que o imposto de renda é também (ou deveria ser principalmente) um mecanismo de distribuição de renda. Perde-se de vista que o contribuinte paga não porque ele, contribuinte, tem prerrogativas: ele paga porque aqueles que se encontram abaixo da linha de pobreza, que não ganham o suficiente para recolher impostos, têm direitos sociais a ser satisfeitos. Ele está pagando não a sua própria cidadania, mas a do outro — o outro que ele despreza. É preciso dizer, aliás, que o direito de fiscalizar o que se faz com a arrecadação fiscal não é exclusivo de quem é contribuinte, mas pertence ao cidadão (mesmo daquele cidadão que não paga um centavo de imposto). Infelizmente, a noção de que cidadãos também são os que não pagam imposto e que devem receber benefícios sociais é algo que contraria o senso comum da nossa época. Segundo esse senso comum que eleva o conceito de contribuinte acima do conceito de cidadão, a cidadania é uma mercadoria que se compra do Estado. E dentro desse senso comum mora um preconceito (uma variante do preconceito de classe). Muitas vezes, quando alguém vocifera algo como “o contribuinte exige” está excluindo aqueles que não são contribuintes do direito de exigir. Como se a sociedade fosse um condomínio. Quem não paga está fora. Mas não é somente aí que podemos flagrar a cidadania sendo vista como mercadoria, como um incremento a mais na vida do consumidor. É comum em quase toda a propaganda anti-socialista da segunda metade deste século: ela sempre ignorou o esforço dos modelos e ideais socialistas pelo atendimento dos direitos sociais, direitos próprios da cidadania, e sempre criticou neles a ausência dos paraísos consumistas das grifes, dos brinquedos eletrônicos, da televisão comercial e do entretenimento. Segundo essa ideologia, fazer parte dos paraísos do consumo seria mais importante que garantir os direitos sociais. Os próprios regimes socialistas, por outro lado, ao negligenciar os direitos políticos dos cidadãos, atrofiaram a noção de cidadania: conceberam o homem como um ser que apenas “consome” a satisfação de seus direitos sociais diversos (saúde, escola, habitação, emprego etc), mas que não tem o direito fundamental de interferir politicamente nos rumos da sociedade. Sob muitos pontos de vista, veremos que a cidadania plena tem sido postergada, adiada, desprezada. Não surpreende que, em nosso tempo, até mesmo as propostas políticas passaram a se apresentar como mercadorias. O discurso político, à direita e à esquerda, passou a ser totalmente organizado segundo as regras da linguagem publicitária. A argumentação política não é racional, não busca convencer o cidadão com argumentos lógicos, próprios dos debates públicos, mas o que vemos é a tentativa (muitas vezes bem sucedida) de seduzir o consumidor com abordagens próprias da vida privada. O consumidor-eleitor é assediado pela propaganda política individualmente (e não coletivamente), ele é seduzido, convidado a comprar com seu voto, isto é, com seus direitos (votos e direitos, nessa perspectiva, equivalem-se, são moedas), aquela determinada proposta, aquele postulante a um cargo eletivo. Votando naquele candidato, ele se sentirá alguém menos arcaico, ou mais avançado, ou mais vitorioso. (Da mesma forma, quando é abordado por propagandas de refrigerantes, cigarros ou automóveis, o consumidor recebe aqueles bens como benefícios que poderão lhe melhorar o status individual, seja diante dos filhos, seja diante da mulher (ou das mulheres), ou diante de si mesmo.) A política, os direitos e a própria cidadania, transformadas em mercadorias dentro da linguagem publicitária, não são mais a política, os direitos ou a cidadania, mas são versões mercadológicas da política, dos direitos e da cidadania. Essas versões mercadológicas, a exemplo que qualquer outra mercadoria, vendem-se a partir do desejo do consumidor de se tornar melhor que os outros. O consumo toma impulso pela competitividade que a sociedade de consumo estimula entre os indivíduos. Assim como a mensagem política tenta garantir que votar em tal candidato significa ser mais bonito, mais moderno (quem vota no outro candidato é menos bonito, menos moderno), um refrigerante se anuncia a partir da diminuição daquele que não o consome. E assim por diante: uma marca de cigarro é vendida zombando do homem que não fuma aquele cigarro e que, por isso, não consegue seduzir as mulheres; um automóvel se promove à medida que humilha quem anda de carro velho. É essa ordem extensa de fomentos para a competição que organiza a sociedade de consumo — e, a cada dia mais, é ela quem organiza a significação da vida humana. É sintomático que, quando alguém se descreve, quando alguém busca traduzir em palavras sua própria identidade, descreve normalmente as mercadorias de sua preferência. Nas palavras de Canclini, “consumir é tornar mais inteligível um mundo onde o sólido se evapora.”10 Há muito tempo já deixamos para trás a cultura do ser. Agora, o que vai se formando é uma cultura um grau acima da tão denunciada cultura do ter. Forma-se a cultura do ter o que o outro não tem. Os bens de consumo retiram seu valor de um sentimento de exclusividade: é o cartão de crédito que dá uma identidade especial, sobretudo quando no hotel de Nova York já não pedem o passaporte, mas aquele cartão superespecial; o automóvel é tanto melhor quanto menos mortais possam comprá-lo; a roupa tem uma grife exclusiva. É bom pensar no que significa a palavra “exclusiva”: ela significa exclusão, significa excluir o outro. Na raiz mesma do ato de consumir, dentro desse modelo, há um desejo de excluir o outro. Há, portanto, na lógica da competitividade encorajada (e forjada) pela socidade de consumo, uma visão preconceituosa do outro. Se o desejo de consumir é comum a todos (os homens se identificam entre si à medida que consomem), o exercício do consumo existe para diferenciar os homens uns dos outros dentro da competição individualista e narcisista. O que interessa é ser melhor que o outro. O outro precisa ser necessariamente pior do que eu. Pois se o consumo dá sentido, e um sentido ritualizado, às vidas de todos, é por meio dele que o indivíduo se sente pertencente a um círculo de privilegiados. Nem que sejam os privilegiados por algumas migalhas: um carnê do baú, uma sandália, o retrato de um ídolo afixado do lado de dentro da porta do guarda-roupa. O estímulo a tanta competitividade pode ser fatal. Em nossos dias, o desejo de possuir grifes (de tênis, jeans ou bonés) tem sido a motivação de assaltos e de latrocínios. Jovens que se vêem expulsos do paraíso do consumo, segregados daquela “cidadania” que pode ser comprada pelo consumo, insurgem-se de forma violenta contra os privilegiados. Tomam à força o que o mercado não lhes permite adquirir dentro da lei. Depois do assalto, desfilam realizados, passeando com um par de tênis americano (made in Taiwan). A mesma publicidade que reforça a visão preconceituosa dos que podem consumir contra os que não podem, acentua também a humilhação (ou o ódio) dos que não podem comprar em relação aos que esbanjam dinheiro. É por isso que, num artigo recente, o escritor uruguaio Eduardo Galeano aponta a publicidade nos meios de comunicação, e na TV de modo especial, como uma dos principais causas da violência nas grandes cidades. Ele também 10 Canclini, página 59. observa que todo o discurso da televisão é perpassado pela visão preconceituosa do outro. O paraíso do consumo é a única perspectiva de salvação: “Automóveis imbatíveis, sabonetes prodigiosos, perfumes excitantes, analgésicos mágicos: através da telinha, o mercado hipnotiza o público consumidor. Mas, às vezes, entre anúncios e anúncios, a televisão cola imagens de fome e de guerra. Esse horrores, essas fatalidades, vêm do ‘outro’ mundo, onde o inferno acontece, e não fazem mais do que destacar o caráter paradisíaco das ofertas da sociedade de consumo. Com freqüência essas imagens vêm da África. A fome africana se exibe como uma catástrofe ‘natural’, e nas guerras africanas não se enfrentam etnias, povos ou religiões, mas ‘tribos’, e não são mais que ‘coisas de negros’.” 11 Os preconceitos traficados pela sociedade de consumo traduzem uma visão de mundo que, se não for recebida criticamente, converte-se na visão de mundo dos próprios consumidores. Ai dos negros africanos, ai dos pobres, ai dos que não podem comprar: eles jamais serão vistos como cidadãos, jamais serão vistos como seres humanos iguais aos seres humanos que usufruem das delícias do consumo. * * * Na opinião de Roger Garaudy, o mercado virou uma religião. Ou melhor: ele fala em “monoteísmo do mercado”12. É uma idéia a ser levada a sério. Pois se consumir dá sentido ritual a um mundo desencontrado, e se consumir é uma (ou a) via de acesso à cidadania e torna compreensível a cada um o seu estar no mundo, e se não se pensa em outra coisa, estamos mesmo diante de algo bem parecido com uma religião. Tanto assim que podemos sentir os valores dessa religião intermediando (e mediando) as nossas próprias relações pessoais mais próximas. Elas são também relações consumistas. Basta observar. O relacionamento íntimo entre duas ou mais pessoas já não mais é mediado pelo sagrado das religiões convencionais; não é mediado por um código moral ou ético (pois esses valores andam confusos, embaralhados); ele é mediado pela cultura que foi organizada segundo a linguagem da publicidade e os meios de comunicação. O modo de beijar, de conversar, de se apresentar, de sorrir, de amar são disciplinados segundo essa cultura. Somos os consumidores uns dos outros. Somos os consumidores de nós mesmos. Nós nos desejamos e nos repelimos segundo os parâmetros (preconceituosos) que absorvemos através de nossos desejos (realizados ou não) pelos bens de consumo. É então que nós nos consumimos — e nos consumimos — como vitrines recíprocas uns dos outros. O problema é que as relações de consumo nunca podem nos saciar plenamente e é assim que, esgotada a curiosidade, as relações humanas tendem a se dissipar. Podemos usar aqui as palavras de Richard Sennet: “Quando duas pessoas já não têm revelações a fazer, e a troca comercial chegou ao fim, quase sempre o relacionamento se acaba. Esgota-se porque ‘não há mais nada a dizer’, cada um acaba aceitando o outro ‘como um fato dado’. O tédio é a conseqüência lógica da intimidade nessa relação de troca.” 13 Eu não descarto a perspectiva espiritualista adotada por Garaudy porque há, sim, um vazio dentro de cada homem que o consumo é incapaz de preencher. Há um tédio que o consumo produz e não consegue matar. 11 Artigo “A escola do crime”, de Eduardo Galeano, na revista Chasqui (Revista Latinoamericana de Comunicación), Quito, Equador, número 53, de março de 1996, página 56. 12 13 Roger Garaudy, Rumo a uma guerra santa?, Jorge Zahar editor, Rio de Janeiro, 1995, página 159. Sennet, página 23. Como eu disse no início, não há como superar o mundo profundamente preconceituoso em que existimos a não ser pela perspectiva dos direitos humanos e da cidadania. É preciso que saibamos pôr a noção de cidadania acima da noção de consumidor, invertendo o que tem sido natural nessa nova ordem globalizada. Mas talvez eu devesse acrescentar que é preciso também deixar de odiar os outros homens, ou seja, deixar de odiar as diferenças. O que se põe para todos é a necessidade de reeducação, e daí o grande valor deste seminário. Para finalizar a minha participação aqui eu gostaria de tomar emprestadas as palavras de Renato da Silva Queiroz, em seu livro Não vi e não gostei o fenômeno do preconceito, dedicado a essa causa essencial da reeducação: “Da mesma forma que aprendemos a atribuir valores negativos às diferenças, podemos se educados para perceber que a variabilidade humana não constitui uma monstruosidade, mas sim a expressão da nossa própria natureza.” 14 Eu penso de novo no exemplo de Euclides da Cunha. As idéias e os modelos teóricos aos quais ele se aferrava eram, sabemos hoje, modelos racistas. Mas o que o movia não era o impulso de excluir o outro e sim de respeitá-lo em sua diferença. O que o moveu foi o amor pela humanidade. Parece patético dizer isso a essa altura dos tempos, mas o que faz falta neste mundo é um pouco de amor. Penso nisso, experimento uma certeza profunda, que no entanto logo se desfaz. Até o amor a linguagem publicitária absorveu e deteriorou. Hoje o “amor” é um tempero que se adiciona dentro da panela de sopa numa propaganda de televisão. O marido olha para a patroa e ela diz que pôs “amor” na comida dele. E todos nós achamos uma graça danada. Aldeia Global?... P: Daqui a três semanas será que os jornais ainda estarão falando dos sem-terra, ou estarão esperando a notícia de um novo massacre? Os assassinatos no campo não ocorrem o ano todo? Esse é o ponto que eu acho importante. Sábado passado escrevi exatamente sobre isso. De que forma os meios de comunicação, ao não noticiarem a realidade do campo, contribuem para que as situações violentas ocorram ainda mais, porque não há uma preocupação generalizada sobre isso no país. Isso é produto de um preconceito. O que acontece? Na hora de elaborar o telejornal, são trinta e quatro milhões de lares com televisão no Brasil, o jornal de maior circulação tem em média um milhão, que já é uma grande coisa, mas na hora de elaborar um telejornal, a discussão é a discussão do espetáculo, para ficar um produto que atraia a atenção e mexa com o desejo do telespectador, porque o telejornal é um produto de entretenimento também, e sem-terra é feio, é sujo, fala mal, não é romântico, não tem "sex appeal", é um problema. É um problema, por isso, no telejornal. O massacre entrou porque ele tinha imagens espetaculares, acho que todos vocês viram, e o espetáculo no telejornal se confunde com o massacre dos turistas gregos no Egito. As imagens chocantes fazem o telejornal e garantem que o telespectador não vai desligar, não vai mudar o canal, porque aquilo é impressionante. Todos os dias o telejornal tem que ter coisa impressionante. Esse é o problema. Então eu duvido que isso seja assunto importante ao longo do ano, embora essas situações continuem acontecendo. Aquilo é novidade, aquilo vai ser um espetáculo, aquilo vai proporcionar um choque nunca antes experimentado pelos telespectadores? Se a resposta é negativa, é mais difícil que aquilo entre. Isso tem conexão com essa lógica do grande espetáculo, com essa lógica do consumo que nos chega como espetáculo, com a lógica da linguagem publicitaria, enfim a função é menos 14 Renato da Silva Queiroz, Não vi e não gostei o fenômeno do preconceito, Editora Moderna, 1996, página 101. informar e mais emocionar. O que eu quero acreditar é que o escândalo foi muito grande, foi uma coisa horrorosa. Então é muito possível que os dirigentes do país estejam tentando tomar uma providência e que a situação não seja tão ruim como era antes. Mas o lamentável é que foi necessário que vinte pessoas morressem para que isso merecesse atenção do telejornalismo. Existe uma postura preconceituosa em relação a quem é feio, sujo, quem não sabe falar direito na hora de elaborar o telejornal. A gente precisa prestar atenção nisto. P: Por qual razão quando se fala em preconceito muitas vezes o negro é mencionado e não se cita o caso dos nordestinos? Toda a temática dos "Sertões" que a gente estava falando aqui trata disso. Os Sertões é um livro que descreve o abandono. O Euclides considera que o abandono em que ficou o nordestino durante tanto tempo propiciou o aparecimento dessa subcategoria, que ele chama uma subcategoria étnica, que fez, que produziu o sertanejo, que é antes de tudo o forte. E ele fala muito do nordestino. Hoje nós temos o problema de que o abandono continua, é claro que eu não compartilho das idéias racistas que existem no livro, mas o abandono continua, e continua mais intenso nas grandes cidades, porque hoje nós vemos a todo momento a rejeição aos nordestinos nas grandes cidades. Eu acho que pelo menos hoje, aqui, nós tocamos um pouco nesse assunto, pelo menos um pouco. O problema da rejeição ao nordestino é um problema candente hoje na nossa democracia e nas grandes cidades, não tem dúvida. P: Como reverter a situação propícia ao preconceito? A situação não é própria do nosso país, mas ela tem muito a ver com a globalização e a maneira como a globalização chega excluindo, chega dizimando culturas, chega dizimando o diferente, porque ela precisa de canais próprios e canais universais. Essa resposta binária do Você Decide é a própria linguagem dos computadores da Internet, e não é por acaso que essa linguagem binária é a linguagem dos computadores, então para escapar disso e para procurar refletir criticamente sobre isso, e mais ou menos se proteger contra os horrores que isso tem produzido, eu acho importante sair de cena, fazer um exercício que não tem nada a ver com a sociedade de consumo e com a linguagem dos meios de comunicação de massa, e procurar disseminar, procurar difundir o espírito crítico. Por isso eu queria cumprimentar muito, e acho muito, muito importante isso que está acontecendo aqui, talvez seja essa a atividade mais importante daqueles que hoje se preocupam com os direitos humanos, discutir com as pessoas, demonstrar, fazer com que elas olhem criticamente as coisas. O que eu queria dizer é viva, que legal, parabéns, acho que é por aí que e gente vai conseguir alguma coisa, muito obrigado pelo convite, espero ter contribuído com alguma coisa aí. É isso. Belisário: Duas palavras que entendo pertinentes neste momento final dos debates. A primeira diz respeito ao valor solidariedade que, entendemos todos, deve informar uma nova ética. Essa nova dimensão da solidariedade, antes que alternativa jurídica, se impõe como uma nova opção ético-política. É uma luta contra o individualismo, contra o "jeitinho", contra a "lei de Gerson". É uma luta que não perde de vista a utopia, mas inicia no presente uma ação transformadora. É um processo educativo individual e coletivo. No entanto, é preciso dizer uma coisa e viver de acordo com o que se diz. Um levantamento feito em Pernambuco, por entidades de direitos humanos, mostra que das cinqüenta histórias infantis, que contamos às nossas crianças, quarenta e nove apontam saídas individuais e apenas uma apresenta saída coletiva. Aí há uma pista reveladora para reflexão sobre a nossa coerência do dia a dia. Em segundo lugar, aproveitando as recomendações de livros e filmes muito bem lançados pelos conferencistas, arrisco uma sugestão. É o filme "The thin blue line", a estreita linha azul, literalmente, numa referência à identificação da viatura da polícia americana. Está à disposição nas locadoras de vídeo. Morto um oficial de polícia, a polícia americana, movida por preconceito, "escolheu" o suspeito entre as pessoas que estavam próximas. O filme conta a história do processo e da condenação à morte sofrido por um migrante hispânico, notória vítima de discriminação. Anos depois, em atividade da Anistia Internacional, encontrei seu diretor. Ele me disse algo lapidar sobre o sistema judiciário americano: "Nos Estados Unidos, quando não há pena de morte requerida, a Justiça decide se o réu é culpado. Quando o caso envolve a pena de morte, decide-se se o réu deve ou não morrer...". Com mais esta pista de reflexão sobre a questão do preconceito, agradeço a presença de todos convidando-os para a próxima sessão deste evento. 3 - Imprensa MÍDIA, CIVILIDADE, CIVISMO Alberto Dines Jornalista, escritor e professor No princípio está o verbo, no princípio é o verbo. A palavra é crucial. Se a proposição das Escrituras é correta, antes de cuidarmos das idéias, tratemos dos vocábulos que as formarão e conformarão. Não somos etimologistas, muito menos filólogos, mas voces na profissão que escolheram e eu na minha, temos na palavra a matéria-prima essencial. Comecemos pela própria orígem do termo palavra. Vem do grego parabolé que, no latim deu parabola. Parábola é uma história simbólica, alegoria. Então, neste preâmbulo, façamos uma incursão parabólica sobre as palavras-chave que aqui nos reunem esta noite. O carro-chefe deste simpósio é o Preconceito. Certamente alguns dos que me precederam já examinaram a etimologia e o sentido do termo. Se o fizeram, tanto melhor, o symposión grego era um banquete onde todos entravam com o seu quinhão e saíam com a soma dos aportes dos outros. Preconceito, pré+conceito, o praeconceptu latino, é um julgamento prévio, sem ouvir as partes, posição irrefletida, pre+concebida, irracional. Também pode ser entendido como um pré+juízo. Tanto que em espanhol diz-se prejuício, em francês é prejugé, em inglês prejudice e em alemão vorurteil. Em todos os casos, a mecânica etimológica é idêntica: o prefixo indicando antecipação e, o resto, significando julgamento. Fiquemos com o nosso idioma, o português, a última flor do Lácio, no qual o preconceito também significa dano, estrago, perda. Em outras palavras, a adoção sumária de uma opinião ou critério, antes de passar pelo filtro de um julgamento equânime, constitue um mal, ofensa moral. Examinado o aspecto filológico do preconceito vamos ao título desta intervenção. É composta de três substantivos que também serão devidamente peneirados. Mídia, vem do latim e deveria escrever-se media, plural de medium, mas como sempre macaqueamos os americanos, acabamos por roubar-lhes a pronúncia mas não a grafia. Escrevem media como os romanos o faziam e nós, descendentes diretos dos romanos, escrevemos mídia. Mas media ou mídia é plural. Em Portugal, onde se fala e escreve com mais propriedade o nosso idioma comum, eles dizem os média enquanto nós dizemos a mídia, no singular. Não é a única e nem será a última impropriedade de usos e costumes legalizada por nós. (Aliás, permitam-me esta observação: se fossemos menos lenientes nas pequenas coisas, não seriamos transgressores nas coisas importantes). Medium é meio, modo, maneira, forma, via, caminho, condição em que se executa uma tarefa. Na linguagem técnica da comunicação medium designa o canal através do qual o emissor passa a sua mensagem ao receptor, a audiência. E aqui partimos para uma conceituação importante para a função do jornalista. Se ele trabalha com diferentes meios, ou canais para chegar à sua audiência, ele é um mediador. A sua atividade é de mediação ou inter+mediação. Explico: o jornalista e a imprensa devem fazer o intercâmbio entre o fato, a realidade, e aqueles que a desconhecem. Mas, atenção, a imprensa não é apenas uma divulgadora ou irradiadora de notícias, informações e serviços. A Lista Telefônica faz isso maravilhosamente bem. O jornalista ao fazer a mediação entre as mudanças que acabam de ocorrer e aqueles para as quais estas mudanças importam, está interpretando, refletindo, repercutindo, dimensionando, hierarquizando e, sobretudo, oferecendo subsídios para a formação dos juízos individuais. A mediação jornalística é, portanto, uma função social e política e visa, antes de tudo, evitar que a sociedade seja dominada pelos preconceitos ou pela ignorância (o que vem dar no mesmo). Explico a semelhança: se preconceito é fruto de uma atitude de quem pensa que sabe, a ignorância resulta de quem não quer ou não pode saber. De onde se conclui -- e isto é vital para quem estuda as ciências jurídicas -- que a busca do saber é o caminho para atingir as condições de julgar. Não é por acaso que a função mediadora da imprensa está presente em várias passagens da Carta Magna seja para preservar a sua integridade, defendendo-a de quaisquer constrangimentos, seja para oferecer-lhe facilidades e privilégios para o seu exercício. A intenção dos legisladores ao proteger e estimular a imprensa -- e isto remonta ao século XVII na Inglaterra -- é criar a indispensável pluralidade de versões, sem a qual a democracia não existe. Juntemos agora as duas palavras que antes analisamos separadamente, Preconceito e Mídia. Quando a imprensa se deixa impregnar pelo preconceito, trai a sua função mediadora e assume-se autoritariamente como irradiadora de sentenças, arvorando-se em instância legal. Quando adota um preconceito, seja de forma consciente ou inconsciente, a imprensa, ao invés de ordenar e ponderar as circunstâncias para que o leitor forme o seu próprio juízo, antecipa-se e oferece-lhe um conceito fechado, impermeável, imponderável -- um pré+juízo. O leitor acostuma-se, resigna-se e, acaba por perder a sua faculdade de formar os próprios juízos. Ora, não é para isto que a sociedade outorga aos meios de comunicação uma série de vantagens e privilégios constitucionais. A sociedade para agir nesta ou naquela direção quer, ela própria, montar os seus conceitos e critérios. Se a imprensa limita-se a abastecê-la de informações isentas e equidistantes, cumpre o seu papel de mediadora. Caso contrário, está prejulgando e substituindo-se aos poderes competentes. Mais ainda: ao deixar-se levar pelo preconceito, a mídia valoriza e reforça os mecanismos de exclusão e intolerância. Isto já se nota no próprio perfil do jornalista que milita na grande imprensa brasileira conforme pesquisa realizada no ano passado pelo CEBRAP. Nossas redações tornaram-se perigosamente homogêneas sob o ponto de vista etário, cultural e político. Os jornalistas que praticavam o jornalismo humanista foram sendo afastados e hoje são raros, substituidos pelo jornalistas yuppies e tecnocráticos. A exclusão do Outro é uma das características do processo descriminatório e uma das marcas do autoritarismo. Sem diferenças de opinião dentro das redações deixamos de ter diversidade, um dos fundamentos do processo democrático. É evidente que um jornalista, ao deixar-se levar por preconceitos, não o faz premeditadamente com esta intenção. As justificativas para enganar o público oferecendo-lhe conclusões preconcebidas ocorrem gradual e sutilmente. A paixão por esta ou aquela posição acaba saindo camuflada por algum obscuro princípio moral de que, quando se trata do bem-público, os fins justificam os meios. Não é aqui o lugar para uma exegese dos vícios da nossa imprensa. Mas aqui é, sim, o lugar para fazer a desagradável constatação de que nunca -- ao menos nestes últimos 40 anos -- apareceram tantas queixas e polêmicas sobre os abusos da mídia. Nunca se fizeram tantos seminários sobre a Ética da Imprensa, nunca (fóra do âmbito profissional dos jornalistas) ficou tão evidente a falibilidade daqueles que se assumem como infalíveis em seus juízos e conceitos. O preconceito jornalístico obstrui a fluência do processo democrático porque é um rito sumaríssimo, sem possibilidades de defesa e argumentação. É uma interrupção do diálogo civil que as partes procuram manter para preservar o todo do tecido sócio-político. O preconceito jornalístico, porque sendo uma transgressão, estimula o revide e a agressão. Nossa imprensa está hoje manietada por um feixe de preconceitos vociferados que produzem uma clima de arrogância e insolência. Como a imprensa, mesmo não querendo, faz a mediação social, a linguagem desabrida passa a ser um paradigma de coragem e independência, subvertendo-se a civilidade e, logo depois, o civismo. Permeada por esta intolerância dos mediadores, a própria sociedade adota-a como padrão. Não é por casualidade que as últimas convenções partidárias terminaram em socos e ponta-pés. Pratica-se hoje em nossa mídia um cala-a-boca onde os inocentes são colocados no banco dos réus como se já fossem indiciados. Em certos momentos este preconceito avulta e, por mimetismo, estende-se à toda mídia de que resultam situações de autêntico linchamento. Por que isto? As razões são muitas e, também, não cabem neste colóquio. Mas uma delas é visível para qualquer leitor: nossos jornais estão fragmentados e esta fragmentação começa com a proliferação das colunas opinativas que hoje se sobrepõem ao material reporterístico e informativo. Ora, a sociedade não quer dos jornais suas cadentes sentenças, quer do jornal um levantamento imparcial das circunstâncias. O preconceito, por sua conotação agressiva, é o adversário da civilidade. O que nos leva às duas outras palavras do título: civilidade e civismo. Originam-se da mesma árvore latina que deu civis, civilis, civitatas, civilitas, civilitatis. Referem-se ao habitante da cidade, em contraposição ao agricultor menos polido. É o cidadão, obrigatoriamente urbano, educado, instruido e respeitoso para com os semelhantes. É a cidadania, sociedade de seres com os mesmos direitos e deveres. Civitas é o aquele centro de poder político, o cerne do Estado e da Pátria. Civilis é o direito que concerne ao indivíduo privado. Conclui-se assim que civilidade faz parte do processo de civilização e que civilização não é apenas um conjunto de conquistas tecnológicas ou econômicas mas, antes de tudo, um estágio no relacionamento entre os homens. Urbanidade, responsabilidade e o respeito ao próximo, além do parentesco etimológico, tem conotações semânticas com civismo que é devoção ao Outro, materializada no interesse público e no bem-estar coletivo. O cidadão integrado à sociedade é necessariamente um agente que trabalha em benefício desta mesma sociedade respeitando a identidade dos demais, acatando os estatutos gerais e esforçando-se para o aprimoramento coletivo. Civismo também pode ser visto como patriotismo, embora as duas palavras, ao longo dos 21 anos de regime militar, tenham assumido conotações negativas. Se formos fugir das palavras que já foram abusadas e violentadas por regimes de força, nosso vocabulário estaria hoje bem reduzido. Reparem que nos campos de concentração nazistas o lema que encimava os sinistros portões dizia, Arbeit Macht Frei, o Trabalho Traz a Liberdade. Então, pergunto: por isso, devemos abandonar palavras preciosas como Trabalho e Liberdade ? Não receiemos, portanto, a reutilização do conceito de pátria, terra natal. Mas cuidado com o patriotismo sem civilidade -- é o caso dos regimes autoritários, xenófobos e totalitários. A civilidade é obrigatoriamente cívica, legitimando o respeito ao próximo em termos institucionais. Um movimento corporativo, onde os interesses de um grupo sobrepõem-se aos da sociedade, não é cívico nem promove a civilidade. Entra aqui uma palavra que não está no programa -- Democracia -- mas que deve estar presente em todas as ocasiões em que se falar nos antídotos ao preconceito. A Democracia não se resume apenas à existência de um calendário eleitoral regular e à existência dos três poderes. A democracia, como sistema perene e contínuo, carece também do exercício cotidiano de um mínimo de regras de convivência e de tolerância para com o Outro. A democracia necessita, sobretudo, de uma imprensa plural e diferenciada, consciente de sua responsabilidade como mediadora. E aqui vamos buscar uma outra palavra que não está no programa e que a imensa maioria dos jovens infelizmente quase desconhece. Chama-se Fascismo. Eric Hobsbawm na sua brilhante avaliação sobre o século XX que chama de "Era dos Extremos", designa as diversas irrupções fascistas como a ruptura da civilidade, compreendida esta como um sistema de capilarização da democracia. O fascismo -- qualquer fascismo e ele hoje multiplica-se com todos os disfarces -- é a supremacia do preconceito. O fascismo, como aqueles virus que se transformam e até trocam de identidade, voltou a ser o grande fantasma político. Justamente pela sua capacidade camaleônica de camuflar-se e adotar por mimetismo inocentes roupagens. O que se considerava como politicamente correto, justamente por causa da precariedade desta chancela, pode esconder tenebrosas aberrações. Veja-se o caso do Unabomber. Aparentemente é um ecologista radical disposto a levar às últimas consequências sua rejeição à maquina, ao progresso e sua defesa da Natureza. No entanto, seus atos terroristas contra inocentes nada o distinguem dos nazistas da Alemanha. Brigite Bardot, depois de ser o símbolo sexual dos anos 60, tornou-se o símbolo da defesa dos direitos dos animais. Sua recente manifestação contra o abate ritual dos carneiros por parte dos muçulmanos da França enquadra-a perfeitamente dentro do Front National, o partido ultra-direitista francês, ao qual pertence seu marido, agremiação inequivocamente fascista. Os fundamentalistas islâmicos do Norte da Àfrica e do Oriente Médio pretendem preservar-se da decadência do Ocidente, preservando seus usos e costumes. Mas adotam a brutal e sanguinária pratica política daqueles que pretendem a eliminação em massa e a solução final. Há fascismos de viés direitista e fascismos de viés esquerdista. Aliás, tanto Hitler como Mussolini sempre tiveram inclinações sociais e se pretenderam socialistas, cada um à sua maneira. Eram de direita pensando serem de esquerda. Hoje há quem se considere esquerdista sendo, na realidade, enfezado direitista. Os judeus que há 100 anos (quando surgiu o fascismo dito moderno) sempre foram as suas vítimas prediletas tambem estão sendo infectados pelo agressivo culto ao preconceito. O assassinato do Primeiro Ministro Rabin por um fanático religioso da extrema-direita israelense tem todas as características de um ato fascista. A começar pelo clima de histeria política insuflado por algumas lideranças religiosas que tomou conta de Israel quando foram assinados os acordos de paz. E termina com a utilização pelo assassino das balas dumdum, destinadas a estraçalhar as vítimas. Trago à baila a ressurgência mundial do fascismo não apenas porque esta é a minha preocupação política dominante mas porque, como jornalista, percebo que a disseminação do preconceito na e pela imprensa -- mesmo os insignificantes e “justificados” -- leva ao totalitarismo e a uma perigosa situação de ruptura social e política. Nunca é demais repetir que o ser preconceituoso é basicamente um autoritário e que o fascismo nutre-se primordialmente dos pequenos preconceitos dos pequenos ditadores que, num crescendo, acabam convertendo-se em grandes preconceitos dos grandes ditadores. E, uma vez instalada a incapacidade para julgar com serenidade, acende-se o pavio que incendiará todas as reservas de civilidade. Se a imprensa não está advertida nem se mostra sensível aos perigos desta perigosa bola-de-neve acaba por produzir um clima propício à irracionalidade e à selvageria. Há dez ou onze anos atrás acabou-se a ditadura militar. Governo já não é mais sinônimo de vilania. Tudo o que se fez antes em matéria de resistência ao regime militar, hoje, numa democracia, precisa ser repensado e reavaliado. O vale-tudo da década passada já não se justifica. Mesmo a experiência do impeachment do Presidente Collor de Mello deve ser colocada numa redoma para ser estudada pelas próximas gerações. O papel do jornal e do jornalismo não é derrubar presidentes eleitos -- o que até pode acontecer ocasionalmente -- mas é de ajudar a sociedade a tomar as melhores decisões em seu benefício. O papel do jornalista como mediador é criar uma sociedade mais criteriosa e madura. Inclusive para impedir que viceje a irresponsabilidade da imprensa. Interêsses e preconceitos P: As empresas jornalísticas brasileiras são de capital privado. Onde reside exatamente a responsabilidade social dessas empresas? Belisário dos Santos Jr.: Ocorre-me neste momento, a propósito, a lição do Professor Alberto Cañas Escalante, Embaixador da Costa Rica perante as Nações Unidas, no momento da aprovação da Declaração Universal de Direitos Humanos. A liberdade de expressão implica necessariamente uma possibilidade de expressão. Esta possibilidade só é "rousseaunianamente" assegurada aos oradores de praça. Em relação à liberdade de imprensa, nos termos em que constante da Declaração, é mais bem uma liberdade empresarial que liberdade individual ou direito humano, já que é concebida nos termos de declarações do século XVIII, sem contar a enorme quantidade de água que passou por baixo dessa ponte desde então... Hoje o exercício dessa liberdade é um negócio, e há que cuidar do negócio... Este necessita de capital e de entradas de capital. De empresas nem sempre éticas, depende o exercício da liberdade de expressão dos cidadãos. De anunciantes nem sempre éticos depende a liberdade de expressão das empresas de comunicação. Conclui o Professor Embaixador, numa autocrítica nostálgica: "Os delegados de 1948 nos sentimos muito orgulhosos no momento da votação. Mas o século XVIII havia ficado para trás, e não nos demos conta disso!" Dines: Pois é. Eu acho que tem uma definição que pode dirimir essa pendência entre atividade privada e a função social. As empresas jornalísticas são privadas, em todo mundo hoje, com exceção talvez da China e de Cuba. Mas embora sejam empresas privadas, fazem um serviço público e sobretudo estão protegidas por uma série de preceitos constitucionais e privilégios constitucionais. Sendo assim, elas tem que estar compenetradas de que prestam esse serviço público e tem contas a prestar à sociedade. Isso não é o que acontece. Todas as tentativas que se fazem para o acompanhamento e a crítica da mídia pegam mal, como se diria na linguagem coloquial. O jornalista e o dono do jornal, e aí estão irmanados o trabalhador e o dono do capital, ambos rejeitam qualquer tipo de avaliação da sociedade. P: Gostaria que você falasse um pouco sobre a união entre os grupos mais poderosos dos diversos setores da imprensa e os interesses particulares de determinados grupos políticos brasileiros. Eu faço muitas críticas à atuação da mídia brasileira, sobretudo nesse período da construção democrática, mas eu não diria que a mídia brasileira está comprometida com partidos políticos. Ela tem suas posições independendo das posições dos partidos. O que a mídia brasileira tem por tradição, sempre teve e ela cultiva isso com certo gosto, diga-se, é uma aproximação com o poder político. É inevitável, mas mesmo assim nós encontramos sempre, em todas ocasiões, vozes discordantes que não concordam, ou fazem exceções ao coro geral de aprovação. Eu não acho que o problema da mídia brasileira seja a conjugação patronal-partidária. É o preconceito que está vigindo na feitura dos jornais, e na feitura dos jornais os patrões não interferem. O tom desabrido, desaforado, enfezado, agressivo, pouco cívico, não são os donos de jornais que dão o diapasão, isto é de uma geração que não está treinada na democracia, não está treinada no respeito ao outro e que está numa posição de mando e assume-se arrogantemente como infalível. Portanto, eu acho que o problema maior não é a ligação do poder da mídia com o poder político, é justamente o que está sendo feito debaixo do poder da mídia por aqueles que deviam estar zelando pelos interesses da sociedade. P: Você deu ênfase maior à questão da imprensa escrita, como vê o monopólio estatal da mídia televisiva? O que seria uma mídia imparcial? Bem, eu dei preferência à mídia impressa, primeiro porque é aquela que eu conheço, em segundo lugar porque é aquela que deixa marcas. Um editorial seja do SBT, seja da TV Globo, ele não tem a força de um editorial ou de uma coluna opinativa de um jornal impresso. Essa é a força da palavra escrita, essa é a força e a perenidade do papel. Essa é a força que vai manter o jornalismo impresso, a despeito da tecnologia e dos sistemas on-line, permanentemente, eu espero pelo menos nos próximos duzentos anos ainda vitalmente importante. Então eu dou importância à mídia impressa, porque a palavra impressa vale muito mais do que a palavra falada. Eu não vejo um monopólio estatal na mídia eletrônica. O que me preocupa na mídia eletrônica não são os jornais, porque os jornais são uma parte ínfima com relação à programação como um todo. O que me preocupa é um país onde a educação tem tantas brechas e falhas e deixou de cumprir a tarefa de formar cidadãos conscientes, como já fez anteriormente, um país que carece dessas instituições formativas, a televisão, não apenas no seu jornalismo, mas a televisão como um todo, cria uma cidadania trivial, banalizada, sem profundidade, sem apego à cultura, e isto é extremamente lamentável. Mas isso é o regime da iniciativa privada, da livre concorrência, esperemos que com a pluralidade das opções com os canais dirigidos, sejam por satélites, sejam por cabos, nós possamos ter opções mais qualificadas para que a mídia eletrônica possa cumprir seu papel de ajudar, de auxiliar na formação cultural deste país. P: Por favor comente: mídia, religião e preconceito. Isso evidentemente exigiria um outro simpósio. Eu acho que no Brasil o problema de religião é que não tem sido muito considerado, e sobretudo nosso passado, por causa do nosso passado português nós estamos esquecendo do terror que foi a ligação da Igreja e do Estado. A Constituição de 46, que teoricamente deveria ser pior que a atual, a Constituição de 88, era muito mais secular, separava Igreja e Estado e as coisas não convergiam e não tangenciavam-se. Já na de 88 há uma série de injunções que me incomoda. O preâmbulo pedindo a graças de Deus, embora seja inofensivo, é uma irregularidade considerando que a sociedade brasileira tem que garantir o direito também de não crer, e logo a inclusão do preâmbulo da Constituição de uma cláusula religiosa, embora ampla e genérica, confronta esse princípio sagrado da separação das coisas do espírito das coisas do estado. A mídia nesta onda é extremamente majoritária, ela acompanha o poder majoritário da Igreja Católica. Os quatro grandes jornais brasileiros, Jornal do Brasil, o Globo, o Estadão e a Folha, cada um deles tem em lugar de honra, um lugar reservado para uma autoridade eclesiástica e não tem o mesmo lugar reservado para autoridades de outros credos ou de não-credos. Então o Estado de São Paulo tem o Dom Lucas Moreira das Neves, cardeal primaz; a Folha de São Paulo tem Dom Luciano Mendes, que é o Bispo de Mariana; no Rio de Janeiro, é extremamente curioso que apesar da competição canibalesca entre dois jornais, Globo e Jornal do Brasil, os jornais publicam no sábado o Dom Eugênio Salles, Cardeal do Rio de Janeiro, já veterano. Isso demonstra como a imprensa não é imparcial, digamos, nessa questão da religião. E aí, a partir destes fatos básicos, nós podemos tirar uma série de ilações e verificar que toda essa "guerra santa" sobre os evangélicos foi carregada de preconceito. Isto não quer dizer que o Edir Macedo não tenha lá suas culpas no cartório, mas o processo, como um todo, foi tratado com preconceito e com intolerância. Sou um estudioso amador da Inquisição portuguesa e da Inquisição brasileira que existiu praticamente no mesmo período de tempo, quase três séculos... Percebo que nós não nos livramos ainda da crença majoritária, isto é uma coisa que precisamos um dia corrigir. P: Quais são os fatores que o senhor acredita terem sido determinantes para a extinção dos jornalistas humanistas? Dines: Essa é uma outra história. Uma história que precisa ser um dia contada. É a história de uma greve malfadada de jornalistas aqui em São Paulo em 1979, que provocou do patronato uma reação violentíssima, nunca feita antes, não imediata, levou um ano e meio para se articular. E os jornais passaram a agir, passaram pela primeira vez a sentar-se, porque eles não se sentavam, os donos não queriam tratar, não queriam se sentar na mesma mesa, então só os filhos dos donos passaram a sentar na mesma mesa e assumiram uma série de posturas e de estratégias de forma maciça. É por isso que eu insisti tanto quando falei que a imprensa tem de ser diferenciada, porque de uma forma geral, embora os logotipos sejam diferentes, e um puxa mais para o governo, outro puxa menos para o governo, certos pressupostos são idênticos. A troca do humanismo pelo tecnocracia yuppie tem a ver com um problema etário. Foi atribuído injustamente à greve dos jornalistas de 79, aos jornalistas dito humanitários, mais velhos, que justamente foram contra esta greve que seria absurda, que facilmente estava fadada a fracassar, como fracassou. Mas evidentemente, eram as figuras exponenciais, eram as figuras com uma participação política anterior à ditadura e foram os bodes expiatórios que tinham de ser eliminados, porque eram os politizados que tinham criado esse clima. E a partir daí o processo ganhou uma grande velocidade, com uma distorção do processo jornalístico. A presença do marketing dentro da operação jornalística era uma coisa que qualquer jornalista da minha geração rejeitaria, porque o marketing é secundário. São as responsabilidades do jornalista perante à sociedade que devem comandar a postura do jornal a favor da sociedade, não um setor comercial. Mas esse fascínio pelo marketing permeia o Brasil inteiro, porque são essas as formas milagrosas... Isto é um modismo que começou na imprensa e permeou a sociedade brasileira, que vive em função da cosmética e abandona as questões fulcrais e primordiais da ação política ou jornalística. Então de uma forma geral a troca foi geracional e doutrinária, precisava-se de jornalistas capazes de atender a esses reclamos da competição, dos brindes, dos brindes que tornam o jornal descartável e secundário, as pessoas compram o jornal e jogam o jornal fora e ficam com o brinde, o que é uma subversão, tinham que ficar com o jornal, jogar o brinde fora. Mas isso tudo são coisas que vieram ocorrendo numa progressão imparável, eu não sei aonde vai acabar isso, e o jornal deixa de ser aquilo que é, o mediador da sociedade, o cimentador da ação reflexiva da sociedade. P: Como criar rupturas na estrutura yuppie viciada e inócua das redações? Eu não sou a favor de rupturas, sou a favor de evoluções. Acho que é muito simples. Uma redação deve representar, não digo estatisticamente, ela deve representar a sociedade para a qual é dirigido este veículo. Na maior parte dos jornais não há a experiência para filtrar possíveis erros, possíveis arrogâncias e possíveis preconceitos mesmo. Então o jornal é feito de uma forma, por uma equipe homogênea, sem diferenciação. A ruptura eu não aconselho, mas uma evolução, para fazer como acontece em todos os países do mundo, em que a imprensa reflete a composição e a estruturação da sociedade e não apenas um segmento dela. Julio: Uma outra pergunta, e esta é dirigida a mim, é uma crítica. Com o perdão da ousadia, não é um preconceito o processo de seleção das perguntas formuladas por escrito pelo público aqui presente?... Bem, eu tenho que receber isso com um sorriso. Em primeiro lugar não há censura. Na medida do possível eu tento agrupar perguntas de um mesmo assunto, de um mesmo gênero e realizá-las em seguida. Em segundo lugar, o único critério que elimina as questões é aquele que determina não formular perguntas que não dizem respeito ao tema tratado. Por exemplo: algumas solicitam o endereço da Internet e coisas do gênero... Finalmente, um outro critério que faz com que eu não formule certas perguntas é que infelizmente, dentro das minhas inúmeras limitações, ainda não domino a arte champoliônica de decifrar caracteres hieroglíficos. Infelizmente eu não entendo várias letras, se vocês puderem "traduzir" eu vou me sentir agradecido... Pergunta legível... A mídia plural apenas nascerá do crescimento do jornalismo reportagem. O jornalismo opinativo não pode colaborar com a democracia, afinal a imparcialidade absoluta é impossível e a reportagem pura é quase empirismo positivista? O jornalismo compõem-se de vários gêneros. Nós temos o gênero opinativo, o gênero informativo, nós temos a prestação de serviços, e assim por diante. Não vou dar uma aula de jornalismo comparado. Mas o que está acontecendo hoje é estatístico, por isso eu citei para vocês que vale a pena vocês comprovarem, peguem aí os grandes jornais de São Paulo verifiquem, se quiserem contem os centímetros nos primeiros cadernos, o espaço dedicado à opinião e o espaço designado para informação colhida por repórteres. A opinião está começando a ganhar. É claro que há razões econômicas, o espaço de um colunista é sempre mais barato do que o espaço de um repórter, porque o repórter não pode produzir todo dia uma matéria, ele às vezes passa cinco dias ganhando para produzir uma matéria de cinco linhas. O opinionista facilmente preenche aquelas quarenta, cinquenta, sessenta, setenta linhas que lhe são designadas. E não tem fotógrafo, não precisa do carro de reportagem , não precisa viajar. Ele está ali, escreve, pode até escrever uma série de artigos, depois viajar. Economicamente, empresarialmente, mas anti-jornalisticamente, isto é mais fascinante, a opinião do que o trabalho de reportagem. Mas o jornalismo nasceu repórter. Mesmo com a falência da natureza humana, mesmo que no seu íntimo o jornalista mais isento sempre descambe para uma certa predileção, mas só esse esforço de ser isento, de ser equidistante, já é muito bom , já é cívico, já é exemplar, porque faz com que ele se coloque de uma forma mais discreta. Eu fico extremamente chocado quando leio essas violências que se cometem hoje no jornalismo opinativo brasileiro. No período imediatamente após a ditadura, onde se podia dizer uma série de coisas, eu não vi essa virulência empregada contra aqueles que foram sócios do regime militar, aqueles que foram responsáveis pelo regime militar. 4 - Mulher A IGUALDADE FAZ TODA DIFERENÇA Rosiska Darcy de Oliveira Presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher Eu imagino que a minha escolha para participar dessa mesa essa noite se deva exatamente ao fato de que há muitos anos eu venho tentando, dentro e fora do Brasil, democratizar, eu já não diria somente, as sociedades as quais me dirijo, mas democratizar o pensamento, o pensamento que pensa essas sociedades. Porque eu creio que o fim do século XX, nos confrontou com uma obviedade, que, paradoxalmente, é umas das grandes revoluções desse século: a descoberta de que existem dois sexos, e não apenas um. Essa obviedade, eu creio, vai marcar a história do século XX. E nós aqui nessa mesa, nós, mulheres que estão aqui nessa mesa, creio podermos nos orgulhar, de termos sido, numa medida humilde, na medida de nossas forças, protagonistas dessa descoberta. Eu talvez nunca tenha tido tão nitidamente a sensação do quanto essa obviedade era importante, para restabelecer um princípio civilizatório, quanto na Conferência de Direitos Humanos que teve lugar em Viena, da qual nós mulheres saímos entusiasmadas, festejando, comemorando o fato que tivesse sido incluído nas declarações de Viena a frase de que os direitos das mulheres eram direitos humanos. Nós festejamos isso, e isso aconteceu no último decênio desse milênio. É inacreditável que nós tenhamos chegado a esse ponto. Mas foi necessário talvez afirmar essa obviedade, porque essa conferência marcou, creio eu, a entrada das mulheres na humanidade visível. Até então uma imensa invisibilidade pesava e, creio pesa ainda, sobre a a metade da humanidade. Portanto não é de pouca envergadura o que nós estamos abordando aqui hoje. É uma das dimensões de um fenômeno mais amplo, o preconceito contra as mulheres, na medida que preconceito nós encontramos sempre lá onde alguém, indivíduo ou coletivo, se enfrenta com alguém que ele designa como outro e este outro, para que seja outro, é um outro porque cumpre uma função muito específica, que é justamente a de constituir a identidade daquele que o designa como outro, ou seja, ele passa ser o outro, o depositário de tudo aquilo que o torno inferior, que o torna pior, que o torna diferente e que portanto engrandece aquele que o designa, que passa a ser melhor, que passa a ser mais qualificado, que passa a ser a referência. Eu creio que na história das mulheres essa maneira de ser a outra sempre, a outra dos homens, esteve presente exatamente sobre esta forma. As mulheres foram sempre o inverso ou avesso. O feminino foi o avesso do masculino, sem definição própria, apenas definido pela negativa. Creio que é muito recente que nós tenhamos concluído que o feminino não era o avesso do masculino, que o feminino era o feminino, e que as mulheres eram as mulheres e que se definiu por si mesmas, em referência a si mesmas, a sua própria existência, a sua própria história, o seu próprio corpo, a sua própria cultura. Isso é novo. Isso é muito novo. Porque mesmo nas lutas pelas igualdades, que marcaram o fim do século XIX sobretudo, e eu diria o século XX, até os anos 70, essa definição de igualdade se dava face a um padrão de referência e esse padrão de referência era o masculino. As mulheres se estariam tornando iguais aos homens, na medida em que com eles se mimetizassem, na medida em que assumissem o feminino como defeito, como falta, como ausência, com algo a ser escondido e tentassem, o tanto quanto possível, falar o masculino sem sotaque. Eu creio que nós todas tentamos isso. Algumas até conseguiram, falar sem sotaque. Mas isso não deixou, de certa maneira, de ser uma língua estrangeira. Penso que a travessia das mulheres nos territórios do masculino, nos territórios do poder e do saber, essa travessia foi certamente e pelo menos numa certa medida, uma experiência do exílio, e nada revela melhor a identidade do que o exílio. É na situação de exílio que nós nos vimos refletidos no outro, no espelho distorcido, onde aparecem as diferenças, onde aparecem os encaixes que não se ajustam. E talvez seja justamente esse exílio onde viveram as mulheres no mundo dos homens, que foi dando progressivamente a elas, na medida em que elas experimentavam e habitavam os territórios dos masculino, foi dando a elas o sentimento de que a igualdade que elas buscavam ou que elas descreviam e aceitavam como tal, essa igualdade mimética era na verdade uma resposta ambígua, ao que eu costumo chamar um “double bind”, ou seja, uma mensagem contraditória. Dizia-se ao longo desse século, eu diria até os anos 70, 80, dizia-se às mulheres, “seja mulher e seja homem ao mesmo tempo”. E essa mensagem, esse “double bind”, a esse “double bind” as mulheres responderam num primeiro momento pela ambiguidade. E a resposta ambígua foi a tentativa de fazer coexistir em si todos os papéis, todas as funções sociais, sempre fazendo de conta que o feminino não existia, ou pelo menos não iria atrapalhar. Eu penso que foi preciso que uma geração inteira fizesse o percurso completo dessa vida e dessa ambiguidade, para que tornasse claro para essa geração que havia um equívoco de base. A negociação da entrada das mulheres no mundo dos homens tinha-se feito respeitando o preconceito e de certa maneira reproduzindo o preconceito, ou seja, tentando através do mimetismo, através do esconder desse defeito, que era o feminino, sua história, seu corpo, sua vida, sua cultura, tentar não abordar a verdadeira discussão que iria marcar o fim desse século, que é a existência de dois sexos, portadores de experiências, de história, de corpos diferentes. E eu penso que se tanta resistência houve por parte das mulheres a enfrentar esse preconceito no seu âmago, foi certamente porque - com justa razão - tentamos nós, mulheres, refutar todo um pensamento conservador, reacionário, da biologia do fim do século XIX, que fazia da diferença sexual o argumento da hierarquia, de uma hierarquia que inferiorizava as mulheres. Portanto a refutação disso foi um estágio necessário, um momento necessário, na quebra do preconceito. Ora, hoje nós vivemos outros tempos. Hoje eu creio que uma mulher tenha possibilidade de admitir a realidade do seu corpo, não como um defeito, não como algo que lhe atrapalha, mas como algo a que ela tem direito e que se trata não de adaptar-se ela a um mundo que não vê as mulheres, que desconhece as mulheres, para quem esse sexo não existe, mas muito mais de propor ao pensamento e à comunidade internacional, e a organização social mundial, e local, o grande desafio, que é, que será, construir uma sociedade em que as mulheres existam como mulheres, com suas características, com suas demandas, com suas necessidades, com sua história. A integração das mulheres na humanidade visível, repito, é sem dúvida nenhuma o grande desafio do nosso tempo. Por isso mesmo, eu penso e costumo dizer, o século XXI começou em Pequim. A Conferência de Pequim foi um “turning point”, um momento em que a comunidade internacional, como um todo, reconheceu a presença das mulheres no mundo, reconheceu essa inversão epistêmica, em que não se trata mais de pensar um mundo, em que as mulheres vão se adaptar, mas adaptar o mundo à existência das mulheres. É uma mudança conceitual importante que cristalizou-se fundamentalmente na Conferência de Pequim e que é a grande resposta política ao preconceito. É a grande resposta política que não fala mais da igualdade como uma conversão (que é o ideal de todo o preconceito, converter o inferior às sua convicções ou a sua maneira de ser, à sua vida), não fala mais nessa conversão, mas fala de uma necessidade de uma negociação democrática. Por isso, no Conselho Nacional nós dizemos: não existe, não poderá existir democracia, nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo, sem a presença respeitada, ativa, reconhecida de dois sexos. É por isso que eu intitulei essa conferência, essas pequenas palavras que não são uma conferência: na democracia, “a igualdade faz toda a diferença”. Muito obrigado. De Conversa em Conversa... P: Você poderia falar sobre o sistema de cotas para as mulheres, que parece ter sido uma das propostas da Conferência de Pequim? Esse sistema não está sendo muito criticado atualmente? Rosiska: Eu queria esclarecer que o sistema de cotas não foi exatamente uma proposta da Conferência de Pequim. Ele é uma coisa já muito antiga e sobretudo é uma experiência americana, quer dizer a sociedade americana lançou isso, a política americana já havia lançado a política de cotas. A política de cotas, em duas palavras, é a garantia de um espaço dentro de partidos políticos, para que as mulheres possam ser candidatas. Isso se impôs, porque a prática mostrava que as mulheres nunca chegavam a ser escolhidas como candidatas, quer dizer, havia um gargalo que impedia que elas fossem escolhidas como candidatas. Dito isso, eu creio que a política de cotas, se é uma necessidade hoje, eu não creio que possa ser formulada a não ser em termos provisórios. Reconhecendo a necessidade neste momento de passar por esse gargalo que o preconceito cria, creio que não há porque, por exemplo, falar em vinte por cento. Não vejo porque colocar esse teto de vidro. Por que não cinquenta? Por que não sessenta? Por que não setenta? Não vejo a necessidade de nos colocarmos dentro de determinados limites, devemos sim exigir um mínimo, mas esse mínimo provisoriamente. Creio que eu teria formulado a proposta das cotas de uma maneira diferente. Creio que eu teria formulado como uma obrigatoriedade de que nas chapas partidárias houvesse um mínimo de vinte por cento de mulheres ou de homens. Não sei se me entendem. Eu acho que isso muda tudo e acho sobretudo que isso quebra uma acusação, que vem sendo feita, muito injusta aliás, de que essa política teria um conteúdo anticonstitucional, porque estaria favorecendo as mulheres. Não vou nem entrar muito em detalhes sobre isso, porque isso é um absurdo, quer dizer, é uma leitura equivocada, no limite desonesta de que foi o espírito do legislador que colocou na constituição a igualdade entre homens e mulheres. Quer dizer, quando se fala em igualdade, fala-se exatamente em promover uma igualdade não inexistente. Nada exclui - e não se deve pensar que isso venha a excluir - que um dia haja uma apresentação de candidaturas, tão importantes numericamente de mulheres quanto de homens ou até majoritárias. P: Como avançar com os direitos da mulher, em regiões onde as culturas e crenças locais são extremamente desiguais, por exemplo, os países islâmicos, ortodoxos em geral. Deverão essas mudanças serem conquistadas internamente, ou através de pressões internacionais? Rosiska: Essa é uma pergunta bem complicada, até porque ela tem estado no centro de um debate que ultrapassa até a questão das mulheres. Nosso tempo, nossos últimos cinquenta anos, descobriram justamente a diferença cultural e foi talvez um reconhecimento muito importante, na medida que muitos países tinham sofrido uma opressão colonial, que tinha de certa maneira quebrado a alma desses países, que tinha imposto valores que lhes eram estrangeiros, que tinham sido violentos, que tinham tentado destruir culturas. Portanto, dos anos 50 para cá, houve toda uma tendência com o processo de descolonização, sobretudo da África, da África Negra, e dos países do Norte da África, muçulmanos. Houve toda uma tendência a respeitar a diferença cultural e a abdicar do que se pensou ser, naquele momento se chamou assim, uma espécie de imperialismo do Ocidente que tentava generalizar os seus princípios. Foi muito recentemente, e não por acaso, em torno da questão das mulheres, que essa questão se tornou complexa, ela não era tão simples como se pensava. E eu acho que é um exemplo muito importante para se dar sobre esse debate, ninguém ignora que no mundo muçulmano a ablação clitoridiana é uma prática cultural desses países. Então na Conferência de Viena, quando se discutia essa questão, particularmente, nós tínhamos um bloco do Ocidente que dizia: “isso é lesão corporal grave, isso é castração, isso é uma violência inaceitável, uma monstruosidade contra as mulheres”. E nós tínhamos os países muçulmanos que diziam: “isto é a nossa cultura, e assim deve ser respeitada”. Esse debate confundia a cabeça de muita gente. Eu confesso que não a minha, certamente não. Eu creio que o valor que nós damos ao conceito de direitos humanos é - indiscutivelmente - a sua universalidade. Quer dizer, os direito humanos ou são universais, ou não são. E daí deduz-se que os direitos das mulheres são direitos humanos. Não há no meu entender que tomar como traço cultural respeitável um fato, ou um conjunto de fatos, ou um conjunto de normas, que torna uma parcela da população escrava, submissa, passível de ser ferida, passível de ser mutilada. Não, isso não é respeitável em nenhum tipo de cultura, Nem no Ocidente, nem nos países islâmicos, e para isso existe uma comunidade internacional, que se define como uma comunidade defensora de direitos humanos. Nesse sentido, para mim, essa questão está clara. O tratamento dado às mulheres nos países islâmicos, ou para não falar apenas dos países islâmicos, o tratamento dado às mulheres na Iugoslávia, na Bósnia, onde pela primeira vez se usou o estupro como arma de guerra... Havia estupro em outros países, em outros momentos de guerra, mas não como arma de guerra, arma no sentido literal do termo, onde nunca as mulheres foram tão invisíveis, porque o conceito que presidiu ao estupro em massa na Bósnia, foi a idéia, de que a criança que nascia daquela mulher era apenas da religião do pai, a mulher era uma passagem, nela não existia nada, ela não existia, ela era um receptáculo. Esse tipo de aberração, esse tipo de monstruosidade, não tem senão que ser denunciada com o mesmo ímpeto, a mesma nãonegociação com que nós temos, ao longo do tempo, denunciado a tortura, onde quer que ela se encontre, o assassinato, o crime, onde quer que eles se encontrem. Hoje eu tenho a idéia muito clara de que essas mulheres que estão debaixo de leis que as negam, que as sacrificam, que as ferem, essas mulheres precisam de socorro e precisam de socorro internacional, assim como todos aqueles que estão nas masmorras, torturados e presos. Nesse sentido, eu não respeito cultura nenhuma, que em nome dos seus direitos culturais esteja condenando um ser humano, no caso um ser humano mulher, a um tipo de violência que elas não merecem e que não devem aceitar. P: Num país machista como o nosso, qual é a sua análise sobre as mulheres negras, pobres e marginalizadas? Rosiska: É muito difícil medir-se o sofrimento humano. E eu acho que é sempre muito difícil colocar-se na pele do outro, quer dizer, colocar-se na vida e na experiência do outro. Eu não sou uma mulher negra. Eu tenho pudor de me exprimir sobre isso, fazendo um julgamento do que isso possa representar. Eu posso falar de fora. Estou falando de fora, da observação, da vida, e eu creio que certamente dentro do quadro do racismo, que é presente e perfeitamente tocável na nossa sociedade. A mim me parece claro que o racismo que se abate sobre as mulheres negras é o mais perverso e sempre foi. Existe um antropólogo brasileiro, o professor Darcy Ribeiro, que usa uma expressão que sempre me impressionou muito, em que ele diz que a sociedade brasileira queimou os negros como carvão, queimou, usou como o carvão. E moveu-se com essa força de trabalho negra, que destruiu, que queimou, justamente como o carvão. Eu diria que a isto se acrescentaria o fato que no caso das mulheres negras, ao longo da história brasileira, além de moer como carvão, ainda a isso se acrescentou o dado da prostituição. Quer dizer, a sociedade branca, a sociedade canavieira por exemplo, a elite canavieira prostituiu as mulheres negras. E isso eu acho imperdoável. Isso é imperdoável. E isso deixou sequelas na fotografia da mulata nua que aparece nos folhetos de turismo, chamando para o turismo sexual no Brasil, hoje. Então hoje reproduz-se o mesmo princípio de degradação, o mesmo princípio de humilhação, que vem do tempo colonial e que se projeta para o século XXI, através fundamentalmente desse drama moderno que a sociedade brasileira está vivendo, e para a qual eu chamo a atenção de todos aqui, porque eu considero uma coisa gravíssima a prostituição juvenil, através fundamentalmente do turismo sexual. O grosso das meninas que são recrutadas para satisfazer esse imaginário branco, europeu ou norte-americano, são meninas de origem negra. Eu creio que a esse dado veio se acrescentar a dramaticidade da questão racial no Brasil, que toca a todos, homens e mulheres. Mas acho muito particularmente, por esse lado, sobretudo o que toca as mulheres negras. Nós temos no Conselho Nacional uma representação de mulheres negras, e eu tenho insistido, e tenho tido uma resposta muito presente sempre, desse grupos que estão representados lá, no sentido de que nós possamos desenvolver políticas, que sejam políticas que tenham a ver, que mostrem claramente como a sociedade brasileira vem tratando sobretudo essas meninas, essas jovens, porque isso talvez seja ainda o mais dramático, porque são meninas, são meninas que estão entrando na vida, que estão entrando na vida de uma maneira indefesa e que estão reproduzindo o fenômeno da escravidão de maneira velada, mas estão reproduzindo esse fenômeno. Então eu tenho, enquanto presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, uma preocupação fundamental, hoje, com a questão da prostituição, da prostituição juvenil, e dentro dela, como as meninas - e fundamentalmente as meninas negras - estão sendo arrastadas para isso. Eu não posso me conformar com a idéia de que o destino da juventude pobre e da juventude negra brasileira vá ser a prostituição. Eu não posso me conformar com isso e nenhum de nós pode e nem deve se conformar com isso. Eu estou falando aqui com um público próximo dos direitos humanos. Eu chamo a atenção para este fato, porque ele hoje é provavelmente, se não o mais grave, um dos mais graves da história presente brasileira. É preciso ter os olhos abertos para isso, é preciso combater. No Dia da Criança o Presidente convocou todos os ministros das áreas afetas a esta questão, convocou-me a mim também, e foram discutidas políticas combativas de enfrentamento dessa questão, que é gravíssima, ampla e difícil de lidar. E nesse caso eu acho que não há muita dúvida, que as mais atingidas são, sem dúvida nenhuma, as jovens, as adolescentes negras, ou de origem negra. Então políticas nesse sentido são políticas absolutamente fundamentais de defesa dessa população. Imortais presentes As escritoras Nélida Piñon e Lygia Fagundes Telles, componentes da Academia Brasileira de Letras, também estiveram presentes à mesa dos trabalhos, na noite em que o tema tratado foi "Preconceito e Mulher". Júlio Lerner: Lygia, você estudou aqui na Faculdade de Direito do Largo São Francisco ... Eu gostaria que você contasse ao público quais os preconceitos mais frequentes que - como estudante - você teve de enfrentar nesta escola. Lygia: Parece até que eu vou falar agora da Idade da Pedra lascada, tão grande é a distância que me separa dos meus tempos de juventude deste tempo. Havia, sim, tantos preconceitos fora e dentro desta Faculdade, éramos na nossa turma apenas cinco ou seis moças e quase trezentos rapazes… As mocinhas inconscientemente andavam até meio curvadas (disfarçar o busto?) e desconfiadas, verdadeiramente intimidadas porque alguns rapazes já tinham nos feito, de forma franca ou velada, a tal pergunta: "– Mas o que vocês vieram fazer aqui?". Da minha parte, respondi que queria estudar Direito. E o gracejo irônico: "– Vocês querem é casar com a gente, hem?" E eu disse, "casar também, porque não?…" Queria lembrar agora que a clássica pergunta, "o que vocês vieram fazer aqui?" me faz pensar no próprio Freud que perguntou um dia com alguma ponta de irritação: "– Mas o que querem, afinal, as mulheres?". Desnecessário dizer que esse clima me fazia tão insegura que agora parece até uma brincadeira trazê-lo nesta noite, tantas décadas depois: afinal, falar nisso numa escola completamente invadida pelo chamado segundo sexo… Minha mãe ficou muito preocupada quando eu resolvi prestar os vestibulares: "– Mas o que você vai fazer numa Faculdade de Direito? Será que esses estudos não vão prejudicar a sua vida? E os seus pretendentes, filha?!" Na realidade, a minha mãe queria apenas me ver casada, destinação única para uma jovem se realizar no futuro. E havia outra saída a não ser o casamento? Respondi que tivesse um pouco de paciência, eu estudaria e me casaria em seguida, "eu caso depois, mãe". Ela ficou pensativa. Duas vezes ela própria já tinha sido contrariada na sua vocação, quis ser uma cantora lírica, tinha uma bela voz. Quis em seguida ser uma pianista, estudou piano com professores importantes da época. Foi também contrariada, a solução foi se casar e ficar mulher-goiabada e digo isso sem a menor ironia, é claro, criei essa expressão mulher-goiabada porque ela fazia a melhor goiabada do mundo… Mas então ela pensou e disse, "– Se esse burraldo do seu primo está na Faculdade e vai se formar, por quê não você?!" Eu tinha um primo que estudava aqui e que ela costumava tomar como exemplo, era uma mulher inteligente e bem-humorada. Voltou ao piano, tocava seus Noturnos de Chopin: "– Quer saber de uma coisa? Amanhã mesmo você vai se inscrever, amanhã nós vamos cuidar disso". "Nós" era ela própria, de um certo modo, estava agora se realizando em mim. E é bom lembrar que um preconceito tão agudo existiu sem máscara até há pouco tempo! As mulheres recusadas, esnobadas, omitidas. Tendo que dissimular, que disfarçar, eu mesma não me fiz de sonsa tantas vezes, não disfarcei para me defender?… Queria lembrar agora um ponto bastante importante, creio que a mulher ficou mais perceptiva do que o homem porque simplesmente tinha que se defender e nessa auto-defesa a percepção se aguça, se desenvolve assim como no arrombador de cofre que chega a limar as pontas dos dedos para, de olhos fechados, achar os seus números, desvendar o código… Durante séculos a mulher ficou reduzida a um bicho-de-sombra, encolhida, calada. Penso hoje que se a mulher é mais perceptiva, mais vidente do que o homem não é por virtude mas por necessidade em face das circunstâncias tão adversas. Assim ela foi ficando mais maliciosa, mais desconfiada. E mais fantasiosa, na sombra ela estimulou essa fantasia, a mulher é mais fantasiosa do que o homem. Então esse meu ofício que é o ofício de escrever, considerado também um ofício essencialmente masculino… Lembro agora que na minha família, por exemplo, algumas mulheres tiveram as tais inclinações literárias, escreviam poesias e poderiam mesmo ter sido - por que não? - verdadeiras poetisas, me lembro que certa vez meu avô gracejou referindo-se à minha tia-avó que estava sempre arredia, devaneando, "deve estar escrevendo suas caraminholas!" Caraminholas… A solução era passar para aqueles cadernões de capa preta onde estava registrado o preço da cebola e da batata, os pensamentos poéticos, os sonhos em prosa e verso. Então o começo, hem Nélida, teria sido simplesmente esse, as mulheres começaram a enveredar para a carreira literária nesse estilo confessional, subjetivo. Intimista. Daí a moda dos diários, anotações do dia-a-dia que se encompridavam com as inspirações feitas com tinta roxa, a cor da paixão. Mas isso só cabível em moça solteira, diário era próprio de virgens, porque diário em gaveta de mulher casada, segundo um antepassado, só ia dar em bandalheira… Sim, o longo e difícil caminho percorrido pela mulher até chegar a este momento que Rosiska há pouco lembrou tão lindamente. O difícil, o áspero caminho de libertação. E ainda relativo reconhecimento. E confesso agora que gostaria de ser jovem aqui neste tempo de libertação através do trabalho, atenuando as desigualdades maiores através do estudo, da cultura. A mulher agarrando as suas rédeas e dizendo, "eu estou aqui". Assim, se Freud voltasse a fazer aquela pergunta perplexa, "– mas o que querem essas mulheres?", da minha parte eu poderia então responder, "– quero apenas entrar para a escola que escolhi e escrever meus contos, só isso". Então aqui estamos nesta noite saudando as jovens estudantes - as novas gerações e dizendo como disse a Rosiska, somos agora visíveis. Visíveis não para narcisismos ou dissimulações, visíveis não para as agressões competitivas ou digressões demagógicas. Estamos, sim, Rosiska e Nélida estamos visíveis para nos dizer. Antes eram os homens que nos definiam, só eles diziam quem nós éramos. Agora temos voz própria. Júlio Lerner: O que você pensa sobre o politicamente correto nas relações entre os sexos? Nélida: Eu acho que a emergência de certas questões ocorre por força de uma carência, de uma necessidade. Se de repente, quando apareceu, eu me lembro em 1960, o chamado Movimento de Liberação da mulher, é porque evidentemente a sociedade reclamava que o movimento deveria acontecer, assim como os movimentos “Black Power”, da década de 60, o movimento dos "gays", todos movimentos libertatórios. Se há excessos, se há interpretações dúbias nem sempre bem formuladas, mas há urgência, as necessidades ali estão. Portanto se algum grupo reivindica porque necessita é porque ele foi posto à margem. Então o politicamente correto surgiu dos abusos, da necessidade de corrigir frases, de tentar exatamente combater ou reduzir as margens dos preconceitos. A idéia era essa. O politicamente dizer, adestrar a sua linguagem, o seu comportamento, no sentido de que você se comportasse de uma forma plausível, agradável, em meio aos seres humanos, para não ferir, não magoar e não criar questões dramáticas. Eu acho que os movimentos, ou pelo menos uma etapa do movimento se exaure quando comete excessos. Há exageros... Por exemplo, para lhes dar um modesto exemplo, eu me lembro que no ano passado eu... eu sempre passo de janeiro à maio na Universidade de Miami, o semestre americano, graças a Deus, é muito rápido, é muito curto, três meses e meio... eu percebi quando passava pelos corredores, para ir para meu escritório, eu vi as portas todas abertas. Eu pensei, engraçado, os professores americanos deixam as portas abertas, para que todo mundo saiba que estão trabalhando, eu interpretei desse modo, ingenuamente. No ano passado, eu soube por um querido amigo meu, um grande escritor peruano que é o Mário Vargas Llosa, a propósito de que ele estava dando aula na Georgetown, em Washington, e ele perguntou: “voce deixa a porta aberta?”. “Como porta aberta, eu recebo os alunos, eu fecho a porta, é uma questão de boa educação, a meu juízo.” Ele disse assim: “Não faça isso. Não faça porque é perigoso. Voce nunca sabe com quem voce está lidando”. Aqui o bom tom seria, a pessoa passar, voce fechar a porta, porque talvez o aluno queira lhe falar e não quer ser ouvido... Uma porta aberta intimida o aluno, né?. “Mas não faça isso, porque nos Estados Unidos, de repente um aluno pode inventar alguma coisa, que resulte num desastre para sua vida profissional, uma ação, ou podem dizer que voce usou de intenções não muito adequadas. Então, chega num ponto tão terrível, que ninguém toca no aluno, ninguém pode tocar no aluno, porque isso pode implicar, tocar fisicamente, um gesto delicado, carinhoso, porque isso pode ser mal interpretado. Eu sinceramente, eu com meus alunos, eu sou muito carinhosa. Então o politicamente correto se impedir injustiças pode ser útil, mas evidentemente eu me dou conta de que hoje o politicamente correto é excedente, é exagerado, e que muitas vezes não está mais defendendo os direito humanos, está inibindo o fluxo afetivo das pessoas, as gentilezas. Um homem não toma elevador, de modo geral, nos Estados Unidos, quando houver uma mulher sozinha, porque ele tem medo que essa mulher - de repente - pule do elevador aos gritos: “esse homem me atacou”. Isso pode custar cem mil dólares numa ação, e voce vai trabalhar o resto da vida para pagar aquela cidadã. São fatos até histriônicos, ridículos, mas que não invalidam enfim o que pode haver de bom no politicamente correto... Ao mesmo tempo, chama a atenção para o ridículo humano... É que nós realmente, estamos inscritos nessa categoria de seres precários, venais muitas vezes, e que precisam cuidar da sua ética, para aprimorá-la. Não é isso, nesse sentido?... Rosiska (aparteando): E eu acho que a principal manifestação ainda hoje do preconceito contra as mulheres seja a condescendência, uma certa condescendência, ou a idéia de que uma mulher para ser alguma coisa tem de ser absolutamente genial. Sem nenhuma crítica à Academia Brasileira de Letras, mas os homens dizem "estão aqui as três melhores mulheres do Brasil", e eu creio que são mesmo, mas os outros tantos que estão lá, são os melhores homens do Brasil? Não sei... Não tenho certeza disso... Não sei... Sem desmerecer ninguém que está lá dentro, não é .... Eu costumo dizer que eu só vou acreditar na igualdade, na verdadeira igualdade entre homens e mulheres, quando eu vir mulheres muito incompetentes em postos muitos importantes. Antes disso, eu não acredito. Fazendo aqui um grande elogio à Nélida Piñon, a Ligia e a Raquel de Queiroz... Como era possível que elas não estivessem lá? Inconcebível. São os três grandes nomes da literatura brasileira, os três maiores da literatura brasileira escrita por mulheres. É claro que elas tem que estar lá. Agora em outros lugares do poder, do saber, eu não vejo essas maravilhas espalhadas por aí. Mas as mulheres tem que ser maravilhosas para chegarem lá. Há uma condescendência em relação às mulheres de talento que eu acho que é a forma mais perversa do preconceito. Porque tentam fazer delas um álibi, dizendo: “Vocês estão aí porque vocês são formidáveis, todas. Vocês são formidáveis”. Agora os outros que estão em outros lugares, são formidáveis? Eu não vejo isso. Esse era o ponto que eu queria dizer... 5 - Direito e Justiça POLICIAIS, JUÍZES E IGUALDADE DE DIREITOS Dalmo de Abreu Dallari Professor universitário e autor de várias obras sobre Direitos Humanos É voz corrente que a humanidade está vivendo um momento de crise. A excessiva exaltação dos objetivos econômicos, com a eleição dos índices de crescimento como o padrão de sucesso ou fracasso dos governos, estimulou a valorização excessiva da busca de bens materiais. Isso foi agravado pela utilização dos avanços tecnológicos para estimular o consumismo e apresentar maliciosamente a posse de bens materiais supérfluos como padrão de sucesso individual. A conseqüência última desse processo foi a implantação do materialismo e do egoísmo na convivência humana, sufocando-se os valores espirituais, a ética e a solidariedade. Um dos sinais do desapreço pela dignidade humana era a dificuldade para despertar o interesse das pessoas de modo geral, inclusive dos professores e estudantes de Direito, por questões relacionadas com a justiça e a ética nas relações sociais. Esse desinteresse, muitas vezes comprovado, contrastava com o interesse por temas de ordem prática, envolvendo a aplicação imediata de conhecimentos técnico-jurídicos para o patrocínio de direitos e interesses diretamente relacionados com as atividades econômicas e financeiras. Na melhor das hipóteses, havia interessados no estudo e na discussão de assuntos de natureza processual, com interesse quase nulo pelos temas relacionados com os direitos fundamentais da pessoa humana. Muito recentemente passou a ser revelada uma nova atitude, o que se confirma pelo enorme interesse despertado por um ciclo de reflexões sobre os problemas éticos e sociais gerados pelo preconceito. Um dado muito importante, que deve ser reconhecido e ressaltado, é que a reunião de pessoas em torno dessa temática representa muito mais do que um simples encontro de natureza acadêmica, onde se expõem teorias e conceitos abstratos, para deleite intelectual. O que se procura num debate dessa natureza é o conhecimento mais preciso de situações que agridem a dignidade humana, buscando-se elementos para a vida, não só para o intelecto, fazendo-se uma reflexão imediatamente comprometida com a ação. É a partir dessas premissas que passarei a expor idéias e fatos relacionados com a presença e a influência do preconceito na área jurídica, especialmente nas atividades policiais e judiciárias. Essa reflexão é necessária, antes de tudo, como um esforço de conscientização, para que as pessoas consigam perceber a presença do preconceito em atos e situações que são toleradas como expressões de uma normalidade ou que são, aparentemente, neutras e puramente racionais, mas que são, essencialmente, preconceituosas e, como tais, discriminatórias e negadoras da igualdade de direitos, implicando a ofensa da dignidade de seres humanos. Começando do começo: afinal, o que é preconceito ? Para conhecer até que ponto e de que forma o preconceito está presente na mentalidade e nos atos dos juízes e dos policiais, é necessário, antes de tudo, estabelecer um conceito, esclarecer em que sentido será usada a palavra preconceito. Isso é importante para que fiquem claras as idéias mas também para que não haja o uso inadequado da palavra e, conseqüentemente, uma avaliação errada de situações, comportamentos e decisões. Do ponto de vista de sua origem, de sua etimologia, a palavra preconceito significa pré-julgamento, ou seja, ter idéia firmada sobre alguma coisa que ainda não se conhece, ter uma conclusão antes de qualquer análise imparcial e cuidadosa. Na prática, a palavra preconceito foi consagrada como um pré-julgamento negativo a respeito de uma pessoa ou de alguma coisa. Ter preconceito ou ser preconceituoso significa ter uma opinião negativa antes de conhecer o suficiente ou de obter os elementos necessários para um julgamento imparcial. Com base nesses elementos pode-se estabelecer a seguinte definição: “Preconceito é a opinião, geralmente negativa, que se tem a respeito de uma pessoa, de uma etnia, de um grupo social, de uma cultura ou manifestação cultural, de uma idéia, de uma teoria ou de alguma coisa, antes de conhecer os elementos que seriam necessários para um julgamento imparcial”. Como funciona o preconceito Um problema grave, que merece muita atenção, é a verificação dos mecanismos do preconceito. É muito raro que alguém reconheça que tem posição preconceituosa em relação a alguma coisa. Muitas vezes, o preconceituoso não percebe que age dessa forma, pois, como adverte o professor Goffredo Telles Júnior, o preconceito geralmente atua de forma sutil, sinuosa, levando uma pessoa a tomar como premissa, como ponto de partida, aquilo que deseja que seja a conclusão. De fato, existem casos em que o preconceito se afirma de modo direto e radical, não deixando qualquer dúvida quanto à sua presença. Foi esse o comportamento dos nazistas em relação aos judeus e é esse mesmo o comportamento de muita gente que expõe abertamente os seus preconceitos, às vezes até com orgulho e arrogância, como se estivesse afirmando uma superioridade que ninguém pode por em dúvida. Essa forma de atuação do preconceito, aberta e extremada, torna mais fácil a identificação da ação preconceituosa e, portanto, a resistência a ela. Aparentemente o indivíduo preconceituoso dessa espécie é mais nocivo, especialmente por ser irredutível, mas na realidade o maior risco está na atuação disfarçada, sinuosa, que se esconde atrás de uma fachada de neutralidade, objetividade e respeito igual por todos os seres humanos. O preconceituoso disfarçado tenta enganar e freqüentemente procura justificar seus atos com argumentos respeitáveis. Assim, por exemplo, há muitas pessoas no Brasil que detestam os que trabalham pelos direitos humanos e falam em justiça social. Isso porque pensam que essa pregação põe em risco o patrimônio dos que desfrutam de melhor condição econômica. Mas ninguém confessa que esse é o verdadeiro motivo e, provavelmente, muitos anestesiam suas consciências tomando como ponto de partida que os defensores dos direitos humanos são realmente pessoas perigosas e nocivas, que não respeitam os direitos dos outros e põem em risco a estabilidade social. Embora não haja qualquer elemento concreto e racional que dê apoio a essa conclusão, ela é estabelecida como ponto de partida, antes de qualquer informação ou análise. É o preconceito funcionando, fingindo que se trata de um pensamento neutro e invocando uma preocupação respeitável - a defesa da sociedade - para tentar justificar uma atitude essencialmente injusta. Na realidade, essas pessoas querem que os defensores dos direitos humanos sejam considerados indesejáveis e criam em sua mente um mecanismo que inverte o raciocínio lógico e passam a avaliar todos os fatos a partir desse desejo, que é sua premissa mas que apresentam como se fosse uma conclusão, tomada depois de uma reflexão isenta. Desse modo, se alguém disser que é injusto haver tantos miseráveis no Brasil, enquanto um pequeno grupo de pessoas acumula fortunas imensas, o preconceituoso não avalia essa afirmação para saber se ela é verdadeira ou falsa, se é justa ou injusta. Sua conclusão é sua premissa e ele dirá que, porque são inimigos da lei e da ordem, os defensores dos direitos humanos afirmam que há muitos miseráveis e poucos ricos no Brasil. Por isso, em defesa da sociedade, é justo combater, perseguir e marginalizar os defensores dos direitos humanos. Um ponto que merece especial atenção das pessoas de boa vontade é que, não raro, o preconceito age no interior da mente, insinuando-se sutilmente, procurando disfarçar sua verdadeira natureza, para que sua influência não seja percebida. Evidentemente, o fato de alguém não gostar de alguma coisa, não desejar a companhia de uma pessoa determinada, recusar uma idéia, uma teoria ou um padrão estético, nada disso é suficiente para que se afirme que aí existe preconceito. E assim como não se deve aceitar a atitude preconceituosa, desprovida de racionalidade e sem o suporte moral de uma avaliação cuidadosa, é indispensável, também, que se respeite a liberdade de escolha de cada um. Mas é preciso que as pessoas estejam atentas quanto ao risco da insinuação do preconceito ou da aceitação de uma atitude preconceituosa, para não serem vítimas desse “veneno do espírito”. Assim, por exemplo, não gostar de uma escola de pintura, de um gênero musical ou mesmo de um autor ou intérprete faz parte dos atributos da liberdade humana e é direito fundamental que deve ser respeitado. Mas quem exigir que as demais pessoas tenham as suas mesmas preferências ou idiossincrasias, afirmando sempre que tem razões objetivas para que todos o acompanhem reconhecendo certas manifestações como boas e outras como más, corre sério risco de estar dando acolhida ao preconceito. Do mesmo modo, avaliar as pessoas e seus atos com base, simplesmente, na condição social, na situação econômica, nas tradições de família, na profissão, na etnia ou nacionalidade, sem conhecer as circunstâncias concretas de cada um, é praticar o preconceito, ignorando que faz parte dos direitos fundamentais de todas as pessoas humanas o direito a um julgamento justo. Raízes do preconceito São vários os fatores que podem dar origem ao preconceito e muitas vezes este nasce da conjugação de diversos fatores. Entretanto, embora muitas vezes não seja fácil identificar a origem da atitude preconceituosa em determinada situação concreta, é possível apontar alguns dos principais geradores de preconceitos. A ignorância já foi reconhecida e apontada como a mais rica das sementeiras onde nascem preconceitos. Na realidade, não é preciso muito esforço para percebermos que o ignorante é campo fértil para o preconceito. Cada um de nós, se fizer uma avaliação cuidadosa de todas as atitudes de aprovação ou reprovação que já adotou, provavelmente acabará reconhecendo que numa ou noutra situação julgou e condenou alguma pessoa ou alguma coisa sem conhecer, deixando-se influenciar por julgamentos de outros. E quantas vezes, depois de termos tomado uma atitude preconceituosa nos damos consciência disso, especialmente quando passamos a conhecer fatos e circunstâncias que nos teriam feito julgar de modo diferente se fossem conhecidos antes. Mas a presa mais fácil do preconceito é o ignorante que não sabe e não quer saber, é aquele que está satisfeito com a sua ignorância. É muito fácil transmitir uma idéia preconceituosa para uma pessoa com essas características, porque ela está completamente indefesa e, no entanto, sem dar-se conta de seu deslize ético, ela profere julgamentos sem nunca procurar conhecer os dados daquilo que vai julgar e permanece indiferente às injustiças que comete. Um bom exemplo da atuação do preconceito enquanto filho da ignorância é a atitude do povo brasileiro, de modo geral, em relação aos índios. O povo brasileiro conhece muito pouco, praticamente nada, a respeito dos grupos indígenas que desde tempos imemoriais habitam o território brasileiro. E apesar de inúmeras denúncias de violências contra os índios, que são, provavelmente, a minoria mais indefesa e, sem dúvida alguma, das mais agredidas do Brasil, muitas pessoas aceitam com facilidade as mentiras e distorções que aparecem na grande imprensa. Os índios brasileiros são apresentados como latifundiários ricos, proprietários de automóveis e aviões e, não satisfeitos com os enormes privilégios de que desfrutam, sempre querendo mais, ameaçando e praticando violências contra brancos indefesos. E ainda é aceita a imagem do índio “selvagem”, feroz e sempre cometendo as maiores brutalidades, necessitado, portanto, de ser aculturado rapidamente para que se torne um “civilizado” e aprender, talvez, com os exemplos da civilização branca, européia e cristã que produziu o nazismo ou a carnificina da Bósnia. Assim o preconceito colabora para o genocídio dos índios. Outro auxiliar valioso do preconceito é o que se poderá denominar educação domesticadora, que consiste em educar alguém, que poderá ser uma criança ou um adulto, para aceitar sem reflexão ou crítica tudo aquilo que se impinge como verdade e que, muitas vezes, estimula a prática de atos manifestamente ofensivos aos direitos humanos fundamentais e à dignidade da pessoa humana. É comum que uma criança, desde a mais tenra idade, receba informações preconceituosas, como verdades prontas e acabadas, e seja estimulada a agir a partir de preconceitos. É o que se dá, por exemplo, com o preconceito racial, que através desse processo de educação domesticadora é reproduzido de geração em geração, influindo sobre o comportamento de grandes segmentos da sociedade ou mesmo de todo um povo. Vale a pena chamar a atenção para um desses preconceitos, que adquiriu extraordinária solidez graças à educação e se tornou praticamente universal. Refiro-me ao julgamento preconceituoso da capacidade da mulher, que atua às vezes com muita sutileza, como através do estereótipo da frágil e submissa “rainha do lar”. Nesse caso ocorre, ainda, uma grande ironia, pois a partir dessa imagem a mulher ficou, durante muito tempo, confinada ao lar, sem a possibilidade de exercício de uma profissão ou de aprimoramento intelectual. E a ela foi confiada a educação dos filhos e filhas, o que tem feito da mulher, de modo geral, uma poderosa aliada do preconceito, que ela tem aceitado e transmitido aos seus descendentes. E desse modo o preconceito ganha a consagração de “verdade antiga”, pois suas próprias vítimas colaboram muito para sua perpetuação. Precisamente nessa linha é que se podem identificar muitos preconceitos atuando na formação da mentalidade de agentes policiais. A par da carga preconceituosa que recebem na família e na convivência social recebem também o treinamento preconceituoso, a “educação domesticadora”, que vai influir decisivamente no modo de desempenho de suas atribuições. O preconceito se torna explícito, por exemplo, no recebimento de uma queixa, havendo diferenças se o queixoso é um homem ou uma mulher, um branco ou um negro, um rico ou um pobre. E o mesmo preconceito prossegue nas atividades de vigilância, investigação ou repressão. Essa atitude preconceituosa está presente no treinamento, assim como no modo de agir dos superiores hierárquicos e dos colegas mais antigos, o que, também neste caso, dá ao preconceito o rótulo de “verdade antiga” , de procedimento normal e por isso mesmo não sujeito a discussão ou crítica. Outro “veneno do espírito” que muito contribui para a fixação e a reprodução de preconceitos é a intolerância, que hoje é tão disseminada que tem quase a marca de característica de uma época. Diversas razões de ordem social, política e econômica fizeram com que as sociedades do final do século XX se tornassem predominantemente materialistas e competitivas, fazendo da convivência social um jogo impiedoso de ambições, que sepultou a solidariedade e estimulou o individualismo. Nesse quadro o preconceito tem passagem fácil, pois as relações entre as pessoas, como é bem evidente nas grandes metrópoles, está sempre muito próximo de um confronto de competidores ou mesmo inimigos, cujos vícios e defeitos devem ser ressaltados para que fiquem em posição inferior. Em conseqüência, tudo o que se possa pensar, dizer ou fazer de negativo em relação a alguém está justificado, sendo dispensável maior indagação. Esse comportamento intolerante, que acolhe facilmente o preconceito e, por sua vez, dá grande impulso à sua disseminação, é muito evidente na linha seguida por grande veículos de comunicação de massa, como jornais, revistas, televisão e rádio. Da maneira mais leviana são feitas afirmações preconceituosas, como se fosse a transmissão de verdades cuidadosamente apuradas e isentas de qualquer dúvida. Reputações pessoais adquiridas através de uma vida honrada são destruídas pela manipulação de preconceitos, sem a possibilidade de defesa, desde que se trate de alguém que, de alguma forma, se ponha contra as idéias e convicções dos proprietários ou controladores dos órgãos de comunicação. Pelo mesmo motivo, movimentos sociais essencialmente justos são atacados e desmoralizados mediante o enfoque através de uma ótica preconceituosa. E assim a intolerância, irmã gêmea da ambição desprovida de barreiras éticas, usa e fortalece o preconceito, contribuindo para a injustiça social. Outro fator muito presente no nascimento e na duração de preconceitos é o egoísmo, que também anda muito próximo da intolerância e se nutre dos mesmos vícios sociais há pouco assinalados. O egoísta não se preocupa com a justiça de suas atitudes, de suas palavras e de seu comportamento. É bom o que lhe convém e é mau o que lhe causa embaraço ou prejuízo. A partir daí ele passa a utilizar conclusões preconceituosas, especialmente em situações de competição, pois para o egoísta tudo e todos que prejudiquem seus interesses são maus e desprovidos de qualquer virtude, não sendo, por isso, merecedores de respeito. Essa avaliação, nitidamente preconceituosa, inspira a apresentação e utilização do preconceito como verdade e como julgamento justo. Uma forma sutil de ação preconceituosa mascarada de decisão amadurecida e justa é a condenação ou marginalização de uma pessoa sob pretexto de se tratar de alguém de nível inferior ou de reputação duvidosa. O egoísta já tem posição tomada contra essa pessoa e tem todas as conclusões contra ela, mesmo que nada conheça de negativo, pois o que lhe importa é a eliminação do concorrente ou obstáculo e ele faz isso montado no preconceito. Essa é mais uma forma de criação e utilização de preconceitos, contra a qual é preciso ter a atenção desperta. Finalmente, outro fator que atua na vida social como gerador de preconceitos é o medo. Esse fator está muito presente na violência que se comete, com muita freqüência, contra pessoas pobres, especialmente as de pele escura. O preconceituoso tem como ponto de partida que todo negro pobre é um criminoso em potencial e por esse motivo muitas vezes comete violências “preventivas”, para se defender de um risco imaginário. De fato, essa é uma das mais freqüentes manifestações de preconceito nas grandes cidades, mas ocorrem muitas outras igualmente geradas pelo medo. Assim, por exemplo, existem preconceitos sociais contra famílias pobres ou pessoas sem instrução superior, contra imigrantes nacionais ou internacionais. Pode-se, também, identificar facilmente a presença e ação do preconceito na definição de preferências políticas. Manipulando o medo, as correntes mais conservadoras, que controlam os órgãos de comunicação, difundiram o preconceito de que os partidos de esquerda são inimigos da propriedade privada, da família, da religião, do progresso e da paz social. E pessoas facilmente influenciáveis aceitam e muitas vezes sustentam com veemência esses argumentos de forma preconceituosa, sem jamais terem refletido sobre essas questões, sem terem procurado conhecer melhor o assunto. Essas pessoas acolhem o preconceito e contribuem para sua reprodução. Uma das mais evidentes demonstrações de que o medo é gerador de preconceitos é a posição de muitos brasileiros que se dizem contra os direitos humanos. Na verdade, houve e há intensa manipulação, para que essa atitude irracional pareça o fruto de madura e firme convicção. De fato, quando se começou a falar em direitos humanos no Brasil, na década de sessenta, o País estava sob ditadura militar, que se instalara sob pretexto de impedir que o comunismo fosse implantado no Brasil. Os defensores dos direitos humanos passaram a denunciar ilegalidades e mesmo atrocidades cometidas pelo governo ou com seu apoio, contra os adversários políticos. Para dificultar a defesa dos direitos humanos foi disseminada a afirmação de que isso era, na realidade, defesa do comunismo, contra a liberdade dos brasileiros. E muita gente aceitou essa afirmação, que não passava de preconceito, pois a observação dos fatos e uma reflexão imparcial levaria à rejeição dessa impostura. Mas o preconceito conquistou espaço. Mais tarde, superada a crise político-militar, os defensores dos direitos humanos, que tinham visto e apreendido muito sobre a prática da tortura na prisões, passaram a enfatizar a exigência de respeito aos direitos fundamentais de todas as pessoas, inclusive dos suspeitos ou acusados da prática de crimes. As elites econômicas, incluindo muitas fortunas feitas durante o regime militar e graças a ele, passaram a temer pela garantia de seu patrimônio e a considerar que todos os pobres e marginalizados, mesmo sem nunca terem delinqüido, deveriam ser mantidos sob rígido controle pelas forças militares, para impedir ameaças à propriedade. As violências e arbitrariedades cometidas com esse objetivo foram denunciadas pelos defensores dos direitos humanos, que passaram, então, a ser rotulados de defensores dos criminosos. Evidentemente, era, outra vez, uma afirmação mentirosa, que foi difundida e alimentada para que se construísse um preconceito. E outra vez houve muitos que, sem atentar para a realidade e sem refletir sobre o assunto, aceitaram a acusação de que a defesa de direitos humanos correspondia à defesa de crimes e passaram a agir em função dela, implantando-se dessa forma mais um preconceito. Por isso temos no Brasil o absurdo de pessoas humanas que se dizem contra os direitos humanos. Evidentemente, são contra os direitos humanos “dos outros” enquanto exigem a defesa dos seus. O preconceito é responsável por essa atitude ilógica e injusta. Efeitos sociais do preconceito Os seres humanos, por sua própria natureza, não conseguem viver sozinhos. Uns precisam dos outros, para satisfação de suas necessidades materiais, psicológicas e espirituais. Por esse motivo, a convivência é uma necessidade essencial da pessoa humana, sendo necessário, também, que as pessoas convivam em ambiente de respeito recíproco e solidariedade, para que a vida em comum seja um benefício e não uma guerra constante. A convivência humana é afetada de maneira profunda e negativa pelo preconceito, que estabelece diferenças graves entre as pessoas, negando direitos fundamentais e gerando conflitos. Uma breve enumeração de efeitos sociais do preconceito será suficiente para que se percebam claramente os prejuízos que dele decorrem. - o preconceito acarreta a perda do respeito pela pessoa humana. Na realidade, como a história tem mostrado muitas vezes, e mostrou com grande eloqüência no século XX, o preconceito faz com que certas pessoas sejam estigmatizadas, sofrendo humilhações e violências, que podem ser impostas com sutileza ou relativo disfarce ou então de maneira escancarada, mas que, em qualquer circunstância, são negações do respeito devido à dignidade de todos os seres humanos. - o preconceito restringe a liberdade de muitas pessoas, podendo afetar a decisão livre da maioria dos membros de um povo. Não são raras as situações em que um preconceito, sustentado pelo governo ou encampado por grupos sociais influentes, adquire a condição de valor social relevante ou sinal de modernidade e ajuste às tendências mais avançadas. A partir daí as pessoas são praticamente coagidas a aderirem ao preconceito e quando não aderem em sua consciência fingem a adesão em sua prática. Foi assim, por exemplo, quando os nazistas impuseram a idéia de que os judeus são essencialmente maus e perniciosos, foi assim, no Brasil, quando os governos militares estabeleceram que quem não concordasse com o governo não era patriota e deveria deixar o País, é assim, também, quando segmentos racistas da sociedade difundem a idéia da inferioridade da raça negra, verificando-se fenômeno da mesma natureza quando, através da televisão e da grande imprensa se divulga com insistência que o povo considera que a atual Constituição é péssima e que por causa dela o Brasil não tem um bom governo. Como quase ninguém tem a coragem de dizer que essas afirmações são generalizações de falsas verdades, estas ganham a aparência de julgamentos independentes e imparciais. A maldade inata dos judeus, a falta de patriotismo dos opositores, a inferioridade da raça negra, a rejeição da Constituição pelo povo, a excelência do cantor promovido pela imprensa, todas essas afirmações se transformam em preconceitos, que, justamente por terem essa natureza, deveriam ou devem ser aceitos sem reflexão ou discussão, anulando-se, portanto, a liberdade de julgamento das pessoas que passaram ou passam a agir como se tivessem feito seu próprio julgamento da idéia imposta. E as pessoas incapazes de resistir aos preconceitos deixam de ser livres. - o preconceito introduz a desigualdade entre os seres humanos, podendo atingir toda a sociedade ou os membros de um povo determinado. Em conseqüência dos preconceitos as pessoas diretamente ou indiretamente atingidas por eles são julgadas negativamente e colocadas em situação de inferioridade social. Desse modo deixa de prevalecer o reconhecimento moral da igualdade essencial de todos os seres humanos e fica prejudicado o direito à igualdade, que deveria ser assegurado a todas as pessoas. - o preconceito estabelece e alimenta a discriminação. As pessoas atingidas pelo preconceito recebem tratamento diferenciado, sofrendo proibições e marginalizações. Muitas vezes essas discriminações implicam humilhações ou sofrimentos morais de várias naturezas. Além disso, é sabido que por causa do preconceito muitas pessoas são impedidas de ter acesso a determinadas profissões ou têm extremamente dificultado seu acesso numa carreira. Assim, por exemplo, embora desde o ano de 1900 haja advogadas formadas no Brasil até hoje não houve mulheres desembargadoras na quase totalidade dos Tribunais de Justiça dos Estados brasileiros e jamais se cogitou da indicação de uma mulher para o Supremo Tribunal Federal. E ainda há antigas instituições universitárias que nunca admitiram o acesso de mulheres, como acontece, por exemplo, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde nunca houve mulher catedrática ou titular. - o preconceito promove a injustiça. Por todos os efeitos sociais já enumerados fica evidente que o preconceito é fonte de injustiças. Antes de tudo, pelo simples fato de ignorar o princípio fundamental da igualdade essencial de todas as pessoas, anulando a regra básica segundo a qual nenhuma pessoa vale mais do que a outra e, inversamente, nenhuma pessoa vale menos do que a outra. A par disso, onde atua o preconceito não importam os méritos, as aptidões, o valor moral e intelectual e outros dos atributos que, na vida social, influem para a diferença de comportamentos e de oportunidades. O preconceito cria superioridades e inferioridades que independem das circunstâncias concretas e de avaliação objetiva, oferecendo para alguns um caminho íngreme e pedregoso, onde outros encontram caminhos suaves e amplos, além de barrar totalmente a passagem para muitos. A presença do preconceito expulsa a justiça. O preconceito na área jurídica A expressão “área jurídica”, aqui utilizada, refere-se aos vários setores e às diversas atividades diretamente relacionados com a legislação, a doutrina jurídica, a jurisprudência e a outras manifestações que implicam responsabilidade pela aplicação da lei e garantia dos direitos. A amplitude dessa área é muito grande e se alguém quiser ampliar e aprofundar o exame do assunto sob essa ótica poderá encontrar muitos exemplos de interferência do preconceito, nas mais diversas partes do mundo. Nesta exposição o que interessa, sobretudo, é chamar a atenção para a ocorrência de atitudes preconceituosas em setores da organização jurídica brasileira. Um ponto positivo que deve ser assinalado é que a Constituição brasileira de 1988 estabeleceu várias normas que visam impedir a prática do preconceito. Assim, no artigo 1º, onde são enumerados os fundamentos da República, está expressamente referida “a dignidade da pessoa humana”, sendo, portanto, inconstitucionais os atos e os comportamentos que afrontem essa dignidade. No art. 5º está disposto que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”, o que significa que ninguém pode ter seus direitos diminuídos, por exemplo, em razão de sua origem étnica ou pelo fato de ser mulher ou homossexual, seguindo-se alguns incisos que reforçam essa afirmação de igualdade. O inciso I estabelece que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações”. Pelo inciso VIII “ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política”, o que também é importante para impedir discriminações preconceituosas. Finalmente, merecem especial referência dois incisos do artigo 5º que dispõem sobre a punição de quem agir contra o direito à igualdade jurídica de uma pessoa, praticando discriminação, o que inclui, obviamente, a restrição a direitos baseada em preconceito. Segundo o inciso XLI, “a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”. Isso é complementado pelo inciso XLII, onde ficou estabelecido que “a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível”. Esse conjunto de normas permite afirmar que, em termos constitucionais, não há lugar para o preconceito na elaboração e aplicação das leis. Entretanto, isso não quer dizer que tenham sido eliminados remanescentes preconceituosos que ainda podem ser encontrados em muitas leis brasileiras, como também não garante que os aplicadores da lei agirão livres de preconceitos. Apesar dessas ressalvas, não há como negar que a Constituição adotou o melhor caminho, dando instrumentos para quem for vítima de atos preconceituosos ou quiser participar das lutas sociais contra o preconceito. É preciso que, à medida em que forem identificados, os remanescentes de inspiração preconceituosa que ainda existem na legislação sejam eliminados pela ação do legislador. Mas também é necessário um trabalho constante de conscientização, para que a jurisprudência não seja viciada pelo preconceito e para que o Ministério Público e a Polícia, esta sobretudo, não se deixem levar por preconceitos e atuem firmemente contra eles. Vejamos alguns casos exemplares, em que o preconceito está presente, sem que muitas pessoas o percebam, ou então situações em que foi óbvia a motivação preconceituosa em atos de agentes públicos encarregados de aplicar as leis. Começando pela legislação, verifica-se que em muitos pontos importantes, como no estabelecimento da capacidade jurídica das pessoas ou na definição de crimes e contravenções, há componentes preconceituosos. O Código Civil Brasileiro, em vigor desde 1917, dispõe que algumas pessoas são plenamente capazes e outras, no extremo oposto, não têm capacidade para praticar qualquer ato jurídico. Entre esses dois extremos estão os relativamente capazes, que sofrem restrições quanto a certos atos. Um dos relativamente capazes são os “pródigos”, que no antigo direito português são definidos como aqueles que gastam desordenadamente seu dinheiro e destroem seu patrimônio. É interessante saber que o autor do projeto do Código Civil, Clóvis Beviláqua, era contra essa restrição, que foi inserida durante a discussão do projeto na Câmara de Deputados. Explica Clóvis que a restrição aos direitos do pródigo vem de uma época em que os bens da família eram uma espécie de compropriedade e os herdeiros de uma pessoa eram considerados seus sócios, antes mesmo que ela morresse. Na realidade, existe aí uma clara influência dos valores burgueses, segundo os quais o patrimônio era sagrado, sendo inaceitável que alguém gaste desordenadamente o seu próprio dinheiro. Para se ter idéia do absurdo dessa restrição, basta lembrar que o avarento, aquele que passa fome, vive mal acomodado e comporta-se de maneira ridícula, preocupado sempre em acumular mais dinheiro, esse é considerado normal e não sofre qualquer restrição de direitos. Agentes legais do preconceito A tragédia que foi o massacre de pobres trabalhadores rurais, os sem-terra, em Eldorado de Carajás, no Estado do Pará, mostra de maneira eloqüente a brutalidade e imoralidade a que pode levar uma ação inspirada no preconceito. Os ditos proprietários das terras em questão nem mesmo eram proprietários, pois se tratava de terras devolutas, pertencentes ao patrimônio do Estado, que alguns ricos e poderosos donos de terras tomaram para si. Mas os sem-terra são muito pobres e se movimentam à procura de um lugar para fixar suas famílias e trabalhar. Além da corrupção econômica presente naquele massacre, é fato que na mentalidade daquela região os sem-terra, exatamente por esta condição, são considerados bandidos perigosos. Daí a facilidade para se aliarem latifundiários, governantes, tribunais e Polícia, para a matança dos que nem mesmo são vistos como seres humanos, pessoas e famílias para quem não vigora o artigo 1o. da Constituição, que declara a dignidade humana como um dos fundamentos da República. O preconceito falou e continua falando muito alto naquela região, sendo praticamente certa a impunidade dos assassinos. Quero destacar, agora, um exemplo colhido na doutrina jurídica, para que se veja que o preconceito pode estar presente de maneira disfarçada, podendo-se esconder-se mesmo atrás de uma fachada muito nobre. Houve nesta Faculdade um excelente professor e respeitado criminalista, Basileu Garcia, homem afável e de trato muito agradável, que sempre condenou as violências e injustiças. Em seu livro intitulado Instituições de Direito Penal (São Paulo, ed. Max Limonad, 1956), são feitos comentários a respeito da situação do índio na legislação penal brasileira. Defendendo um tratamento mais favorável para o índio, tem-se a impressão de que a posição do professor Basileu Garcia tem inspiração humanista, pois aparentemente ele reconhece que o índio é parte frágil dentro da sociedade brasileira, sobretudo pelas diferenças culturais. Entretanto, a justificativa apresentada por ele para justificar a benevolência é terrível, baseando-se num dado falso tornado “verdade” pela repetição preconceituosa. Eis o seu comentário: “Diz a Exposição de motivos que o artigo 22 tem também em vista, além dos enfermos mentais, os indivíduos de desenvolvimento mental retardado ou incompleto, que não sejam propriamente alienados. Assim, alcança os silvícolas. O indígena pode cometer crime em conseqüência de seu incompleto ou retardado desenvolvimento mental, embora não seja um doente. Os delitos que venha a praticar explicam-se, freqüentemente, pelo déficit de seu desenvolvimento mental, reduzido como se acha ele à incapacidade de entender o caráter criminoso do acontecimento ou de determinar-se de conformidade com o entendimento acaso nebulosamente existente” (vol. I, tomo I, pág. 330). Eis aí um retrato de corpo inteiro do preconceito, oculto sob o manto da generosidade e do humanismo. O índio é considerado deficiente mental porque tem uma cultura diferente, sendo assim ofendido em sua dignidade de pessoa humana, com base num preconceito que ainda influi muito no comportamento de juízes, advogados, policiais e outros operadores do direito. Outro fato, ocorrido há alguns anos em São Paulo, mostra como a autoridade policial fez uma adaptação da lei através de uma interpretação preconceituosa. Uma advogada negra foi visitar uma colega, no prédio em que esta residia. Alí chegando recebeu do porteiro a informação de que, por ser negra, deveria utilizar o elevador de serviço. Sentindo-se profundamente injustiçada e humilhada, essa advogada foi à Delegacia de Polícia da região, onde relatou o fato e pediu abertura de inquérito criminal, com base na chamada Lei Afonso Arinos, que na época previa a punição de quem agisse por preconceito racial. Ouvidas as partes envolvidas, ficou plenamente comprovada a prática de preconceito, inclusive pela confissão do porteiro. O delegado escreveu, então, seu relatório final, concluindo pelo arquivamento do inquérito, porque, segundo ele, a lei proibia a discriminação em locais públicos e aquele edifício era residencial, caracterizando-se, portanto, como local privado. O fato é que tanto moradores do edifício quanto o porteiro eram favoráveis à discriminação e alguém, possivelmente um advogado, sugeriu o argumento que, aparentemente, descaracterizava a prática do preconceito. Outra situação muito expressiva, que se repete diariamente como fato normal, é ressaltada com muita propriedade pelo professor Paulo Sérgio Pinheiro, criador e diretor do Núcleo de Estudos da Violência, da Universidade de São Paulo. Usando um termo da moda, importado dos Estados Unidos para uma ridícula simulação de superioridade social, ele destaca a existência de “acusados VIP” (de very important person, ou pessoa muito importante), que recebem da Polícia um tratamento VIP e, quando se chega a isso, o que é raro, são julgados por uma justiça VIP. Quando essas pessoas se envolvem, de alguma forma, numa ocorrência que pode configurar um crime, recebem dos policiais um tratamento excepcional, como relata Paulo Sérgio Pinheiro: “os delegados e as autoridades policiais asseguram aos acusados VIPs imediata comunicação com seus advogados e amigos, para que estes possam usar livremente os esquemas de influência. Não importa o crime cometido, a prisão preventiva é geralmente evitada”. E continua, acrescentando algumas informações muito expressivas: “as clínicas para esgotamento nervoso são uma opção mais chique. Os homicídios são tratados com generosa bonomia”. E conclui com ironia : “as vítimas, para a justiça VIP, são sempre culpadas” (depoimento transcrito no livro Violência, Povo e Polícia, de Maria Victoria Benevides, São Paulo, Brasiliense, 1983, pág. 47). Nesses casos, a categoria social das pessoas é fator decisivo, pois existe a idéia generalizada, evidentemente preconceituosa, de que os membros das camadas sociais mais elevadas não podem receber o mesmo tratamento que se dá a um pobre. Algumas décadas atrás, houve um governador do Estado de São Paulo que decidiu desencadear intensa e rigorosa ação policial, contra os hotéis chamados “de curta permanência”, utilizados para encontros sexuais. O que se viu foi a prisão de muitos porteiros e gerentes desses hotéis, ficando resguardada a pessoa do proprietário, que era quem realmente lucrava com a exploração daquele comércio. Para os policiais, e mesmo para a generalidade dos governantes e do povo, o dono do hotel era proprietário e empresário, não podendo ser tratado como delinqüente. A mesma coisa está ocorrendo agora no Brasil, com farta publicação de informação que não deixa dúvida de que muitos dos grande banqueiros brasileiros são agiotas e estelionatários, além de praticarem amplamente a sonegação de impostos e de enviarem, irregularmente, muito dinheiro para fora do Brasil. Mas todos esses personagens, alguns bem conhecidos do povo e da polícia, são “respeitáveis ladrões" e por isso quem corre o risco de ir para a cadeia é algum gerente ou contador, algum ingênuo colega do porteiro ou gerente do hotel de curta permanência. Vem muito a propósito o registro de um depoimento colhido pela Professora Maria Victória Benevides no Rio de Janeiro e relatado em sua obra anteriormente citada. Vejamos o seu relato: “numa batida na Cidade de Deus, um bairro do Rio de Janeiro, a polícia prendeu, como suspeitos, 140 pessoas que não conseguiram provar, naquele momento, que trabalhavam. A polícia não encontrou bandidos e todos afinal foram liberados. Mas o delegado deu uma entrevista à imprensa dizendo-se muito satisfeito: “pelo menos a gente fotografa e ficha eles”. Você fotografa e ficha, porque quando ele precisar de algum culpado está fácil, ele vai buscar. Aí diz o delegado: “é claro que “eles” ficam marcados definitivamente, na próxima batida, que também pode ser absolutamente arbitrária, eles já serão considerados pessoas com antecedentes, porque eles já tiveram numa batida anterior”. Enquanto não descobre, a polícia fabrica suspeitos e impunemente fornece aos jornais os nomes dos acusados, porteiros de prédios, bombeiros hidráulicos, pedreiros, empregadas domésticas. No dia seguinte a polícia se desdiz, admite estar errada, quando suas vítimas, em geral humildes trabalhadores, estão estigmatizados” (ob. cit., págs. 50/51). Um ponto que não pode deixar de ser ressaltado é o preconceito de policiais, como também de juízes, em relação às camadas mais pobres da população. Isso ficou muito evidente no já mencionado episódio, vergonhoso e trágico, do massacre dos sem-terra em Eldorado de Carajás. Os policiais não tiveram qualquer dificuldade para aceitar a incumbência de matar, como ficou bem comprovado pelas circunstâncias em que ocorreram as mortes, porque as vítimas eram da camada inferior da sociedade e não tinham reconhecida sua dignidade de seres humanos. A mesma coisa poderá ser dita de outro episódio, envolvendo também pobres trabalhadores rurais que lutam por um pedaço de terra onde trabalhar e sobreviver. Em São Paulo, na região denominada Pontal do Paranapanema, a polícia, agindo como força particular de latifundiários e grileiros, saiu no encalço de um dos líderes dos sem-terra, José Rainha, cuja prisão, de legalidade mais do que duvidosa, tinha sido decretada por um juiz. E para obrigar José Rainha a aparecer, a polícia prendeu arbitrariamente sua mulher, Diolinda Alves de Souza, acusando-a da prática do crime de formação de quadrilha. Ninguém razoavelmente informado e inteligente dirá que os sem-terra têm por objetivo a prática de crimes, que é uma característica essencial de uma quadrilha. E, no entanto, as arbitrariedade foram cometidas sem nenhuma conseqüência para os arbitrários, porque policiais, juízes e grande parte da população têm preconceito em relação aos sem -terra, classificados como ameaças à ordem social. E o preconceito é tão forte que essas pessoas não percebem que, antes de tudo, os sem-terra são pessoas humanas, cuja dignidade é um dos fundamentos da República. Quero referir em seguida um caso registrado na jurisprudência paulista, mencionado na obra A figura/personagem- mulher em processos de família, de Sílvia Pimentel, Beatriz di Giorgi e Flavia Piovesan ( Porto Alegre, Sérgio Antonio Fabris Ed., 1993). É o caso de uma mulher mendiga, que vivia catando no lixo alguma coisa que pudesse vender, sofrendo, como se pode bem imaginar, todas as agressões inerentes à sua condição de miserável. Essa mulher tinha sido casada e o marido, embora não sendo um homem rico, desfrutava de situação econômica bem superior à dela. Alguém teve conhecimento do caso e encaminhou a pobre mulher a um serviço de Assistência Judiciária, que moveu ação de alimentos para que o marido lhe destinasse alguma coisa, tirando-a daquela vida de extrema degradação. O juiz encarregado de decidir o caso, ouviu as partes e testemunhas e produziu esta impressionantes “pérola” de preconceito: “é verdade que a agravante vive praticamente na miséria, vendendo coisas que encontra no depósito de lixo, onde se encontra com Severino, seu amante”. Não é preciso fazer muito esforço para imaginar o Severino, tão miserável quanto a mulher, dois farrapos humanos escorando-se mutuamente, tentando sobreviver. E o juiz, do alto de seus preconceitos, só viu aí o pecado, a transgressão, o casal de amantes. E o arremate do juiz não deixa dúvidas, pois mesmo reconhecendo que ambos viviam no lixo, sem um mínimo de resguardo à sua dignidade e mal conseguindo sobreviver, concluiu com ares de solene moralismo: “mas nem por isso, nem só porque ela vive na miséria, o réu é obrigado a prestar-lhe alimentos, os quais são devidos quando a mulher é inocente e pobre; se é pobre, essa autora não é inocente, e seu procedimento irregular é suficiente para obstar-lhe a proteção” (ob. cit., pág. 60). Não há dúvida de que, nesse caso, os preconceitos morais do juiz produziram maior imoralidade do que o relacionamento da pobre mulher com seu único arrimo Severino, pois com aquela decisão a mulher foi condenada a viver em degradação, incapaz de conseguir que reconhecessem sua condição de pessoa humana. A reação que vem de dentro: justiça sem preconceitos Todos esses casos, marcados pela presença do preconceito, podem gerar a convicção de que não há o que fazer, pois aparentemente o preconceito está de tal modo arraigado que será praticamente impossível sua extirpação. Felizmente não é assim, pois embora com dificuldades, precisando vencer barreiras antigas e consolidadas, existe uma reação que se faz presente na polícia, no Ministério Público e na magistratura, apontando para novos caminhos, compatíveis com as exigências da dignidade humana e da justiça. É importante denunciar a presença do preconceito, pois muitas vezes ele atua com tanta sutileza que nem sequer é percebido, o que facilita sua permanência. Outras vezes, o preconceito age sem qualquer disfarce, pois contando com ampla aceitação passa como se fosse a normalidade desejada pelo povo. É preciso, então, demonstrar a imoralidade essencial dos preconceitos, além de seu caráter ilegal e injusto. Uma forma eficiente de combater o preconceito é a divulgação de atitudes firmes e corajosas, que produzem bons argumentos e, além disso, comprovam que é possível obter bons resultados práticos. Nessa linha, merece ser conhecido um voto magistral do desembargador Cézar Peluso, membro do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e um dos fundadores da Associação Juízes para a Democracia. Eis suas palavras: “Quando os operadores do direito, a pretexto de interpretar regras jurídicas, cujas inspirações políticas são de outra ordem, se aventuram a incursões no terreno da moralidade social ou individual, correm sempre o risco de assumir, de maneira inconsciente e inadvertida, posturas ideológicas e preconceitos culturais, que, próprios de sua época, por definição, não resistem à crítica nem ao desenvolvimento histórico da sociedade. Tal é a postura que, sem grande acuidade intelectual, é possível desnudar nos fundamentos mais genéricos e menos jurídicos daquela orientação que, respondendo a superstições do tempo, discrimina a mulher separada, com negar-lhe sob argumentos de natureza ético-sexual, direito cujas raízes não estão nesse campo, mas no da solidariedade ético-social”. E mais adiante, considerando situação concreta em que pais negam alimentos a seus filhos, pondera o desembargador Peluso: “O direito a alimentos - nisto escusa insistir- não foi nem é concebido como recompensa normativa a determinadas virtudes morais, senão que atende a uma exigência primária de solidariedade humana, no projeto histórico de convivência ética...” E arremata lembrando uma circunstância concreta: “A um filho não se recusam alimentos sob pretexto de ser libertino ou devasso, marginal ou samaritano. Resgatar a vida é condição prévia e absoluta de qualquer outra elucubração ética ou jurídica” (ob. cit., págs. 91/92). Na realidade, existem situações em que, aparentemente, valores éticos se excluem reciprocamente e isso é usado como pretexto pelos que pretendem ocultar seus preconceitos sob a capa de aparente moralismo. Em conclusão, o preconceito não tem justificativa moral nem jurídica e é essencialmente mau e pernicioso. O preconceito estabelece a desigualdade entre as pessoas, sacrifica valores fundamentais, justifica agressões à dignidade da pessoa humana e, por isso tudo, é expressão de uma perversão moral que deve ser, incansavelmente, denunciada e combatida. O preconceito agride a igualdade essencial de todos os seres humanos e por isso é necessário criar barreiras às suas investidas. Mas de uma coisa devemos ter consciência: não basta fazer novas leis para eliminar a presença e a interferência maléfica do preconceito. Pode ser útil colocar nas leis a proibição das ações preconceituosas e criar penalidades para quem agride a dignidade humana levado por preconceito, mas, acima de tudo, é preciso que no interior de nossas consciências tenhamos um firme compromisso com a defesa da dignidade humana e da igualdade essencial de todos os seres humanos. Um professor experiente, direto, claro. Júlio : Como já se tornou tradição entre nós, logo após a palestra são encaminhadas perguntas aos conferencistas. Enquanto as estudantes do Centro Acadêmico Onze de Agosto começam a recolher essas perguntas, aproveito o tempo e faço uma primeira ao Professor Dalmo Dallari. Permanentemente, ele participa de cursos de educação e direitos humanos. O senhor acha possível manter no Brasil esses programas? — Eu acho que não só é possível como também indispensável que haja sempre reflexões a respeito de direitos humanos. Há uma discussão intensa, internacional mesmo, a respeito da conveniência de cursos de direitos humanos, porque tem gente com medo de que isso burocratize a idéia. Mas na verdade o curso de direitos humanos deve ser sempre uma reflexão. Não é a transmissão de esquemas prontos e acabados, de conceitos rígidos, mas é uma transmissão de idéias e conceitos como provocação à reflexão. Então eu acho que isso é possível, sim, e até vou mais adiante, é indispensável que esses cursos sejam abertos a absolutamente todos, que eles não fiquem encerrados dentro de um currículo universitário ou escolar. Que eles tenham a maior amplitude e sejam oferecidos a um maior número de pessoas possível, para que muita gente assuma seus compromissos com os direitos humanos. P: As primeiras perguntas do público... Como querer democracia nos meios jurídicos se o negro continua alijado, impedido de frequentar esses círculos formadores, que são as melhores escolas? — O negro continua ainda a ser vítima da maneira pela qual ele foi inserido na sociedade brasileira. Entretanto eu acho que é possível fazer um trabalho no sentido de reduzir as discriminações, implantando o reconhecimento da dignidade essencial do negro, como da dignidade essencial de todas as demais pessoas. Há uma conjugação muito estreita entre o preconceito racial e a condição econômica. Isto realmente existe. Então se nós dermos ao negro a possibilidade de obter educação básica, de ter acesso às profissões, eu acredito que em algumas décadas a gente poderá atenuar muito a questão do preconceito racial no Brasil. P: O preconceito é inerente à natureza humana, decorrente de um processo inevitável na vida em sociedade? — Eu estou convencido de que o preconceito é adquirido através de alguma forma de educação. Ninguém nasce com preconceito. O preconceito vai aparecer na pessoa através do processo de educação. O processo de educação não é necessariamente a educação que se recebe na escola. Aliás eu acho que o preconceito chega antes disso, o preconceito chega no lar, chega em casa, chega na família, ele é incutido dessa maneira. Por isso é absolutamente necessário que nós vivamos conscientemente, muito alertas para não fazermos isso, não alimentarmos esta prática. Aquele pormenor, aquilo que acontece em casa com a criança pequena muitas vezes vai ser um conceito consolidado. Então de qualquer maneira o ponto essencial a meu ver é que o preconceito não nasce com a pessoa, ele é adquirido pela pessoa. P: Quando se fala em preconceito, imediatamente nos remetemos aos grupos fechados similares à Maçonaria, à TFP e à Opus Dei. Eu gostaria de ouvir seu comentário à respeito da atuação dessas organizações no judiciário brasileiro. — Essas organizações têm origens diversas e algumas delas na sua raiz, no seu começo, tiveram a intenção de dar proteção às pessoas. Então, por exemplo, imigrantes que eram hostilizados tinham necessidade de apoio recíproco e acabaram formando a sua confraria. Isto depois de certo tempo acaba degenerando e é muito comum que degenere. Na verdade há uma semelhança entre todas essas organizações. Mas é neste ponto que elas acabam sendo discriminatórias, elas acabam concluindo que só os membros da confraria são bons ou que os membros da confraria são os melhores e então nesse ponto são indesejáveis. P: Que o preconceito é danoso é inegável, mas como evitá-lo? — Primeira coisa, através da própria consciência, através da permanente auto-fiscalização. É preciso estarmos sempre muito atentos quando formos proferir julgamentos, julgamentos sobre uma pessoa, sobre uma idéia, sobre uma crença. Mas além disto acredito muito na educação libertadora de Paulo Freire, a educação aberta, a crítica constante, com respeito pela pessoa, pela dignidade da pessoa, pela liberdade da pessoa. Acho que assim como o preconceito é incutido pela educação, ele pode ser eliminado pela educação. P: Como você encara a idéia de adoção de uma política de cotas para Universidades por um período determinado, evidentemente para absorver também negros? — Essa é uma questão que frequentemente aparece e já apareceu aqui na USP. Fui contra e continuo sendo contra. Eu acho que é uma forma de discriminação, que acaba sendo muito mais negativa do que positiva. Então se eu estabelecer, por exemplo, uma cota para negros, já fica estabelecido que eu acho os negros inferiores. Eu acho que eles não são capazes de concorrer, por isso eu dou uma cota para eles. Isto não é bom para os negros de maneira alguma. Quer dizer, o que eu tenho que fazer é dar oportunidades para que todos tenham educação básica da mesma qualidade e possam competir na mesma condição de igualdade. Mas não criar esse tipo de favorecimento, que é essencialmente discriminatório. Aliás ainda há cerca de um mês, mais ou menos, eu estive nos Estados Unidos, na Universidade do Texas, e aí um professor me deu a cópia, que eu trouxe comigo, de uma petição que deu entrada no Judiciário, em que um grupo branco está acusando a Universidade do Texas de fazer discriminação, exatamente porque ela criou as cotas. Diz "olha aí, está protegendo os negros, está favorecendo demais os negros, eles não ficam sujeitos ao mesmo rigor de ingresso que se aplica aos brancos". E a Universidade está vivendo uma situação complicada. Primeiro ela é acusada de não dar espaço para os negros. Aí ela resolveu e criou as cotas, agora ela está sendo acusada de criar as cotas, então está discriminando... Na verdade é um decisão discriminatória. P: O senhor associou a questão do preconceito com a questão da diferença, do convívio com diferentes valores e diferentes culturas. No entanto, o direito por sua natureza procura, à luz de certos conceitos básicos, enfocar e tratar a todos sobre princípios prévios. Ele é expressão de valores de uma certa cultura. Sendo assim, como podem a ordem e a coação jurídica se harmonizarem com as diversidades de identidades e práticas culturais num momento em que tais questões se colocam como nunca, seja nas relações internacionais, seja no âmbito de uma mesma sociedade, e a todos resguardando as diferenças de identidade e cultura? — Acho que uma ordem jurídica democrática é plural, ela deve deixar espaços para as diferenças. Existem certos valores, certos direitos que são de todos os seres humanos. Eu acredito na existência de direitos universais. Resguardados esses direitos é indispensável que se resguarde também o direito à diferença. Aliás, é interessante, existe uma declaração contra o preconceito, aprovada pela UNESCO e que acentua exatamente isso, o direito à diferença. Quer dizer, eu não posso exigir que todos sejam iguais, não posso valorizar mais um do que o outro. Eu resguardo os direitos essenciais de todos e o respeito cultural, a diversidade de crenças, e se isto realmente houver, se houver este respeito, a convivência é perfeitamente possível, e o direito deve resguardar essa diferença, deve resguardar o direito à diferença. É uma exigência de uma ordem jurídica democrática. P: O programa "Fantástico", em uma matéria sobre Vigário Geral, mostrou uma cena onde a Polícia Militar aborda um homem e pede seus documentos, depois um dos policiais dá um tapa no rosto desse cidadão e joga seus documentos fora, no lixo. No momento seguinte a matéria mostra uma quantidade de carteiras de trabalho e carteiras de identidade localizadas nos lixões do Rio de Janeiro. Eu pergunto: há alguma possibilidade de juridicamente fazer alguma coisa para que a Policia Militar possa ser responsabilizada? Como poderemos barrar todas essas arbitrariedades? — Aí está implicado o problema de educação, o problema de preparo, mas também um problema de governo. Aliás com toda a justiça, eu queria lembrar que depois que o Dr. Belisário assumiu a Secretaria da Justiça não houve mais execuções violentas contra invasões de terra. Imagino como é difícil para ele segurar o batalhão de choque, o policial que, entre outras coisas, pressionado pelos fazendeiros e muitas vezes apoiado pelo juiz, quer ir até lá tirar à força os ocupantes. Eu mesmo estou trabalhando numa situação que é extremamente grave, injusta, que envolve uma decisão judicial e que com muita probabilidade pode degenerar numa tragédia, numa matança. Isso está acontecendo como os índios guaranis do Mato Grosso do Sul. Esses índios tiveram as suas terras invadidas há muito tempo, foram jogados de cá para lá, e como acontece em muitas partes do Brasil, acontece no Pará, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul. Não é raro que o invasor de terras consiga um documento dizendo que ele é proprietário. São conhecidas inclusive técnicas de envelhecimento de documentos. Você faz o documento e depois com tratamento com sumo do limão, pondo sob o sol, daí a pouco se tem um documento de cem anos. Se fabrica um documento de "cem anos" e aparece o fazendeiro dizendo "olha aqui, eu ocupo essa terra há cem anos, como é que esses índios estão aí?" E então um desses entrou com uma ação contra os índios para que os índios sejam expulsos da terra. A decisão a meu ver é um absurdo. Aliás eu queria entre parênteses dizer isto, eu não aceito mais e acho que vocês também não devem aceitar essa idéia de que decisão de juiz não se critica. Critica sim, precisa criticar. Tem juiz fazendo coisas absurdas, injustas, desumanas, que a gente não pode aceitar, e este é um dos casos. Então o fazendeiro entra dizendo "olha, eu que sou o proprietário, tira esses índios daí", e o juiz concede uma liminar para se tirar os índios, enquanto se verifica quem é que tem direito. Só que se acontece isso, se eu tirar uma pessoa, um branco de uma área, de uma casa, essa pessoa se ajeita no vizinho, na outra cidade, no outro bairro, mas se eu tiro o índio da sua terra, ele não sobrevive, quer dizer, o índio não quer a terra como patrimônio econômico, é para sobrevivência, é para se alimentar, para morar. É o que está acontecendo. Eu já recebi hoje esta notícia, nós já tivemos uma situação parecida, é uma ameaça de um suicídio coletivo, de um grupo tribal, e é exatamente na área onde já houve muitos suicídios. E graças a esta contribuição de Sua Excelência, o magistrado, nós estamos na boca de situações extremamente delicadas. É preciso educar os juizes, como é preciso educar a polícia. Mas é preciso também que haja governantes responsáveis, que não cometam abusos, que não façam o jogo dos que cometem abuso. Não acredito na possibilidade de que do dia para a noite mude isso tudo, mas volto a dizer, o que está acontecendo em São Paulo é uma demonstração de que muita coisa pode ser feita a prazo curto. P: O senhor acha que por se constituir em elites, os magistrados em sua maioria abusam de sentenças preconceituosas, mantendo dessa maneira o status quo? — É, infelizmente ainda há muito preconceito na magistratura, talvez até a gente devesse dizer (eu sou professor e há muitos anos estou na Faculdade de Direito), as faculdades de direito são muito responsáveis. São muito responsáveis porque, por exemplo, nos currículos jurídicos não há Ética, quer dizer, não se ensina Ética, não há uma disciplina de Ética. Em algumas escolas, especialmente da Universidade Católica, existe uma disciplina de Ética. Mas em mais de noventa por cento das faculdades não existe. Além do mais, a formação que se dá é uma formação positivista, puramente formalista e isto acaba formando um juiz absolutamente insensível aos aspectos humanos. Mas é preciso então discutir, denunciar isto. Um dado muito positivo é que dentro da magistratura já surgiu um grupo de juizes que está trabalhando por esta mudança. Hoje já há uma entidade chamada Juizes para a Democracia. É exatamente isto, juizes que exigem ética, que exigem a consideração dos valores sociais, e até se pode dizer, juizes que exigem que a sentença seja justa. Para alguém isto pode parecer surpreendente, mas não é normal que o juiz se preocupe com a justiça? Mas, infelizmente, não. Nós temos uma quantidade enorme de juizes que se preocupam com a legalidade e não com a justiça. 6 - Aquisição de Conhecimento SENSO COMUM E TRANSPARÊNCIA Marilena Chaui Professora Universitária e autora de livros de filosofia Sartre disse, certa vez, que não conhecia coisa mais triste do que os provérbios. De fato, os provérbios constituem a chamada cultura popular ou o senso-comum de uma sociedade, por meio dos quais ela exprime, de maneira extremamente sintética, suas opiniões sobre a vida, o mundo, os seres humanos, as divindades, o bem e o mal, o justo e o injusto, a verdade e a ilusão. E, essas opiniões são pessimistas, ou melhor, moralistas: . condenam a ambição Quem tudo quer, tudo perde Mais vale um pássaro na mão do que dois voando . condenam o individualismo Uma andorinha não faz verão A união faz a força . desconfiam dos outros Dize-me com quem andas e te direi quem és . elogiam a paciência Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura Devagar se vai ao longe . condenam a imprevidência Quem semeia ventos colhe tempestades Em casa de ferreiro, espeto de pau . elogiam a moderação Nem tanto ao mar nem tanto à terra . desconfiam das aparências Nem tudo o que reluz é ouro . desconfiam da linguagem Quem conta um conto dez conta Falar é prata, calar é ouro Em boca fechada não entra mosca . condenam a preguiça Deus ajuda a quem cedo madruga Ajuda-te e o céu te ajudará Os provérbios exprimem o senso-comum social e são preconceitos cristalizados sob a forma de prudência ou de virtude moral. O que é o senso-comum? Um conjunto de crenças, valores, saberes e atitudes que julgamos naturais porque, transmitidos de geração a geração, sem questionamentos, nos dizem como são e o que valem as coisas e os seres humanos, como devemos avaliá-los e julgá-los. O senso-comum é a realidade como transparência: nele tudo está explicado e em seu devido lugar. As características mais marcantes do senso-comum podem ser resumidas às seguintes: 1. subjetivismo: exprime sentimentos e opiniões individuais e de grupos, variando com as condições em que vivem, mas tomadas como se fossem universais, isto é, verdadeiras em todos os tempos e lugares 2. ajuizador: coisas, pessoas, situações são imediatamente avaliados e julgados em conformidade com o modo que cada um as percebe ou como o grupo ou a classe social as percebe 3. heterogêneo: diferencia coisas, fatos e pessoas por percebê-los como diversos entre si (por exemplo, julgamos diferente um corpo que cai e uma pluma que flutua no ar), mas sem indagar se são realmente diferentes ou se é apenas a aparência que os diferencia 4. individualizador: isto é, cada coisa, fato ou pessoa aparece como algo isolado e autônomo, como se não tivesse história, passado, um contexto no qual faz sentido; por isso, cada juízo do senso-comum é sempre um absoluto: “é isto”, “é assim” 5. generalizador: como conseqüência da maneira como separa e junta coisas, fatos, pessoas, tende a reunir numa só idéia ou numa única opinião coisas, pessoas e fatos julgados semelhantes, sem indagar se a semelhança não seria aparente. Assim, diferencia sem indagar sobre a diferença e reúne sem indagar sobre a semelhança 6. causalista: para organizar o que separou ou o que reuniu, tende a estabelecer relações de causa e efeito entre as coisas, as pessoas ou os fatos - aqui, os provérbios são a melhor expressão, pois neles aparece justamente a noção de causalidade: onde há fumaça há fogo, quem tudo quer tudo perde, dize-me com quem andas e te direi quem és, quem sai na chuva é para se molhar. O senso-comum é a crença jamais questionada de que a realidade existe tal como é: as cores, os sons, os sabores existem tais como os percebemos, o tempo passa e pode ser medido por relógios e calendários, o espaço é feito de lugares (alto, baixo, perto, longe, frente, atrás) e pode ser percorrido e medido em distâncias, a família é uma realidade natural criada pela Natureza para a sobrevivência da espécie, a raça é uma realidade natural produzida pela diferença de climas e de alimentação, fazendo com que haja raças superiores e inferiores, a mulher é um ser sensível, intuitivo e frágil, destinado à maternidade e à casa, o homem é um ser racional, forte, destinado ao trabalho e à vida pública, o trabalho honesto é uma virtude, mas a preguiça e o roubo são imorais e crimes, os ricos são imorais e infelizes, mas os pobres são virtuosos e felizes com o pouco que lhes foi dado ( quem tudo quer tudo perde), os instruídos são competentes e devem dirigir os demais no trabalho e na política, os não-instruídos são incompetentes e devem ser dirigidos, só é pobre quem quer, pois há trabalho honesto para todo mundo, mas os ricos são espertalhões e sem vergonha, por isso dize-me com quem andas e te direi quem és. Quando o senso-comum se cristaliza como modo de pensar e de sentir de uma sociedade, forma o sistema dos preconceitos. Preconceito, como a palavra indica, é uma idéia anterior à formação de um conceito. O preconceito é a idéia preconcebida, anterior portanto, ao trabalho de concepção ou conceitualização realizado pelo pensamento. As quatro marcas mais significativas do preconceito são: 1. não se surpreende nem se admira com a regularidade, a constância e a repetição das coisas, nem, ao contrário, com a diferença e singularidade delas; admira-se apenas com aquilo que é julgado único, extraordinário, novo e que, imediatamente, é inserido no quadro de idéias e juízos preconcebidos, encarregados de dar sentido ao nunca visto, nunca dito ou nunca pensado. O preconceito exige que tudo seja familiar, próximo, compreensível imediatamente e transparente, isto é, inteiramente penetrado por nossas opiniões, e indubitável. Não tolera o complexo, o opaco, o ainda não compreendido 2. exprime sentimentos de medo, angústia, insegurança diante do desconhecido e o conjura (ou esconjura) transformando tais sentimentos em idéias certas sobre as coisas, os fatos e as pessoas, criando os estereótipos, isto é, modelos gerais de coisas, fatos e pessoas por meio dos quais julga tudo quanto ainda não havia visto 3. propenso a admirar o que não compreende, mas aterrorizando-se com isso, e, portanto, propenso a reduzir o desconhecido ao já conhecido e indubitável, o preconceito é o obstáculo maior ao conhecimento e à transformação. Ignorante, o preconceito é conservador. Não existe nada mais conservador do que o preconceito de ser moderno, como veremos mais adiante. 4. o preconceito é intrinsecamente contraditório: ama o velho e deseja o novo, confia nas aparências mas teme que tudo o que reluz não seja ouro, elogia a honestidade mas inveja a riqueza, teme a sexualidade mas deseja a pornografia, afirma a igualdade entre os humanos mas é racista e sexista, desconfia das artes mas não cessa de consumi-las, desconfia da política mas não cessa de repeti-la. Porque o preconceito julga-se senhor de uma realidade transparente que, na verdade é opaca e oculta medos e angústias, dúvidas e incertezas, a filosofia sempre lançou-se contra ele, considerando-o o obstáculo maior a todo pensamento e a toda ação ética e política. Assim, Platão combateu as sombras da opinião que obscurecem a luz das idéias verdadeiras; Cícero e Descartes afirmaram que nascemos com a luz natural da razão que logo é quase apagada pelas amas de leite, pelos preceptores, professores e pelos livros; Kant dissera que o lema da Ilustração ou do Iluminismo deveria ser : “ousa saber!”, a vitória da razão esclarecida contra a ignorância dos preconceitos. De modo geral, os filósofos sempre consideraram as paixões a causa principal dos preconceitos, mas foi o filósofo Espinosa quem melhor determinou essa causa e descreveu seus efeitos. Espinosa localizou a origem dos preconceitos em duas paixões: o medo e a esperança medo de que males ocorram e bens não aconteçam, esperança de que males não ocorram e bens aconteçam. Por que o medo e a esperança? Por que, de todas as nossas paixões, são essas duas as que mais profundamente exprimem nosso sentimento de desamparo diante do tempo e do mundo, nossa impossibilidade de controlar o curso dos acontecimentos e de dominar fatos e pessoas. A angústia diante do imprevisível e do inesperado, escreve Espinosa, leva os homens a desconfiar da razão e a confiar na superstição: começam acreditando em presságios e horóscopos, inventam deuses cuja vontade caprichosa rege arbitrariamente o curso do mundo, passam a adorar um único Deus que julgam ser legislador e bom monarca do universo, imaginam que os governantes são os representantes dessa divindade e se submetem ao poder e à vontade dos dominantes porque acreditam ser esta a vontade do deus que, vendo-os submissos e obedientes aos poderes da terra escolhidos por ele, beneficiará aos homens, diminuindo-lhes o medo e alimentado-lhes a esperança, se não nesta vida, pelo menos na outra. Dessa maneira, Espinosa articula preconceito e dominação sócio-política. Os homens aceitam servir para serem servidos. E combaterão até à morte na defesa das opiniões dos dominantes, passando ao ferro e ao fogo todos os que ousarem contradizê-las em nome de um conhecimento racional verdadeiro. Eles o fazem porque as opiniões dos dominantes formam um sistema explicativo para o mundo e as ações, livrando-os dos medos e dando-lhes esperanças de recompensas para o bons e castigos para os maus. Assim, o preconceito, que se origina em cada um de nós sob a forma de paixões, cristaliza-se em senso-comum social e em prática política. O preconceito é, pois, uma das armas mais potentes para o exercício da dominação, pois o dominado a deseja interiormente e não sabe viver sem ela porque ela se tornou a forma da segurança num mundo, enfim, tornado transparente. Tudo em seu devido lugar, com o devido respeito. A esse movimento de passagem do preconceito a senso-comum social e dominação política, Marx deu o nome de ideologia, indo buscar sua causa mais abaixo das paixões do medo e da esperança, nas formas assumidas pelas condições materiais de existência dos humanos, isto é, na divisão social do trabalho e na divisão social das classes. A ideologia é a maneira como os interesses dos dominantes organiza a realidade de maneira a tornar naturais e aceitáveis naturalmente a exploração econômica e a dominação política. Justamente porque a ideologia é o ponto de vista dos dominantes para a sociedade inteira, é que o preconceito só pode ser contraditório, como dissemos anteriormente. De fato, as pessoas vivem em suas classes sociais e estas, pelo seu modo de se relacionar com a realidade social, determinam idéias, opiniões, sentimentos específicos dessa classe; como, porém, as idéias, opiniões e sentimentos dominantes da sociedade são os de sua classe dominante, transmitidos por meio da educação e dos meios de informação e comunicação, é evidente que todos aceitam o ponto de vista dominante, entrando em contradição com as idéias e valores de sua própria classe social -- a pluralidade de preconceitos das diferentes classes sociais é substituida por um único preconceito, isto é, por uma única ideologia, a da classe dominante. Eu gostaria, agora, de exemplificar o modo de operação do preconceito-ideologia tomando suas opiniões fortemente presentes na sociedade brasileira contemporânea: a idéia que nossa sociedade não é violenta e a idéia que estamos, finalmente, nos tornando modernos. A violência do preconceito da não-violência Um dos preconceitos mais arraigados em nossa sociedade é o de que “o povo brasileiro é pacífico e não-violento por natureza”, preconceito cuja origem é antiquíssima, datando da época da descoberta da América, quando os descobridores julgaram haver encontrado o Paraíso Terrestre e descreveram as novas terras como primavera eterna e habitadas por homens e mulheres em estado de inocência. É dessa “Visão do Paraíso” que provém a imagem do Brasil como “país abençoado por Deus” e do povo brasileiro como cordial, generoso, pacífico, sem preconceitos de classe, raça e credo. Diante dessa imagem, como encarar a violência real existente no país? Exatamente não a encarando, mas absorvendo-a no preconceito da não-violência. Para isso, existem tres mecanismos diretos e tres procedimentos indiretos. Mecanismos diretos: 1. mecanismo da exclusão: afirma-se que a nação brasileira é não-violenta e que os brasileiros não são violentos, portanto, se houver violência, é praticada por gente que não faz parte da nação, mesmo que nascida e registrada no Brasil. Em outras palavras, o preconceito produz a divisão entre “nós, brasileiros” e “eles, os violentos”, excluindo esses últimos, de direito, da nação pacífica; 2. mecanismo da distinção entre o essencial e o acidental: por essência ou por natureza o povo brasileiro é não-violento, portanto, a violência é algo acidental, ou como se diz muito exatamente, é “um surto”, “uma onda”, “uma epidemia”. A violência é um acontecimento episódico na superfície do social que não afeta sua essência não-violenta; 3. mecanismo das máscaras: como o preconceito da não-violência opera com a separação entre o “nós” e o “eles”, cada um do “nós” pode, acidentalmente, estar entre “eles”. Como toda violência está referida e reduzida a um aspecto episódico visível, e nunca às estruturas invisíveis da sociedade brasileira, todas essas manifestações episódicas são consideradas homogêneas, isto é, são generalizadas pelo preconceito, de maneira que são considerados iguais ou de mesmo sentido o quebra-quebra de tres e ônibus e um linchamento; o medo dos operários de serem mortos nas ruas e o executivo da multinacional que cerca a casa com fios elétricos, guardas, cães e aparelhos eletrônicos; a dissolução de uma passeata com gás lacrimogêneo e motoqueiros fazendo “cavalo de pau” numa avenida; levas de flagelados pela seca buscando alimento nas cidades e bandos de justiceiros pagos para eliminar supostos bandidos; a prostituição e escravização de meninas e a ação policial exterminando crianças de rua - em todos esses casos, “nós, não violentos” usamos a violência para combater “eles, os violentos”, mas o fazemos porque a violência é passageira. Além dessa primeira máscara, existem outras mais sutis: o paternalismo branco que mascara a discriminação racial, o elogio da fragilidade feminina para mascarar o machismo, a afirmação da caráter natural e sagrado da família para mascarar torturas de crianças, estupros das filhas, surras nas esposas, violência física e psíquica contra os membros da família tidos como “desviantes” sexuais. E, finalmente, aquelas máscaras são o preconceito em seu estado puro: a favelada, mãe irresponsável que gera a criança de rua naturalmente delinqüente e perversa; a menina estuprada porque só há estupro se houver desejo dele; o migrante nordestino que só serve para destruir a ordem, beleza e limpeza das cidades; o sindicalista, que antes era o subversivo e hoje o corporatista; o desempregado que não é senão um preguiçoso. Enfim, todas formas estruturais de violência são mascaradas pela atribuição da culpa à vítima. A esse procedimentos, vem acrescentar os mecanismos indiretos de reforço ao preconceito da não-violência: 1. mecanismo jurídico: a violência fica circunscrita ao crime e a um tipo fundamental de crime, aquele contra a propriedade: roubo, latrocínio e homicídio entendido como crime contra propriedade da vida. De modo geral, a violência fica circunscrita às formas mais visíveis da delinqüência, como é o caso do tráfico de drogas. Mas porque se refere primordialmente ao ataque à propriedade privada, as ocupações de terra pelos sem-terra recebe o nome de invasão e é tratada pelas “forças da ordem”. Assim, o mecanismo jurídico localiza a violência em duas personagens: o bandido e o pobre. Por esse motivo, toda política de Direitos Humanos no Brasil é vista como defesa do bandido contra a vítima e do delinqüente pobre contra as pessoas honestas. 2. mecanismo informativo: a violência é tratada como episódio de massa e recebe o nome de “chacina” e “massacre” porque o número de envolvidos é grande e o de mortos e feridos também. O mecanismo informativo localiza a violência como episódio sangrento na superfície do social e o atribui a abusos de autoridade por parte das “forças da ordem”, sem que nunca se examine a estrutura social que trouxe à tona, sob a forma do episódio sangrento, as causas sociais invisíveis que o explicam. 3. mecanismo sociológico: a violência é explicada como um caso de anomia social (anomia, palavra grega que significa perda do poder da norma e da lei, ausência de norma social respeitada por todos). O sociólogo afirma que a sociedade é um conjunto harmônico de ações e funções integradas pelas normas e regras (que governam os costumes) e pelas leis (que arbitram valores éticos e políticos). A anomia é vista como um momento acidental no qual as antigas normas e leis perdem a força integradora e deixam vir à tona os conflitos sociais e políticos, as contradições econômicas e políticas. Esses conflitos e essas contradições não são considerados constitutivos do próprio social, mas uma anomalia que se expressa como violência passageira, até que novas normas e leis cumpram a função integradora e harmonizadora. Dessa maneira, o preconceito da nãoviolência, falando a linguagem da sociologia, diz que a violência é o momento de relação entre o arcaico e o moderno, cujo conflito será superado por “as reformas” que modernizem os costumes sociais e políticos. O preconceito do moderno Vimos que uma das marcas do preconceito é a generalização e homogeneização de coisas, fatos, acontecimentos e pessoas diferentes, por vezes opostos e contraditórios. Vimos também que é próprio do preconceito “amarrar” as contradições, as aparências e o invisível, em sínteses imediatamente compreensíveis, como é o caso dos provérbios. Mas esse tipo de síntese também pode ser feita por palavras, que, como dizem os franceses, são “palavras valises”, isto é, servem para dizer tudo porque não dizem absolutamente nada. É o caso do uso, atualmente corrente no Brasil, da palavra mágica “Moderno”, empregada no lugar de uma série imensa de problemas e questões que não são discutidos porque se dá por estabelecido que a mera menção da palavra “moderno” as explica e determina a maneira de solucioná-los. Essa palavra, cujo uso é antigo, mas cujo significado político apareceu no século XVIII, na luta da Revolução Burguesa contra o Antigo Regime, é, hoje, no Brasil, empregada para reunir coisas que pouco tem em comum, senão o fato de serem ditas “modernas”: aviltamento de salários, privatização de serviços públicos, enfraquecimento do movimento sindical, eliminação de direitos sociais mínimos tidos como privilégios, justificar a eliminação dos chamados encargos sociais para diminuir o desemprego atribuindo a eles a culpa pelo desemprego. No entanto, sob essa aparente miscelânea, a palavra “moderno” esconde o sentido principal no qual reside verdadeiramente o preconceito, qual seja, a crença quase religiosa na justiça e racionalidade do mercado capitalista. Em outras palavras, a idéia liberal, velha de 200 anos, de que a cidadania se define pela liberdade de mercado e não pelos direitos sociais e políticos. Esse preconceito, que, afinal, data do século XVIII, explica porque, em nome da modernidade, entregam-se recursos estatais a banqueiros corruptos e falidos e aos latifundiários e usineiros, ao mesmo tempo em que a violência contra os sem-terra pode ser qualificada de conflito entre o arcaico e o moderno, o arcaico, evidentemente, sendo a reforma agrária, e o moderno os banqueiros, latifundiários e usineiros. Ou seja, a modernidade política é pensada como afastamento dos conflitos distributivos do campo político, mas, no caso brasileiro, como inclusão, neste campo, do retorno ao capital daquilo que não foi realmente produzido pelo capital. Assim, o que impressiona, na versão brasileira do preconceito do moderno é a maneira como justifica o apoio às práticas mais retrógradas e violentas de nossa sociedade. Como se vê, o preconceito do moderno não é senão a forma mais nova do conservadorismo. Ou, como dissera Lampedusa em “O Leopardo”, é preciso mudar para que tudo fique como está. Percepção Aguda P: Qual deveria ser o papel das chamadas pessoas esclarecidas no combate ao moralismo do senso comum? Eu acho que há vários caminhos. Eu acho que há um caminho como esse, que é o da multiplicação. Simpósios como esse tem a função de serem multiplicadores, quer dizer, a expectativa é que cada um que participa possa multiplicar aquilo de que ele participa. Então essa é uma via. Outra é a atuação no interior dos movimentos sociais. Uma outra é a atuação no interior dos partidos políticos. Tem que se agir lá dentro. Mas a via que evidentemente eu considero prioritária é a educação. Tem que mexer na escola. É lá que você tem que mexer. Então você tem que mexer na formação dos professores de primeiro, segundo e terceiro grau. Você tem que mexer na produção do material didático, e você tem que mexer na relação dos alunos e das famílias com uma educação efetivamente voltada para a cidadania e para a liberdade. Eu acho que se não se mexer no sistema educacional brasileiro, você vai rodar, rodar, rodar em círculos. Esse sistema educacional tem que estar diretamente vinculado, em função das condições atuais, à uma mexida muito grande nas telecomunicações. Você tem que operar nos dois campos: tem que operar com a telecomunicação e com o sistema educacional. E a forma ideal será quando você puder fazer isso, operar de modo articulado, através da escola e através das telecomunicações. Para você atingir um país, da proporção como é o nosso, uma sociedade numerosa como a nossa, e com os problemas que ela tem, você tem que atuar na base, portanto você tem que atuar na escola e você tem que atuar na maneira como a informação circula e a comunicação se realiza, e portanto no sistema de telecomunicações. Sem uma mudança nas leis da telecomunicação, sem uma mudança na forma de fazer televisão e rádio no Brasil, e sem na outra ponta, uma reforma da educação para valer, você não mexe em nenhum preconceito. Nenhum, nenhum, nenhum... P: O que legitima o privilégio daqueles que ficam em prisão especial, simplesmente por possuir um diploma universitário? Esta é uma espécie de preconceito? Isso é não uma espécie, é preconceito em estado puro e está ligado aqui ao que na minha exposição eu chamei a discriminação entre os instruídos e os não-instruídos, porque é exatamente uma discriminação de classe. No Brasil é uma discriminação de classe, na medida em que a escolaridade no Brasil é privilégio de classe. Então é evidente que a idéia da prisão especial para os diplomados é uma aberração, em qualquer parte do universo, menos aqui. Por que que aqui é natural? Porque aqui todo mundo é doutor, aqui é a terra do “Você sabe com quem você está falando?”. Então se é normal eu dizer" você sabe com quem está falando?", é claro que se eu for presa, eu vou para uma cela especial, eu sou doutora, economicamente, academicamente, eu tenho todos, mas todos os requisitos para não ser tratada como uma pessoa comum. Eu tenho um amigo norte-americano que diz o seguinte: “quando você está numa briga para valer nos Estados Unidos, eu pergunto para o outro: "quem você pensa que você é?" Ou seja, nós somos iguais, nós somos cidadãos, temos os mesmos direitos, portanto você está fazendo isso que você está falando, portanto quem você pensa que você é? E nós não, nós somos “você sabe quem eu sou?” Quer dizer, é uma coisa autoritária, discriminadora e é interessante. Interessante porque nos lugares onde você devia ter alguns direitos garantidos por percepção da diferença, lá você não tem. Por exemplo, lugar para gestante no ônibus, no metrô, lugar para os idosos, todas as formas de garantir aos deficientes físicos o acesso à qualquer lugar, e a gente nem percebe. Nem percebe o jeito que as escadas são, do jeito que os elevadores são, do jeito que as guias das calçadas são, e do jeito que é o degrau do ônibus. Não há deficiente físico no Brasil que possa ser uma pessoa válida, quando os deficientes físicos são válidos no mundo inteiro. E a gente nem percebe. Então do mesmo modo que não há nenhuma garantia de direito ao deficiente físico, há o privilégio para o prisioneiro universitário. Eu costumo dizer que uma das dificuldades maiores para que um dia se institua uma democracia no Brasil está no fato de que a divisão social no Brasil passa por um lugar que é anterior a formulação mesma da idéia de direito ou de direitos. Você tem num extremo a carência e no outro extremo o privilégio. A marca da carência é que ela é sempre específica. Eu tenho carência de escola, o outro tem carência de condução, outro tem carência de hospital, outro tem outras carências. É quase impossível transformar uma carência num interesse comum, generalizá-la num interesse comum, e é impossível fazer do privilégio um interesse comum. Ora o que é um direito? Um direito é algo que tem alcance universal. Se eu não universalizo alguma coisa, ela não é um direito. Ora no Brasil nós não atingimos o estágio ainda nem de generalizar carências para que elas sejam interesse comuns, que elas possam depois se universalizar em direitos. E também não quebramos os privilégios, para revelá-los como privilégios e portanto destruí-los como tais. Se a democracia é a cidadania definida por direitos, não há democracia no país, porque o que você tem é de um lado a carência, e do outro lado o privilégio, aí está a esfera dos direitos que não conseguem se constituir. Não é uma brincadeira de mau gosto esse ataque aos poucos direitos sociais que o estado brasileiro garantia? De um estado que nunca chegou a ser um estado do bem-estar social, porque para ser um estado do bem-estar social teria sido preciso existência de garantia de direitos. Então eu diria que o caso do universitário com prisão especial equivale ao caso do deficiente físico sem nenhuma possibilidade de realizar os seus direitos, por exemplo. São os dois contrapontos, a ausência de direitos e a presença de privilégios. Esse é o país da não-violência? P: Se o tema é preconceito, então eu quero saber qual o motivo que determina o racismo? Por que existe tanto preconceito racial? No caso do Brasil o racismo é uma ideologia nascida no século dezenove. É a partir do século dezenove que é elaborada com pretensões científicas a noção de raça. Essa elaboração está ligada à consolidação do Império Britânico. É na hora que o Império Britânico tem que justificar ideologicamente o seu exercício imperialista que essa teoria é elaborada. Ela coincide com o instante também, em que você tem a abolição da escravatura nos Estados Unidos, e logo depois, em outras partes das Américas que significa, no caso específico, a entrada dos negros no mercado capitalista de trabalho. Então seja do lado da justificativa do Império Britânico, para ter o domínio sobre os hindus, sobre os africanos, sobre os asiáticos, enfim, todo o Império Britânico, a justificativa do Império é dada por seu caráter "civilizatório", na medida que a raça branca ocidental é superior às outras, e vai civilizá-las. E no caso das Américas, a ideologia racista, cientificamente elaborada, está ligada à maneira de impedir à entrada dos negros no mercado de trabalho e o uso de mão-de-obra exclusivamente branca. No caso do Brasil está ligada à todo processo de imigração. Então, você não tem a origem do preconceito, sem condições sociais e condições materiais determinando a origem dele. O que as condições fazem é que elas se apresentam para os sujeitos sociais, sob a forma de sentimentos, sob a forma de paixões, de medos, de inseguranças, sob a forma de dominação e isto é que é elaborado para que haja uma explicação e uma justificativa. Então a explicação é o preconceito, e a justificativa é a ideologia. Você nunca tem um preconceito sem causa, e a causa, via de regra, é uma causa econômica e social, ou uma causa social e política P: Estereótipo não é preconceito, ele é conhecido, sabido, manipulado. Então o preconceito é montado em cima de uma conhecida e bem conhecida pseudo-verdade. Então é um conceito, e não um pré-conceito. Está certo ou errado? Olha, não é um conceito. Não é um conceito pelo seguinte: um conceito é uma elaboração teórica, racional, a partir de um conjunto de perguntas, eu vou dizer algumas delas, um certo conjunto de perguntas, e o estabelecimento de um conjunto de critérios para avaliar a racionalidade, a coerência, a verdade da resposta encontrada à pergunta, e essa resposta é que é o conceito. Deixa eu dar um bom exemplo. Vamos pegar um exemplo simplérrimo, para não avançar muito na nossa hora. Eu vejo o Sol, menor do que a Terra, e eu vejo o Sol todos os dias fazer um movimento de leste para oeste. Dessa visão, eu elaboro um sistema, um sistema explicativo do mundo chamado Sistema Geocêntrico. Qual é o meu critério? O meu critério é o critério da minha percepção. Na minha percepção a Terra está imóvel, o Sol se move e como eu vejo que ele faz um arco no céu, eu deduzo que ele faz um movimento circular. Vejo também toda noite, constelações, estrelas, astros, fazendo movimentos e eu digo: estão todos, cada um num círculo, fazendo movimento circular em torno da Terra imóvel. Isso se cristaliza, isso se torna o senso comum social. Se você perguntar qual é a comprovação que você tem de que o sistema é geocêntrico, eu tenho três constatações: eu vejo que estamos imóveis, eu vejo que o Sol se move e eu vejo que o movimento é um semicírculo, portanto a totalidade do movimento é circular. Aí aparecem Copérnico, Keppler, Galileu e começam a fazer perguntas. A primeira pergunta é se o movimento que o Sol realiza não poderia ser um movimento aparente, e aí eles vão estabelecer uma série de critérios para fazer essa afirmação. Depois eles fazem um estudo das variações das estações do ano: "olha é muito possível que a Terra gire em torno de um eixo, que ela esteja levemente inclinada". Cálculos matemáticos aqui, cálculos matemáticos lá, estudo da velocidade da luz, estudo do movimento uniformemente variado, estudo disso, estudo daquilo, cálculos, modelos. Depois vem o Keppler, ele diz: "olha, não, é evidente, a Terra se move em torno do Sol, o qual também se move, os outros planetas se movem, isto não tem uma forma circular, por tais e tais cálculos matemáticos, e por tais e tais e tais razões, têm uma forma elíptica". Para resumir a brincadeira: o sistema geocêntrico é um sistema inteirinho baseado na percepção direta que nós temos das coisas. O Sistema Héliocêntrico não é baseado praticamente em nenhuma observação empírica, quase nenhuma. Ele é baseado em cálculos matemáticos, equações, que depois orientam o modo como a experiência vai ser feita. Então a diferença entre preconceito e o conceito é: o preconceito é aquilo que se forma como conclusão da experiência direta e imediata que nós temos das coisas, o conceito é a idéia que se forma, a partir do momento em que nós questionamos as coisas, em que nós estabelecemos critérios para fazer perguntas, critérios para fazer as respostas, formas de conferir as respostas que foram oferecidas. O preconceito é portanto algo que não inclui o trabalho do pensamento. O pensamento simplesmente organiza, reúne, sintetiza os dados imediatos da experiência. O conceito é um trabalho intelectual, é um trabalho de pensamento. Ele é um trabalho que visa chegar à uma verdade. O preconceito parte da idéia de que ele é verdadeiro. Aqui é o contrário, é porque se procura a verdade, é necessário todo um caminho de interrogações, e de critérios de pensamento, para chegar a um conceito. Então não são a mesma coisa. P: Gostaria que a Senhora abordasse o tema da tortura nas delegacias aos presos comuns, isto sob a conivência de autoridades e da sociedade, em prol da manutenção da ordem, sob dois aspectos: a do torturado e a do torturador. Olha, eu faço parte da comissão Teotônio Vivela, que nasceu justamente na luta contra a tortura nas prisões, nos asilos, nos manicômios. A manutenção da tortura dos presos comuns está ligada de um lado, à falta, à inexistência de uma política efetiva de direitos humanos, que se consagre não apenas em leis, mas que se consagre em punições pela transgressão das leis. Você não chega nunca lá. Você não consegue instrumentos que sejam compreensíveis para o transgressor da punição que ele tem que receber. Como portanto não há nenhum instrumento legal, e há uma ideologia social, e toda a montagem feita pela mídia em torno do bandido, as torturas aos presos comuns não tem como serem evitadas. Você denuncia aqui, mudam-se as pessoas ali e se resolve o problema, tudo aquilo foi deslocado para outro lugar, e sobretudo porque, há uma conivência da sociedade com isso. A sociedade acha que tem que haver a tortura, ela concorda, há um senso comum social à favor disso, e que é alimentado não só pela ideologia da defesa da vítima contra o bandido, mas peloo banho sistemático do fascismo do enlatado norte-americano. Toda a série Charles Bronson, toda a série Rambo, toda a série Van Dame, todas essas séries da justiça com as próprias mãos. São séries de afirmação do valor nenhum dos direitos, do valor nenhum da lei, do desastre que é o processo judiciário, lá e aqui. E a idéia de que você tem que resolver sozinho é o policial que tortura quem está resolvendo para mim. Está resolvendo, porque precisa levar em conta o seguinte: é obvio que no nível individual, cada um de nós tem o direito à vingança, não ponha a menor dúvida que cada um de nós, como indivíduo, tem o direito à vingança. Só que cada um de nós como indivíduo não pode exercer a vingança. É para isso que se criou o Estado, é para isso que se criaram as leis, então em vez de nós querermos que essa vingança seja individualmente realizada, por nós ou para nós, nós temos que lutar pela mudança do Judiciário no Brasil, pela mudança de todas as coisas relativas à justiça. E em vez dessa luta, como a tortura do preso comum, por exemplo, como o caso do linchamento, como o caso do justiceiro, como o caso da morte das crianças pelas costas, com tudo isso que é o nosso cotidiano, aparece como solução imediata a resposta direta a um desejo natural e normal de vingança, que cada um de nós tem. Então as verdadeiras questões nunca são discutidas. Então a tortura ao preso comum se insere nesse campo mais amplo, de coisas não discutidas. P: A Senhora expôs nas entrelinhas que existe o estado de violência latente no seio da sociedade brasileira. O que, na sua opinião, poderia ser feito, em linhas gerais, para reverter esta dramática situação, no sentido de restabelecer e resgatar os princípios fundamentais da humanidade? Eu queria deixar claro que eu não falei de violência latente, o que eu estou tentando dizer, é uma violência presente. Presente. Deixa eu dar alguns exemplos do que eu estou chamando de violência, que talvez não tenha ficado muito claro. Eu considero uma violência, nos prédios que tem elevador, ter um elevador chamado social e um elevador chamado de serviço. Isso é uma violência. Isso é uma discriminação de classe. E em geral, o elevador de serviços é para os negros também. Eu considero isso uma violência. Eu considero o fato do motorista, parar em cima da faixa de pedestre, um ato de violência, e que ele atravessa a faixa no farol vermelho, um ato de violência. O modo como os motoristas de ônibus brecam é um ato de violência. Então não tem violência latente no Brasil. A violência está saltando em cada poro de cada ação cotidiana de cada um de nós. O que há é o preconceito da não-violência, que nos faz considerar que tudo isso é natural, é normal e que isso não é violência. Que a violência é a chacina. Que violência é a chacina e o massacre de massa. É aí que a gente coloca a violência. É o tráfico de drogas e morte em larga escala. "Morreram menos de vinte, não é violência". Precisa ter no mínimo vinte mortos e de preferência alguns pelas costas. Estou chamando de violência, dizer-se com a maior simplicidade de espírito: “um preto muito bom, porque ele tem alma branca”, “uma mulher formidável, doce, frágil, generosa, ai, tão feminina”. Mas dá uns tabefes em quem diz que você é tão “feminina”, porque isso que está sendo dito é de um machismo, de um sexismo absolutamente gigantesco, porque está dizendo que você é incapaz de pensar. Se você é sensitiva, e intuitiva porque você não raciocina, você sente e não pensa. É uma bruta discriminação, é um bruta preconceito, é uma violência enorme que é feita às mulheres, todo dia. Todo dia, Então eu queria deixar claro que eu não falei em violência latente, eu estoe dizendo que a sociedade brasileira é uma das sociedades mais violentas que eu conheço. Esse é o primeiro ponto. Agora, por causa disso, foi que a minha ênfase foi na direção da luta por direitos. E de considerar de uma lado, a dramaticidade dessa luta, porque lutar por direitos pressupõe que carências e privilégios já foram superados, que você está na fase de interesses comuns, que tem que ser transformados em direitos universais. Mas nós não chegamos nem nos interesses comuns... É preciso fugir, como o diabo foge da cruz, da definição da cidadania pela liberdade como competição no mercado. Então, se você não definir a cidadania pelos direitos sociais e não investir nos direitos sociais, eu acho que a gente deixa a sociedade brasileira como o Conde de Lampeduza disse que era para ficar. Muda, muda, muda, para ficar como está. Eu diria que o investimento maior, por um lado, como quebra dos preconceitos, em educação e telecomunicações. E do outro, como ação política, a luta pela cidadania, sob a forma dos direitos sociais. Obrigado. 7. Racismo AS CIDADANIAS MUTILADAS Milton Santos Professor universitário, geógrafo e escritor O tema que me traz aqui não é um tema de minha especialidade, mas é um tema da minha convivência. Por isso, não me proponho a fazer uma conferência, mas a manter uma conversa sem plano. Pretendo começar esta conversa fazendo algumas perguntas: o que é ser um cidadão? O que é ser um indivíduo completo, isto é, um indivíduo forte? O que é ser classe média? Ser classe média é ser cidadão? O que é ser cidadão neste país? E finalmente, os negros neste país são cidadãos? Ser cidadão, perdoem-me os que cultuam o direito, é ser como o estado, é ser um indivíduo dotado de direitos que lhe permitem não só se defrontar com o estado, mas afrontar o estado. O cidadão seria tão forte quanto o estado. o indivíduo completo é aquele que tem a capacidade de entender o mundo, a sua situação no mundo e que se ainda não é cidadão, sabe o que poderiam ser os seus direitos. É neste sentido que me pergunto se a classe média é formada de cidadãos. Eu digo que não. Em todo caso, no Brasil não o é, porque não é preocupada com os direitos, mas com privilégios. O processo de desnaturação da democracia amplia a prerrogativa da classe média, ao preço de impedir a difusão de direitos fundamentais para a totalidade da população. E o fato de que a classe média goze de privilégios, não de direitos, que impede aos outros brasileiros ter direitos. E é por isso que no Brasil quase não há cidadãos. Há os que não querem ser cidadãos, que são as classes médias, e há os que não podem ser cidadãos, que são todos os demais, a começar pelos negros que são cidadãos. Digo-o por ciência própria. Não importa a festa que me façam aqui ou ali, o cotidiano me indica que não sou cidadão neste país. Poderíamos traçar a lista das cidadanias mutiladas neste país. Cidadania mutilada no trabalho, através das oportunidades de ingresso negadas. Cidadania mutilada na remuneração, melhor para uns do que para outros. Cidadania mutilada nas oportunidades de promoção. Cidadania mutilada também na localização dos homens, na sua moradia. Cidadania mutilada na circulação. Esse famoso direito de ir e devir, que alguns nem imaginam existir, mas que na realidade é tolhido para uma parte significativa da população. Cidadania mutilada na educação. Quem por acaso passeou ou permaneceu na maior universidade deste estado e deste país, a USP, não tem nenhuma dúvida de que ela não é uma universidade para negros. E na saúde também, já que tratar da saúde num país onde a medicina é elitista e os médicos se comportam como elitistas, supõe frequentemente o apelo às relações, aquele telefone que distingue os brasileiros entre os que tem e os que não tem a quem pedir um pistolão. Os negros não tem sequer a pedir para ser tratados. E o que dizer dos novos direitos, que a evolução técnica contemporânea sugere, como o direito à imagem e ao livre exercício da individualidade? E o que dizer também do comportamento da polícia e da justiça, que escolhem como tratar as pessoas em função do que elas parecem ser. Penso haver três dados centrais para entender essas questões do preconceito, do racismo, da discriminação. O primeiro é a corporalidade, o segundo é a individualidade e o terceiro é a questão da cidadania. São as três questões que vão ser a base da maneira como estamos juntos, da maneira como nos vemos juntos, da maneira como pretendemos continuar juntos. Resumindo, a corporalidade inclui dados objetivos, a individualidade inclui dados subjetivos e a cidadania inclui dados políticos e propósitos jurídicos. A corporeidade nos leva a pensar na localização ( talvez pudessemos chamar de lugaridade ), a destreza de cada um de nós, isto é, a capacidade de fazer coisas bem ou mal, muito ou pouco e as possibilidades daí decorrentes. E aí aparece em resumo, o meu corpo, o corpo do lugar, o corpo da mundo. Eu sou visto, no meio, pelo meu corpo. Quem sabe o preconceito não virá do exame da minha individualidade, nem da consideração da minha da cidadania, mas da percepção da minha corporalidade. A individualidade permita, a partir do bom senso , alcançar certo grau de exercício da transindivilidade, e aí a consciência do outro e dos outros, a consciência do mundo. E afinal a cidadania, que é o exercício de direitos e supõe a ciência dos direitos que temos e a capacidade de reivindicar mais. Como tudo isso está ligado ao grau de consciência, voltamos, por conseguinte, à questão da individualidade. Eu tinha feito a anotação seguinte: “A instrução superior não é garantia de individualidade superior. A cidadania não é garantia de individualidade forte, nem a individualidade forte é garantia de cidadania e liberdade, o meu caso.” Desculpem mas estou tentando utilizar a mim mesmo como exemplo. Tenho instrução superior, creio ser personalidade forte, mas não sou um cidadão integral deste país. O meu caso é como o de todos os negros deste país, exceto quando apontado como exceção. E ser apontado como exceção, além de ser constrangedor para aquele que o é, constitui algo de momentâneo, impermanente, resultado de uma integração casual. Daí porque a análise das situações do preconceito no Brasil supõe um estudo da formação sócio-econômica brasileira. Não há outra forma de encarar o problema. Tudo tem de ser visto através de como o país se formou, de como o país é e de como o país pode vir a ser. Tudo isso se inclui na realidade da formação sócio-econômica brasileira. O passado como carência, o presente como situação, o futuro como uma perspectiva. O modelo cívico brasileiro é herdado da escravidão, tanto o modelo cívico cultural como o modelo cívico político. A escravidão marcou o território, marcou os espíritos e marca ainda hoje as relações sociais deste país. Mas é também um modelo cívico subordinado à economia, uma das desgraças deste país. Há países em que o modelo cívico corre emparelhado com a economia e em muitas manifestações da vida coletiva se coloca acima dela. No Brasil a economia decide o que do modelo cívico é possível instalar. O modelo cívico é residual em relação ao modelo econômico e se agravou durante os anos do regime autoritário, e se agrava perigosamente nesta chamada democracia brasileira. A própria territorialização é corporativa, os recursos nacionais sendo utilizados sobretudo a serviço das corporações, o resto sendo utilizado para o resto da sociedade. O cálculo econômico não mostra como as cidades se organizam para serem utilizadas por algumas empresas, por algumas pessoas. São as corporações que utilizam o essencial dos recursos públicos e essa é uma das razões pelas quais as outras camadas da sociedade não têm acesso às condições essenciais da vida aos chamados serviços sociais. No caso dos negros, é isso o que se passa. Um outro dado a acrescentar é que a situação dos negros no Brasil é uma situação estrutural e cumulativa o que mostra a diferença com outras minoridades ( que não são minorias ). Vemos com frequência comparar, ou por lado a lado, a briga dos negros com a briga das mulheres e com a briga de outras minorias, inclusive algumas que recentemente se levantaram para exigir direitos. Não dá para por tudo no mesmo saco, como se faz. Sobretudo não dá pelo seguinte: por exemplo, as mulheres começaram sua luta recentemente, mas já conseguem resultados que os negros não obtém. Isso basta para mostrar que as situações não são iguais. As mulheres lutam dentro da sociedade, enquanto os negros não fazem parte da sociedade que manda. A situação deles é uma situação estrutural e cumulativa, onde cada progresso obtido ao nível do país não representa melhoria efetiva correspondente de sua situação como grupo. A situação parece se agravar com o presente processo de globalização, que tem efeito sobre todos os aspectos da vida, incluindo a questão do preconceito. Vejamos por exemplo alguns elementos característicos desta fase da história, como o retorno com força do darwinismo social, condenando as pessoas consideradas inferiores na sociedade mundial. Até as próprias técnicas com que trabalhamos hoje se afirmam em dados de força, pois a técnica mais forte expulsa as outras, toma o lugar das outras e se impõe. Como temos de trabalhar com sistemas técnicos, um resultado reflexo dessa necessidade é o comportamento darwinístico. O presente clima internacional está sendo desfavorável às pessoas consideradas inferiores na sociedade mundial. Há um clima contra as raças chamadas “inferiores”. Esse clima já existia antes, mas com a globalização ele se agrava e se adensa, daí constantes julgamentos de valor das pessoas em virtude de raça, sua origem e também em relação aos imigrantes. O Brasil, por ser um país tradicionalmente aberto, é grande vítima dessas tendências perversas universalizantes. Basta lembrar, neste outrora intitulado país do homem cordial, o tratamento odioso freqüentemente oferecido aos migrantes internos. Estados e municípios não se pejam de colocar barreiras nas suas fronteiras para impedir a entrada de migrantes considerados indesejáveis. Tal fermento de anti-solidariedade nacional se justifica até mesmo por certos discursos carregados de semente de desagregação. É a perversidade da globalização, consagrando os mais fortes, e pela mesma ocasião naturalizando os racismos, os preconceitos, as discriminações. É assim, também, que se chega a considerar normal, por exemplo, 1.300.000 de desempregados na cidade de São Paulo e milhões neste país, onde há dezenas de milhões de pobres. Tudo isso busca respaldo na idéia de que precisamos organizar o país, para facilitar a globalização e para que ele entre no primeiro mundo. Que bobagem! Uma bobagem cientificamente respaldada, a gente aceitar a naturalização da perversidade , que parece também ser a norma primeira do comportamento dos políticos da ordem global e da ordem nacional. Essa globalização tem também aspectos curiosos. Vejamos essa polarização mundial pelos índios, que repetimos aqui dentro. É natural que se defenda os índios, pois eles merecem nossa ajuda, mas não considerando-os como natureza mas como seres humanos. Mas a confusão estabelecida por muitos entre a causa indígena e causa ecológica folcloriza a campanha e impede a ampliação do seu alcance. Talvez por isso também a causa negra fica em segundo plano, já que os negros não fazem propriamente parte da “natureza”, mas da produção, o que complica tudo, pois a produção é causadora de conflitos reais e duradouros. A verdade é que o discurso oficial, o discurso social no Brasil, privilegia uma parcela da sociedade que tem problemas e desconsidera uma massa da população que tem problemas maiores, porque faz parte do processo da política. E finalmente neste environment internacional, esse discurso dos direitos humanos é muito fácil, se não acompanhado do discurso dos direitos do homem, isto é, de cada homem. Enquanto o que se tem feito é tratar dos chamados direitos humanos, os direitos da cada homem não têm um tratamento adequado. Aliás, é frequente que o homem tenha os seus direitos acatados, quando há especularização, e onde há especularização não há nem direito nem homem, mas apenas discurso. Eu creio que isso faz parte também da maneira como a chamada liderança da formação social brasileira trata as diversas questões. Neste particular, uma questão que me parece importante de ser tocada é a questão do contrato sob o qual nós vivemos hoje. Porque o Brasil não é bem democracia, mas uma democracia de mercado. O que é central é o mercado, não o homem. Três séculos de Iluminismo, uma luta consequente dos filósofos, depois de intelectuais e de políticos para a ampliação dos direitos e, de repente, tudo parece ter sido perdido. O centro do Universo deixa de ser o homem para ser o dinheiro, não o dinheiro produtor, mas o dinheiro em estado puro, com seus sacerdotes, que são banqueiros, seus templos que são os bancos. Nessa concepção da sociedade, no mundo e, sobretudo, neste país, o homem é residual. A democracia de mercado impõe a competitividade como norma central, uma competitividade obtida através de normas privadas que arrastam as normas públicas. O que domina nessa democracia de mercado é o elogio da técnica, como se ela se autosatisfizesse e, preeminência da racionalidade sem razão, é típica do processo econômico do fim do século e obstáculo à floração do pensamento. Por outro lado reina o consumo, que magnifica o ideal contemporâneo de ter, no lugar do ideal de ser , que leva a aceitação da objetificação como se fosse a objetividade e faz os homens aceitarem ser coisas, recusando, por conseguinte, a individualidade forte. Por isso, na democracia de mercado o consumidor é mais que perfeito e o cidadão se contenta em ser usado, com a morte da política, numa situação em que as eleições são um ato de consumo eleitoral e o debate político é substituído pelas pesquisas de intenção de voto. As pesquisas não são o debate político. A idéia de resultados afasta a idéia de valores. Por isso não há democracia neste país, há apenas um a democracia de mercado, na qual os mais fracos não hão de esperar nada e os negros muito menos. Tudo isso é condimentado pelas duas violências centrais do nosso tempo: a violência do dinheiro e a violência da informação. São as duas grandes violências que perturbam o conhecimento do mundo e atrofiam a condução da consciência. Nos países onde essa violência do dinheiro, essa violência da informação não têm limites, a condução de uma consciência cívica é realmente difícil. É porisso que neste momento estamos assistindo, neste país, ao assassinato da idéia de nação. O que de mais grave ocorre atualmente no Brasil é este assassinato cotidiano da idéia de nação. Essa destruição dessa idéia de conjunto, expressada nas séries de medidas provisórias a que assistimos é o mais grave crime cometido neste país nos últimos trinta anos. Esse abandono da solidariedade... A sorte é que a nação começa a se refugiar nas cidades, a despeito dos poderosos do mercado e dos poderosos de estado. As cidades estão reconstruindo a nação. E a sorte dos negros, como a sorte dos pobres, é que eles estão sobretudo nas cidades. Nestas, as mazelas não são absolutas, mas contraditórias. A globalização agrava as crises urbanas e, ampliando o fenômeno da escassez, aumenta a pobreza e a miséria e estimula a violência. A sorte é que a globalização que aí está não é obrigatoriamente a que vai ficar. A que nós estamos agora vivendo é uma globalização perversa, mas os materiais de que dispomos hoje no mundo são suficientes para fazermos uma outra globalização, mais humana. Pela primeira vez na história recente das técnicas o homem não precisa ser escravo da máquina. Se atualmente ainda é, este não é um fato da técnica, mas da organização. E junto a isso, veja-se o papel de um novo cotidiano produzido pelo processo da globalização. Essa multiplicação de individualidades, isto é, de possibilidades de interpretação do mundo, do lugar e de si mesmo, é uma nova riqueza ainda não explorada devidamente. Quanto mais diferentes somos, mais interpretações existem e, desse modo, os conflitos são mais ricos e a possibilidade de negociação se torna mais franca, mais aberta, mais produtiva. Isso é também ajudado pela nova mobilidade dos homens. Nunca os homens foram tão móveis, nunca eles foram tão numerosos e viveram tão fora de seu nascimento. É uma enorme riqueza que hoje se verifica no mundo inteiro sobretudo nas cidades, com a chegada de gente de outras raças, de outras religiões, de outros cheiros . Os americanos propuseram ao mundo cheirar igual, com os famosos desodorantes. Não conseguiram. E o fato de que o mundo acelera a sua globalização pode ser uma boa causa, se pensarmos que a cidade é o lugar onde as pessoas se movimentam mais, produzindo contatos numerosos e crescentes. As classes médias dormentes, mas agora atingidas pela crise do ajustamento, começam também a despertar, já que são as carências que dão a cada um a consciência de sua posição. O adormecimento das classes médias, nas fases de prosperidade, reduziu a possibilidade de se perceber a precariedade da situação de ser homem. Aliás, essa superioridade dos pobres, dos migrantes, das minorias, pelo fato de não terem acesso pleno às modernidades e, por conseguinte, entender, a partir das carências, o seu ser no mundo e o seu existir na formação social nacional, esse aguçamento das contradições aparece como uma esperança, ou pelo menos uma promessa. Por outro lado, esses esboços de moralidade internacional que se desenham e esse discurso mesmo da moralidade interna quem sabe um dia permitirão tornar positivos alguns efeitos de campanhas e movimentos hoje isolados. Mas o que recentemente vem sendo produzido a pretexto de tratar da problemática do negro no Brasil é a pletora de discursos ornamentais que um dia poderá possibilitar uma tomada de posição, uma negociação mais adequada e sincera. Primeiro é preciso deixar de lado os discursos bobos e os discursos choramingas. Depois precisamos nos despedir das situações ornamentais, onde predomina a gesticulação ritual e vazia, esses festejos que consagram, apenas um dia, o melhor da hipocrisia nacional. Urge que passemos aos verdadeiros projetos. Para isso, impõe aos negros tomar consciência de que não é suficiente conhecer seu próprio campo, mas é indispensável conhecer o campo do outro, ou ainda melhor, conhecer o campo comum em que vivem todos os brasileiros. A formação social nacional é esse campo comum para o conhecimento e a ação, que não podem deixar-se limitar pela chamada realidade negra. Temos que recusar o gueto em que nos querem confinar os que mandam na sociedade brasileira e buscar lugares mais importantes dentro da sociedade. Diante do mundo e do país, como uma totalidade os negros devem buscar enxergar-se como participantes dessa totalidade, que é dinâmica e buscar os caminhos. No campo internacional, o encontro e a busca de raízes comuns podem ser algo importante, mas são também um convite a um não tratar de frente a questão da formação social brasileira, central no conhecimento do problema. Sem isso, não é a história americana, nem a da Nigéria ou da África do Sul que vão ajudar no encontro de soluções para os negros brasileiros. E a pretendida solidariedade internacional passa também por reclamar solidariedade nacional. Os tempos porém não parecem favoráveis. Vejam-se, por exemplo, os pobres debates sobre a reforma da Previdência, que claramente demonstraram o despreparo dos políticos para os grandes debates nacionais e morais. O próprio discurso da oposição é um discurso do contra, mas usando os mesmos termos da chamada situação, onde o discurso dos princípios foi substituído pelo discurso dos recursos. Há que abandonar esse discurso dos recursos e enfrentar o discurso dos princípios. A questão do negro também deve ser tratada de maneira digna. A produção de um novo discurso poderá permitir um novo plano de debate, e essa é a tarefa essencial dos movimentos negros. Isto supõe a tolerância com as práticas plurais. É evidente que o movimento negro tem de ser plural, porque deveria ser uno? É a pluralidade que faz sua riqueza e sua força. A trança no cabelo ou o cabelo espichado não devem ser um dado que exclua ou separe. Que cada qual como é encontre seu lugar nessa luta, participando pela forma que melhor aprouver a vida pública, como cada um tem o direito de adotar a estratégia possível que lhe pareça a melhor. Essa tolerância dentro do movimento negro é indispensável para que ele conheça uma outra etapa. Mas com isso tem que ser feito mediante um discurso cientificamente elaborado, que não pode ser um discurso choramingas, nem um discurso de pura emoção. A organização é também indispensável, como um dado multiplicador das forças limitadas. Só assim será possível rever injustiças seculares, estruturais e cumulativas, mediante políticas compensatórias, que devem ser urgentemente implantadas neste país, inclusive as medidas de discriminação positiva. Pedir aos negros que aceitem o discurso oficial e esperem tranquilos a evolução normal da sociedade é condená-los a esperar outro século. O país necessita, com urgência, de medidas positivamente discriminatórias, que são a única forma de refazer um balanço mais digno, revendo o balanço histórico. Eu estou muito agradecido pela atenção com que ouviram estas considerações disparatadas e confesso que estive muito feliz por ter sido convidado a estar aqui esta noite. Definição de papéis, democracia, participação... P: Em seu entender, qual deve ser o papel de um intelectual na luta contra o preconceito racial? - O papel do intelectual é a busca da verdade e a expressão dessa busca. Não basta encontrar a verdade, é preciso proclamá-la. Nesse caso, o que seria normal, que todo intelectual se alinhasse em todo o tipo de luta para restaurar direitos, para afirmar igualdades. Seria normal que todo intelectual fosse contra o preconceito racial. A verdade é que isso não se dá. E não se dá em parte porque, no caso brasileiro, os intelectuais estão cada vez mais omissos e uma boa parte prefere a aliança com o establishment. Mais especificamente, o intelectual deveria participar da luta contra o preconceito racial não apenas como profissão de fé, um discurso de adesão, mas pela proposta de interpretação da sociedade brasileira como um todo. Acho que é a única forma pela qual o preconceito racial pode ser eficazmente combatido, ultrapassando o limiar da emoção e passando para a produção de um discurso coerente que possa ser a base de um discurso político. As pessoas preparadas para produzir tal discurso são as que a gente chama habitualmente de intelectuais. P: O senhor poderia explicar melhor as principais diferenças entre uma democracia de mercado e uma democracia de participação? - Eu não vou falar de democracia de participação, porque seria uma questão enorme. A participação como ela é mencionada e como é feita não significa democracia. Estou me referindo mais à democracia genuína, isto é, um regime político que assegure através da liberdade da igualdade uma ampliação sempre crescente de todos os tipos de direitos. O centro, a criação de um sistema político onde a colaboração seja fundada nessas qualidades essenciais de cada um. Já a democracia de mercado, que é a que nós estamos vivendo em muitos países hoje, e no Brasil em particular, porque o Brasil não está vivendo uma democracia, mas uma democracia de mercado, o homem não é central. O que é central é o mercado e o homem é considerado com residual. No caso brasileiro, basta ver as medidas tomadas pelo atual governo brasileiro, em relação a tudo que tem relação com o social, onde o que é mesmo fundamental é o mercado e o homem recebe o resíduo, a migalha, quando isso acontece. Todavia continua-se a falar de democracia. Eu creio que há uma diferença a estabelecer, e isso eu relacionaria com a questão anterior - como o intelectual se comporta ou deve se comportar dentro de uma democracia de mercado na luta contra o preconceito racial - porque a democracia de mercado agrava todos os tipos de preconceitos, ela passa a dar preeminência não aos valores mas aos recursos. P: Como o senhor vê a questão das cotas reservadas para estudantes negros nas universidades brasileiras? - Eu creio que nós corremos o grande risco de limitar a discussão da ascensão social pela educação a essa questão de cotas. E a maneira como esse tipo de pergunta se repete é sintomática de uma vontade de estabelecer um debate falsificado. A questão que se coloca não é propriamente de cotas, a questão que se coloca é: quer o Brasil incorporar os negros, ajudando-os a ter um lugar, digamos assim, normal dentro da sociedade, quer o Brasil, na construção do seu futuro, considerar que o negro deve participar desse futuro de forma igual? Eu acho que é esta a questão. E nesse caso há o que fazer. Será que nós vamos deixar à evolução espontânea a solução deste problemas, como parece ser, ou a gente teria que precipitar o movimento, e aí que a questão das cotas aparece. O que é que eu devo fazer para que os negros sejam mais numerosos nas boas universidades, mais numerosos nos bons colégios, compareçam às chamadas elites de todo tipo? Essa é a questão central e não o inverso. Essa discussão a partir das cotas amesquinha o debate e abriga a uma discussão sem futuro. Eu creio que cotas ou outra coisa tem que ser feita. Eu creio que o país tem que enfrentar esse problema, buscando soluções, tem que mudar, e enfrentar esse problema, buscando soluções, tem que mudar, e para mudar tem que ter soluções, que estão chamando agora de discriminação positiva ou afirmativa. Mas tem que temperar essa medida de cotas com outras, por exemplo bolsas de estudo. Não adianta nada deixar um negro pobre entrar numa universidade rica, tem que ter bolsa de estudo, criar condições ambientais que o favoreçam. Então me parece que essa discussão tem que ser remetida aos negros. P: O senhor aceitaria o convite para participar de uma luta das entidades negras que se organizam para combater o racismo? - Cada vez que sou convidado eu trato de comparecer. O que acontece é que eu me preparei para ser intelectual, acredito ser um, e eu vejo uma grande dificuldade entre ser um intelectual e ser militante. São duas atividades que não se conjugam, senão muito excepcionalmente, muito rapidamente, porque a necessidade de guardar inteira liberdade é excluída aos militantes. O militante acaba sendo uma pessoa que depende dos slogans, dos grupos de que participam. No movimento negro eu creio que deve haver lugar para diversas formas de expressão, e uma forma de expressão que eu não escolhi e penso que não vou escolher é de participar de grupos e de tendências ou de facções. O que eu quero é poder refletir sobre a questão, porque minha vida foi sempre um investimento quanto a possibilidade de reflexão e com isso permitir que se avance na produção de um discurso diferente, porque o discurso dos movimentos negros, em boa parte, é um discurso que não sendo cientificamente elaborado, não tem a eficácia política que deveria ter. Não tem. 8 - Arte e Cultura REPRESSÃO, IMAGINAÇÃO E PRECONCEITO: O CASO ARGENTINO Santiago Kovadloff Professor, ensaísta, poeta e tradutor argentino. 1982: As Mãos do Medo A notícia se espalhou: batiam à porta inesperadamente. Anunciavam-se com autoritarismo enxuto. Apresentando-se em grupos de quatro ou cinco enquanto seus caminhões esperavam na rua, diziam procurar literatura proibida. Tinham ordem de revisar as bibliotecas das casas, os armários, os porões. Quando encontravam obras proibidas ou proibíveis seqüestravam-nas. E junto com as obras, seus leitores. Não queriam ouvir explicações nem desculpas. Os livros achados eram prova suficiente do delito. O temor se apoderou de todos. Era preciso destruir sem hesitações tudo quanto pudesse servir de pretexto à violência. Enganava-se a maioria que presumia estar salva por não guardar nas suas prateleiras materiais de expressa orientação marxista. Igualmente perigosos, segundo tudo o evidenciava, eram - simplesmente pela sua linhagem - os estudos sociológicos, os tratados de filosofia política, as monografias histórico-econômicas sobre o incerto desenvolvimento continental, os documentos eclesiásticos que impugnavam a injustiça social ou as inclemências do totalitarismo e as obras políticas de qualquer orientação partidária que denunciassem a vigência de critérios colonialistas nas relações impostas pelas potências ocidentais às nações submetidas da América Latina. Qualquer variante contida nesse leque temático era suficiente para qualquer pessoa ficar exposta à prisão imediata. Não havia, portanto, tempo a perder: era imprescindível varrer as prateleiras de riscos eventuais. O medo cumpriu sua tarefa. Rapidamente o desespero deslocou a prudência e o último indício de sensatez se evaporou sob a coerção duma rígida autocensura. Com o coração carregado de angústia se iniciou então o penoso ritual da vergonha. No meio da noite ou à luz do dia, desmanchamos nossas bibliotecas. Sem nos olharmos de frente, de costas para nossos filhos, fizemos pedaços dezenas de ensaios, romances, biografias, contos e poemas onde pudesse assomar o menor indício de consciência social ou inquietação política. Aos nossos pés, como cinzas de um tempo melhor, iam-se acumulando as que um dia tinham sido páginas queridas, parágrafos que sublinhamos com fervor, conceitos e imagens que tinham contribuído à nossa formação, ao desdobramento de nossa sensibilidade, ao fortalecimento de nossa inteligência e do nosso amor à liberdade na luta contra o preconceito. Nada nos detinha. O eco de qualquer passo na madrugada era o eco de seus passos. O silêncio mais denso ocultava a ameaça mais angustiante e o horror da opressão se respirava sem esforço e sem pausa. Os que tinham sido livros já não eram senão pedaços de papel. E esses pedaços de papel se transformaram em lixo, e o lixo literário ardeu nas chamas de nossos jardins, nos depósitos de nossos incineradores, dentro dos nossos banheiros, quando não foram sepultados na terra, longe de nossos lares. Uma penosa cumplicidade cresceu entre nós: nos irmanava a humilhação de termos queimado nossos livros. Não hesitávamos porém em nos auto-justificar. Que podíamos ter feito senão fazer o que fizemos? Os anos 70 se esgotavam num mar de barbárie, de terror e de incertezas. A vida de um homem voltava, como em tempos remotos, a não valer quase nada; e a de um leitor suspeito, simplesmente nada. Era inútil se arriscar a morrer pela preservação dos livros que amávamos e asfixiante viver num país que aconselhava queimá-los. Mas desse país também formava parte outra dimensão de nós, já que não só éramos os destruidores de seus livros; éramos, também, as testemunhas do que acontecia e do que fazíamos, e em relação ao futuro éramos a memória possível das grandes lições democráticas aprendidas nas páginas que tinham ardido. Por isso não hesitamos: o cenário devia estar preparado para quando eles chegassem. Não devia haver um único indício que delatasse vocação republicana, admiração pelo estado de direito, paixão pelo estudo crítico de nossa realidade, consciência da repressão. O mais insignificante desses indícios seria, aos olhos de nossos inquisidores, sinal de desobediência. Esses olhos não deviam se confrontar com nada que os irritasse. Deviam deslizar através dos títulos de nossas bibliotecas com a secreta complacência de quem se sabe obedecido e verifica a radicalidade da sujeição obtida. Inclusive as prateleiras demasiado cheias podiam resultar suspeitosas. Já não importava o que contivessem. O risco consistia, simplesmente, em que as vissem lotadas de livros. Não faltou, por isso, quem reduzisse rápida e indiscriminadamente seu patrimônio bibliográfico, seguindo neste caso, um critério primordialmente, quantitativo. Nenhum sintoma - foi a conclusão resultaria mais revelador da boa saúde cívica exigida pela circunstâncias do que uma biblioteca esvaziada. Não faltou porém quem resistisse ao padecimento passivo dessa investida irracional que forçava ao extermínio dos livros. E preferiu ocultá-los a destruí-los. Pensou que certos danos morais são irreversíveis. Os volumes queimados bem poderiam, num futuro, se repor. Mas os homens que os queimavam, poderiam se repor? Para muitos que pensaram que não, o perigo que ameaçava era, portanto, duplo: se não ocultavam sua paixão pelo pensamento, corriam o risco de desaparecer para sempre, arbitrariamente identificados com os porta-vozes do terrorismo de esquerda graças a essa trágica premissa da lógica do preconceito totalitário, segundo a qual o niilismo antiocidental e o amor ao conhecimento são sinônimos. Por outro lado, se destruiam seus livros convertiam-se perante si próprios não só em cúmplices da semrazão mas em bárbaros a quem a consciência da própria vileza não perdoaria jamais. Optaram, então, por partir com seus livros para outros sítios: longe de suas casas, longe de suas cidades, longe de suas províncias, longe de seu país. Porque também se emigrou para continuar lendo autêntica literatura. Essa literatura que concebe a história como estímulo à criação constante, como tarefa sempre incumprida que nos impõe a necessidade de uma vigília crítica indeclinável para evitar que a lei - sem a qual não podemos viver - se transforme no dogma que não nos deixa viver. Essa literatura, em síntese, assentada na convicção de que sem cultura pode haver demografia mas não cidadania. Nasceram desta feita autênticas bibliotecas subterrâneas. Elas preservaram das chamas obras que hoje demonstram a versatilidade e a riqueza dos interesses intelectuais dos argentinos, tanto como a já passada solidez de uma indústria editorial que foi paradigmática na América Latina e cujos títulos, por outro lado, fariam sorrir qualquer desprevenido se soubesse que por tê-los incorporados numa prateleira poderia ter ido para a cadeia, ou à sala de torturas. A curiosidade de muitos freqüentadores de livrarias não resiste hoje à emoção quando, em alguma mesa de saldos, esbarra inesperadamente com um volume familiar. As mãos o tomam, acariciam sua lombada; os olhos percebem o leve verniz amarelado que enobrece as margens de suas páginas e então, num susssurro doloroso, cada um desses leitores se diz: "Eu queimei um exemplar desse livro". Hoje sabemos tão bem como então, naqueles dias ainda não longínquos, centenas de nós fomos cúmplices daqueles que desencadearam essa onda de barbárie. Não quisemos contribuir ao extermínio de nossa geração nos arriscando a morrer pelos nossos livros e tenho certeza que fizemos bem. Mas já é hora de verificar se somos capazes de viver em consonância com os ideais democráticos que esses livros queimados nos ajudaram a forjar. O amadurecimento desses ideais exige uma radical autocrítica de todos nós. Não creio que possamos lhes render melhor homenagem póstuma. Nem que haja maneira mais adequada de evitar aos nossos filhos que amanhã suas próprias crianças devam se levantar à noite para destroçar, com as mãos do medo, os símbolos mais belos da liberdade espiritual. 1983: A Pele da Aflição (Início do Governo de Raul Alfonsin) Um ciclo de cultura autoritária pareceria que está se esgotando no país. Seus traços são bem conhecidos. Estão definidos pela razão que dá a força e não pela força que dá a razão. Para reinar como deseja, sua palavra exige silêncio e submissão. Não suporta a polêmica. É incapaz de conceber sua proposta como uma possibilidade entre outras. Ser apenas uma alternativa a desespera e humilha. Impaciente e sedenta de rigidez e verticalidade, reinvindica para si os títulos apostólicos da verdade absoluta. É soberba, depreciativa, autosuficiente e arbitrária, e quando já conquistou o cetro não hesita em aplicar a repressão onde não a querem ouvir, nem em recorrer ao assassinato quando intui sua segurança comprometida por aqueles que teimam em negá-la. A cultura autoritária povoou os cárceres e esvaziou as escolas. Multiplicou os cemitérios e exterminou os centros de trabalho. Encorajou o êxodo, semeou a fome e espalhou o desespero e o ceticismo. Soube transformar o amor em ódio e a fé em ressentimento. Como um eco terrível e prolongado, a voz da cultura autoritária se difundiu pelas ruas da cidade deserta. Extasiada com a eficácia de seus recursos dissuasórios, demorou-se contemplando a deserção da inteligência nas casas de altos estudos e percorreu, de chicote na mão enluvada, as prateleiras vazias das bibliotecas. Satisfeita, a cultura autoritária avaliou pormenorizadamente as seqüelas da censura na opinião dos mais ousados; a espessura das formas do medo que sepultaram a vontade crítica; a densidade da descrença, o envilecimento de fábricas e campos; o deserto que cobria palmo a palmo o solo do país. Sob suas solas agonizavam numa mesma lama o criminoso, o operário, o ladrão, o estudante e o poeta. A cultura autoritária não hesitou em defini-los como diferentes expressões de uma mesma imundície. Múltiplas cabeças de uma só e hábil hidra: a do comunismo internacional. Sim, a cultura autoritária tem a razão que dá a força. Mas a força, mais cedo ou mais tarde, morde com ferocidade a sua própria cauda e sangra pela ferida inesperada e, no dizer do romancista, o patriarca então se consome na agonia de seu próprio outono. A cultura autoritária contempla hoje espantada o estilhaçar da sua própria imagem; cheira, perturbada, sua putrefação e não sabe que explicação lhe dar. Sua arrogância lhe impediu crer que suas contradições a devorariam, no entanto a devoram. Sua cegueira a levou a presumir que era o eixo da nacionalidade e descobriu, ao contrário, que é o vértice de sua esterilidade mais pronunciada. Como Dorian Gray no momento derradeiro, reconheceu no retrato as marcas profundas de seu próprio envilecimento, quis negar o que via, investiu contra sua imagem de punhal na mão e acabou por afundá-lo no seu próprio coração. Filha de sua pobreza, a cultura autoritária esconde agora os farrapos de sua retórica com mãos que denunciam sua miséria, e cada um dos gestos com que tenta ocultar suas vergonhas não consegue senão ressaltá-las. Mais um ciclo de cultura autoritária pareceria estar se esgotando no país. Mas aqueles que não a promovemos nem a apoiamos, temos as roupas roídas pela sujeira da convivência a que ela nos forçou. Temos respirado o ar fétido que expulsa dos seus pulmões. Temos bebido a água suja dos seus arroios. Não soubemos, não pudemos impedir que tanta imbecilidade e tanta mentira contaminassem nossa melhor vontade cívica e hoje começamos a emergir do inferno doentes de desânimo, abatidos pela desorientação, com o olhar desorbitado dos loucos, dos torturados, dos famintos, dos solitários e dos miseráveis sobreviventes. Com que mãos construiremos a cultura da liberdade? No solo de que convicções assentarão com firmeza nossos pés para erguer as paredes da casa em que deveríamos viver? Tremem as nossas mãos de desconfiança. Medimos cada palavra. As janelas, dizem, começarão a se abrir. Mas ainda suspeitamos que há fuzis por trás de cada janela. Será que a besta mudou de máscara? Que novas tragédias anuncia a apressada transformação do cenário? E os mortos? Onde estão os mortos? Será que vamos continuar ouvindo mijar sobre seus túmulos? Quantos são os nomes dos homens truncados que hoje só são uma sombra na boca de uns poucos? As velhas vozes da selvageria mudam a entonação, suavizam seu timbre, se afinam, pedem esquecimento. O esquecimento não se obtém com a aprovação de um decreto. Uma cultura sadia não pode esquecer senão quando, previamente, recuperou seus traumas com toda consciência, para digerir, madura e vagarosamente, seus duros efeitos. Se não há lúcida superação da dor, esta dor acaba envenenando tudo. Não podemos refundar a nação de costas à sua ruína. É preciso olhar de frente as pedras queimadas, os nomes calcinados, os rostos da vileza, a saga atroz do terror e da tirania. Ou não haverá castigo? Ou os barões se retirarão para seus feudos apenas para restaurar o gume de suas espadas antes de nova investida ? Continuará sendo o país bastião de cafajestes e demagogos? Mulher da vida do melhor pagador? Troço de carne disputada pelos colmilhos famintos da matilha? Quem se animará , nesta terra, a conjugar o verbo pensar? Quem a propor e não a ordenar? Quem a ouvir e ceder a palavra em vez de amordaçar e vociferar seu solilóquio? Ainda haverá sítio para a cultura da liberdade? Os dedos sensuais do poder percorrem de leve os rostos de seus novos cortejadores. Ainda não se detêm em nenhum. Vão e vêm; brincam com eles. Iludem, sugerem, insinuam mas ainda não se definem e enlouquecem de desejo a todos aqueles que se agrupam ávidos perante a promessa de suas carícias. Há um homem, porém, que não está na fila de anelantes. Perdeu um emprego, um amigo no exílio, um filho na guerra. Há também uma mulher que perdeu tudo isso e não está, porém, nessa fila de anelantes. E há uma moça e um moço que também perderam quase tanto como isso e que também não estão nessa fila de anelantes. São argentinos. Têm a pele chagada pela amargura. Quem falar com eles sem tê-lo em conta, não merece senão desprezo. Eles são a semente de uma cultura possível. A raiz da liberdade necessária. São as entranhas do país enganado e humilhado pelo autoritarismo. Marcou-os o desespero mas estão vivos. Marcou-os a sujeição mas estão vivos. Viram suas faculdades transformadas em campos de extermínio intelectual. Viram seus lugares de trabalho transformados em salas de tortura econômica. Aprenderam, como a toupeira, a se mexer sem luz durante longo tempo mas com o fervor e a eficiência que nasce da boa memória e dos melhores ideais. Privados de voz e direito são - apesar de tudo isso e por tudo isso - o país. A Argentina eventual da cultura em liberdade. 1996: A ditadura e o presente Não é possível ainda olhar para trás para falarmos do Processo - isto é, da última ditadura militar argentina que semeou 30 mil mortos. Ainda é muito cedo para estarmos certos de que o Processo faz parte exclusivamente de nosso passado. Na medida em que a passagem para a vida democrática é lenta e hesitante, não podemos saber o que vai acontecer. Qual o poder de involução que encerra o presente argentino. Na orientação seguida por estes treze anos de vida constitucional iniciados em 1983 com o Governo de Raul Alfonsin, nada aconselha acreditar que estejam firmes, entre nós, as bases do projeto democrático. O conceito de estabilidade se utiliza com frequência para falar de economia, não de Lei. É que ainda não findou na Argentina a transição total do Estado autoritário para a Sociedade solidária. Poderia ser de outro modo? Poderíamos estar já, após treze anos, plenamente instalados na margem democrática? É claro que não, tendo em conta nossa história. Mas a transparência da orientação seguida em direção a essa margem democrática, poderia ser já muito mais evidente, e não o é. Daí que, num sentido essencial, o Processo, sua visão das coisas, sua compreensão do país, o preconceito profundo que ele representa, não tenha ficado para trás. E na medida em que não ficou para trás, ao relembrar os vinte anos passados desde 24 de março de 1976, devemos olhar o que vai acontecendo e não só o que já aconteceu. Porque no que acontece sobrevive boa parte do que aconteceu. Hoje na Argentina já não há mais desaparecidos. Mas há desempregados. A figura do desempregado, do homem para o qual não há lugar na sociedade produtiva, substituiu a figura do desaparecido, o homem para o qual não há lugar na sociedade jurídica. Um e outro são produto de uma exigência de organização. Organização nacional, num caso, organização econômica, no outro. Mas organização, às vezes, é também sinônimo de desprezo pela vida. De desconhecimento arrogante do valor sagrado da vida. Em aspectos fundamentais não conseguimos ainda deixar de ser uma democracia de superfície, frívola, irresponsável. Uma democracia que não sente ainda visceralmente a necessidade de combater a subestimação do homem. E somos, por isso, uma democracia que está mais perto da simulação do que da autenticidade. Como nos anos da ditadura, segue-se acreditando hoje, lá onde o poder é administrado, que a argentinidade é atributo de poucos, que no país sobra gente. Que a cultura não é uma prioridade mas uma maquiagem. Tal como então acontecia, entreter e distrair importam hoje mais do que educar, e o intercâmbio de idéias se vê sepultado sob a guerra de consignas, da retórica do triunfalismo e da difamação do adversário. A nossa é uma democracia em que os homens que governam importam mais do que as instituições que representam. Uma democracia na qual os homens governados importam menos como seres humanos que como cifras de estatística. Uma democracia mercantilizada não faz outra coisa do que pôr preço às suas convicções. Privando-as de substância ética, enfraquece seu sentido mais e mais, até fazer delas só noções funcionais, puramente operativas. Mas nem tudo se compra. Nem tudo se vende. Nem tudo se soma, nem tudo se esquece. A ditadura impôs a convicção de que o futuro do país não exige idéias mas obediência servil. Ainda não chegamos a entender nem de longe até que ponto essa convicção continua alicerçada entre nós. Uma sociedade civilizada não é uma sociedade obediente. É uma sociedade responsável. De homens que têm um profundo sentido da dignidade de seus próximos. Os vinte anos passados desde aquele sombrio 24 de março de 1976 em que os militares assaltaram o poder constitucional, não falam apenas de um passado concluído. Eles assinalam em direção a um presente intensamente problemático. Que o país já não seja um quartel não significa que seja uma nação. Uma nação é, antes de mais nada, o fruto de uma grande consciência ética e autocrítica; de um conceito de cultura que embora não esteja livre de preconceitos, luta contra os preconceitos que fazem parte de sua realidade. Uma nação é fruto de uma consciência aberta e engajada com a tarefa primordial de capitalizar o sofrimento padecido. O sofrimento não fica para trás quando é ignorado e arquivado, mas quando é tomado em conta para empreender a convivência de outro modo que aquele que impôs o terror. A arte, a ciência, a filosofia são e podem ser sempre manifestações desse outro modo de conceber a convivência na qual o preconceito é matéria de denúncia e não só de obediência. Se queremos que a mentalidade da ditadura seja sepultada e superada, haverá que transformar as condições sociais e culturais que a tornaram possível. Haverá que dignificar tudo o que o Processo subestimou e ignorou. E isso quer dizer justiça independente, respeito, educação geral, direitos humanos. Lembremos tudo o que passou desde um presente que nos mostra que o desprezo ainda subsiste. Não lembremos para evocar; lembremos para reconhecer melhor o que nos acontece. Saibamos ver naquilo que nos acontece a triste herança do que nos aconteceu. Sem valores espirituais não superaremos nunca a dissociação entre ética e eficácia que hoje afoga a nação. Sem esses valores espirituais, não superaremos nunca o temor de que o passado volte a ser o futuro. Desfecho para um tempo de dilemas Coube-nos presenciar e protagonizar, neste fim de século, um fenômeno de radicalidade inesperada: a queda do marxismo como prática política na Europa de Leste. Trata-se, com efeito, de um autêntico acontecimento histórico. O fim do marxismo como modelo sócio-econômico e político e as consequências planetárias desse desmoronamento permitem reconhecê-lo como um exemplo de indubitável contemporaneidade. A crise que hoje envolve o marxismo de modo tão fundamental atinge, naquilo que nos importa, a viabilidade da concepção da história como processo que responde a leis iniludíveis, de férrea direção e consequências que não podem ser contidas. A agonia de marxismo, parece-me, não é senão a agonia da idéia da história como fatalidade; como demonstração de um mandato cujo acatamento redunda, necessariamente, na instauração da ditadura do proletariado e o fim da luta de classes. O messianismo político de intenção sistemática e científica vive assim, no século XX e com a queda do marxismo europeu, a última de suas derrotas conhecidas. Em íntima relação com essa derrota se põe em questão a concepção materialista dialética dos processos sociais. A dialética, cuja eficácia relativa na interpretação de tais processos seria absurdo desconhecer, não parece concitar já o consenso necessário para que nela se siga vendo um modelo paradigmático de pensamento. Vinculado à crise do marxismo como prática política e enunciado teórico, se encontra o fato de que, com a dissolução do mundo comunista europeu, se impõe reconsiderar a questão do outro, quer dizer, o problema da alteridade. Tradicionalmente, este problema, em política, está associado ao da identidade do adversário e do inimigo. Até onde se dirigirá, após a dissolução do conflito desatado no Golfo Pérsico, a necessidade de continuar concebendo o mundo não ocidental como um mundo hostil ao Ocidente, tal como até agora ocorria com a Europa de Leste? Fala-se muito em nossos dias do fim das ideologias. Insiste-se por toda parte que as ideologias morreram. Creio que convém que sejamos cautelosos. A ideologia é um critério de compreensão, uma modalidade interpretativa assente em valores tidos como axiomáticos. Que seus conteúdos mudem não implica que a necessidade de sua existência tenha desaparecido. Interpretar a realidade ideologicamente significa entender que se dispõe de uma perspectiva para a concepção dos fatos e das teorias cuja pressuposta consistência induz a vê-la como superior, em aparência, a qualquer outra. É mais do que razoável considerar que não se pode deixar de pensar e de atuar segundo uma escala de valores e interesses. Mas, ainda assim, é mais do que razoável também afirmar que a necessidade de que esses valores e interesses revistam uma hegemonia universal constitui uma arbitrariedade e um perigo. Nosso tempo não só vive a crise cultural desta luta entre quem predica o fim das ideologias e quem considera que essa prédica é uma prova essencial de sua sobrevivência. Nosso tempo vive também uma profunda crise resultante do que eu chamaria a reversão fundamental de uma situação muitas vezes milenária. Durante centenas de milhares de anos, o ser humano lutou energicamente para se garantir um lugar na natureza. Hoje deve lutar com igual intensidade para que a natureza encontre, em seu mundo tecnológico, um lugar de subsistência, um espaço de preservação. A contaminação ambiental nascida da instrumentação cega do poder tecnológico induziu, mesmo assim, a compreender melhor o alto grau de interdependência existente entre o homem e o que, supostamente, não é ele mesmo: neste caso, a natureza. Isso contribuiu, também, para que em amplos setores de nossas sociedades se acrescente o interesse concedido à evidência de que nem toda lei pode ser transgredida impunemente pelo afã de domínio, pela sede de poder. O homem não só é produtor de leis. É, também, produto de uma legalidade que o transcende: a que faz dele um ser mortal e, por sua vez, somente viável no âmbito de uma interdependência profunda, não apenas com seus semelhantes mas, também, com quem não o é, quer dizer com todos aqueles e ainda com tudo aquilo que conforma o horizonte do que, sem ser ele mesmo, tem a ver com ele. Até há muito pouco tempo, a Terra esteve ameaçada abertamente pela possibilidade de uma hecatombe nuclear. Seria ingênuo presumir que o caráter velado que começa a tomar agora essa possibilidade implica que o risco desapareceu. Mas é razoável pensar que a distensão Leste-Oeste, nascida da vertiginosa dissolução do marxismo tradicionalmente entendido, contribuirá a deslocar nossa atenção para novas perguntas. Um dilema não menos relevante que os anteriores é, na atualidade, o do conhecimento. A Idade Média viveu um período - o feudal - no qual a fragmentação territorial contrastava com a unidade infundida ao saber pela hegemonia do pensamento teológico cristão. No nosso tempo, a fragmentação territorial foi amplamente superada. Tende-se, dia a dia, para uma maior interdependência planetária. Mas, em compensação, o saber se fragmentou. E é aqui onde pode se reconhecer a vigência do preconceito em relação à cultura. Subdividido em incontáveis especialidades, o conhecimento pareceria ter perdido, neste século, a consciência de sua essencial unidade, já que a unidade propriamente dita a perdeu faz muito. Como faremos para recuperar essa consciência sem recair no verticalismo imposto pelas disciplinas que se querem "superiores"? As nações da América Latina ingressam no último segmento do século XX enfrentadas a um dilema central: próximas do século XXI, seus problemas básicos continuam sendo os do século XIX. Entendo que as democracias latino-americanas do presente vêem ameaçadas sua real representatividade e sua solidez efetiva pelo fantasma da dissociação entre a vigência de uma vida constitucional sem fraturas e a postergação sine die da justiça social. A contundência do fracasso marxista na Europa prova que essa justiça social não se atinge necessariamente prescindindo do desenvolvimento democrático. A crise que implica o subdesenvolvimento em que nos encontramos imersos na América Latina não é menos rotunda que aquele fracasso e evidencia que o progresso indispensável não será consequência direta da exclusiva prossecução sem sobressaltos da vida constitucional. Não é suficiente a vontade popular para instaurar a democracia. Sem consciência da interdependência solidária não há autêntica consciência pessoal. E sem consciência pessoal autêntica não há responsabilidade cívica em termos democráticos. Queria, finalmente, me referir ao que considero um dos deveres primordiais do intelectual num âmbito sóciohistórico como o latino-americano. Creio que uma das doenças espirituais de que continua padecendo a vida política continental é o autoritarismo, a arraigada intolerância ao debate, a repugnância e o horror perante o valor relativo que possam revestir nossas convicções e, em consequência a necessidade de conceber toda instância alternativa à nossa como uma hostilidade, um perigo, uma ameaça mortal. Entendo que quando um intelectual assume o compromisso da militância partidária num contexto como o latino-americano, deveria se consagrar a fundo e antes de mais nada a combater o autoritarismo vigente em suas próprias filas, isto é, tudo o que nelas compromete os alicerces da democracia. Se, pelo contrário, privilegia o poder criador de suas idéias para demonstrar que ao adversário não lhe assiste a mais mínima parcela de razão nem o menor segmento de direito, fará da inteligência e da sensibilidade instrumentos ao serviço da arbitrariedade do poder, e não da verdade. Sei perfeitamente que entre poder e verdade não há nem haverá nunca relações pacíficas. Mas, precisamente por isso, cabe empenhar-se em impedir que quem homologa sua voracidade de poder ao amor pela verdade seja o único em tomar a palavra. Não se trata, em nosso caso, de conseguir que a política se transforme num discurso e numa uma prática sem impurezas. Trata-se de que essas impurezas não sejam esquecidas nem dissimuladas pela falta de escrúpulos ou pelo cinismo que desembocam na impunidade. Em português bastante claro, por supuesto Julio Lerner: Como é que você chegou a dominar tão bem o português, tendo nascido, se criado e vivido, praticamente toda a sua vida, ou parte significativa dela, em Buenos Aires? Bem, aqui na primeira fileira está o responsável do meu português, que é meu pai. Ele foi transferido pela empresa onde ele trabalhava para cá, para São Paulo, quando eu tinha quatorze anos, eu e meu irmão, que também está aqui. Os dois chegamos de Buenos Aires, ele com treze anos e eu com quatorze. No terceiro dia eu queria ir embora. Tinha muitas saudades de tudo. E o português era um problema muito sério porque a gente falava muito mal, muito mal, a gente sequer falava portunhol, falava espanhol mesmo. Agora, teve uma chance excelente para nós, eu jogava muito bem futebol, era um bom goleiro, e jogando futebol a gente não precisa falar muito, né? Eu consegui que meus companheiros de aula no ginásio me aceitassem como goleiro, porque o meu português era um desastre total, então... comecei a jogar futebol, e pouco a pouco comecei a aprender o português. Pouco, realmente aos poucos. E o fato é que agora eu tenho até sobrinhos brasileiros. Mas o português é para mim não outra língua, é uma das maneiras em que me aconteceu a experiência do crescimento e do desenvolvimento da minha sensibilidade e da minha vida, da minha cultura, me formei aqui, fiz parte do ginásio e o colégio aqui. Julio: Você estudou em que colégio? No Dante Aleghieri, no Colégio Dante Aleghieri. Depois quando eu fui embora para a Argentina, para fazer a faculdade, aí começou a saudade do português, e comecei a traduzir, para matar a saudade. E assim foi, como eu comecei o meu trabalho de difusão da literatura e do pensamento brasileiro. E agora estou aqui e estou lá, nos dois países e nas duas línguas, sem dúvida nenhuma. Eu acho que língua estrangeira é aquela na qual não aconteceu nada a gente. Quando a gente cresceu numa língua, ela não é mais estrangeira, ela é indispensável para se auto-reconhecer. Julio: Você traduziu para o espanhol algumas obra dificílimas, entre elas o "Morte e Vida Severina", do João Cabral de Mello Neto. Agora o que é muito difícil imaginar é como você consegue verter para o espanhol um João Guimarães Rosa. Como é que você consegue? Isso é, num certo sentido, um "milagre". É um "milagre" que com uma grande dose de responsabilidade pode ser feito, né? Realmente, o que aconteceu foi que eu queria traduzir Tutaméia. Eu me ofereci para uma editora argentina para traduzir Tutaméia e pedi três anos para fazer a tradução. O editor pensou que eu estava louco. "Como é que você vai levar três anos para traduzir o livro, no mínimo, né?" Porque o problema fundamental na tradução é a música de uma língua e de uma linguagem. É como uma partitura, interpretar a melodia de uma linguagem é fundamental, então eu estudei muito essa linguagem, ouvia o tempo todo Guimarães Rosa. Fazia gravação. Escutava o tempo todo. E quando o ritmo da sua língua começou a ser para mim um pouco mais familiar, aí então eu comecei o meu trabalho de tradução, mas levou quatro anos e meio, e não três. Agora para quem ama uma língua, a tradução é uma experiência literária tão importante quanto a criação dos próprios textos. Não existe diferença nenhuma, entre o fato de traduzir uma obra, isto é, de interpretá-la, porque o trabalho de tradução é um trabalho de interpretação, da mesma maneira que a gente fala: “você ouviu a quinta sinfonia de Beethoven, interpretada por quem?” Depende de quem interpreta. Pois então o trabalho do tradutor, é de ouvidor. Julio: Começam a chegar as perguntas do público... Argentina, 30.000 desaparecidos. Brasil aproximadamente 400. É possível falar algo sobre isso? É possível, sim. É possível, sinteticamente, é possível... O conceito de Estado na Argentina, é um conceito sempre fraco. Nós passamos da ausência do Estado à criação de um Estado paternalista na época de Péron, e agora à dissolução do Estado em favor da privatização. O nosso Estado atualmente não tem responsabilidade protagônica na produção da democracia. Ele tem responsabilidade na administração econômica da privatização. Temos uma democracia privatizadora. Em consequência, essa irresponsabilidade profunda do Estado, que passou da inexistência ao paternalismo, e do paternalismo à divisão intensa das estruturas que dão identidade institucional à república, num país onde a justiça não existe institucionalmente, que está submetido, a justiça está submetida ao legislativo e ao poder executivo. É um país que tem um profundo sentido da impunidade perante a lei. A impunidade é um conceito muito importante. Um conceito segundo o qual o outro não existe. Vou explicar isso brevemente. O governo militar argentino afirmava que os desaparecidos eram auto-excluídos, eram um pessoal que tinha se banido da sociedade e não tinha sido eliminado pelo Estado. E o raciocínio tem a sua lógica, embora rejeitada por nós, ela deve ser ouvida, e é simples. É assim: o que é um subversivo? É um homem que existe à margem da lei, isto é, ele sai do campo da identidade cívica, ele se exclui da identidade cívica. Na medida em que ele passa a ser um subversivo, então a eliminação de um subversivo é a eliminação de alguém que já era ninguém. É uma redundância. Eliminar um subversivo não é eliminar alguém, é eliminar ninguém. Então o desaparecido, para muitas das autoridades do processo, foram aqueles homens que se auto-excluiam e depois desapareciam, sumiam. Mas sumiam a partir de uma decisão ontológica, que era se colocar à margem da lei. Qual lei?... Isto aqui não se discute. Eu acredito que embora possamos estabelecer relações de parentesco entre os nossos países, a diferença de quantidade entre 30.000 e 300 ou 400 desaparecidos, no sentido formal, tem que ser acrescentada essa diferença, essa diferença tem que ser vista à meia luz. É um fato fundamental na história da Argentina, onde a justiça não existe, na verdade, como elemento "fundacional" da democracia. O meu país julgou aos chefes militares do processo, provou a sua responsabilidade e a sua culpa, e os deixou em liberdade. A lei não pode se cumprir. Quer dizer sob o ponto de vista dos fatos, a inexistência da lei no nosso país sempre esteve muito marcada, sempre foi um fato muito constante, e foi substituída pela autoridade do setor. No meu país as Forças Armadas se definiram, no tempo do processo, como a reserva moral da nação. E essa mentalidade, acredito, tem a ver com a história hispano-americana, que não sei se o Brasil teve, onde as Forças Armadas, embora tenham tido o papel que tiveram na ditadura, não chegaram a ser programaticamente sanguinárias, como foram na Argentina, porque no nosso espírito hispano-americano o banho de sangue é purificador. P: Gostaria que o Senhor comentasse a postura assumida perante a ditadura argentina por dois dos mais conhecidos escritores de seu país: Ernesto Sábato e Jorge Luís Borges? Foram posturas bem diferentes. Sábato foi desde o começo, e antes ainda do processo militar, um homem politicamente muito comprometido. Ele lutou contra o peronismo, Borges padeceu o peronismo. São coisas diferentes. Borges padece o peronismo, Sábato luta contra o peronismo. Além do mais, Borges sempre teve uma atitude muito tímida perante a ditadura, no começo ele até se mostrou simpatizante dela e depois se arrependeu, mas não se pode dizer de Borges que tenha sido um homem a favor da ditadura. Não foi não. Borges foi um homem que teve uma posição de reclusão, procedente até em muitos aspectos, mas foi um homem que manifestou, por exemplo, na Guerra das Malvinas, da Argentina com a Grã-Bretanha, uma posição bem corajosa, bem clara. Mas civicamente falando, a posição de Ernesto Sábato não tem comparação. Ele é para muitos de nós a representação mesmo da responsabilidade de um intelectual, para o qual a imaginação criadora é um instrumento anti-totalitário. Eu gostaria de dizer duas coisa a propósito disto. Há uma incompatibilidade básica entre a linguagem da arte e a linguagem da ditadura. A ditadura tem uma preocupação central que é ser literal, ela não quer significar outra coisa com o que diz, ela atribui à sua linguagem uma literalidade total. Quando ela diz, por exemplo, que representa o cerne nacional, ela quer dizer isso. Isso aí não é um símbolo, não é metáfora. Isso aí é o cerne nacional. Mata-se em nome do cerne nacional. Reprime-se em nome do cerne nacional. A arte é essencialmente metafórica e democrática, porque a arte e a imaginação, a ciência, meu Deus, a ciência, a filosofia, são essencialmente democráticas, porque na medida em que elas empregam uma linguagem simbólica e metafórica, elas estão afirmando que queiram dizer alguma coisa, aspiram dizer uma coisa. A arte exprime por aproximação, o pensamento totalitário exprime por monopólio de sentido. Ele monopoliza o sentido, a arte sugere, o pensamento científico é sugestivo, ele não diz o que as coisas são, ele sugere que poderiam ser de certa maneira. Agora, há então incompatibilidade essencial entre a vigência de uma ditadura e o desenvolvimento do pensamento científico criador, sob o ponto de vista das instituições do país. Mas quando a ditadura se apossa de um país, a arte, o pensamento e a criação, eles vivem na clandestinidade, eles vão alimentando uma exigência de um espírito crítico que se desenvolve no que eu chamei, no seu momento, as catacumbas da cultura. Sábato representou isto. P: Duas perguntas levantando praticamente o mesmo assunto. Seria de extrema pertinência que você elucidasse melhor as conclusões que colhe do refluir das experiências marxistas do Leste Europeu. Outra: o senhor disse que a queda do Marxismo no Leste Europeu reflete o processo dialético da história. Qual o modelo de sociedade será o seu sucessor? O processo de globalização seria uma resposta? Há uma diferença muito interessante para a polêmica, que aliás eu acho que deveria ser aprofundada, que é a seguinte: tem quem pensa que a queda do sistema comunista é a queda do marxismo como teoria, e tem os que pensam que não, que o que caiu foi uma maneira de interpretá-la. Essa posição tem os seus perigos, vejam vocês: se o platonismo não é o pensamento do Platão, se o pensamento de Platão não é o platonismo, se o sistema é outra coisa que aquilo que é levado à prática, evidentemente ele tem porvir. Se a realidade conceitual de uma teoria está sempre fora da experiência da prática dessa teoria, então ela não é marxista, se é marxista ela foi atingida pela sua crise. De qualquer maneira, eu, pelo menos, eu penso que o pensamento de Marx de jeito nenhum se esgota nessa experiência, como o pensamento de ninguém se esgota numa experiência. Ele pode ser infinitamente reinterpretado, revalorizado, estudado. Mas isto fala das possibilidades que a teoria oferece à interpretação. A experiência histórica é reconhecida como marxista, enquanto ela se apresenta como marxista, quando ela cai, ela tem de deixar de ser marxista? Não sei. Enquanto o futuro de um mundo onde não existe o comunismo, bem, o futuro onde não existe o comunismo é esse capitalismo que estamos vendo aí, a solidariedade do mercado. A inexistência do valor pessoal, a intranscedência da pessoa não é um produto do comunismo, é o produto de um capitalismo muito bem desenvolvido, isto é, desenvolvido segundo os seus próprios fins, segundo os alvos que ele quer atingir. Então, nós estamos numa sociedade onde a intranscedência da pessoa não pode aparecer no primeiro plano do sistema, ela tem que aparecer relacionada com o inimigo. E quem é o inimigo? É preciso encontrá-lo. O inimigo é o mundo muçulmano, o Irã, o Fundamentalismo, ele não é inimigo? Claro que também ele é, do capitalismo sem dúvida nenhuma, do Ocidente também em muitos aspectos, mas o fundamental é a figura do inimigo que é preciso dela sempre à mão, porque com ela a nossa pureza ideológica pode ser melhor defendida. Essa luta contra o comunismo não foi ganha pelos direitos humanos, essa luta contra o comunismo fez mal ao comunismo, destruiu o comunismo, mas não favoreceu no sentido absoluto a democracia. O único ponto que eu quero sublinhar, em relação às democracias, que me parece extraordinariamente importante, é que as democracias são sistemas cientes da sua contradição, na medida em que elas podem ser espaço de debate e enfrentamento, mas até um certo ponto, até o ponto em que o sistema o permite. De qualquer maneira, não podemos cair no maniqueísmo de acreditar que o reverso de um mal é um bem , o reverso do mal, também é o mal, também é o bem, e o desafio, para mim, mais importante que temos pela frente é aceitar a complexidade de uma realidade que não vai a caminho da sua purificação definitiva, mas a caminho da criação de contradições hoje inéditas, hoje imprevisíveis. Isso não quer dizer abolição do problemático, progresso quer dizer criação de novos problemas. P: Haveria alguma relação entre a colonização hispânica e a portuguesa? Com a fragilidade democrática reinante em nosso continente, qual seria? Veja, relacionamentos devem haver. Tem que haver. Acredito que há relacionamentos. O que não devemos fazer é cair numa colocação mecanicista, segundo a qual, se nós somos filhos de portugueses e espanhóis, então nossos países fatalmente hão de ser decadentes. Porque então deveríamos pensar que os Estados Unidos, por serem descendentes de ingleses, conseguiram ser um império eficaz. Não é por isso que conseguiram. Na história de nossos países latino-americanos, a dificuldade para a transição à vida democrática viu-se também impelida pelo fato de que nós tentamos fazer uma transição muito retórica das estruturas coloniais às estruturas republicanas. Essa passagem foi feita com uma grande velocidade, com uma grande irresponsabilidade e estamos também a pagar os preços próprios desta contradição nascida da velocidade com que os processos foram feitos, e do sentido retórico com que foram feitos. Mas não é culpando o passado que nós vamos encontrar as razões dos nossos conflitos. Mas pensando um pouco mais qual concepção do passado e do presente nós temos, que elaboração temos feito da nossa história, como é que colocamos a questão do passado na reflexão do pensamento vivo do presente me parece que há relação, mas não há uma relação mecânica. Nós somos o que fizeram de nós. Somos o que fizemos com aquilo que fizeram de nós. Julio: Você poderia, por gentileza, dizer novemente essa última frase? Eu acredito que nós não somos o que fizeram de nós, somos o que nós fazemos com o que fizeram de nós. Tenha certeza de que é o destino que damos ao nosso condicionamento o que define uma cultura. É o que a gente faz com aquilo que fizeram da gente. Eu não posso culpar meu pai e minha mãe de meus problemas. Sim, eu posso ver como eu trabalhei os problemas criados pela convivência. Senão, há um conceito de inocência muito infantil e muito pouco interessante, segundo o qual - se tivessem me deixado - eu teria sido livre. P: Avalie as conseqüências do modelo néoliberal na Argentina. Vamos ser um pouco sintéticos. Eu disse na minha palestra uma coisa na qual eu acredito profundamente. Esse modelo néoliberal tem criado uma sociedade mais eficaz e menos ética. É uma consequência muito importante do conceito de democracia ao qual nós tivemos acesso com a queda da ditadura. A democracia se estruturou como um sistema ordenado, com um poder executivo que absorveu os outros dois, o judiciário e o legislativo, e que tem feito da população do país a expressão de um dilema que a ditadura não quis resolver, senão através da repressão, e que foi colocado pela democracia, primeiramente, como um problema insolúvel, por Raul Alfonsim, porque Alfonsim não queria eliminar toda essa população de gente que trabalhava para o Estado, e que trabalhava num estado profundamente improdutivo, porque o Estado argentino, prévio a essa reforma iniciada agora pelo novo presidente, esse Estado argentino, é inútil, infrutífero, estéril. Pois então, acredito que o modelo triunfou também na Argentina, não só na Argentina, mas a característica fundamental desse modelo é a prescindibilidade da noção de pessoa. O conceito de pessoa é que cai com a instalação desse modelo, e qual é o núcleo, o âmago desse conceito de pessoa? Pessoa sou eu e meu próximo, pessoa não sou eu. No meu relacionamento com o outro constituo uma pessoa. Eu sou meus vínculos, eu não sou eu sozinho, eu sou meus vínculos. Agora como o conceito de Estado na Argentina não depende da noção de vinculação, senão de negociação, evidente que o próximo passa a ser não o que ele representa como pessoa, mas sim o que ele representa como capital. De maneira exclusiva, isto é, dessa maneira e mais nada. Aí então é que o modelo néoliberal na Argentina, em certo sentido, continua trabalhando sob uma noção da pessoa como desaparecida, só que agora a justiça legitima essa noção. É possível organizar o país, se se produz a dissociação entre ética e eficácia, isto é, se os resultados nada tem a ver com o problema do bem e do mal, da pessoa e do próximo. P: Na Argentina existe algo parecido com a imagem de homem cordial, que existe no Brasil? Quais as consequências disso no imaginário do país? Hoje, no almoço com o Belisário, com o Dalmo, o Julio e a Margarida Genevois, surgiu um esteriótipo que foi lembrado, que é o seguinte: no imaginário argentino, o argentino homem é uma pessoa que acredita que ninguém gosta dele... Já o brasileiro é aquele que acha que todo mundo gosta dele! E essa idéia exprime um pouco a existência de outros estereótipos que são interessantes, segundo os quais podemos ver a identidade nacional. Para mim o âmago do estereótipo argentino é o autoritarismo. É um povo que tem uma paixão pela violência muito forte, muito forte, nós estivemos a ponto de "ganhar" uma guerra da Inglaterra, mas não sei o que aconteceu, mas estamos aí, né?... O grau de veracidade que teve o fato de um enfrentamento militar com a Inglaterra como favorável à Argentina foi unânime. Essa guerra ganhamos, já tínhamos ganho uma, no século dezenove, agora íamos ganhar mais outra... Teve um problema no meio com a OTAN, mais isso é secundário... Essa tendência à violência, essa tendência à onipotência, uma espécie de onipotência muito grande, tem suas nuances, tem seus pontos fracos, e tem seus encantos também. Evidentemente ninguém vive num país em que só existe a violência e ninguém se sente representativo apenas da violência no país onde vive. O meu país é um país com pessoas imensamente fraternais, cordiais, simpáticas e com grande consciência dos dilemas da Argentina, em termos de solidariedade, como qualquer país. Nós também temos gente assim. P: O Senhor poderia explicar melhor porque ainda não existe democracia na Argentina e também no Brasil, e explicar também melhor a comparação dos desaparecidos com os atuais desempregados? A idéia é de uma certa continuidade. Como é que, por exemplo, a Argentina ingressa na democracia, porque fracassa o modelo militar. O modelo militar não fracassa pela força cívica que o enfrenta, fracassa devorado pelas suas próprias contradições. Foi a guerra com a Inglaterra que acabou com a possibilidade de um governo militar. Ele se enfraqueceu, esse governo, e cedeu, ofereceu o poder à civilidade, em certas condições. A nossa democracia não foi conquistada com consciência cívica ainda, porque as nossas instituições representativas não tem autonomia crítica para o exercício das suas funções, elas estão submetidas ao poder executivo de uma maneira profundamente autoritária. Então a transição à vida democrática não foi realizada em função das instituições, mas sim em função dos partidos e dos homens, das negociações e não das instituições, e isso afetou profundamente a nossa democracia, que ela é simulada. Em relação entre o ponto de convergência entre desaparecidos e desempregados é o seguinte, o desaparecido não tem identidade jurídica, ele não é ninguém perante a lei. Não existe essa figura. Na medida em que o indulto foi legitimado pelos governos civis, a figura do desaparecido não tem existência jurídica, não há ninguém que o seja. O desempregado não existe também para o sistema, ele não é produzido pela democracia. A democracia não tem a coragem de aceitar as contradições que ela gera, dizendo bem, aqui estamos com um estado que vai delegar as suas responsabilidades em instituições privadas, e o produto do desmantelamento de um estado sem consistência e sem produtividade, necessariamente, é o desemprego. Não é que estamos expulsando pessoas de um emprego produtivo, estamos expulsando pessoas de instituições que são fantasmas. Agora, até aí, até podemos aceitar as coisas, a dissolução de um estado improdutivo gera desemprego. Mas o desempregado, ele é ou não é produto da nação, ele é ou não é parte da realidade? O que quer dizer que ele não tenha futuro, o que quer dizer que ele de imediato vai ser a vítima, sempre a vítima., Quem é o desempregado? Não é o homem que tem poder, é o homem que não representa nada. Ele não tem onde exprimir o seu protesto, ele vai sair à rua e é reprimido, como de fato é reprimido, na Argentina pelo menos. Agora ele não pode ser incorporado pelo sistema, porque o sistema vai se estruturar com menos gente do que existe. Todo o dilema do meu país foi sempre o seguinte: vamos organizar o sistema para trinta milhões de pessoas, ou vamos prescindir de dez milhões? Buenos Aires tem nove, a província de Buenos Aires tem doze, depois tem o resto. Então, o problema fundamental é que há uma desaparição, um aniquilamento, uma destruição do direito do homem, que tem que desaparecer com o estado obsoleto, o estado que não presta, não só ele desaparece, com ele o empregado também, a pessoa, a pessoa desaparece como realidade. Então nesse sentido é uma continuação cultural, no conceito, justamente, preconceito, segundo o qual onde não está o poder, não há realidade. P: O que você acha do fato de suas obras serem traduzidas para várias línguas, menos o português? Diversos intelectuais brasileiros sofrem o mesmo problema. O que você acha desse pequeno intercâmbio cultural Brasil - Argentina? Eu acho fundamental esse intercâmbio. Eu acho importantíssimo e pessoalmente comovente. Agora o fato de eu não ter sido traduzido para o português exprime por uma parte a consciência crítica dos editores. Da outra parte, que eu ainda não tive sorte, mas eu vou ter. Eu vou ter. Aproveito para agradecer ao secretário Belisário dos Santos Junior. E a Júlio Lerner e Margarida Genevois, organizadores desse simpósio tão atual, pelo convite que me fizeram. Agradeço também a todos pela atenção. Muito obrigado.
Download