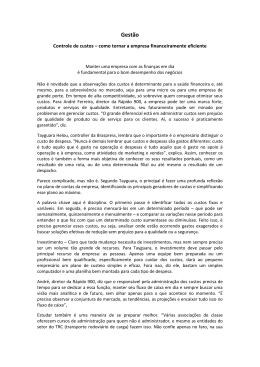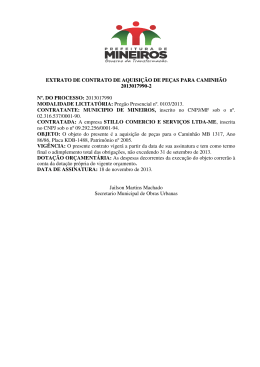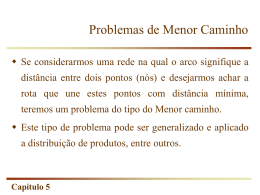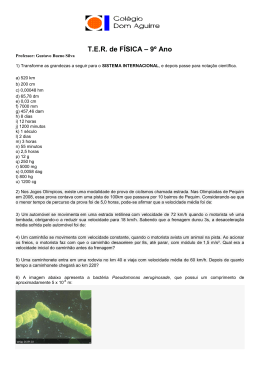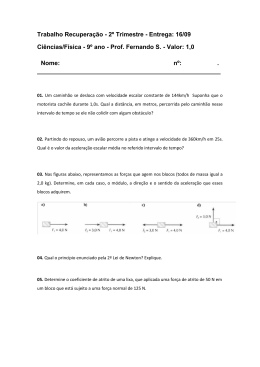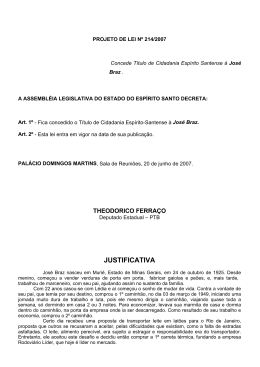SEVERINO SIQUEIRA ALENCAR1 CAMINHONEIRO TAXISTA 48 ANOS DE TRABALHO Nascido em Bodocó, Pernambuco Esposa: Maria do Socorro Batista Alencar Filhos: Fátima, Francisca Amélia, Severino Sérgio, Maria Auxiliadora, Socorro e João Adailton Sou motorista de 12 de janeiro de 1949. Mas comecei em 1948, trabalhando sem carteira. Eu era solteiro e morava em Fortaleza, junto com o Odilon Albuquerque, no Benfica. Ele era fiscal do serviço da Aeronáutica. Então, o pessoal da Aeronáutica resolveu abrir uma estrada no Boqueirão do Cesário, em Aracati. Eles precisavam de três caminhões para fazer o serviço e eu, como era mecânico, fui chamado para cuidar deles. A estrada do Boqueirão do Cesário era de piçarra. Piçarra é um barro, uma areia dura mesmo! Quando molha, vira ferro. Só a chuva muito forte é que tira piçarra. Depois do asfalto, é a melhor coisa para caminhão passar por cima. Então eu fiquei uns oito ou dez meses dando assistência nos caminhões da estrada e aprendi muita coisa. Um dia, o supervisor do serviço da estrada me chamou. Ele tinha um caminhão velho, muito estragado e pediu para eu arrumá-lo. Ele disse que eu ia trabalhar para ele naquele caminhão e que ele ia tirar a minha carteira de motorista. E eu fiquei arrumando o caminhão. O dono do caminhão era da Aeronáutica e sempre que tinha um serviço de aviação, ele usava o caminhão. Foi assim que eu fui 1 Depoimento à Patrícia Menezes Maciel , na manhã do dia 21 de janeiro de 2004, na Associação Beneficiente dos Notoristas. Transcrito em de Maio de 2004, por Patrícia Menezes. fazer campos de aviação por aí. Fiquei um mês no campo de Juazeiro do Padre Cícero. Fui para Petrolina também. Eles queriam aumentar o campo de aviação de lá, que era de 800 metros para 1.200 metros. Demorei uns três meses no caminhão com esse serviço. Depois, o dono me levou para Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, para fazer outro campo. Quando terminou o trabalho, o dono do caminhão me levou para Natal. Naquele tempo era difícil tirar carteira de motorista. Não era para qualquer um... A pessoa tinha que ter um padrinho e nem precisava saber muito de transporte, não. O dono do caminhão chegou comigo na Inspetoria de Natal vestido com a farda da Aeronáutica. Foi direto falando com o inspetor geral: “– Olha, esse aqui – apontou para mim – é mecânico e motorista meu há muitos anos. Eu estou com um caminhão carregado com gasolina de avião, carga do Governo. Eu preciso levar esse caminhão para Parnaíba e ele vai dirigindo. Eu confio muito nele, só que preciso que ele tire a carteira.” O inspetor olhou para mim e chamou um rapaz. Acho que era um Cabo: “- Pode bater a carteira desse cidadão.” E foi assim que eu consegui a carteira. No Rio Grande do Norte, por prestígio do patrão. Fomos juntos no caminhão carregado de tambores de 200 litros de gasolina de avião, porque naquele tempo não tinha tanque. Na saída da cidade, num lugar chamado Alecrim, o patrão saiu do carro. Explicou direitinho o serviço para que eu começasse a ser caminhoneiro. Depois me deu carteira de motorista e encomendou a carga para Parnaíba. Fui embora, sozinho. Para começar, com a carteira bem novinha, já peguei um rio de açude, de barreira a barreira. Não tinha ponte. Era pontão. Pontão é um naviozinho feito só com umas madeiras. Você coloca o caminhão em cima e o dono do pontão atravessa o rio. Quando chega no outro lado do rio, você tira o carro de cima e vai embora. Pontão, porque não tinha ponte. A mesma coisa que a balsa. Naquele tempo tinha outro pontão no Rio Poty, logo na entrada de Teresina. Era colocar o caminhão em cima e os homens empurrarem. Era minha primeira viagem longa! Logo com gasolina de avião, do Rio Grande do Norte até o Piauí! Para você ter uma idéia, para chegar em Parnaíba, no Piauí, tinha treze quilômetros só de areia. Você não podia parar, não. Se parasse, não saía mais. Ou tinha que ter uma enxada para abrir a areia até uns dez metros, para o caminhão poder embalar e pegar uma velocidade capaz de andar na areia. Depois o patrão trocou o caminhão em duas cargas e eu fiquei desempregado. Mas tinha sido um tempo bom. Ele foi muito bom comigo. Então eu virei motorista na cidade. A primeira empresa em que eu trabalhei foi a Empresa Severino, lá para os idos de 1949. Era uma empresa de ônibus, que fazia a linha do Benfica para a Praça do Ferreira. Foi assim: naquele tempo, eu namorava com uma moça que morava na Visconde do Rio Branco. Namoramos por cinco anos, depois me casei com ela. Estou completando cinqüenta anos de casado nesse ano! Eu morava no Benfica, vizinho da empresa, mas vinha namorar aqui. E pegava o ônibus na Praça do Ferreira, onde era o estacionamento da Empresa Severino, para voltar para casa. Então um conhecido que trabalhava na empresa me aconselhou a pedir emprego. Disse que tinha vaga. Mas eu só tinha experiência em caminhão! Só que o irmão desse rapaz era o examinador e o chefe da oficina da empresa. Ele me deu a chance. De tanto ele ter falado de mim, consegui fazer o exame. Eram três candidatos. O teste era de ir até o fim da linha, pegar o ônibus e vir parando para os passageiros subirem na linha, junto com um técnico. O primeiro rapaz largou o volante no primeiro quarteirão. Depois entrou o outro e dirigiu mais um pouco. Depois foi a minha vez. Quando chegamos na Praça do Ferreira, às dez horas, o técnico olhou para o motorista do ônibus e disse para ele ir almoçar que eu faria mais duas viagens, até o meio dia. Depois virou para mim: “- Vá devagar, porque a empresa não quer que corra! Nem encoste muito no meio fio, porque tem muito benjamim e pode arranhar a carroceria. Depois, às quatro horas, vá receber o uniforme.” Então eu entrei na empresa por amizade. Nesse tempo, as mulheres usavam uma saia curta, no joelho, bem apertadinha. Eu tinha que ter todo o cuidado para encostar na calçada e deixar a porta bem perto para as pobrezinhas poderem subir no ônibus. Era na paciência. Às vezes até descia e dava a mão para ajudá-las! Coitadas! Tinham que subir no ônibus na diagonal. Essa saia era um negócio danado, uma reclamação! Eu tinha dó. Fiquei três anos trabalhando nessa empresa. Eu gostava de trabalhar em ônibus. Fazia muita freguesia boa, ganhava presentes, perfume, camisa de linho... Naquele tempo, na avenida 13 de Maio não tinha tanto mercantil como tem hoje: tinha mais botecos. E uma mulher vinha comigo, sempre cheia de coisas que comprava e descia ali. Ela pedia para eu deixá-la perto de casa. Eu chegava na 13 de Maio, parava em frente à casa dela e ela chamava a empregada. Ás vezes, a moça vinha com as prendas para mim... Na empresa Iracema, tinha uma passageira que me dava merenda... era pote, queijo de coalho bem bonzinho que ela trazia de sua fazenda em Quixadá. Era assim que eu fazia. Depois da Empresa Severino, fui para a Empresa do Oscar Pedreira, que era a mais antiga empresa de ônibus de Fortaleza. Fiquei três anos na Empresa Severino. Eu gostava de lá, o dono era meu amigo... Eu tinha um prestígio danado com o gerente e com o dono. De vez em quando, o dono ia me deixar na casa da minha namorada com seu carro particular... Nesse tempo, eu morava no Joaquim Távora e era caminho dele, então, saíamos juntos e íamos conversando... Deixei a empresa por uma questão de uma gripe que não passava. Eu tinha tomado tudo que era remédio e não parava de tossir. Naquele tempo não tinha remédio para tuberculose. Eu tinha ouvido dizer que os ônibus eram muito quentes e que tinha muitos motoristas que estavam morrendo de tuberculose. Eu me aperreei. Então Deus me ajudou e veio um homem, alías, vieram dois irmãos para quem eu já tinha feito um serviço de uns vinte dias em caminhão. Um deles era um comerciante que trabalhava em uma empresa de seguros. O outro era de chapéu, meio esquisito, mas sempre foi legal comigo! Eles queriam comprar um caminhão novo e me chamaram para trabalhar nele. Um deles foi atrás de mim lá no fim da linha, na praça. Era um rapaz bacana, muito bem vestido, família boa... até hoje vive bem com a família. Ele disse que eu podia trabalhar para ele, mas que não poderia me pagar o mesmo que eu ganhava na empresa. Mas eu, com complexo de pegar tuberculose, aceitei o serviço. Naquele tempo, tuberculose era fogo! Os ônibus eram muito abafados... não tinha remédio fácil, como hoje. Então resolvi pegar o serviço do caminhão. No dia que o caminhão ia chegar na agência, foi só telefonar para a empresa de ônibus e dizer que eu não ia mais trabalhar lá. Mas só faltei chorar quando eu saí desse emprego! Mas foi isso: tive complexo da tuberculose e fiquei no caminhão bem novinho, trabalhando com os irmãos. Era serviço de carregar cal. Tinha uma pedreira de cal aqui perto de Pacajús e eu ia para lá todos dias de manhã, depois voltava à tarde. Era muito pouquinho serviço. A dona do caminhão, quando viu meu problema de tosse, começou a fazer uns remédios caseiros para mim e eu melhorei. Por isso, o trabalho era bom, só que eu ganhava muito pouco. Muitas vezes na minha vida eu deixei emprego por causa de salário melhor. E também das condições de trabalho, não é? Depois de um tempo, eu já estava querendo me casar e precisava de dinheiro. O caminhão era bom, mas o ganho era pouco. Então resolvi sair dali e eles me indicaram para a Empresa Iracema. Fiquei um ano e pouco como motorista de lá. O estacionamento era na Praça dos Leões, pertinho do Correio, na esquina. Era uma empresa de ônibus conceituada. O serviço era com registro, tinha muitos carros, muitas linhas lá para as bandas da praia de Iracema. Tudo era organizado: motorista gravata e blusa de mangas compridas. E ganhava melhor: era ordenado mais comissão. Tinha umas fichas que o trocador dava para os passageiros quando eles pagavam a passagem. Na hora de descer, eles deixavam as fichas na caixinha do meu lado. Por isso, os motoristas dos ônibus, logo que saíam de manhã, tinham que assinar um termo de responsabilidade sobre essas caixas de fichas... Eu tenho muita saudade... era muito certinho... Como eu era recomendado, só pegava carro bom. Eu todo fardado... parecia um soldado! Um dia, o chefe do tráfego da empresa mandou eu ir falar como dono porque o carro tinha encostado. Eu não gostei. Disse que não iria e fui embora! Eu já tinha feito um negócio em uma caçamba para trabalhar no interior, em Várzea Alegre, junto com meu irmão mais velho. Eu era solteiro, queria provar que eu era capaz de subir um pouquinho na vida. A caçamba era para era para carregar piçarra nas rodagens, areia. No meu tempo, você chegava no aterro, descia a caçamba do carro e arreava a areia todinha. Hoje é ao contrário: você aperta o botão e ela levanta e inclina sozinha para trás. É mais automático. Eu gostava de ficar em Várzea Alegre. Vivi ali com a caçamba por quase um ano. Só que eu já estava pronto para casar e não queria levar a Socorro para o interior. Ela até queria ir, mas eu não quis levar, porque achava que a vida lá seria muito dura para ela. Eu tive pena: era um sertão brabo. Aconteceu então que um tio dela arranjou um emprego para mim no cais do porto, aqui em Fortaleza. Então, eu já tinha comprado muita coisa para a casa nova. Foi só chegar, alugar a casa e me casar. E comecei a trabalhar como motorista no cais do porto, com cargas de navio. Fiquei uns dez anos nisso. Passava o dia parado mas trabalhava a noite toda. Primeiro foi com um homem que era muito gente boa, mas que não cuidava dos três carros que ele tinha. Gastava muito dinheiro Depois fui para trabalhar em empresa. Chamava “Diretoria”. Tinha quatorze caminhões que faziam as cargas das empresas de navegação que vinham de São Paulo. Eu me lembro de trabalhar com cargas da Parcival, com óleo, com a Everest... Era dia e noite! Eu cansei de pegar embarque da Brasil Oiticica com seis mil toneladas de óleo. O navio completo dava doze caminhões. Quando chegava no cais, (...) eu nem saía da boléia. Só entregava a nota fiscal e carimbava. O pessoal, na traseira do caminhão, colocava uma mangueira até o navio. Tinha um motor que puxava a carga para o caminhão. Então passavam cinco minutos e já carregava aquela carrada. E para não perder tempo, porque ganhava comissão, eu não parava para comer. (...) Enquanto carregava, eu acabava de comer a marmita, dentro da boléia mesmo. Se fosse de noite, levava uma lanterna para poder ver. Os navios traziam toda a qualidade de cargas para o Ceará, porque nós não tínhamos estradas de rodagem. Não tínhamos caminhões que viajassem daqui para São Paulo, porque nada era asfaltado, como é hoje. Muita coisa vinha para cá de navio. Tinha navio carregado com duzentos mil sacos de açúcar, que davam em vinte caminhões na hora de descarregar. Demorava uma semana para tirar toda a carga e levar para os armazéns daqui! Cimento era outra coisa que vinha bastante. Não tinha fábrica de cimento no Ceará. Hoje, nós temos três fábricas, mas antes, o cimento vinha da Holanda! A gente ficava dia e noite descarregando o navio, direto. Era mais difícil! Não tinha caminhão grande, não. Hoje tem muita carreta por aí. Tem carreta com quarenta toneladas! Em Tabuleiro do Norte e Limoeiro tem 150 carretas! São os lugares do Ceará onde tem mais caminhão. Eu lembro que no meu tempo, era carroceria de madeira coberta com três lonas. Meu carro tinha três lonas e eu podia passar três anos levando chuva que não tinha problema. Hoje não. Hoje é tudo fechadinho assim com cadeado no furgão. É mais seguro. Então eu pegava a carga no cais e trazia para os armazéns da Praia de Iracema, perto do quartel general. Quando era cimento, eu levava para um depósito em Jacarecanga. O dono do depósito comprava a carga de cimento. Só que não dava para comprar muito, porque não vendia e a mercadoria acabava estragando no armazém. Então os donos de armazéns e os vendedores se reuniram e concordaram em cada um vender uma porcentagem para trazer o navio completo. Tinha esse armazém em Jacarecanga, tinha outro encostado no Canal 10... Eu ficava a noite todinha. Às vezes, tinha que descarregar 200 mil quilos de carga em dois dias! Os motoristas recebiam por cada viagem que faziam. A cada saída, a gente ganhava um pedacinho de papel e o pessoal da Diretoria ficava com uma cópia para controlar. Os caminhões eram da Diretoria. Mas é claro que já tinha uma escala de motoristas pronta, com as placas dos carros que iam para a Brasil Oiticica, para a Fidal... Os motoristas se interessavam, porque ganhavam pouco. E tinha um negócio de que se um motorista arrumasse carga particular, tinha que pagar dez por cento. Eu deixei de trabalhar no cais por dinheiro. Achava que ganhava pouco. Era melhor trabalhar com diárias. Então, em 1972, comecei a viajar pela empresa L Figueiredo. Acho que era “L. Figueiredo Transportes Rodoviários”, uma coisa assim... Era a filial de uma empresa de São Paulo. Quando cheguei para a entrevista, o gerente pediu que eu contasse toda a minha no volante. Eu já tinha 12 anos de carteira! O homem gostou de mim e perguntou porque eu estava deixando o trabalho no cais: “- Por que você vai deixar o Chico Martins e trabalhar comigo/?” Eu não menti: “- Olha, eu sou casado, tenho cinco filhos e ganho doze mil com o Seu Chico. Aqui serão quinze mil, mais as diárias. Logo, meus filhos estarão no colégio e eu tenho que esforçar para melhorar a nossa situação.” O gerente disse que minha entrevista foi melhor que a minha apresentação e deu o lugar para mim. Peguei um caminhão novo, zerinho. Era um Mercedes... O dono me pagava quinze mil, que era meu ordenado na carteira, mais as diárias. Para São Paulo eram vinte dias, para o Rio de Janeiro, dava uns dezoito, porque o Rio é quatrocentos quilômetros mais perto do que São Paulo. Algumas vezes eu ia e voltava de São Paulo em dezessete dias, outras vezes, fazia com vinte e dois ou vinte e três dias. Teve dias que eu chegava em São Paulo às quatro horas da tarde e começava a voltar às dez da noite. Eu chegava no armazém, começava a carregar. Tinha um rapaz com uma prancheta na mão e um monte de carga para entrar no carro. Cada caixa da carga tinha um número. Ele anotava tudo. Tinha o nome do dono da carga, do cliente e o número da caixa para entregar. Era o “manifesto”. Além disso, tinha a nota fiscal das mercadorias. Os homens vinham trazendo as caixas na cabeça, ou nos carrinhos de mão e o rapaz da prancheta controlava tudo. Depois disso, eu entrava na fila para pegar a ordem de pagamento. Eles davam um tipo de cheque para as despesas e mais os documentos da carga em um envelope grande. Quando terminasse de aprontar o carro, já saía em viagem. Eu gostava quando não tinha carga pronta, porque dava para ficar uns dias em casa. Se eu estivesse em São Paulo, dava para ficar um pouco por lá. Cheguei a ficar quatro dias em casa porque não tinha carga nenhuma. Mas sempre teve serviço. Cansei de carregar amêndoa de castanha daqui para Recife, para Porto Alegre, para São Paulo. Naquele tempo, a Brasil Oiticica era a maior indústria de óleo que tinha no Ceará. Ela tinha 150 homens trabalhando em três turnos e mais as mulheres, descascando a castanha. Era enorme! E acabou ganhando um premio com o óleo de mamona. Tinha muita carga para carregar... Levei muita castanha para a matriz da Brasil Oiticica, que era numa cidadezinha do Rio de Janeiro. Fui muito para Belo Horizonte também. Aliás, fui eu que fiz a primeira viagem de Fortaleza para São Paulo nessa empresa. O que eu mais levava era mesmo amêndoa de castanha. Mas carreguei de tudo! Teve até mosaico, que eu levei para o Porto de Santos. Uma vez eu trouxe para cá uma carrada de filtro. Hoje não se usa mais, mas naquele tempo, tinha uns filtros de barro com uma torneirinha. E a vida ia passando. Teve um dia que eu estava em Porto Alegre carregando meu caminhão. Tinha encostado o carro e já ia levantando a carga nas tábuas, quando o dono do armazém chegou para me dar os parabéns. Sabe por que? Por causa do Presidente da República, já viu? Era o Castello Branco, que era cearense. O dono do armazém disse que era bom ter um presidente conterrâneo, porque ele sempre ajuda a terra da gente. Ele me contou que quando teve um presidente gaúcho, até ponte, rasgando fazenda de animal ele mandou fazer. Eu respondi: “- Olha, eu não acho isso, não. O presidente disse que o Brasil está precisando pedir esmolas para pagar os juros da dívida externa. Está até fazendo empréstimo. Então o presidente não deu nada para o Ceará, alegando esse motivo”. Ele estava falando do Jango, que era do Rio Grande do Sul. O Jango estava com tudo! Metia a mão. Tudo que Porto Alegre quis, ele deu e não quis nem saber... Os cearenses tiveram seu presidente da República, mas ele não deu nada para o Estado, porque era seguro demais, sério demais, queria botar moral. Eu lembro... Cheguei a ver no Recife e até aqui, na Praça do Ferreira, uns soldados da base Aérea, do Exército e da Marinha tocando umas musicazinhas... aqueles dobrados bem bonitos, feito uns hinos. Ele pediam: “- Vamos ajudar o Brasil! O Brasil vai melhorar, é só esperar! Vamos dar um pedaço de ouro, um anel quebrado, um brinco para ajudar a pagar a dívida do Brasil!” Estava cheio de gente colocando aliança de ouro lá. Mas eu? Nunca dei nem bom dia! Eu sempre gostei de ter bastante informações sobre os lugares onde eu vou. Mas o pessoal sempre ajuda também. Na primeira vez que fui para Porto Alegre, fiz um mapa. Lá estava escrito: você entra em Porto Alegre por aqui, chega na Avenida dos Farrapos... E fui entrando na cidade. Quando estava na Avenida dos Farrapos, depois de passar por uma ponte com uma placa para Porto Alegre, eu vi um soldado da base aérea esperando o ônibus em uma parada. Parei o carro, cheguei perto e perguntei: “- Você vai para o Centro? Eu estou chegando na cidade pela primeira vez e vou para a Rua Portugal. Você quer ir comigo?” Eu abri a porta do lado do passageiro, ele entrou e me levou até a Rua Portugal. Passou o lugar dele descer. E era a primeira vez que eu estava por lá... Depois precisei de ajuda para descobrir onde eram os Correios, porque precisava avisar minha mulher que eu tinha chegado bem. Mas eu não conhecia nada. O pessoal me ajudou. Aproveitei ainda para telegrafar para minha mãe, que estava em Pernambuco. Ela estava preocupada comigo, porque estava chovendo muito no Sul. Foi rápido, só frases curtas, por telegrama. E tinha que avisar a empresa também, não é? Nas capitais do Brasil, quando você vai entrando na cidade, aparecem uns rapazes que dão sinal para o carro. Eles são os “chapas”. Entram no carro e te levam até onde for, se você não conhecer o caminho. A viagem de Fortaleza para o sul, naqueles tempos, era boa demais. Não era tão perigosa quanto é hoje. Os postos de gasolina davam uma assistência muito grande para os caminhoneiros. Eles faziam lajes para encostar os caminhões, tinham restaurantes e pequenas oficinas. No meio do caminho tinha de tudo que você pudesse necessitar. Se precisasse consertar um pneu, logo encontrava uma borracharia. Era caro, mas o serviço era bom. Então eu pagava o serviço de conserto com o dinheiro que a empresa me deixava logo que saísse e guardava o recibo do pagamento. Depois a empresa ressarcia. A diária que eles pagavam era só para o motorista comer na estrada, o resto, eles devolviam tudo. Eu me lembro até do rapaz que fazia as prestações de contas na empresa... Tinha lugares que ninguém queria ir porque a estrada era ruim e não tinham postos. Uma vez eu preferi viajar para o Rio de Janeiro ao invés de sair para Belém por causa disso. Maranhão, então... Ninguém queria ir. Não tinha lugar para comer, então precisava levar comida para cozinhar no caminho. Os caminhoneiros levavam uma malinha de comida no caminhão, tinha fogão, tinha panelas, tinha louças. Depois passavam na feira, compravam galinha, verdura. Eu não gostava de cozinhar, mas cansei de comer comida de motorista na estrada, porque fiz muitas amizades. Chegava perto do caminhão, abria a luz e começava a conversa. Os colegas queriam saber como estava a estrada na frente, porque motorista de caminhão só fala mesmo de estrada. Então eu dava as dicas, avisava dos perigos, porque as estradas eram de chão e tinha alguns trechos ruins. Então vinha a comida. Geralmente, se cozinhava para o almoço e para janta. Nesses caminhos tinha que dormir no caminhão. Não tinha negócio. Encostava o carro, travava as portas por dentro e arriava a cama. Não cheguei a dormir em rede, até porque lá no sul não tem rede. Podem ter duzentas casas, mas nenhuma tem armador de rede! Geralmente, as camas das casas ficavam fechadas ou guardadas em um canto. Na hora de dormir, era só puxar. Mas também era fácil de descer a cama do caminhão: abaixava os assentos, porque o Mercedez tem dois assentos que baixavam e faziam uma cama. A cama já vinha com colchão, colcha, e travesseiro. Era só deitar no lado do guidão e deixar o outro lado para as coisas de cozinha. É uma vida de cangaceiro, mas uma vida danada de boa. Ninguém tinha medo e isso era a melhor coisa. Hoje, ninguém confia em ninguém. A empresa pagava um pouco melhor que as outras, justamente para a gente nunca levar ninguém. Por isso, sempre viajei sozinho. Se eu quisesse levar uma pessoa daqui para São Paulo, por exemplo, tinha que falar com gerente. Aí ele autorizava, pegava o número de identidade da pessoa, avisava na matriz, mandava a placa do carro e o perfil da pessoa. No caminho, ninguém podia dar carona. Só que o chefe já tinha avisado: “- Se você está na estrada e vê um motorista parado com uma peça na mão, deve parar para ajudar. Leve até a cidade mais próxima, porque nisso não tem azar nenhum”. Uma vez eu levei minha mulher para São Paulo. Depois levei mais outras pessoas, mas foi pouco. Como toda a carga era escrita direitinho no manifesto, eu não tinha medo de perder nada. Só me lembro de duas vezes em que me assustei. Na primeira, era um carregamento de mais de oitocentas caixas de medicamentos que eu tive que levar para a rua 24 de maio. Eram caixinhas pequenas, e tinha dado uma sobrinha... Na hora de conferir, eu ficava torcendo para baterem os números certinhos. E não deu nada demais. Na outra vez foram uns sabonetes que eu peguei na Pinto Madeira para colocar num navio. Eram quase mil volumes e eu carreguei sozinho, sem ajudante, a uma hora da manhã! E fui no meu caminhãozinho, não via ninguém na rua, estava aperreado. Tinha umas ruas de calçamento ruim, mas eu dizia para mim mesmo que não tinha perigo de cair nada, porque os caibros eram seguros... mas o caminho era difícil: passava por dentro de um rio, cortava por ali... Ali perto da LesteOeste eu parei o carro e conferi tudo. Olhei por baixo, por cima... depois peguei um barranco na Monsenhor Tabosa e toquei para a praia. Cheguei ás três da madrugada, cheio de cuidado com a carga. Mas fiquei com medo que o rapaz que conferia pudesse cochilar. Começamos a descarregar. Veio o estrado, que um negócio de madeira quadrado, como uma base. Depois vinha a empilhadeira, que tem umas alças que entram por baixo do estrado e levantam. O rapaz contou as caixas no estrado uma por uma e deu certo. Era um técnico! E eu com medo que ele dormisse... Uma vez eu carreguei em São Paulo dois tratores para levar à Floriano, no Piauí. Eram uns tratores da Massei Ferguson, que tinham umas pás que arrastavam uma caçamba. Coisa grande. E fui embora. Estou falando na década de 1970, quando as estradas não eram como hoje. Era estrada de chão. Tinha uma trepidação enorme! Mas pensei: “- Tudo bem! Vamos embora...” Peguei um barro... Ia devagarzinho porque já era noite, desviando dos buracos. Estava procurando um lugar para dormir, próximo de Avaré. Então um colega passou e me deu luz. Parei e ele disse: “Rapaz, eu vi uma caixa atrás na estrada, mas fiquei com medo de parar. Então tirei meu carro por fora da pista. Vamos olhar o que é”. Ele tinha medo porque, naquela época, os assaltantes colocavam uma caixa na estrada e quando o motorista parava o caminhão para ver o que era, eles atacavam. Ouvi o colega e voltei um pouco. Era um mato, longe de tudo. Não tinha nenhuma casa por perto. Quando rodeei meu carro todinho, vi que uma barra, lá no fim da carroceria tinha se quebrado e fazia um buraco. “- É daqui!”. Então cheguei perto da caixa caída na estrada e vi o número dela. Era o número que vinha no manifesto e na nota fiscal da mercadoria. Era uma caixa de peças do trator que eu não tinha coberto. Tive que abrir a lona e colocá-la novamente, passando a corda mais forte. Apesar desses sustos, graças a Deus, nunca tive problema com carga. Os motoristas se falam na estrada, com as luzes ou com a buzina. Um dia, eu estava em São Paulo, perto de Aparecida do Norte. O carro estava bom e eu ia andando bem. Foi quando eu vi de longe uma carreta, que abriu as luzes duas vezes para mim. Depois de novo. De dia? Eu pensei que pudesse ser algum conhecido do Ceará, mas, quando cruzamos, o motorista nem olhou para mim. Continuei viagem, mas fiquei pensando, pensando.... Um pouquinho lá na frente tinha um carro quebrado que estava atravessado na estrada. Não chegou a parar o trânsito, mas a gente só passava de um lado pista. E tinha um guarda rodoviário por ali. O caminhoneiro tinha me dado o aviso para passar devagar. Deu o sinal dizendo que havia alguma coisa ali na frente. Em uma outra vez, o caminhoneiro abriu a luz três vezes. Depois tornou a abrir e ainda mais uma vez. Quando passei por ele, ele fez um gesto com as mãos no pé do gigante, como se dissesse: “- Se vira!”. Sequer olhou para mim. O gigante é o painel do caminhão. Depois fiquei sabendo que lá na frente tinha uma blitz da polícia que estava parando todo o mundo. Blitz, a gente chama de “barreira”. A gente avisa os colegas sobre a barreira com as luzes ou com a buzina. Não é uma buzina só, não. São vários toques. Então quando ouve a buzina, o caminhoneiro já sabe que tem alguma coisa adiante. O gigante é o caminhão. Mas tem diversos tipos. Tem a carroceria, tem o furgão. Tem a carroceria de carga seca e a carroceria de carga líquida, que é o tanque. A carroceria de carga seca é de grade e vai cheia de engradado de cerveja ou coisas assim. O furgão leva carga embalada em caixa de papelão, que é mais delicada. Eu levava muito engradado. Uma vez, em São Paulo, levei umas vinte e duas geladeiras para Teresina, todas em pezinho em um lado da carroceira. Do outro lado eu levava uns engradados empilhados. Dava uns três metros de altura. Aí, quando eu cheguei em Teresina era tão alto que não dava para entrar em um trevo. Tive que desviar. Mas há um tempo atrás, mesmo quando eu dormia na estrada, não tinha tanta preocupação com ladrão da carga. Além disso, dormia muito em posto de gasolina. E mesmo quando era um trecho de estrada que não tinha posto, a gente já sabia onde dormir. Os caminhoneiros já sabem... Eu sempre viajei só. Não tinha como trocar, por isso, eu tinha que parar para dormir. Então achava um lugar para me encostar ou parava em um posto. Teve uma vez que eu andei muito e fui dormir quase à uma hora da madrugada. Mas eu tinha um controle: sempre parava para dormir umas dez horas da noite nas estradas que eu conhecia. Nas estradas estranhas, que eu não conhecia, parava, no mais tardar, às sete na noite. Mas sempre parava para dormir. Ou numa casa ou num posto. Cheguei, entrei na rua vi que tinha uma luzinha lá na frente. Perto da luz tinha um soldado. Era um quartel. Eu disse para o rapaz: “- Me chame às cinco horas, que eu vou te dar um dinheiro para o café”. E eu encostei e dormi. No acostamento era muito difícil de eu dormir. Uma vez eu dormi na serra das Araras. A Serra das Araras é uma serra muito perigosa que faz a divisa do Rio de Janeiro com São Paulo. Começa a uns sessenta quilômetros da cidade do Rio. Era tão perigosa e tinha tanto abismo que se colocava uma proteção de cabos de aço nas curvas para o caminhão não cair lá embaixo. Outra serra que é muito perigosa é a de Petrópolis, também no Rio. Lá tem dois sentidos. Uma ladeira que vai para um lado, outra que vai para outro. Até que numa noite eu me assombrei. Saí do Rio de Janeiro às sete horas da noite em rumo para São Paulo. Quando eu começo a subir a serra das Araras, não vi nenhum carro. Comecei a achar estranho. Tinha aquela placa “conserve à direita”, mas não tinha carro vindo de lá para cá. Olha, uma coisa boa é que para os lados de lá, tudo sinalizado! E eu achava estranho aquele vazio, mas continuei a tocar, sempre à direita. Achei que lá na frente eu ia gente eu ia ver porque tinham interrompido o tráfego. Mas só depois de um tempo que eu vi uma fila de carros vindo ao contrário, lá longe, na montanha. Tinham terminado outra via da Serra! Eles já vinham falando que iam fazer outra, mesmo! Eu vou te falar uma coisa: eu tinha mais medo de descer a serra do que de subir. Porque tem muito carro, você não pode correr. Tem que ir devagarinho, segurando a carga, na marcha. Em Petrópolis, no Rio de Janeiro, tem uma serra com 21 quilômetros! É chão! E tem dois túneis em que o caminhão passa por debaixo do chão. Um deles é o “Túnel do Papagaio”, com 116 metros e o outro tem 178 metros, o “Véu da Noiva”. Você vai andando naquela serra e tem aquelas marcas de um lado para outro na estrada. De repente, você vê o arco do túnel na sua frente. Para passar tem que respeitar muitas coisas: não pode buzinar, não pode acender a luz. É difícil de descer! Ninguém gosta de descer serra. È perigoso. Subir é melhor. Quando as estradas eram de chão, tinha que usar o cepo para subir. Era pior. Mas hoje, não usamos mais. Hoje, a construção das estradas é toda “cronometrada”. Tudo é passado para o engenheiro, tem mapa, tem tudo. Só para você ter uma idéia, tem 3.000 quilômetros de chão daqui para São Paulo... antigamente, o caminhão quebrava... Em todo o canto tinha caminhoneiro trocado mola dos carros! Era muito caminhão, então em todos os postos de gasolina tinha uma oficina para os motoristas pararem. Aí, um dia, o Juscelino Kubistcheck resolveu e criou uma lei que passou no Senado para asfaltar a Rio-Bahia. Mas mesmo assim, vieram os outros e “- Não! Não tem dinheiro para isso não! São dois mil quilômetros de chão... Fazer asfalto para tudo isso?” Já tinha estrada, mas era de chão. Era a BR 116, que se chamava Rio-Bahia. Aí acontece que o Juscelino criou a lei para asfaltar a estrada e contratou uns construtores do Uruguai, da Argentina... Depois o Jânio Quadros ganhou a eleição e disse: “– Essa estrada vai ser feita sem parar! As empresas que estão aí, se não trabalharem dia e noite, terão que sair. Eu vou colocar outras no lugar. É trabalhar sem parar. E nenhuma empresa vai ficar com 40 quilômetros, porque vai demorar muito. Já se passou mais de um ano... Serão, no mínimo, 20 quilômetros para cada uma.” Aí ele tirou nome do Ministério dos Transportes dos documentos e criou um ministério exclusivo para a estrada. Não estou lembrado do nome do ministério... E foi fazendo a estrada. Em todo o lugar tinha gente trabalhando na construção. Se tivesse um atoleiro ou alguma coisa difícil de passar com o caminhão, tinha uma máquina na frente para puxar, tinha o rodoviário para ensinar... Não precisava parar não. Tinha tudo ali, viu? Era um negócio bacana mesmo! O doido mandou, tinha que fazer... O caminhão passava em primeira, bem devagarzinho, porque não tinha poste, não tinha nada! Era estrada de chão, original do sertão. O pessoal subia pela traseira, cortava a lona – porque todo o caminhão era lonado: não tinha furgão como hoje – e mexia na carga. Ele tinha mandado fazer a estrada de um jeito para não ter nenhum trecho que o caminhão não andasse com 30 quilômetros. Aí era trinta por cento nas lombadas e vinte por cento nas curvas. Tinha curva que... Logo lá no pedaço que vai dar na usina, tinha um cotovelo que era bem assim como eu estou fazendo. Eu vi só duas curvas dessas da minha vida: era essa aí que ia para a usina, que a gente chamava “cotovelo” e no Espírito Santo, perto de Vitória, onde tinha outra que o pessoal rodeava a cidade todinha e ainda chegava primeiro de quem fazia a curva! Era assim! E tudo o que Jânio Quadros fez desse negócio da velocidade foi na matemática! E foi feito. Agora, a estrada está uma beleza! Principalmente para quem, como eu, viu o começo, quando era no chão. Tinha asfalto lá perto do Aracati e depois acabava. Ia na terra todo o sertão. A gente só ia entrar em asfalto perto da divisa do Rio de Janeiro, lá em Bento Altino, a última cidade de Minas Gerais. Era só lá que começava o asfalto. Eu me lembro! Perto de Além Paraíba, tinha uma carreira de poste, do lado da pista e começava o asfalto. Mas antes, eram 2.000 quilômetros de chão. Inclusive na inauguração do asfalto da estrada eu estava em Vitória da Conquista. Quem inaugurou foi o João Goulart. O João Goulart governou pouco também, porque era comunista. E ele passou pela estrada em Vitória da Conquista quando eu estava lá, no dia da inauguração. A estrada estava todinha no pretinho, até São Paulo! Naquele dia, eu tinha dormido em Portões, para descansar um pouco, e eram mais ou menos umas cinco horas da manhã eu acordei e comi um pouco de feijão para começar a rodar. Rodava sempre até umas nove ou dez horas da noite, no máximo. Quando eu cheguei na rodoviária em Vitória da Conquista, o inspetor me parou. “Por quê?”, eu perguntei. Ele disse que naquele dia não ia rodar nenhum carro pela estrada e que eu podia ir voltando... Eu estranhei: estava com tudo em ordem, não estava quebrado... Mas fiz a manobra e voltei. Pouco mais à frente, encontrei um posto de gasolina. Diga-se de passagem que Vitória da Conquista era uma cidade bonitinha no sertão baiano. Naquele dia, estava cheio de jornal, tinha não sei quantas estações de rádio, transmitindo para o Brasil e para o mundo... e nós ficamos por ali. Eu sabia que estrada ia ser inaugurada, mas não sabia que seria naquele dia. Então foi uma surpresa para mim. De repente chegou a comitiva. Acho que tinha uns 2.000 automóveis! Era muito carro! Vinham até os governadores dos Estados vizinhos, mais aquele negócio de deputados e tudo mais. Olha, passou tanto carro! Quando eu vi o João Goulart, eu acenei para ele. Ele também acenou, mas acho que era para todo mundo que estava olhando: tinha gente demais. Quando foram quatro das horas da tarde, liberaram a estrada e eu segui. Fui um dos primeiros a rodar na estrada de asfalto! Estrada é importante, mas é difícil de construir. Hoje tem máquinas para fazer, mas antes, construía na mão. Todas as vezes que tivesse que fazer um aterro, eram os homens que cavavam a terra com picareta, enchiam um carrinho de mão e levavam embora. Um dia eu estava no cais do porto quando chegou um navio da (...), que era a maior companhia de navegação marítima do mundo, dos Estados Unidos. Era tão grande que tinha um calendário com todos os portos do Brasil, onde eles marcavam o dia que o navio atracava. No outro mês tinha marcas no dia que os navios iam sair. E nesse dia, o navio chegou com uma máquina bem grande. Era para a construção de um açude. A máquina fazia o trabalho em dia, por oito horas, de cem homens! Outro dia eu li uma história que há muito tempo, a carga vinha em carro de boi. Era carro de boi do Rio de Janeiro para Salvador – Salvador não: para a Feira da Bahia! Feira de Santana já existia! 2.000 quilômetros, em carro de boi, não é mole, não. E tinha quem vir para o sertão. Naquele tempo, o José do Patrocínio era um jornalista cearense e escreveu para Dom Pedro II. Ele dizia que no Ceará não tinha chovido e que tinha muita gente morrendo de fome. Nesse tempo, transporte era navio. Só navio, viu? – Estrada, só para você ter uma idéia, era assim: por exemplo, você ai para o Crato, passava por Canindé. De lá tinha uma estrada para Morada Nova, para Quixadá. E você seguia por Quixadá. Lá tinha uma outra estrada para Salgueiro. Dava umas voltas... não tinha esse sistema todo. Mas, sabe? Se você quiser trabalhar, você não morre de fome. A mata, no tempo do Dom Pedro II tinha muita coisa para comer, tinha toda a qualidade de cacto, tinha o peixe... é só fazer um poço profundo... O José do Patrocínio pegou um fotógrafo muito bom e foi para o interior. Esse fotógrafo fez o retrato de uma menina de cinco anos morrendo de fome. Você sabe que quando tem fome, tudo emagrece, mas os ossos e os olhos não diminuem. A carne vai embora, mas o chassis fica todinho. Ele tirou a fotografia quando a menina estava chorando de fome e dizendo “- Meu pai, me tire daqui e me bote no chão!” E não tinha nada para comer no lugar. E ela morreu de fome. E o José do Patrocínio tirou o retrato direitinho e mandou para o Dom Pedro II. Mandou de navio! Navio não anda não. Demorou muito para chegar. Mas, graças a Deus, o imperador recebeu a carta com o retrato. Um retrato vale mais do que palavras... é como a televisão, é uma testemunha ocular. Quando o Dom Pedro viu o retrato, chorou. Então reuniu a assessoria dele e disse: “- Olhe, eu vou fazer de tudo para que o povo do Ceará não morra mais de fome”. E mandou procurar comida e transporte. Aí, em um instantinho, dentro de poucas horas, se juntou o comércio todinho do Rio de Janeiro, arrumou as coisas e botou nos carros para carregar o navio para mandar para o Ceará. Eu acredito que, por mais ligeiro que andasse, levou muitos dias para chegar. Navio é devagar demais... E quando chegou aqui, tinha que ir para o sertão. Hoje, dá uns quatrocentos quilômetros, mas naquele tempo, porque as estradas eram daquele jeito, acho que dava bem uns mil quilômetros. E carregaram os carros de boi. Mas não tinha nem água. Os homens andavam a noite todinha com os bois, porque boi só trabalha de noite. De manhã, os bois empacavam. Simplesmente não andavam. Não tinha água, mas, como a natureza ajuda muito, tinha muito mandacaru, que hoje não tem. Aí eles pegavam o mandacaru, quebravam e cortavam os espinhos todinhos com a faca. E os bois comiam aquilo e adoravam. Se deixar, eles comem até a mão da gente. Isso é coisa da natureza, porque a natureza ajuda muito. Então das dez da manhã até as quatro da tarde eles paravam na sombra e os bois ficavam comendo. E foi assim que chegou a comida no sertão. Eu tenho muita coisa bonita para lhe contar sobre sono. Graças a Deus, eu tenho um espírito adiantado e é por isso que estou vivo. Se eu fosse burro, eu tinha morrido há muito tempo! Eu vi muita gente deixar de trabalhar de dia para dormir e deixar para rodar de noite. Mas eu?! Nunca foi doido! Toda a vida eu tive comigo que sempre que eu fosse viajar – e eu viajava mais para São Paulo – eu devia ter as horas reservadas para dormir, para comer, para descansar, para fazer as minhas coisas, e tudo dava certo. Eu agüentava. Eu rodava até dez horas da noite, no máximo, a não ser se tivesse um empecilho. Depois vou lhe contar uma... Às dez horas da noite, eu arriava. Tinha gente que tomava banho para ficar acordado, mas eu nem muito banho tomava, não. Às vezes tinha um boteco, em um posto. Eu merendava – nós chamávamos “bagulhar”: era o mesmo que comer - , encostava o carro e dormia mesmo! Acordava às cinco horas, batia nos pneus com a marreta, abria o capô e olhava o óleo do motor, completava a água. Já ia com uma toalha, entrava no posto, lavava o rosto. Às vezes, eu tomava um cafezinho. Mas muitas e muitas vezes eu não tomava. Só quando aparecia. Eu tomava café só de manhãzinha. Quando davam umas oito horas é que eu mandava estalar dois ovos e comia com pão, bolacha... daí eu me forrava! Por que se carro desse um prego, ou se eu estivesse em um lugar que não tinha comida, eu já estava com o estômago forrado. Eu bagulhava bem mesmo só pelas oito horas da manhã. Depois, tocava para estrada. Quando dava meio-dia, ou meio dia e meia... Teve um dia, lá em Além Paraíba, no Rio de Janeiro com Minas Gerais, que eu cheguei lá pela uma hora da tarde. Parei o carro em um posto, enchi o tanque e calibrei os pneus. Então o rapaz disse: “- Você está com uma cara de quem não almoçou ainda...” Eu respondi: “- Eu não posso lhe negar, porque eu não nego nada a ninguém. Não almocei mesmo! Estou morrendo de fome!”. Eu tinha feito um cálculo na quilometragem para chegar ali às onze horas, mais ou menos. Mas não deu certo e eu acabei chegando só a 1 hora da tarde. Ele disse: “- Olha, rapaz: almoce, coma na hora, porque a comida só serve na hora de comer mesmo. “ E ele estava certo. E a comida só serve se for bem pouquinho. Você deve comer sempre na hora certa... se passar da hora, você come muito mais e pode até fazer mal. Além disso, mais tarde, você só pega resto de comida e o intestino não aceita. O rapaz continuou: “- Lá pelas onze e meia – não deixe passar de onze e meia – você deve comer seis pãezinhos”. Depois ele continuou a olhar os pneus e eu fiquei toda a vida comendo na hora certa. Mesmo quando eu estava no sertão. Às vezes, a mulher dizia que o feijão ainda não estava pronto, mas eu respondia: “- Eu espero...”. E ficava comendo uma cebola enquanto esperava. Eu era doido por uma cebola. È bom para a barriga. Vou até te contar um caso: Teve um motorista aí – ele ainda está vivo para contar essa história – que adoeceu da barriga porque ele era desse tamanho! Ele chegou em um lugar, foi comer e passou mal. Então, uma guarda rodoviária aconselhou: “- Vá até lá e procure a ...” Eu não sei o nome dela... era no Hotel Recife, onde estava a mulher. Aí ele foi até lá e procurou a mulher. Parou o carro no posto. Aí pegou uma cebola, descascou e comeu todinha. Não se passaram nem quinze minutos: começou a bater vento. Aí a barriga baixou, baixou ... Ele estava com a barriga desse tamanho! Ele ficava muito tempo sentado. Se ainda tivesse cuidado de provocar vento... Porque a gente tem que fazer o vento sair também, não é? Ele comeu a cebola todinha e com 15 minutos ficou bom. Ventou muito e arrotou. Aí a barriga baixou por conta daquela cebola. Por isso que Severino ficou comendo cebola enquanto era caminhoneiro e come muita até hoje. Não me lembro de comer lá em casa muitas vezes, mas quando eu comia, minha mulher cortava a cebola e eu, se ela deixasse, comia todo o pedaço. Cebola pura! Peguei costume de comer cebola. Agora, tem um negócio em São Paulo, quando vai para o Rio de Janeiro. Dá uns quatrocentos quilômetros e você passa a divisa. Tem um canteiro no meio e duas pistas... alí é carro que só a peste! Depois, a primeira rua dá para entrar é a BR 157. Assim: aqui é a BR 115, a Rio-São Paulo, a Presidente Dutra. E você entra na BR 157, para pegar para o Rio de Janeiro. Aí, no Rio de Janeiro, você passa Volta Redonda, Vassouras, tem também Três Rios... Três Rios é uma cidade é uma cidade bem grande. Dali, com oito quilômetros, aparece um viaduto bem grande com uma placa “São Paulo”. É para chegar na Via Dutra para voltar para São Paulo. Mas, se você está indo para o Rio de Janeiro, passará por baixo da ponte. Pois bem: eu estava vindo de São Paulo. Quando cheguei na entrada do Rio, eram mais ou menos nove horas da noite. Já era hora de dormir. Cheguei no primeiro ponto e tinha caminhão estacionado por todo o lado. E eu não dormia na beira da estrada: gostava de guardar bem meu caminhão. Então passei para outro posto. Também não tinha lugar. “- Onde eu vou dormir?” Deram onze, meia noite e eu sem achar um posto. Quando eu já estava para sair da BR 157, vi um postinho de gasolina onde tinha uma carreta ancorada – porque nesse tipo de carro, eles tiram a carga, para não ficar o peso no feixe de molas a noite todinha. Eu achei que poderia deixar meu caminhão por trás dela e fui dormir. Eu tiraria o carro antes de a carreta sair. Mas quando acordei, às seis horas: “- Meu Deus! A carreta não estava mais lá!.” Eu saí na correria, porque achei que ela podia ter batido no meu caminhão. Mas o cabra foi legal, porque o carro da frente dele tinha saído e ele não precisou dar ré. Mas eu levei um susto... Tiveram outras vezes que eu fui dormir tarde, mas não me lembro agora. Só que café, essas coisas para ficar acordado, eu nunca usei. E vinham os colegas que tomavam droga me oferecer, mas eu nunca quis. Em toda a minha vida, eu achei que um homem deve fazer somente aquilo que ele puder. Uma vez eu vi um caminhão virado no asfalto. Fui perguntar o que tinha acontecido e veio o motivo: sono! O motorista estava sentado, chorando, com as mãos na cabeça. Tinha motorista que tomava Coca-cola com café. Uma vez eu carreguei o caminhão em Recife para levar a São Paulo. Na estrada tinha um posto e eu parei. Eram umas sete da noite. Comi alguma coisa e comecei a brincar com os colegas e vi um motorista que tomou café com Coca-cola para chegar logo no Recife! Eu nunca fui doido. Sempre tive horário para dormir, para comer, nem que fosse para esperar para fazer comida nova. Eu era regrado, até com cigarro! Chegava em São Paulo e comprava um pacote com dez carteiras de cigarro: dava para vinte dias certinhos! Eu tinha um rádio amarelinho que ficava dentro da cabine. No meu radinho bem pequenininho eu pegava “A Voz da América”, de uma rádio americana que tinha um programa em português do Brasil. Pegava também a rádio Bandeirantes, de São Paulo. Eram 24 horas. Toda a hora do dia e da noite, com ajuda aos motoristas. Dizia onde a estrada estava boa, onde a estrada é ruim... A Jovem Pan, às 4:00 horas da manhã já estou sabendo das manchetes dos jornais do mundo. O tempo em que eu trabalhei na L. Figueiredo foi muito bom. Eu tinha um privilégio muito grande. Ajudava muito. A rapaziada queria montar uma filial em Teresina, outra em Sobral ou qualquer outro lugar e me chamava. Eu aprontava tudinho, enchia o caminhão, descarregava. Minha mulher telefonava para eu comprar as coisas que não vendia por aqui... Me lembro de uma vez em que o pessoal recebeu um recado dela para eu levar alguma coisa para Fortaleza. Eles não só me deram o recado, como deixaram eu sair para comprar e ainda levar o vigia comigo! Era assim, muito prestígio. Quando chegou um dia, o gerente pediu que eu fosse trabalhar com ele no Rio de Janeiro. Era trabalho interno, eu não ia mais viajar. “- Severino, vou falar com a Dona Socorro. Você pega suas férias, fica uns tempos em Fortaleza, traz as suas tralhas e depois vai trabalhar comigo no Rio de Janeiro”. Eles queriam até aumentar o meu ordenado. Mas não valia a pena, porque enquanto eu estava na estrada, eu ganhava o ordenado e mais a diária. Se eu ficasse no Rio, ia ganhar só o ordenado. Então eu disse que não queria. Conversei com a minha mulher e resolvi arrumar outro trabalho. Eles me deram até um dinheiro mais ou menos bom quando eu saí. O patrão ainda insistiu para que eu fosse para o Rio, mas eu não queria mesmo! Falei para o gerente que queria minhas contas, minha mulher foi na casa dele, conversou muito. Ela disse que eu tinha que ajudar na criação dos meninos, que já estavam no colégio e que não dava só com ordenado. Então ele deu minhas contas. Eu fui pegar meu dinheiro, com as férias, tudo que tinha direito lá perto da Duque de Caxias, no lado esquerdo. Aí eu cheguei lá, estava tudo certo. Tinha só uma diferença de uns quebradinhos, centavos, mas eu recebi o dinheiro. Então pensei em comprar um caminhão. Mas o dinheiro não dava e falei com a minha mulher. Nós vendemos tudo que tínhamos em casa: geladeira, televisão, tudo novo, tudo muito bom, que eu tinha comprado em São Paulo. Só deixamos as coisas para cuidar dos meninos. Era 1979. Aí eu comprei um caminhão velho, ano 1946, importado. Eu era mecânico, daria para ajeitá-lo. Depois troquei por caminhão 1959. De 1946 para 1959 são 13 anos. Mas esse carro estava muito ruim: a lataria não prestava, as portas não fechavam direito com o ferrolho, molhava por dentro... Só que era um carro que já era fabricado no Brasil. Aí eu achei um amigo que disse: “- Severino, eu vou ajeitar o seu carro e deixá-lo bem novinho. Você não vai gastar nenhum tostão”. E ele trouxe uma cabine para eu acertar e foi o que eu fiz: O caminhão ficou bem novinho! E eu rodei, rodei, rodei. Depois de um tempo, encontrei uma firma para trabalhar interno aqui em Fortaleza. E fui juntando dinheiro e trocando o caminhão. De um 1963, fui para um 1970 e assim fui... O táxi foi o seguinte: eu já era sócio e fundador do sindicato dos motoristas autônomos. Aí acontece o seguinte: aí eu tive um problema em um olho e o DETRAN não quis dar minha carteira grande, para caminhão. Eu já tinha tempo de me aposentar e me aposentei em Maio de 1980. E tinha tirado uma carteira que dava para caminhonete de quatro pneus, não para caminhão. Aí o presidente do sindicato, que era meu amigo, disse “- Deixe seu caminhão para o seu filho – eu já tinha um filho que era motorista – Você tem sua aposentadoria, eu te dou um ordenado e tu ficas aqui.” Aí eu fiquei lá. Os primeiros automóveis táxis tinham uma roda, que você mandava confeccionar. Era um desenho que ficava perto da porta direita, do lado de fora do carro. Dentro dessa roda vinha escrito a placa do carro, com letras bem grandes e o nome “Sindicato dos Motoristas Autônomos”. Todos os táxis tinham que ter essa roda. Eu trabalhava cuidando disso. Chegavam os taxistas – eram 4.170 –, me davam a taxa e eu tomava nota. Quando tinha uns vinte ou trinta carros parados, eu aproveitava e tirava fotografia. Teve um tempo em que os táxis eram todos padronizados.... Tudinho pintado de amarelo, não tinha nenhum que não fosse. Esse negócio de amarelo foi a Prefeitura que mandou... Depois, lá no sindicato, nós criamos o reboque para os táxis e eu, como secretário, fiquei trabalhando nele. Ainda ganhava minha aposentadoria mais o ordenado. Fiquei um ano e seis meses no reboque, até que houve eleição no sindicato e me colocaram como tesoureiro. Então eu fui tesoureiro do sindicato por muito tempo. Eu já tinha um carro particular que tinha comprado ainda quando eu caminhoneiro, em 1980... 1980 ou 1981? Acho que foi em 1981. Era um Brasília de dois carburadores. A história dessa Brasília é assim: eu tinha um amigo que tinha uma venda de pneus lá na praia. Foi ele que recebeu essa Brasília de um rapaz da estrada de ferro. O rapaz da estrada de ferro tinha comprado o carro, rodado por uns tempos e depois vendido para esse meu amigo dos pneus. A Brasília era bem novinha! Um dia, eu cheguei na venda de pneus e conversei muito com o meu colega. Ele disse que não tinha lugar onde guardar o carro, “- e um carro desses, a gente não pode deixar na calçada! Tu tens garagem, não tem?” Ele sabia que eu tinha feito uma garagem lá em casa. “- Então tu guardas o carro lá na tua casa, porque ele está na minha porta e pode dar um arranhão”. Aí eu fiquei com a Brasília na minha casa e continuei a trabalhar com o caminhão. Nesse tempo tinha uma plaquinha na calçada da Alfândega; “Estacionamento proibido. Permitido caminhão”. Eu trabalhava por ali. Tinha quatro caminhões que estacionavam, porque ali tinha muito armazém. Hoje, não tem mais nada por ali... nem armazém. Hoje é Dragão do Mar. Então, um dia, o dono da venda de pneus apareceu na calçada da Alfândega atrás de mim. “- Severino, eu vou lhe vender aquele carro... já está na tua casa mesmo. Assim você poderá ir para todo o canto com ele!” Eu ainda quis negar, mas não convenci: “- É claro que tu queres o carro! Tu me pagas com a tua aposentadoria”. E logo chegaram mais dois colegas insistindo para eu comprar, dizendo que com a aposentadoria eu poderia pagar. Ele queria mesmo me vender: “- Olhe, tu dás o quanto puderes, do jeito que quiseres, tu fazes as letras e eu aceito qualquer negócio”. Eu sabia o quanto ele tinha pago pelo carro e percebi que ele não colocou nada no preço. Não ganharia nada. Aí eu aceitei. No dia seguinte, às cinco horas, nos encontramos para ir à casa do rapaz da estrada de ferro, no Icaraí, para fazer a nota fiscal e passar o documento do carro no meu nome. Ele era despachante e emplacador. Foi muito fácil: só assinatura. E eu fechei o negócio da Brasília sem gastar nenhum tostão. Mas eu tinha uma filha que estava se aposentando nos Correios – ela era chefe lá, estava inteirando trinta anos de serviço. Ela disse: “- Pai, tenho um dinheiro, uns quinhentos contos”. Não era muita coisa, nem me lembro mais! O dinheiro já mudou tantas vezes... Era Cruzeiro? Mas peguei o dinheiro e dei de entrada na Brasília Saí do sindicato e fui direto para a praça. Comprei uma vaga e coloquei a Brasília para rodar como táxi. A vaga é o direito para trabalhar no táxi. É uma concessão da Prefeitura. Tanto faz dizer “concessão” como “vaga”.. É só o direito de exercer essa profissão de taxista. Então comprar uma vaga de táxi é assim: uma pessoa tem um carro com uma vaga de táxi e quer vender para mim, por exemplo. Aí nós vamos à Prefeitura, porque eles têm o nome da pessoa arquivado lá. E então eles tiram o nome dela e colocam no nome do Severino. Depois, nós pegamos os papéis que a Prefeitura deu e vamos ao DETRAN. Lá, o pessoal troca os registros dos carros: coloca o meu como táxi e do da pessoa como particular. È só isso. Eu passei cinco anos trabalhando como taxista na Praça do Carmo. Depois, passei para a Perboyre & Silva. Ali o ponto era bom e em pouco tempo eu passei da Brasília para um Voyage. Um carrão! Passei uns seis anos com o Voyage... Melhor que o Voyage, só o Santana de quatro portas. Esse é o melhor! Eu não deixo de pegar um Santana para pegar qualquer outro carro zero... O taxista não paga nada para poder parar o carro em um ponto. A Prefeitura tem que dar, ou melhor, o DETRAN tem que definir o local, com o número de carros que vão fazer ponto ali. Ele diz quantos carros podem estacionar. Se for meia dúzia de carros permitidos e quando você chegar tiver só cinco, pode ficar. Não precisa fazer ponto sempre no mesmo lugar. Só se quiser. Eu fiquei cinco anos ali na Praça do Carmo. Depois passei um tempo ali na Pague Menos, aí vim para a Perboyre & Silva fiquei um tempo, depois voltei de novo para a Perboyre & Silva, porque lá eu tinha um bocado de fregueses, ali perto da Loteria Estadual. Em todos esses lugares tem um orelhão para chamar os táxis. E assim eu trabalhei doze anos como motorista de praça, depois que saí do sindicato. Eu acordava às seis horas da manhã, fazia minha caminhada, tomava banho e ia para a praça. Às 11:00 horas eu parava para almoçar. Tinha uma filha que morava na Piedade, essa que trabalhava no Correio. Ela tinha um filho que estudava no Colégio Cearense e eu ia pegar meu neto na escola e almoçava na casa dela. Para me ganhar nessa, ela tinha dito: “- Pai, o senhor vai almoçar lá em casa. Não vai ficar comendo dessas comidas por aí”. Ela sabia que em toda a minha vida eu me recusei a comer em qualquer lugar, porque sempre achei que essas comidas de restaurante são reaproveitadas. Depois do almoço, voltava para a praça. No primeiro ponto, na Praça do Carmo, tinha um restaurante que pareia com a Igreja, do lado de lá. O pessoal do Banco do Brasil todinho almoça lá. O dono é professor da faculdade. A mulher dele é dessas magrinhas. Ela abriu uma filial lá pertinho da rodoviária. Tem um negócio lá que é tipo um shopping. É pequeno, mas tem loja de todo o tipo. Eu sei que eu rodava demais com essa mulher. Tanto que ela até me pagava por mês. Eu pegava os passageiros na Praça do Carmo, fazia a corrida e depois voltava para lá. Se aparecesse alguém fazendo sinal no caminho, pegava na pedra. Me lembro de uma vez que eu estava na Bezerra de Menezes... não, na Mister Hull, perto da Bezerra de Menezes – depois aconteceu de novo, na avenida Desembargador Moreira. Eram duas senhoras bem vestidas, que eu peguei na pedra. Pediram para eu parar, mas eu notei que elas ficaram olhando para mim, estavam assustadas. Eram oito horas da noite, o lugar ermo, sem nada por perto. Eu já estava voltando para casa. Abri a porta traseira, elas subiram. Como eu reparei que elas estavam assustadas, abri a luz do carro: “- Vocês querem ir com a luz acesa ou preferem que eu apague?” Elas “- O senhor pode apagar”. E comecei a conversar, porque a conversa descarrega. Porque quando você vai calado, a pessoa nunca sabe em que você está pensando. Então puxei assunto e deu tudo certo. Elas ficaram aliviadas. Mas também tinha passageiro que não queria conversa. Mas eu sempre gostei de conversar. Uma vez eu teimei com esse negócio de conversa no caminhão, quando eu viajava. Tinha um colega que gostava de uma mulherzinha de um hotel lá na Bahia. Eu nunca gostei de mulher na estrada, mas sempre sentei para conversar, ir na cozinha, essas coisas. Conversei muito com cozinheiro, porque ele passava comida melhor para mim. Mas por mulher nunca me interessei, nem por festa, nem por briga... Mas esse colega sentou na mesa que eu estava, tomou um cafezinho a começou a conversar, contando da sua vida. Pediu carona. Eu abri a porta e ele entrou na cabine. Só que calou. Não falava de jeito nenhum! Toquei, toquei o carro e ele calado. Eu lá, conversando, puxando assunto. Fiquei aperreado... Fiquei falando de carga, essas coisas, mas ele não respondia. Muito chato. Depois de uns vinte quilômetros, tinha uma barraquinha que eu conhecia, com um cafezinho. Parei o caminhão: “- Vou tomar um cafezinho.” Puxei conversa com a mulher da barraquinha, só para descarregar. Ela chegou com o café, todo o mundo tomou, por minha conta. Eu me demorei mais um pouco e depois fui embora. Foi como no táxi: tem passageiro que gosta de conversa e tem passageiro que não gosta. Assunto é que não falta. Até da vida dos outros a gente falava! Eu tenho isso há muitos anos: todo o homem deve entender um pouquinho de política, um pouquinho de futebol, de esporte e um pouquinho de religião. Essas três coisas são indispensáveis e a pessoa tem que saber um pouco para dar papo. Eu cansei, nas minhas andadas pelo mundo aí, nos 14 estados do Brasil que eu conheço, de chegar num lugar estranho e precisar ficar ali. Ter ficar meia hora, uma hora esperando alguma coisa sentado. E eu calado e todo o mundo que também estava esperando calado? Ou então, todo o povo conversando e eu ali do lado, em pé, só olhando? Mas como eu entendo um pouquinho de política, ou de esporte ou de religião, começava a conversa e depois, um assunto ia puxando o outro e eu já me entrosava. Dizia: “-Olhe, o Pelé fez isso...”, depois alguém continuava. Está com muitos anos que eu leio jornal todos os dias. Quando era caminhoneiro, em qualquer lugar que eu parasse, comprava o jornal ou uma revista para me informar. Comprava muito livro também. Só que às vezes eu deixava tudo isso jogado e minha mulher que guardava. Era um hábito feio. Minha filha fazia vestibular e estudava nos livros que eu tinha comprado e não tinha tido tempo para ler. Ela ficou doze anos na Universidade. Primeiro tentou Medicina, em 1985. Depois fez vestibular para Enfermagem, mas só passou depois, em Pedagogia. Eu punha muitos enfeites no táxi. No painel do meu carro tinha uma bandeirinha do Brasil bem bonitinha, que eu comprava para mim e para os colegas, principalmente quando estava perto do sete de setembro. As fitinhas eu colocava no retrovisor e na antena do rádio. Era para ficar bonito. Comprava bastante, no camelô, para dar para os outros. Até no caminhão eu colocava a bandeira do Brasil no painel. Era porque achava bonito e também porque eu era patriota. 100% brasileiro e 100% democrático, eu toda vida fui. Um dia, quando eu comprei o meu primeiro caminhão, fui na parada do 7 de Setembro. Antigamente, o desfile do Exército era na Pedro Pereira. Eu fiquei muito feliz quando inauguraram a parada lá e enchi meu primeiro caminhão com crianças para assistir, com as bandeiras. Sempre punha a meninada no caminhão para as paradas. Outra vez teve parada no Coração de Jesus, outra vez na Praça do Carmo. Eu não perdia uma! No Carnaval, punha os meninos todos no caminhão, comprava pitomba, levava água e eles faziam uma bagunça na carroceria. Faziam até xixi. Ficávamos até terminar. Uma vez parei na rua paralela à parada do 7 de setembro perto da Praça do Carmo. Vieram me dizer que não podia estacionar o carro ali. Mas eu respondi: “- Olhe, rapaz: eu estou com a meninada toda aí. Não vou sair, porque eles gostam de assistir a parada. Vou ficar aqui até terminar. Só vou embora quando não tiver mais ninguém na rua”. E ele: “- Então, pode ficar”. Eu encostei e assistimos o desfile inteiro. Outra vez, foi lá na Bezerra de Menezes eu estava com meus filhos, cada um com um pauzinho e uma bandeirinha na mão. Botei meus meninos e a mulher todos no caminhão e fiquei balançando a bandeira do Brasil. Quando chegamos perto da parada, o guarda não deixou passar: tinha muita gente do Exército na rua paralela. Mas eu não desisti e disse: “- Eu vou lá para o fundo para ver se tem um lugar na rua onde os meninos possam assistir”. Acho que o guarda gostou, porque me deixou passar. Fui bem devagarzinho e deu para a gente ver a parada inteira. Era assim que eu fazia. No vidro da frente do táxi, eu colocava uma carreira da lâmpadas, como árvore de Natal. Quando era de noite eu acendia. O pessoal sabia que o Severino já vinha chegando só de ver. Diziam: “Lá vem a Lapinha do Severino!” E furava no capô também: capô é aquilo que tampa o motor. Furava, punha uns pregos desse tamanho, duas porcas e prendia a bandeira do Brasil lá na frente. Ficava lindo com a bandeira balançando... No câmbio eu não colocava nada. Mas tem gente que coloca umas imagens. Os encostos do banco, a gente comprava. Tenho dois: um é redondo, para sentar e outro é para encostar. Os motoristas usam aquilo, porque ficam sentados muito tempo e podem ter hemorróidas. Com aquilo, quando você senta, fica um espacinho e não esquenta. Tem também um tipo de bolinhas, que eu usei no táxi. É como uma almofada. Conheço o rapaz que faz, ele tem uma loja ali onde estão fazendo a primeira estação do metrô e vende fiado para os taxistas. É bom de usar. Fica mais confortável. O macete para trabalhar em táxi é ser gentil. Tem que tratar bem os passageiros. Eu fiz tanta freguesia... Tinha uma mulher lá na Aldeota que morava num apartamento. De vez em quando ela telefonava: “- Seu Severino! Meu gás acabou!” E eu dizia: “Sabe onde se acha gás? No Mercado dos Pinhões.” E eu ia até lá, comprava o gás e entregava a ela. E eu a conheci na praça, só de sair e deixá-la nos lugares... Ela ligava para o orelhão da praça ou deixava recado sempre que queria que eu fizesse algum serviço. Uma vez, uma menina me telefonou do banco Itaú. Foi quando saíram aqueles cartões de banco. E eu fui até o banco. Quando cheguei, eu disse: “Olha, me telefonaram por causa do táxi...” Ela tinha ligado para a minha casa e a minha mulher tinha dado o número da praça. Era assim que chamavam para fazer uma corrida. Quando o sindicato criou o serviço de rádio táxi quando, eu trabalhava lá. Para usar o rádio táxi, motorista tem que ser classificado, autenticado, porque o sindicato responde por esse serviço. O proprietário do carro tem que ter responsabilidade pelo serviço. Não é todo o mundo que pode usar rádio, não. Até se tiver rendeiro, o rendeiro tem que assinar um ponto lá no sindicato para ser reconhecido. Tem nome, identidade, tem tudo. Quando o sindicato foi para Brasília, tomou nota de tudinho para fazer o rádio táxi igual ao deles. E resolveu colocar o rádio nos táxis. E então foi na empresa que dava os números da freqüência dos telefones, a Dentel. Essa empresa era ali na rua Estados Unidos, perto da avenida Pontes Vieira. E conseguimos o número e fomos mandar fazer os rádios lá em São Paulo. Primeiro mandamos fabricar 75 rádios. Depois foram mais 75. O técnico que nos vendeu os rádios veio passar uma semana aqui, para ensinar a consertar, a instalar. Eu sei disso, porque era o tesoureiro e o sindicato que trouxe esse técnico. Ele deixou todas as instruções por escrito, para os motoristas usarem o rádio. Não é todo o mundo que pode usar rádio, não. Só os motoristas do táxi podem falar no rádio. Não pode dar o rádio para namoradas, não pode dar para amigos, não pode dizer palavrões... Tem uma série de coisas. E tem o código para falar, com umas letras. Os motoristas estudam e já sabem o que queria dizer cada letra do código. E então, tem o rádio que recebe as chamadas na central e os rádios nos carros. Eles são ligados. A central funciona durante vinte e quatro horas por dia. Quando você telefona, é o funcionário da central que atende. Ele sabe onde o motorista está e lhe dá o serviço. Tem até um negócio importante. Isso de rádio táxi foi na década de 1980. O Adauto Bezerra deu a central e a antena. Hoje já é outra antena. Eles colocaram uma antena da universidade, para melhorar o sinal, porque a nossa antena era pequena e ficou ruim quando aumentou o número de carros. Eles compraram a antena da rádio universitária, que tinha uma FM muito boa. Quando a rádio universitária trocou a sua antena, vendeu a antiga para nós. Eu ainda tentei colocar rádio no meu carro, mas eu sou muito acomodado para algumas coisas... Eu? Ficar ligado numa central? Com um monte de obrigações? A achei que não ia ter tempo para comer, para fazer minhas coisas... Além disso, já tinha a minha aposentadoria e a única pessoa que dependia de mim era minha mulher, que também era aposentada. Achei melhor deixar para os outros. E fiquei mesmo com o orelhão do ponto. Eu ganhei um taxímetro capelinha, aquele mecânico, logo quando fui pagar a vaga para o homem que me vendeu, ali na caixa econômica. Eu ia comprar o taxímetro, mas ele me ofereceu o dele. Dado, sem pagar nada! Depois, o sindicato resolveu enviar um técnico para São Paulo para aprender mais do rádio táxi. Quando ele voltou de São Paulo, meu carro estava com o aparelho mecânico. Mas esse técnico me convenceu a trocar o taxímetro por um elétrico. O taxímetro elétrico é muito melhor que o mecânico. Não dá trabalho... Funciona assim: Já vem marcado um valor que é o da bandeirada. Quando o passageiro entra no carro, o taxímetro vai contando os quilômetros no chão. Tem uma peça no pneu dianteiro do carro que marca isso. Quanto mais o carro roda, mais aumenta lá. Se o carro está parado, o taxímetro não roda. Eu achava o taxímetro elétrico mais seguro. E olhe que fiz muita freguesia boa, gente que me dava presente! Tinha uma mulher lá em São João do Tauape que esperava para viajar comigo. Mas sabe por que? Porque eu tinha paciência para esperar ela comprar, eu não ficava exigindo. Sempre com o carro parado, eu não cobrava. Chegava na sua casa, ela pedia para esperar e queria pagar, mas eu dizia “ - Não, não está correndo, não... Não precisa ter pressa...” Era assim que eu fazia. Então, no Natal ela me dava presentes: camisa, sapato, meia, chaveiro... Camisa boa, que servia no tamanho. Dava até pena de gastar logo... Mas tinha gente que roubava no taxímetro. Botava um palito de fósforo ou um grampo de mulher – desses que nem se usa mais - para o aparelho rodar mais rápido. Outros davam um tapinha... Mas eram só os ladrões que faziam isso. Dava confusão. Se o DETRAN pegasse, era uma multa danada! Nunca valeu a pena. Uma vez teve uma confusão lá no sindicato quando estavam mudando as tarifas. Quando tem aumento, os taxistas têm que mudar uma carretinha que vem dentro do taxímetro. Essa carretinha vem de São Paulo, da fábrica. Trocamos a primeira e colocamos uma carretinha maior, para aumentar o valor. O sindicato fazia o cálculo da energia e da nova da tarifa porque o DETRAN dava um prazo para mudar os taxímetros. Mudávamos uma faixa de vinte ou trinta carretinhas por dia, quando era o taxímetro mecânico. Quando era taxímetro elétrico, dava para mudar umas cento e cinqüenta por dia. Aqui em Fortaleza tinha três ou quatro mecânicos de relógio de táxi. Um vinha de Natal, outro de Teresina e tinha um cabo da polícia militar que fazia esse serviço também. Tinha um professor que também sabia mudar a carretinha, me lembro dele. É o taxista que tem que pagar a mudança do taxímetro toda a vez que tem aumento de tarifa. E tinham também as tabelas. Teve um tempo que a gasolina subia demais. Toda semana subia. E no tempo que a Maria Luiza foi prefeita, lá em 1986, nós do sindicato tínhamos muitas reuniões com ela sobre o aumento da tarifa. O presidente do sindicato datilografava o salário, o preço da corrida, o preço de peças, o preço do combustível, o preço de lavagem, o preço de tudo de taxi. Aí nós íamos em comissão para a Prefeitura. A Maria Luiza não dava trabalho na negociação. Foi uma prefeita muito boa para os taxistas. Então um dia, ela disse: “- Vamos fazer um negócio: se toda a vida que a gasolina subir nós formos mudar o taxímetro, fica dispendioso para os taxistas, fica dispendioso para todo o mundo. Deixa subir três vezes, a gente soma e muda”. E aí fomos rodando com a tabela. Às vezes passava dois meses sem mudar o taxímetro. Com a tabela, a gente fazia a conta de quanto tinha subido a tarifa sem mudar o taxímetro. Funcionava assim: o passageiro entrava no carro e nós ligávamos o taxímetro para a corrida. O taxímetro marcava a corrida até chegar. Quando chegava no fim, estava marcado: dez ou oito ou o que fosse. Aí quando o passageiro vai descer, a gente olhava o quanto deu no relógio: “- Deu dez!”. Pegávamos a tabela e víamos o quanto correspondia a dez: “ – De dez para onze”. Na tabela era meio difícil dos taxistas roubarem os passageiros. Não tinha falsificação. Quem quisesse roubar, era mesmo no relógio. Uma vez, enquanto eu era tesoureiro, cheguei lá no ponto e encontrei um rapaz que trabalhava até às 10 horas da noite consertando os taxímetros, de tanta coisa que ele encontrava dentro. Eu controlava as merendas dele, porque, como o DETRAN dava um prazo para mudar todos os taxímetros na mudança de tarifa, nós tínhamos que dar todo o suporte aos associados. Ele se deitava embaixo do assento da frente, olhava lá em baixo com um espelhinho, tirava o aparelho do carro, mudava a carretinha e colocava a outra nova. Tinha uma tabua só para isso. Ele olhava também se tinha garrancho. Garrancho são essas coisas que os motoristas colocavam, clips, grampo... Se tivesse, dava confusão. Depois ele anotava tudo e assinava. Então, os taxistas iam levar o carro no Instituto de Pesos e Medidas, perto do Aeroporto. Lá tinha uma faixa pintada no chão marcando mil metros. O Instituto definia uma hora para os taxistas chegarem, mas sempre fazia fila, de tanto táxi que tinha. Então o rapaz do instituto ficava esperando. Entrava no carro, ligava o taxímetro e pedia para a gente ir até o final dos mil metros. Isso na bandeira um. Depois, outra vez, na bandeira dois. Ele anotava tudo e, se desse alguma diferençazinha, tinha que voltar e fazer tudo de novo. Já era até comum a gente levar dinheirinho trocado para o rapaz, porque sempre dava um picado. Ele estava tão viciado que pedia o cafezinho mesmo quando dava certo.... Ainda hoje tem crime da Bandeira 2. Antigamente, os assaltantes atacavam muitos táxis à noite, hoje já diminuiu bastante. Era uma área de trabalho muito perigosa. Caminhão, antigamente era mais seguro... hoje, está mais perigoso... Sabe o que eu fazia lá na Perboyre e Silva? O ponto era na frente de uma farmácia grande, a Drograjafre. Eu me dava muito bem com a gerente. Era uma mulher que trabalhava há muito tempo na firma, muito distinta... não sei se tinha marido. Só sei que a gente fez uma amizade muito certa. Eu tinha acesso ao banheiro da farmácia e, de vez em quando, eu levava uma merenda diferente para todo o mundo comer. Às vezes, eu aparecia com uma novidade para experimentar, porque, graças a Deus, nunca me faltou dinheiro para comida. Pagava a merenda de todos e ela virou freguesa. Um dia, a mulher da farmácia me pediu um favor. Ela tinha um dinheiro guardado na Caixa Econômica e queria tirar para reformar o seu apartamento. Era muito dinheiro. “- Severino, você vem comigo ao banco?” Eu fui. Chegamos na Praça do Carmo, peguei na mão dela, entramos na Caixa Econômica. Fiquei ao lado dela na fila e o tempo todo que ela pegou o dinheiro e conferiu. Depois fomos para o carro e eu a deixei em casa. Quando ela desceu, queria pagar a corrida. Mas eu não deixei. “Não é nada! Vá cuidar de seu apartamento..” Nós ficamos sempre merendando juntos e de vez em quando ela me telefonava. Ficamos muito amigos... É boa a amizade que a gente faz, quando tem carro de praça. Mas tem muitos motoristas no ponto que são fechados. Não gostam muito de conversar. Conversam pouco... Eu não. Geralmente, ninguém disputa passageiros no ponto, porque tem acordo. Mas tem sempre gente... Quando eu trabalhava na Praça do Carmo, saí daí por causa de disputa. Tinha uma mulher que trabalhava com o marido. O marido rodava de noite e ela rodava de dia. Quando os passageiros se aproximavam, ela chamava: “ – Ei, venha nesse carro, nesse aqui. Esse é mais novo. ” Abria a porta e chamava os passageiros. E fazia a corrida na vez do outro. Isso é muito feio! Dava briga. Nunca vi morte, mas a confusão era grande! Um dia, eu estava na Praça do Carmo e chegou um casal para fazer uma corrida para o Riacho da Serra. Riacho da Serra fica bem a uns noventa quilômetros daqui. De táxi? Era uma boa corrida. O homem sentou e conversou comigo. Eles queriam levar um eletrodométsico ou qualquer coisa assim. Eu disse: “- Rapaz, Riacho da Serra dá uma hora e pouco para eu ir e voltar. Vou te fazer por cem”. Foi quando essa mulher chegou, sem-vergonhosamente e se meteu na conversa: “- Eu faço por noventa. Meu carro é novo e eu posso fazer.” Eu fiquei muito brabo!: “- Essa mulher é muito aperreada. Vá com ela!”. Mas o homem disse que não e foi embora. Ninguém levou o casal. De noite, ela telefonou para o marido dela no orelhão da praça. Ele estava no ponto, mas eu não o chamei. Disse que o marido não estava. Quando descobriu, a mulher ficou doida... veio me encarar: “- O Severino não deu recado?” - Eu não dou recado de ninguém. Dou se eu quiser. Eu sou dono de mim. Não vivo às custas de ninguém” Ele falava, falava e eu ia indo embora. Saí e não quis nem saber da briga. Eu sempre gostei de música no carro. Sempre andava com uma caixinha com um bocado de fita cassete, que eu comprava lá no ponto mesmo. Tinha um camelô que vendia ou trocava as fitas... Hoje, os carros têm CD, mas no meu tempo era fita cassete mesmo. Tinha passageiro que gostava de música. Uma vez eu peguei uma mulher quando estava ouvindo uma música muito boa. Então deixei tocando. Depois terminou a música e eu desliguei. Mas ela queria mais “- Não, desligue. Deixe tocar” Teve um dia que eu vinha no Henrique Jorge para pegar a José Bastos. Lá onde pareia com o Jóquei Clube, um carro bateu com um casal num poste. A mulher estava toda ensangüentada, mas os carros não paravam para ajudar. O homem só dando sinal na rua e os carros passeando. Eu encostei. Tinha um plástico grande no carro. Forrei o banco e coloquei a mulherzinha lá. Ela se estirou no banco traseiro, ficou com uma parte do corpo sobre as pernas dele. Comecei a dirigir com cuidado e cheguei na Assistência. Teve até um guarda que me ajudou, porque perto da Assistência, vindo da Domingos Olímpio para entrar na General Sampaio tem um trânsito muito difícil... O guarda apitou para os carros pararem e abriu o portão, entrei na Assistência e deixei o casal. Já peguei passageiro bêbado também. Mas eu não gostava de carregar bêbado de jeito nenhum. Não gosto de bêbado. Mas uma vez peguei um bêbado na pedra. Era um homem bem vestido, me enganou. Fomos lá para perto da Barra do Ceará e ele querendo dormir no carro. Eu dizia que já estava chegando, mas sempre que estávamos perto da rua, ele dizia que era mais longe... No meio do caminho, ele deu para falar dizer: “- Eu vim de carona, eu não pago carro...” e começou com isso, não querendo pagar a corrida. Então eu resolvi acertar a situação: “- Você vai pagar?” e ele disse que não. Então, passamos em frente a um bar onde havia uns quatro rapazes novos bebendo. Parei o carro, desci e chamei os rapazes: “- Negrada, esse cara não quer me pagar. Está aqui conversando que não quer me pagar e ele está com dinheiro”. O pessoal mandou ele me pagar e ele pagou a corrida. Ele estava bem bêbado. Acho que foi por isso que ele fez essa confusão. Mas eu não sou besta. Se estivéssemos só nós dois, se eu tivesse coragem, ia brigar. Sempre que eu faço uma besteira dessas, depois fico me cobrando. Mas foi bom. Fui me preparando para não pegar bêbado de novo. Outra vez chegou outro bêbado quando eu estava na Perboyre e Silva. Ele veio andando no rumo do meu carro, mas eu fui logo acenando, negando a corrida. Bem pertinho dalí tinha um bar e o dono do bar me chamou. Disse: “- Pode levar. Esse rapaz trabalha num açougue, num negócio de carne”. Eu levei o homem. Quando chegamos no final, ele disse que não tinha dinheiro para pagar a corrida, mas poderia me pagar com carne! Eu disse: “- Não problema não.” Peguei uns três ou quatro quilos de carne, agradeci e fui embora. Era carne boa, de primeira. Quando voltei para casa, minha mulher gostou do arranjo... Outra vez, eu ia chegando no Conjunto Ceará em um sábado, ao meio e dia e meio, por aí. Não gostava muito de pegar serviço por ali não, mas... Uma mulherzinha deu o sinal. Fiz o balão, voltei e parei. A mulher estava aflita: “- Meu Senhor! Minha Nossa Senhora!!!” começou a chorar. “O que houve?” “- Eu moro lá perto do jornal O Povo, num apartamento daqueles perto da rua Visconde... e deixei uma panela de macarrão no fogo aceso”. Sabe como é: macarrão é como leite, tem que ficar olhando. “- Desci o elevador e esqueci a panela... Quando eu chegar lá já vai ter pegado fogo, já vai ter reportagem, já vai ter bombeiro, terá tudo”. Eu disse: “- Não chore, não. Vamos embora”. Aí toquei o pé. Quando eu cheguei lá, ela desceu correndo e entrou no prédio: Pouco tempo depois apareceu o marido dela, já com dinheiro da corrida na mão. Ele me explicou: “- Não, não teve problema. Assim que ela saiu de casa eu cheguei e apaguei o fogo”. Coitada da mulher... estava aperreada! Ainda bem que deu tudo certo. Eu também não gostava de pegar passageiro na avenida Leste-Oeste de noite. Ninguém gosta de parar por lá, porque é perto do Pirambú, cheio de ladrão. Eu só pegava se fosse casal, mulher com menino, essas pessoas. Os desocupados, eu deixava mesmo! Uma vez, eu estava na Leste-Oeste voltando de uma corrida. Queria pegar o Carlito e ir para casa. Foi quando vi um cabra dando o sinal. Tinha um cabelo nem grande, nem pequeno. Decidi ver o que era. Parei o carro e perguntei para onde ele queria ir, mas não abri a porta. Se fosse para os lados do Pirambú, eu viria embora. Ele disse que estava esperando táxi há uma hora, mas nenhum carro parava. A família dele estava com viagem marcada para Europa e esperava por ele. “- Eu quero um táxi que me leve para casa. Dá para o senhor me levar?” Ele entrou no carro e, quando chegamos, a mulher dele já estava esperando na porta. Me pagou a corrida e eu fui embora. Eu deixei muitas e muitas vezes de pegar passageiros. Toda vida eu me desculpava dizendo que já estava indo para casa. Só que às vezes terminava uma corrida e já era de noite, então eu demorava chegar. No começo, tinha uma plaquinha no carro que a gente virava e estava escrito “livre” se estivesse de serviço. Hoje não tem mais. No Rio de Janeiro tinha até uma placa escrita “almoço”. Os taxistas põe a plaquinha e ninguém dá o sinal... Uma vez, foi até engraçado! Eu levei minha mulher para Aparecida do Norte em São Paulo e ela contou doze ônibus com uma placa escrito “reservado”. Era um domingo. Ele reclamou: “- Que lugar estranho! O que são essas placas nos ônibus?” Eu tive que explicar que “reservado”, em São Paulo, é o mesmo que “contratado” por aqui. Significa que o ônibus tem uma rota especial e então ninguém dá sinal para parar. Só que os taxistas têm obrigação de parar para qualquer passageiro. Se recusar, pode até ir preso ou paga uma multa danada! Mas eu, se não quisesse fazer a corrida, não pegava e pronto. Eu era cara de pau. Botava a cara para fora e perguntava para onde o passageiro queria ir. Se fosse fora do meu caminho, eu alegava o motivo: “- Não posso levar porque estou apressado... Vou pegar uma pessoa doente...” Mas se fosse para o lado que eu ia, eu levava, porque sempre fui uma pessoa legal. Tinha vezes que eu estava pertinho da minha casa e aparecia gente na calçada que dava com a mão. Uma vez, eu tinha feito uma corrida para o Conjunto Ceará e já eram oito horas da noite. Eu estava chegando em casa e deram um sinal para fazer uma corrida para Barra do Ceará. Assim, eu não levava de jeito nenhum. Muito menos para aqueles lados... Outra vez, deram um sinal e eu parei: “- Para aonde você vai?” E ele: “Nós somos em três e vamos para...” Era na direção de um lugar onde já tinham matado não sei quantos. Eu disse que estava atrasado, que se fosse no meu rumo eu levaria. E fui embora. Um pouco mais na frente apareceu um homem bem vestido, na casa de uns 50 anos de idade, se não me engano. Ele queria ir para a Casa Juazeiro. Gostei do cabra e abri a porta. Toquei, toquei, toquei o meu carro. Quando estávamos perto da casa, ele me avisou: “- Vou parar aqui. A casa é logo ali. O senhor teria que dar marcha ré, mas eu vou à pé. Tem uns malandros por aqui. Não pare porque nesse povo ninguém confia!” Eu gostei da consideração. Agradeci. Era um homem bacana! Me pagou e eu voltei para casa. Fazer corrida longa é melhor do que fazer corrida pequena. O dinheiro é maior, não é? Tinha um engenheiro que sempre fazia corrida comigo. Dava uns 30 quilômetros de distância, porque ele ia para além da fábrica do M. Dias Branco, no Km 18 da BR 116. Toda a semana esse engenheiro ia fazer uns pagamentos em sítio por lá. Eu ficava esperando embaixo de um cajueiro. Tinha um monte de caju. No tempo da fruta, ele pedia para um empregado encher a mala do meu carro com cajus e trazia tudo para casa. Eu tinha também um freguês que era funcionário do Banco do Nordeste. Uma vez por mês, ele vinha com a mulher, comprava umas coisas no mercantil. Eu encostava e eles enchiam todo buraco do meu carro. Era corrida boa, para longe, depois do Conjunto Esperança. No Mondubim Velho, tem um lugar chamado de Timbó... Conjunto Timbó. Não: era o Acaracuzinho. Tem o Ceasa, entrava depois. É lógico que corrida longa é que dava dinheiro. Eles chegavam no ponto e me perguntavam se dava para fazer o serviço. “- É claro! Daqui há meia hora estarei lá.” Eu sabia onde era o mercantil, porque eles só faziam corrida comigo. Tanto era, que eu não tinha medo de perder a viagem deles. De vez em quando, dava até para eu fazer uma corrida pequena, porque eles me esperavam. Quando eu aparecia, eles colocavam tudo no carro e nós íamos conversando até lá. Bagagem de passageiro nunca foi problema para mim. Eu pegava um monte de gente carregada. Eu lembro de uma freguesia boa na General Bezerril, onde tem a Praça da Polícia, que chama Praça dos Voluntários e vem no rumo da Praça do Ferreira. Tem muita rede, muita loja de roupa por ali. E tinha umas rendeiras que faziam muita feira nesse lugar. Compravam, compravam e botavam todas as coisas no meu carro. Enchiam até que não podia mais. Depois eu ia deixá-las na rodoviária. Nunca achei ruim dos pacotes. Nem cobrava mais por isso. Agora, quando é muita bagagem, as pessoas sempre dão uma gorjeta além da corrida, pagam o cigarro. Só não dava para levar quando era muita gente, porque se o DETRAN pegasse, dava multa. No carro só podem estar cinco pessoas: o chofer, três no banco traseiro e um na frente. Mas algumas vezes entra menino de colo, essas coisas. Dá até para pedir para a pessoa se abaixar... Teve um tempo em que inventaram aquele negócio de tirar o banco da frente do passageiro. Foi quando começaram os carros de praça. Na Praça do Estaleiro tinha muito jipe e lá eles tiravam o banco da frente. Depois, quando nasceu a fábrica da Volkswagem no Brasil, o Conselho Nacional de Trânsito mandou tirar o banco da frente. Os passageiros só podiam andar atrás. Eles achavam que se alguém fosse na frente, podia atrapalhar a visão do motorista. Não podia nem andar com rádio, para não perder atenção. Naquele tempo, o Oscar Pedreira, dos ônibus, mandou a gente tirar o rádio dos carros, porque atrapalhava o serviço... Depois foi modificando. Hoje, tem até televisão nos carros, não tem? Essa foi a história. Parei de fazer a praça porque deu meu tempo. Tenho oitenta anos e eu me orgulho de ser oitentão. Isso não é para todo o mundo! Faz uns cinco anos que deixei o táxi. Mas ainda continuei aqui na Associação Beneficente. Quando comecei como tesoureiro aqui, ainda trabalhava na rua. Só vinha para cá à tarde, ajudar a secretária. Ela completou quarenta anos trabalhando aqui... Eu chegava à uma hora da tarde, levava o dinheiro para o banco. Nos dias de pagamento, eu assinava os cheques com o Presidente, sacava o dinheiro e ajudava a secretária a fazer os pagamentos. Até hoje é assim. Nós arrumamos os envelopes pretinhos com o dinheiro de cada doutor daqui. Conferimos tudinho, grampeamos e colocamos o nome do doutor na frente do envelope. Assim, quando ele chegar para pegar o dinheiro, é só assinar o recibo. Depois, vou embora. É perto de casa, é bom para mim. Tenho salário aqui. Então, quando achei que deu meu tempo, vendi minha vaga, fiquei com meu carro particular e passei a trabalhar só na Associação. Depois, compramos essa casa no Centro, que fica bem pertinho daqui. Então eu só usava o carro aos domingos. Acabei vendendo meu carro. Já fiz minha obrigação. Quando eu olho para toda essa minha história, acho que nem todos tiveram os privilégios que eu tive. Nunca fui preso, nunca fui decepcionado, nunca matei gente com o carro. Nem no táxi e nem no caminhão. Cansei de parar de repente para não atropelar ninguém. Você acredita que eu só matei dois cachorros na minha vida, ainda com o caminhão? Um deles foi em Petrolina, quando eu estava entrando em um beco e o bicho correu para debaixo do carro. O outro foi na Praia de Iracema. Tinha um bocado de menino com cachorro brincado no meio da rua e eu acabei pegando o cachorro. E acho que eu ajudei muita gente, sem interesse de dinheiro. Mulher grávida? Ajudei demais, perto de fazer a operação! Uma vez, com o táxi, peguei uma mulher que estava prestes a ter o bebê na avenida Rio Branco. Eu disse a ela: “- Olhe, vou bem devagarzinho. Não se preocupe. Agora, a senhora tem um privilégio que nenhuma outra pessoa tem. Se fosse outra pessoa, eu andaria como me pedissem, mas com a senhora, vou devagar. Pode reclamar, que eu paro.” Eu gostava de fazer favor. Acho que é uma obrigação da gente.
Download