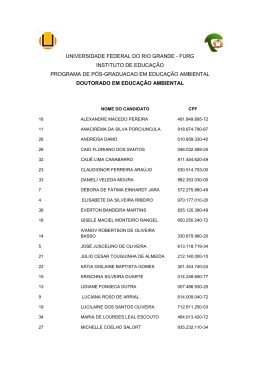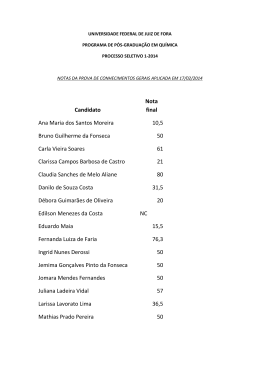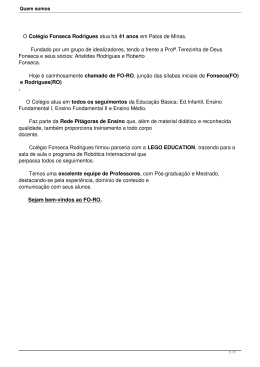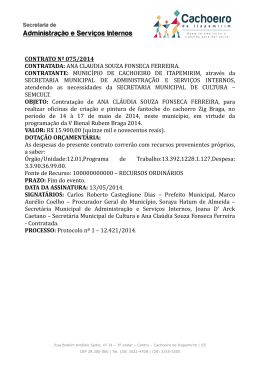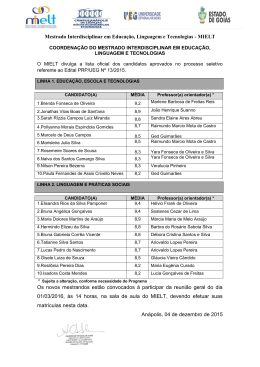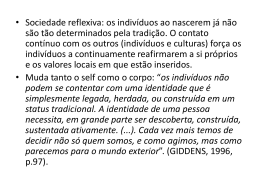Quem é esse desconhecido que provoca medo? – O medo do outro no conto “Passeio Noturno”, de Rubem Fonseca Luciano CABRAL(UERJ) [email protected] RESUMO Partindo dos ensaios sobre o medo de Zygmunt Bauman e Jean Delumeau, este ensaio pretende mostrar como o medo na literatura brasileira contemporânea pode personificar monstros dificilmente identificáveis. Para tanto, analiso os contos “Passeio Noturno I” e “Passeio Noturno II”, de Rubem Fonseca, em diálogo com outros dois contos, “Feliz Ano Novo” e “O Cobrador”, do mesmo autor. Utilizo-me também dos conceitos de monstro de Jeffrey J. Cohen. PALAVRAS-CHAVE literatura brasileira, medo, literatura do medo, monstros, Rubem Fonseca. ABSTRACT Based upon the writings by Zigmunt Bauman and Jean Delumeau, this essay aims to clarify some of the ways fear in the Contemporary Brazilian Literature is able to personify monsters usually hard to be precisely spotted. For this, I analyze Rubem Fonseca´s “Passeio Noturno I” and “Passeio Noturno II”, together with two more short stories by him, “Feliz Ano Novo” e “O Cobrador”. Yet I base my analysis upon Jeffrey J. Cohen´s “Monster Culture (Seven Theses). KEY WORDS Brazilian literature, fear, fear literature, monsters, Rubem Fonseca. Como parte do projeto de pesquisa “O medo como prazer estético: uma proposta de estudo das relações entre os conceitos de Fantástico, de Horror e de Sublime na Literatura Brasileira”, meus estudos pretendem uma análise do medo na literatura brasileira contemporânea. Ainda que nossa literatura valha-se de lendas, mitos e tradições folclóricas (e, para tanto, insere elementos fantásticos em suas narrativas como ferramentas para tratar essa emoção), nossa hipótese pressupõe que a literatura do medo no Brasil apresenta conteúdos mais “realistas”, ao contrário das gothic novels inglesas e americanas, que contém características mais sobrenaturais. E quanto mais realistas tendemos a nos posicionar, menos extraordinários esperamos que sejam as personagens das narrativas. De fato, em “Passeio Noturno I” e “Passeio Noturno II”, os contos de Rubem Fonseca objetos deste ensaio, o protagonista nada tem de fantástico: ele é tão ordinário, tão comum, quanto qualquer um de nós. O ser humano transformou-se em um material, quase inesgotável, de produção do medo. Constantemente, somos impelidos a desconsiderar suas atitudes benignas. Sigmund Freud identificou três fontes, que ao longo da vida, nos fazem sofrer (Cf. FREUD, 1974): as advindas (a) do corpo, como o medo de envelhecer; (b) da natureza, as chamadas catástrofes naturais; e as advindas (c) das relações sociais, ou seja, dos homens em contato com outros homens. O psicanalista acrescentou ainda que esta última fonte de sofrimento, por sua aleatoriedade e imprevisibilidade, provou ser a mais ameaçadora. Não podemos, de fato, prever as intenções do outro para conosco – conseguimos apenas especular sobre elas. Porém, na maioria das vezes, ao especularmos, somos assaltados por pensamentos negativos, e assombramo-nos quando não somos capazes de esperar do outro mais do que um comportamento maligno. Fala-se muito sobre violência. Talvez esse tema, comparando-se com quaisquer outros períodos históricos, nunca esteve tão presente quanto agora. Longe de nós, os combates entre povos e países nos eram noticiados por rádio, televisão e jornais, ou, de datas mais remotas, passávamos a conhecê-los na escola, através dos livros. Os diretamente envolvidos nessas batalhas eram soldados e sempre soubemos que elas tiveram fim. Assassinos e assassinatos havia, mas sua divulgação era pequena e desinteressada. A violência com a qual mantínhamos contato era descontínua, distante e, até certo ponto, inofensiva. O fato é que as nostálgicas batalhas dos séculos passados deram lugar às guerrilhas urbanas e às revoltas locais, que parecem, num primeiro momento, surgir sem motivo aparente. Os conflitos antes graduais e esporádicos tornaram-se, repentinos, diários, quase perpétuos, em que o fim de um combate assinala o início de outro. Os projetos coletivos (que atraíam multidões ao ponto de colocarem povos e países em lados opostos) perderam o sentido e cederam espaço aos projetos particulares, com pretensões muito menores: os desejos, antes comuns, agora são extremamente individuais. Os envolvidos em combates não são mais (ou apenas) soldados selecionados institucionalmente, mas, antes, são pessoas comuns, carregadas dos mais diversos e privados desejos. A guerra agora é de um indivíduo contra outro. Talvez estejamos, neste momento, enfrentando a mais egoísta das épocas, quando nenhum projeto consegue ultrapassar o nível do indivíduo. A postura maniqueísta de antes, da existência de uma nítida linha divisória entre esquerdas e direitas, parece que foi, de fato, apagada e, por isso, as ideologias estão fragmentadas (Cf. HALL, 2006). O certo e o errado, então, oscilam em suas posições: ora são antagônicos, ora são sinônimos, ora são descartáveis. A moral é moldada conforme a circunstância e a finalidade, já que são elas que vão apontar qual a postura a ser adotada. Fala-se muito sobre violência, mas fala-se pouco sobre o que ela provoca. Revisitando o julgamento do oficial nazista Adolph Eichmann em 1961 (condenado à morte por enforcamento pelo governo israelense), o sociólogo polonês Zygmunt Bauman utiliza-se da expressão “banalidade do mal”, cunhada por Hannah Arendt, para atestar a onipresença da mais impetuosa emoção humana: o medo. Acusado de perpetrar a endlösung, ou “solução final da questão judaica”, Eichmann foi submetido a entrevistas com psiquiatras para que estes traçassem seu perfil psicológico. Esperando encontrar uma personalidade cruel, foi surpreedente a constatação dos médicos de que, pelo contrário, Eichmann “era uma criatura corriqueira, sem graça, enfadonhamente “comum”: alguém com quem se cruza na rua sem se notar” (BAUMAN, 2008, p. 90). O oficial nazista não era mais do que um pai de família zeloso e, segundo o sacerdote da prisão, “um homem com ideias muito positivas” (BAUMAN, 2008, p, 90). Réu por ter articulado e comandado o extermínio de milhões de judeus, Eichmann era uma figura ordinária. O que talvez nos provoque arrepios é concluir que não era ódio que o movia, mas sim que, burocraticamente, ele apenas cumpria ordens. Pode-se alegar que o momento era extraordinário, uma vez que se tratava de uma ideologia, fortemente disseminada à época, de uma superioridade da raça ariana sobre a judaica. No entanto, excluindo-se o caráter ideológico do momento, os arrepios retornam (com maior intensidade, talvez) com a terrível conclusão de que Adolph Eichmann apenas preferiu seu conforto ao conforto dos outros. É nesse ponto que os perfis e as atitudes de Eichmann e do protagonista do conto fonsequiano se encontram. O parágrafo de abertura descreve uma cena tão rotineira que beira o tedioso: Cheguei em casa carregando a pasta cheia de papéis, relatórios, estudos, pesquisas, propostas, contratos. Minha mulher, jogando paciência na cama, um copo de uísque na mesa de cabeceira, disse, sem tirar os olhos das cartas, você está com um ar cansado. Os sons da casa: minha filha no quarto dela treinando impostação de voz, a música quadrifônica do quarto do meu filho [...]. (FONSECA, 1989, p. 61) Por essa descrição, não percebemos nada além de um típico pai de família, casado, que regularmente retorna do trabalho cansado. Sua conduta não levanta suspeita. Se é um homem psicologicamente transtornado, não é possível perceber. De fato, sua conduta ao longo de todo o conto mostra-nos o protagonista como um homem meticuloso, cujas ações são premeditadas e precisas, isento de qualquer transtorno psicológico. Logo após chegar em casa, ele vai para a biblioteca. Sua esposa acredita que ele ainda trabalha em alguma pesquisa e reclama: “Você não para de trabalhar, aposto que os teus sócios não trabalham nem a metade e ganham a mesma coisa [...]” (FONSECA, 1989, p. 61). Todavia, nós leitores sabemos que ele finge: “Abri o volume de pesquisa sobre a mesa, não via as letras e números, eu esperava apenas” (FONSECA, 1989, p. 61). O que ele espera é o momento exato de poder sair com seu “jaguar preto” (FONSECA, 1989, p. 67), escolher sua vítima e aliviar sua tensão. Para que não seja traído por seus sentidos (pois vai precisar tê-los em perfeito estado para matar), ele bebe água mineral, enquanto Ângela “tomou mais dois martínis” (FONSECA, 1989, p.69). A marca da rotina no decorrer do conto parece funcionar como um instrumento que aterroriza o leitor. Quando quer estar isolado, o protagonista sempre se dirige ao cômodo da casa que mais o agrada: “Fui para a biblioteca, o lugar da casa onde gostava de ficar isolado e como sempre não fiz nada” (FONSECA, 1989, p. 61, grifo meu). Por ali, permanece até o início da novela de televisão, quando convida sua esposa – já sabendo previamente sua resposta – para passear de carro: “Vamos dar uma volta?, convidei. Eu sabia que ela não ia, era hora da novela” (FONSECA, 1989, p. 61, grifo meu). Em outro momento do conto, após ser abordado por Ângela no caminho de volta do trabalho, ele diz: “À noite saí, como sempre faço” (FONSECA, 1989, p. 67, grifo meu). O terror do leitor diante da rotina do protagonista reside na constatação de que, todas as noites, há uma vítima fatal, atropelada com indiferença por ele. Ângela, que, como as outras vítimas, não representa mais do que um meio para o seu alívio, é incapaz de provocar qualquer afeto no protagonista, ao ponto deste declarar estar aborrecido: “Aquela situação, eu e ela dentro do restaurante, me aborrecia. Depois ia ser bom. Mas conversar com Ângela não significava mais nada para mim, naquele momento interlocutório” (FONSECA, 1989, p. 70). Notemos que seu aborrecimento não é provocado por Ângela. Pelo contrário, diante de sua vítima, o protagonista é indiferente, plano. Seu humor é alterado por conta da situação em que se encontra: ele está no restaurante conversando com sua vítima quando deveria estar em seu carro atropelandoa. Erik Schollhammer afirma que os autores brasileiros contemporâneos tem um “projeto explícito”: descrever a realidade nacional através da ótica periférica. O que encontramos, sim, nesses novos autores, é a vontade ou o projeto explícito de retratar a realidade atual da sociedade brasileira, frequentemente pelos pontos de vista marginais ou periféricos. Não se trata, portanto, de um realismo tradicional e ingênuo em busca da ilusão da realidade. [...] a diferença que mais salta aos olhos é que os novos “novos realistas” querem provocar efeitos de realidade por outros meios. (SCHOLLHAMMER, 2009, pp. 53-54) Este “projeto” (iniciado, talvez, pelo escritor paulista João Antônio) procura desvelar o cotidiano metropolitano e suas minúcias, fazendo-se ouvir aqueles que foram emudecidos. Não se trata apenas de “trazer para o primeiro plano o homem existente no substrato dos homens de cada país, região, povoado” (CANDIDO, 1989, p. 202), mas, na verdade, buscar o homem que está na margem, empurrá-lo para o centro da narrativa e torná-lo protagonista de uma metrópole de mazelas sociais, de migrações desordenadas, de preconceitos, de exclusão econômica, de crimes e criminosos, de gírias e de palavras de baixo calão, de condomínios de luxo, de favelas, de miséria e de violência. Dessas histórias, não se espera beletrismo, simetria ou harmonia – o impacto parece mais necessário do que a beleza. A narrativa fonsequiana está inserida no espaço urbano. Sendo mais específico, suas personagens ganham vida em meio ao caos de uma das cidades mais populosas do país. O Rio de Janeiro fonsequiano é o espaço das prostitutas, como no conto “Entrevista”; é o espaço do proletário, como em “Botando pra quebrar”; do ódio velado dos ricos, como em “Ganhar o jogo”; é o espaço dos assaltantes e assassinos, como nos contos “Feliz ano novo” e “O Cobrador”. Além disso, a metrópole fonsequiana é o espaço de ações imprevisíveis, cometidas por personagens que, ao menos em um primeiro momento, não deveríamos temer. Bauman entende a cidade como “um espaço em que os estrangeiros existem e se movem em estreito contato” (BAUMAN, 2009, p. 36). Seria, obviamente, tarefa inviável tentar conhecer todos com quem cruzamos nas ruas, já que enquanto uns se repetem por onde passam (e, talvez, a partir daí, tornem-se conhecidos), outros tantos são, e serão, desconhecidos, embora transitem constantemente pela cidade. Ao caminhar pelas calçadas de uma metrópole, encontramos pessoas indo e vindo, desviamos de umas, esbarramos em outras – nosso contato com elas não vai além de um olhar ou de um pedido de desculpas. Há milhares de pessoas nas ruas das grandes cidades, mas poucas são as que sabemos o nome. Nossos laços afetivos, por isso, resumem-se aos colegas de profissão, aos amigos próximos, aos familiares, isto é, às pessoas com quem temos contato mais frequente e mais íntimo, contato este sempre delimitado por um espaço comum e conhecido. E quanto aos outros, aqueles com quem não temos qualquer laço afetivo? Como nós os consideramos? A grande maioria das pessoas que passam por nós nas ruas das grandes cidades nos é completamente estranha: não sabemos seus nomes, suas intenções, de onde vem ou para onde vão. Fazemos parte, atualmente, de uma das sociedades mais avançadas e mais seguras de que se tem notícia (Cf. BAUMAN, 2009). O número de aparelhos de proteção (semelhantes, em muitos casos, aos da tecnologia bélica) é quase infinito: de típicos cadeados e fechaduras até sofisticados localizadores globais por satélites. A geografia das grandes cidades (e incluiria, de muitas pequenas cidades também) está repleta de cercas eletrificadas, altos muros e câmeras de identificação. Segurança está na ordem do dia, do dia-a-dia. No entanto, parece que estamos hoje mais suscetíveis ao pânico e ao medo do que em qualquer outra época. Sentimo-nos constantemente inseguros e, por isso, amedrontados. Segundo Jean Delumeau, os medos tem caráter metamórfico devido à importância que atribuímos, segundo o tempo e o espaço, a estas ou àquelas ameaças de sofrimento (Cf. DELUMEAU, 2007). Durante séculos, os medos que mais preocupavam as pessoas tinham origem na natureza: pestes, má colheitas (que causavam a fome), incêndios provocados por raios, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas etc. Gradativamente, este lugar foi ocupado pelas revoluções e guerras, como se elas pudessem explicar todo o sofrimento humano. Com o aprimoramento dos armamentos (com destaque para os de destruição em massa: bombas nucleares, armas químicas) e a recorrência de atos terroristas, o número de vítimas aumentou substancialmente. De fato, se as guerras de outrora vitimavam apenas os diretamente envolvidos nela (os soldados), na detonação de uma bomba, as vítimas tendem a ser também civis. Por razão de sua quantidade de vítimas e alcance, o medo da ação humana – imprevisível e, por vezes, violenta e cruel – é o que atualmente nos preocupa. De acordo com o historiador francês, o medo proveniente da guerra, ainda que não tenha se esgotado, passou a dar lugar ao medo proveniente da ação humana. A terrível sentença que se determina é: onde há pessoas, há medo. O maior sofrimento, então, é constatar que não há lugar algum onde se esteja seguro. Se o medo é sentido por toda criatura viva, nós humanos (diferentemente dos animais) sentimos um medo passivo, de segundo grau, pois, ainda que não estejamos diante de uma ameaça real, nós a imaginamos, a potencializamos e, continuamente, sofremos. Bauman chama este sofrimento de “medo derivado” (BAUMAN, 2008, p. 9). Este sentimento perpétuo de medo guia nossas intenções e nosso comportamento, obrigando-nos a evitar certas regiões da cidade, certos períodos do dia (ou melhor, da noite) e certas pessoas. Tal conduta faz com que, para minimizar este sofrimento, passemos a procurar nas outras pessoas características compatíveis com as nossas (aquelas que consideramos positivas para nós), sejam elas de ordem física, cultural, étnica, social, geográfica e, sobretudo, econômica (Cf. CABRAL, 2010). Ao identificarmos aqueles cujas características são contrárias às nossas, tendemos a evitá-los, a excluí-los: não sabemos quem realmente são, não sabemos suas intenções, e se não há características compatíveis, é difícil manter um laço afetivo com eles. Por apresentarem incompatibilidade, consideramos que suas atitudes serão contrárias, inconstantes, imprevisíveis. Mas, ainda que sejam imprevisíveis, tentamos, a todo o momento (como um mecanismo de defesa), prever estas atitudes. Assim, esclarece Bauman: Poderíamos dizer que a insegurança moderna, em suas várias manifestações, é caracterizada pelo medo dos crimes e dos criminosos. Suspeitamos dos outros e de suas intenções, nos recusamos a confiar (ou não conseguimos fazê-lo) na constância e na regularidade da solidariedade humana. (BAUMAN, 2005, p. 16) Nos contos fonsequianos “Feliz ano novo” e “O Cobrador”, por exemplo, a fronteira que separa os abastados dos desprovidos (Cf. CABRAL, 2010) (ou as vítimas dos criminosos, os ricos dos pobres, os previsíveis dos imprevisíveis) está claramente demarcada. Os criminosos são os personagens Zequinha, Pereba e o narrador, que roubam um carro e decidem ir “para os lados de São Conrado” (FONSECA, 1989, p. 17) para assaltar uma mansão na noite de ano novo. Em “O Cobrador”, o assassino é o protagonista que declara que não vai mais pagar pelo que consome: “Eu não pago mais nada, cansei de pagar!, gritei para ele, agora eu só cobro” (FONSECA, 1979, p. 166). As atitudes destas personagens são previsíveis, pois a única coisa que podemos esperar de um criminoso é que ele cometa crimes. Ironicamente, ficamos aliviados por conseguir identificar a fonte de sofrimento que nos ameaça. Nosso medo, agora identificado e conhecido, pode ser combatido e, ainda que não possamos eliminá-lo por completo, podemos, ao menos, fugir dele. É no conto “Passeio Noturno” que o alívio que por hora sentíamos desaparece, e o medo retorna de forma inevitável. Se nos dois contos mencionados nós podíamos identificar acertadamente a origem da nossa insegurança, do mal que nos afligia, em “Passeio Noturno”, esta certeza se esvai. O protagonista é um homem de negócios (não sabemos se é industrial ou narcotraficante) que, todas as noites, atropela pessoas. O motivo que apresenta para cometer tais crimes é banal: “Amanhã vou ter um dia terrível na companhia” (FONSECA, 1989, p. 71). O protagonista do conto é um homem gordo e rico que não tem nome. O que sabemos de sua esposa é que é gorda: “meus filhos tinham crescido, eu e minha mulher estávamos gordos” (FONSECA, 1989, p. 61), e que, possivelmente, não trabalha. Como o protagonista, a esposa e os filhos também não têm nome. O espaço narrativo é a cidade do Rio de Janeiro, mas sem localização precisa. É este desconhecido que todas as noites dirige seu jaguar preto com um único propósito: aliviar a tensão de um “dia terrível”. Sem informações precisas, o protagonista é qualquer burocrata misturado à multidão. No restaurante, ao discutirem sobre sua real profissão, ele desafia Ângela a descobrir a veracidade do que diz: Você tem razão. É tudo mentira. Olha bem para o meu rosto. Vê se você consegue descobrir alguma coisa, eu disse. Ângela tocou de leve no meu queixo, puxando meu rosto para o raio de luz que descia do teto e me olhou intensamente. Não vejo nada. Teu rosto parece o retrato de alguém fazendo uma pose, um retrato antigo, de um desconhecido, disse Ângela. Ela também parecia o retrato antigo de um desconhecido. (FONSECA, 1989, p. 70). Seu rosto é ordinário, suas roupas são ordinárias, sua família é ordinária, mas seu comportamento é tão criminoso quanto o da quadrilha do conto “Feliz Ano Novo” ou do matador em “O Cobrador”. O professor americano Jeffrey J. Cohen – que, metaforicamente, define os monstros como corporificações culturais de certas emoções humanas (Cf. COHEN, 2000, p. 26-27) – afirma que uma corporificação monstruosa é capaz de revelar (etimologicamente, monstrum é “aquele que revela”, “aquele que adverte”) qualquer diferença, mas que, no entanto, as diferenças culturais, políticas, raciais, sexuais e econômicas são as mais recorrentes. Isso talvez se deva ao fato de que nossas emoções, na maioria das vezes, são provocadas socialmente: nós construímos nossa identidade a partir da identidade do outro, em contato com o outro. O que vemos de compatível no outro é atrativo. Por outro lado, o que percebemos incompatível (embora, possa ser fascinante) é repulsivo. As personagens de “Feliz Ano Novo” e de “O Cobrador” são incompatíveis com uma conduta moralmente aceita por nós e, portanto, podem ser encaradas como monstros. Nós os repudiamos, e sequer revisamos nossa avaliação, pois eles são, indiscutivelmente, criminosos. Essas personagens são a corporificação da diferença, revelada em sua forma monstruosa. Porém, é preciso ressaltar que, mesmo que não soubéssemos de seus crimes (e aí descartaríamos automaticamente a diferença moral), a monstruosidade das personagens destes contos não desapareceria, já que ainda haveria a diferença econômica. Do nosso ponto de vista moral, Zequinha, Pereba e o narrador, o Cobrador, o protagonista do conto “Passeio Noturno” e Adolph Eichmann estão unidos em um mesmo corpo monstruoso. Mas Cohen alerta que: “Representar uma cultura prévia como monstruosa justifica seu deslocamento ou extermínio, fazendo com que o ato de extermínio apareça como heroico” (COHEN, 2000, p.33). O oficial nazista, neste sentido, não era capaz de ver qualquer imoralidade em seus atos (como dito, o momento histórico era extraordinário). E assim, um homem que nada tinha de singular, um homem pacato e enfadonho, foi responsável pela morte de milhões. Se ele cumpria ordens ou se simplesmente preferiu manter seus privilégios em detrimento de vidas humanas, já não importa. O protagonista de “Passeio Noturno” não difere de Eichmann. Seu rosto ordinário de um típico gordo burocrata pai de família não nos deixa marcá-lo, de antemão, como um homem violento. Sua posição econômica não evidencia um assassino. Suas atitudes para com seus filhos e esposa não revelam um monstro. É neste momento que sentimos medo. Se os monstros habitam a diferença, como podemos reconhecê-los quando esta diferença não existe? Referências Bibliográficas: BAUMAN, Zygmunt. Medo líquido. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008. _____. Confiança e Medo na Cidade. Tradução de Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009. CABRAL, Luciano. Vitimas e Algozes do Medo no conto "Feliz Ano Novo", de Rubem Fonseca. In: ___. Anais do VI Painel "reflexões sobre o insólito na narrativa ficcional Insólitos, Mitos, Lendas e Crenças", 2010. CÂNDIDO, Antonio. A educação pela noite e outros ensaios. Série Temas: estudos literários. São Paulo: editora Ática, 1989. COHEN, Jeffrey Jerome et al. Pedagogia dos monstros; os prazeres e os perigos da confusão de fronteiras. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. DELUMEAU, Jean. Medos de ontem e de hoje. Tradução de Marcelo Gomes. In: Ensaios sobre o medo. Organizado por Adauto Novaes. São Paulo: editora Senac, Edições Sesc SP, 2007, p. 39-52. FONSECA, Rubem. Feliz ano novo. 2ª edição. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. ______. O Cobrador. 2ª edição. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1979. ______. Os Prisioneiros. 3ª edição. Rio de Janeiro: Codecri, 1963. FREUD, Sigmund. O Mal estar na civilização; edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Vol. XXI. Tradução de Eudoro Augusto Macieira de Souza. Rio de Janeiro: Imago, 1974. HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 11ª edição. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva e Guaracira Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. SCHOLLHAMMER, Karl Erik. Ficção brasileira contemporânea. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009.
Download