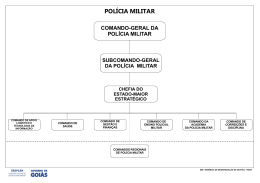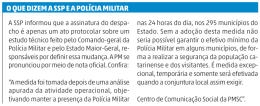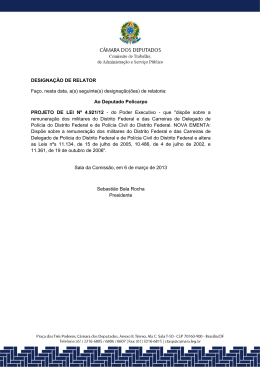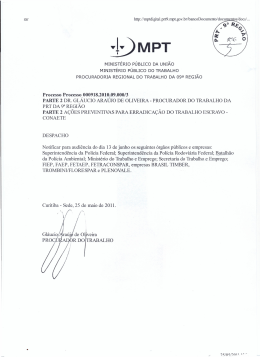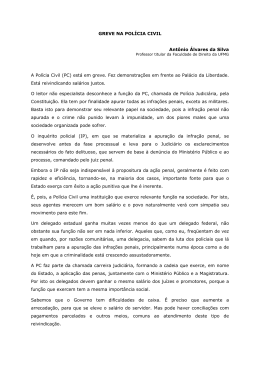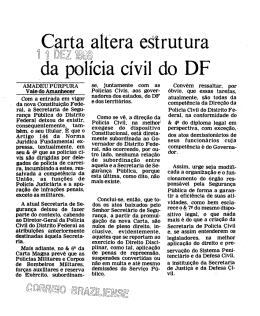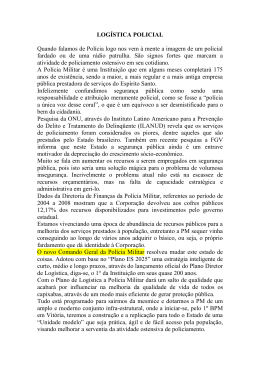JOÃO ANTÔNIO DA COSTA FERNANDES JÚLIO CÉZAR COSTA POLÍCIA INTERATIVA: A DEMOCRATIZAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA Monografia apresentada ao Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da Universidade Federal do Espírito Santo e à Diretoria de Ensino da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo como requisito para conclusão do I Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais da PMES, sob a orientação da Professora Vanda de Aguiar Valadão. . Vitória 1998 TERMO DE APROVAÇÃO A Banca examinadora aprovou esta monografia tendo-lhe atribuído nota: 10,0 (DEZ) MAJ QOC PMES PEDRO DELFINO DR. LUIZ FERRAZ MOULIN PROFESSORA VANDA DE AGUIAR VALADÃO Agradecimentos Ao Senhor Deus, que nos deu todas as condições para a conclusão deste trabalho. Para nossas esposas, filhos e nossos pais, pela paciência e compreensão que sempre tiveram conosco. A todos os amigos e amigas pela coragem em nos apoiar. Em especial, à Professora Vanda de Aguiar Valadão, que brilhantemente nos orientou e que também possui em suas veias o sangue da grande família policial militar. SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO .......................................................................... 07 CAPÍTULO I A MILITARIZAÇÃO DA POLÍCIA E AS SUAS CONSEQÜÊNCIAS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL ................................... 13 1. A Polícia na Era Moderna ......................................................................... 13 2. A Estrutura Policial no Brasil de 1.530 a 1.831 ........................................ 15 3. As Origens das Atuais Polícias Militares .................................................. 19 4. A Militarização da Polícia no Século XX ................................................... 22 5. A Polícia no Estado Getulista ................................................................... 25 6. O Início da Democratização Brasileira ..................................................... 26 7. O Regime de 64 e a utilização do Aparelho Policial ................................. 28 8. A Nova Constituição e a Polícia ............................................................... 31 9. A Polícia em Crise e as Perspectivas de Soluções .................................. 33 CAPÍTULO II OS DIREITOS HUMANOS E O PAPEL DA POLÍCIA EM REGIMES DEMOCRÁTICOS ................................................................................. 37 1. Os Princípios Universais dos Direitos Humanos para a Ordem 37 Democrática ................................................................................................... 2. Os Direitos Humanos no Brasil – Ausência de Cidadania ......................... 44 3. A Polícia e os Direitos Humanos sob a Ótica da Normatização Institucional ..................................................................................................... 53 3.1 O CÓDIGO DE CONDUTA PARA POLICIAIS ................................................................. 56 3.2 PRINCÍPIOS BÁSICOS SOBRE O USO DE FORÇA E ARMAS DE FOGO ............... 58 3.3 A CONVENÇÃO CONTRA A TORTURA ......................................................................... 62 3.4 A PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO DO BRASIL .................................................................................................................................... 64 4. Exigências Democráticas no Campo da Segurança Pública ..................... 66 4.1 O POLICIAMENTO REPRESENTATIVO ......................................................................... 68 4.2 O POLICIAMENTO CORRESPONDENTE ÀS NECESSIDADES E EXPECTATIVAS PÚBLICAS ............................................................................................................................... 69 4.3 O POLICIAMENTO RESPONSÁVEL ............................................................................... 74 4.4 APONTANDO SOLUÇÕES .............................................................................................. 78 CAPÍTULO III UM NOVO MODELO PARA O ORGANISMO POLICIAL BRASILEIRO ................................................................................ 1. 80 Entendendo a Necessidade de Mudança do Modelo Atual de Segurança Pública ......................................................................................... 80 1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS ......................................................................................... 80 1.2 FATORES INTERVENIENTES NO DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO INTERATIVO .......................................................................................................................... 1.3 CONCEITOS INDISPENSÁVEIS PARA 82 O ENTENDIMENTO DO PROCESSO INTERATIVO .......................................................................................................................... 83 1.4 CARACTERÍSTICAS DO MODELO INTERATIVO DE POLÍCIA ................................... 85 1.5 O MÉTODO INTERATIVO – MODALIDADES DE INTERAÇÃO .................................... 93 2 CONCLUSÃO ............................................................................ 97 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................. 98 1 INTRODUÇÃO Sonhar com um modelo de sociedade igualitária, onde a lei e a ordem sejam verdadeiramente a expressão da vontade e necessidade do universo da população é preciso. Ousar conceber uma nova forma de fazer polícia, de acordo com o modelo igualitário de sociedade, numa sociedade estruturada hierarquicamente é desencadear uma difícil batalha. Implementar um novo modelo para o organismo policial brasileiro, que seja conforme os princípios democráticos expressos na Constituição, e que conseqüentemente atenda ao padrão dos direitos humanos é vencer. O troféu da vitória é a Polícia Interativa, uma evolução do princípio da comunitarização da polícia, que tem como registro de seus primórdios no mundo o modelo inglês. Conforme o estudo de Ribeiro (1993), na Inglaterra, até o início do século XIX cabia à própria comunidade delegar a alguns de seus membros a tarefa de organizar a segurança do grupo. Com a evolução econômica e social do povo inglês, foi necessária a criação de uma força regular para a preservação da ordem pública, sendo que coube ao então Ministro do Interior “Sir” Robert Peel, em 1829, a organização da Polícia Metropolitana de Londres, a conhecida “Scotland Yard”. Segundo a concepção do próprio Peel, a polícia deveria ser organizada militarmente, com hierarquia e disciplina rígidas, porém voltada para a proteção dos cidadãos e para a prevenção do crime, e ainda com a investidura civil dos policiais. A criação da “Scotland Yard”, deu incício à comunitarização da polícia, dentro do que se chamava à época de “Commutting Police”, ou modelo de ação comunitária, daí advindo a figura do “Bobby”1 londrino. Já neste século em 1948, a implementação dos chamados “team police” ou policiamento em equipe, na cidade de Aberdeen na Escócia, passou a servir como modelo para a setorização das atividades policiais nas comunidades, denominando-se este modelo de “polícia comunitária”, que atualmente tornou-se referencial de aplicação do policiamento em várias partes do mundo; e que no Brasil foi introduzido no início da década de 80, pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, na ocasião comandada pelo Coronel Carlos Magno Nazareth Cerqueira, a partir do modelo norte americano. A comunitarização da polícia no Estado do Espírito Santo, como um sistema oficial e formal, iniciou-se em 13 de novembro de 1985, com a edição do Decreto nº 2.171, autorizando a criação dos Conselhos Comunitários de Segurança no território capixaba. Neste mesmo ano, a Polícia Militar do Espírito Santo criou, através da Diretriz nº 02/85 – 3ª Seção do Estado Maior da Polícia Militar, o Programa de Interação Comunitária, denominado de “Pacto”, como forma de proporcionar condições de execução das disposições contidas no Decreto já mencionado. 1 Termo usado para denominar os policiais da Scotland Yard, criada por Sir Robert Peel em 1829. Em 1987, através da Fundação Pedroso Horta, passa a ser discutido o “Sistema de Policiamento Modular”2, que haveria de ser a espinha dorsal do Policiamento Comunitário, e base para a implantação da nova mentalidade nos serviços prestados pela Polícia Militar do Espírito Santo, à sociedade capixaba. Em 1988, a Polícia Militar do Espírito Santo, inicia o processo de Policiamento Comunitário, nas cidades de Alegre e Guaçuí, com a criação do primeiro Conselho Comunitário de Segurança do Espírito Santo em Alegre e ativando o policiamento a pé, através de duplas de policiais militares nos bairros da cidade de Guaçuí, utilizando-se um contigente específico que para lá foi transferido para iniciar o processo de interação com a sociedade através do Policiamento Comunitário. Em 1989, a nova Constituição Estadual, consagra a participação da sociedade civil na formulação das políticas públicas de segurança, trazendo assim em definitivo, a participação popular, como instrumento de controle e incrementação das ações dos órgãos estaduais, encarregados da Segurança Pública. Em julho de 1991 é implantado na cidade de Guaçuí-ES, o POPCom3, semente que germinaria quatro anos depois, naquele que seria o projeto mais inovador no campo de polícia ostensiva no Espírito Santo. 2 Modelo tático de ocupação territorial usado pela Polícia Militar, basicamente idêntico ao “team police” originado em Aberdeen na Escócia em 1948, consistindo na construção de um posto de policiamento, de onde seria distribuído os policiais numa área geográfica. 3 POP-Com – nome técnico do projeto de Policiamento Ostensivo Produtivo Comunitário, desenvolvido Nos meados de 1992, a Polícia Militar do Espírito Santo, estrutura um sistema pioneiro e moderno de reciclagem profissional, denominado de “Instrução Modular”. Tal sistema concebido experimentalmente a princípio, foi efetivado, e tornou-se a mola mestra da filosofia adotada no “Projeto de Polícia Interativa”, que visa preparar o segmento militar, dando-lhe todas as condições de conhecimento técnico para o desempenho da atividade profissional. Este processo foi exteriorizado, através da frase “a operacionalidade anda a reboque da instrução”, de autoria do Coronel Carlos Magno da Paz Nogueira, ex-Comandante Geral do Polícia Militar do Espírito Santo. Em 1994, o Capitão Júlio Cézar Costa reinicia o processo de interatividade entre a Polícia Militar, Comunidades, Poderes Públicos e Clubes de Serviços, visando à implantação de uma mentalidade de polícia ostensiva, que na época, nas palavras do Prefeito Dr. Luiz Ferraz Moulin, seria a “polícia de Guaçuí, o exemplo de uma polícia cidadã, a exportar-se para todo o País”. Por iniciativa da Loja Maçônica Liberdade e Luz de Guaçuí, e ainda dos representantes da Sub-seção da OAB, do Rotary Clube, do Lions Clube e finalmente da Associação Comercial, em dezembro de 1994, é criada a Comissão de Estudos para formalização do Conselho Interativo de Segurança(CISEG), sendo tal conselho empossado pelo Coronel Comandante Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, em solenidade festiva na Câmara Municipal de Guaçuí, por ocasião do I Encontro Estadual sobre Polícia Interativa, ocorrido em 26 de janeiro de 1995. Várias reuniões antecederam à formalização do CISEG, permitindo assim, que Guaçuí fosse a primeira cidade capixaba, a dar cumprimento ao na cidade de Guaçuí, após ser idealizado pelo Capitão Júlio Cézar Costa. mandamento constitucional, que autoriza a participação da sociedade na formulação das políticas públicas de segurança, pois desde o seu nascedouro, a participação comunitária na formulação das questões locais de segurança pública, trilhou pelo caráter democrático e isento, da eclética participação de todos os segmentos da sociedade. Com ascensão ao Comando Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, em janeiro de 1995, do Coronel Polícia Militar Alvim José Costalonga, incentivador da mudança de mentalidade na Corporação, a Polícia Interativa ganha corpo e motivação. Logo três dias depois de assumir o Comando Geral, o Coronel Alvim, determina a realização em Guaçuí do “I Encontro Estadual sobre Polícia Interativa”, sob os auspícios do 3° Batalhão de Polícia Militar, através da 2ª Companhia, sediada naquela cidade. Durante a realização do “I Encontro Estadual sobre Polícia Interativa”, a Polícia Militar do Espírito Santo, com a presença de seu Comandante Geral, e de representação de toda a sua oficialidade, adota a Polícia Interativa como uma meta a ser atingida. Nesse ínterim, o Governador do Estado, Dr. Vítor Buaiz, ao tomar conhecimento do projeto sobre a Polícia Interativa e verificar que era sobretudo um projeto inovador, que mudaria a face da segurança pública no Estado, através da participação das comunidades, adota-o e o inclui em sua plataforma de governo, vindo juntamente com a Prefeitura Municipal de Guaçuí e outras entidades, a patrocinar a realização em agosto de 1995, em Guaçuí, do I Fórum Nacional sobre Polícia Interativa, que contou com a presença do Dr. Nelson Jobim – então Ministro da Justiça, além dos representantes das Polícias Militares do Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Minas Gerais e Paraná. Em dezembro de 1995, no hotel Luxor Regente em Copacabana, Rio de Janeiro, durante o I Seminário Internacional sobre Polícia Comunitária, patrocinado pelo Governo Federal e pelo Movimento Viva Rio4, o sistema capixaba de Polícia Interativa destacou-se dentre os demais modelos apresentados naquele colóquio. A partir de tal evento, o projeto de Polícia Interativa passou a ser também plataforma do Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, através de sua inclusão no Plano Nacional dos Direitos Humanos – PNDH, decretado em 13 de maio de 1996. Assim, esse trabalho é o resultado de uma pesquisa bibliográfica que leva ao entendimento do modelo e do arcabouço ideológico policial adotados no Brasil, ingressando nos princípios que fundamentam o Estado Democrático e nas exigências dos padrões dos Direitos Humanos para o policiamento e das organizações policiais; apresentando finalmente o sistema de polícia interativa adotado na Polícia Militar do Espírito Santo como um modelo que atende à exigência da nova ordem constitucional brasileira e internacional dos direitos humanos. 4 Organização não governamental que atua na área de estudos sobre Segurança Pública no Brasil. CAPÍTULO I A MILITARIZAÇÃO DA POLÍCIA E AS SUAS CONSEQÜÊNCIAS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL. 1. A POLÍCIA NA ERA MODERNA. O fim da idade média e a diluição do pensamento absolutista que a sustentava, adicionado às conquistas do novo mundo, originaram as bases primárias para o surgimento de um Estado público em contraposição ao Estado privatista da era feudal, ou da Monarquia patrimonialista. À época, a estrutura de dominação exigia um aparato sustentador, basilar, e que externalizasse a visão dos que detinham o poder sobre a grande massa que precisava ser controlada, como fundamento para o suposto alcance do governo estável. Entretanto, em 1505, na cidade de Florença organizava-se o 1º Conselho de Gestão da Polícia que a Literatura noticia. Maquiavel foi incumbido de organizar a milícia para o cerco de Pisa, sendo que os milicianos iriam substituir os mercenários. Como Chanceler dos Nove, órgão responsável pelo comando da milícia, Maquiavel estrutura a força policial para uma atuação eminentemente de caráter militar (MAQUIAVEL : 1996). É notório, que a força miliciana nascia para guerrear, portanto desde a sua gênesis, era substantivamente uma organização militar, que atuaria na defesa e nos interesses do governante, e não necessariamente dos súditos deste. Aqui indubitavelmente nasce a concepção militar de polícia. A militarização do elemento humano da polícia, era fator preponderante na época, visto que a sociedade estava em processo de transformação. Ter o aparato de segurança sob o controle direto do governante era necessário e a melhor forma de conseguir tal objetivo era militarizar a milícia, que seria a força permanente de dominação, uma vez que, a manutenção de um exército belicista, tornar-se-ia por demais onerosa em tempos de paz. A milícia atuava no policiamento e quando necessário guerreava também. O século XVI traz para a Europa novas esperanças. As descobertas de terras no novo mundo, o atingimento por via marítima do extremo sul do continente africano e também da Índia, eram conquistas que serviriam para a mudança do “status quo” da Europa Ocidental. O século XVI – século de profundas transformações na estrutura social, também foi palco da reforma religiosa. O Mundo abria as suas portas para os novos tempos. Viriam posteriormente os grandes contratualistas, o Iluminismo e tantos outros movimentos que iniciaram mudanças na face sócio, política e econômica da humanidade. “O movimento social caminhava a passos largos para o rompimento da velha estrutura do absolutismo monárquico. O desiderato por participação nos destinos de suas nações, tornavam as pessoas ávidas por alterações que lhes possibilitassem o atingimento de direitos sociais e políticos, originando o Estado Social de Direito. Apenas em 1760 o termo polícia começava a ser usado na França, seguindo o seu significado atual” (MORAES, 1986). A Revolução Francesa foi o grande marco. O lema da Igualdade, da Fraternidade e da Liberdade expande-se para todo o Mundo. Enfim a humanidade soltava a sua voz e simbolicamente dava o brado anunciando o limiar de uma nova época, que seria consubstanciada na busca pelo respeito aos direitos inalienáveis da pessoa humana. No final do século XVIII, os acontecimentos históricos na França gerariam novas expectativas, que multiplicar-se-iam a partir do continente europeu para todo o mundo, favorecendo o surgimento de novos ideais na sociedade, e habilitando os homens para uma fase nova em suas relações com o aparelho do Estado. 2. A ESTRUTURA POLICIAL NO BRASIL DE 1530 a 1831. O território pátrio como sabemos foi colonizado pelos Donatários das capitanias hereditárias. Portugal não possuindo condições de explorar as terras que estavam distante, optou pelo, já na ocasião conhecido, sistema de Capitanias Hereditárias, onde a forma de colonização ocorria com recursos próprios de portugueses afortunados que recebiam as donatarias em possessão hereditária, e nela implementavam as suas formas indômitas de administração, recebendo para tal a permissão legal do Rei, inclusive na administração das funções de polícia, iniciando-se no Brasil a dominação privada sobre uma causa pública, como é o mister da segurança pública. Na ocasião a definição do que era público tornava-se irrelevante visto que o propósito de Portugal era assumir o domínio sobre a empresa oriunda da descoberta de tão vasto território, e as ações típicas de polícia estavam também por estatuto régio nas mãos dos senhores donatários, conforme indicações abaixo: “Pelos documentos existentes, a idéia de polícia no Brasil nasceu em 1530 quando D. João III resolve então adotar o sistema de capitanias hereditárias, outorgando a Martins Afonso de Souza uma carta régia para estabelecer a administração, promover a justiça e organizar o serviço de ordem pública, como melhor entendesse, nas terras que conquistasse no Brasil” (AZKOUL : 1998 : 09-10). Ocupando as capitanias, para expurgar quaisquer ameaças de franceses, holandeses e outras nações que viessem a intentar a criação de benfeitorias no território continental do Brasil, os fidalgos portugueses que as explorariam, indispensavelmente teriam que constituir forças de defesa, que direcionassem as suas ações para a proteção da propriedade contra as invasões estrangeiras e também contra a ação dos nativos, visto que eram estes também elementos desestabilizadores, e que colocavam em perigo o domínio geográfico e econômico do poder português. Na repartição das terras, os Donatários cediam as sesmarias para aqueles cidadãos portugueses que possuíssem condições financeiras para prosseguir no processo de colonização. Estes, denominados de sesmeiros, deveriam prestar ao donatário da capitania os seus serviços em caso de invasões internas ou externas. Criava-se assim um vínculo entre o sesmeiro e o donatário, haja visto que o primeiro sempre que necessário e na defesa da empresa colonizadora atuaria em apoio, com a sua força miliciana, constituída para a manutenção do seu patrimônio e dos seus interesses. Evidenciada está que durante o período das capitanias hereditárias a incipiente ordem pública esteve sempre nas mãos dos detentores do poder econômico, transcedendo assim a despreocupação com a segurança pública, que tinha contornos de segurança privada pelo modo e finalidade como era gerida. “O aparato de segurança com o advento da instituição da colônia em substituição ao sistema de capitanias hereditárias passa a ser composto basicamente por três forças: - Tropas de 1ª Linha ou Corpos Permanentes; - Tropas de 2ª Linha ou Corpos Auxiliares ou Milícias; e - Tropas de 3ª Linha ou Ordenanças (PIETÁ : 1997 : 16). Pareceu interessante a Portugal constituir o sistema de defesa do Brasil Colônia, seguindo o modelo que vigia na Europa na época. Assim as Tropas de 1ª Linha constituíam-se do Exército com tropas pagas a soldo pela Coroa, integradas por portugueses que exerciam a função de controle e defesa da vasta possessão territorial pertencente a Portugal, e que agiam sob as ordens diretas dos prepostos portugueses no Governo Geral do Brasil. As tropas de 2ª e 3ª linhas não eram Corpos Regulares, mas sim um conjunto de pessoas que por delegação do poder concedente, promoviam nas emergentes vilas as tarefas de segurança pública: “No período colonial , não havia um corpo de polícia regular. Para o policiamento, grupos de vinte moradores, com o nome de quadrilha, ordenados por juízes e vereadores, podiam durante três anos prender malfeitores, vadios, indivíduos de má fama e os estrangeiros. Deviam agir de forma preventiva contra os prostíbulos, casas de jogos, receptadores de objetos roubados alcoviteiras e feiticeiras. Um corpo policial só se fez presente com a vinda de D. João VI ao Brasil” (CANCELLI : 1993 : 34). A caracterização do modelo policial no Brasil Colônia, trazia como elementos a discriminação, a vinculação das milícias às tropas regulares e a atuação não no controle da ordem pública, mas sim naquilo que interessava ao domínio português estabelecer. Em 13 de maio de 1809, através de ato de D. João VI, é criada, na cidade do Rio de Janeiro, a Divisão Militar da Guarda Real de Polícia, com o objetivo de promover o policiamento das ruas da Côrte e ainda de combater o contrabando e o descaminho, ambos crimes que afetavam as finanças do tesouro real, assim no texto seguinte, constata-se a edição de uma prática já conhecida em Portugal, que era constituir uma força militar policial. “...sendo de absoluta necessidade prover a segurança e tranqüilidade desta heróica e mui leal Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro cuja população e tráfego consideravelmente se aumentará todos os dias pela afluência de negócios inseparável das grandes Capitais; e havendo mostrado a experiência que o estabelecimento de uma Guarda Militar de Polícia é o mais próprio não só para aquele fim de boa ordem e sossego públicos mas ainda para obstar danosas especulações de contrabando que nenhuma outra medida nem as mais rigorosas leis proibitivas tem podido coibir. Sou servido criar uma Divisão Militar da Guarda Real da Polícia desta Corte, com a possível semelhança daquela que tão reconhecidas vantagens estabeleci em Lisboa, a qual se organizará, na conformidade do plano que este abaixo assinado pelo Conde Linhares, do meu Conselho de Estado, Ministro Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e de Guerra” (ALMANAQUE DA PMERJ : 1980). A criação, no início do século XIX, da Divisão Militar da Guarda Real de Polícia e da Intendência de Polícia do Brasil, ambas por D. João VI, inseria no aparato público do Brasil, a gênesis da dicotomia policial, visto que as instituições criadas nasciam com características bem definidas, ou seja uma de natureza militar e a outra de natureza civil. Embora amorfos, os órgãos policiais no Brasil, durante cerca de duas décadas ainda, conviveram com o modelo colonial das tropas de 2ª linha e das ordenanças, visto que somente em 1831, o Ministro Diogo Antônio Feijó imporia uma nova modelagem para o aparelho de segurança pública do país. 3. AS ORIGENS DAS ATUAIS POLÍCIAS MILITARES. Após a proclamação da independência, passa a existir entre os idealistas brasileiros e o remanescente poder português abrigado na Côrte e principalmente no Exército, sérias disputas pelo domínio político do novaz Império, sendo que com a abdicação de D. Pedro I, estas rusgas se consolidam e a Regência Trina, órgão governativo do momento, impõe drástica redução dos efetivos militares, conforme o estudo de Faoro (1987) evidencia: “Antes de 1831 o exército consumia dois terços do orçamento e se compunha de 30.000 homens. Logo depois do 7 de abril, os efetivos se reduziram à metade, com o máximo legal de 10.000 em 3 de agosto de 1831”. A política de Feijó, Ministro da Justiça durante a Regência Trina Permanente, era de enfraquecimento do poder militar do exército colonial que transcendeu a proclamação da independência. Ao enérgico padre interessava revigorar o sistema de segurança do Império através de um outro modelo gestor e para tal, criou, em 18 de agosto de 1831, a Guarda Nacional, com o propósito de contrapor-se ao Exército. Entretanto, logo após, reiterou a criação das Guardas Municipais Permanentes, em Lei de 10 de outubro de 1831, sendo a descentralização do serviço de segurança, uma constatação clara, conforme faz sugerir Souza (1986 : 10) na transcrição seguinte: “A Lei de 10 de outubro de 1831, reguladora do funcionamento das Guardas Municipais Permanentes, era o respaldo legal necessário para as decisões a nível de governos provinciais quanto à criação de seu corpo próprio. Assim ditavam os seus artigos básicos: Art. 1º - O Governo fica autorizado para crear nesta cidade um Corpo de Guardas Municipaes voluntários a pé e a cavallo, para manter a tranquilidade pública, e auxiliar a justiça, com vencimentos estipulados, não excedendo o número de seiscentos e quarenta pessoas, e a despesa anual a cento e oitenta contos de réis. Art. 2º - Ficam igualmente autorizados os Presidentes em Conselhos para crearem iguaes corpos, quando assim julguem necessário, marcando o número de praças proporcionado”. A Guarda Nacional que se estruturou com o enfraquecimento do Exército, foi inspirada na ordem liberal da França, mas estava vinculada às velhas Milícias e Ordenanças. De acordo com Pietá (1997 : 03), as Guardas Municipais permanentes, com atividades de polícia, entretanto com estruturação militar, seguiriam no curso da história como instituições das províncias, porém com forte vínculo e utilização pelo poder central, inclusive em eventos belicistas como foi a guerra do Paraguai. A constituição das Guardas Municipais, diferentemente do sistema adotado pela Guarda Nacional, era mais flexível, pois o recrutamento era baseado no voluntariado. Embora formatada militarmente, a atuação das então Guardas Municipais era voltada para a manutenção da ordem pública na incipiente sociedade urbana no Brasil. A utilização da força pública como elemento dominador, atendia aos dispositivos de poder aos quais estava ligada a classe dominante. Na manutenção do regime escravocrata, discriminador e arbitrário se fazia mister a atuação sistêmica de um poder judiciário dependente e de uma polícia sectária, visto que agiam em conformidade com os estatutos legais já em desuso no mundo civilizado da época, senão vejamos: “A polícia das cidades, em obediência a dispositivos legais, agia no sentido de prender qualquer escravo ou negro que andasse sem documento onde se provasse o seu direito à livre circulação. A menor suspeita, o negro era encarcerado” (COSTA : 1989 : 315). Ainda como elementos intimidadores das questões libertárias e ideológicas, a justiça e a polícia se compunham para manterem o “status quo” da velha aristocracia em contraposição à crescente população que lutava por seus direitos e anseios de cidadania. A utilização bastarda da força física pelas elites dominantes para aquietar os descontentes é descrita por Costa (1989 : 315) nos seguintes termos: “As violências cometidas pelos senhores continuavam a encontrar, em certos casos, o apoio da polícia. A polícia e a justiça não impediam as arbitrariedades dos Senhores; seus membros recrutados entre as categorias dominantes ou à sua clientela, colaboravam para a manutenção do regime”. As Guardas Municipais, criadas a imagem e semelhança do Exército, como forças de infantaria e com estruturas estanques de oficiais e praças, atuariam durante todo o 2º Império na defesa da aristocracia escravocrata, em conjunto com a Guarda Nacional, tendo desenvolvido ainda mais a militarização de seus efetivos após a participação na Guerra do Paraguai, sem qualquer preocupação com a especialização nas atividades civis de segurança pública, que naquele tempo não eram vistas como prioritárias, pois percebemos que a violência, praticada por essas forças, continuava sendo o grande argumento e resposta das causas da segurança pública no Brasil. As violências praticadas de modo usual pela polícia demonstravam que o açoitamento era o instrumento de preservação dos interesses econômicos dos proprietários, e por esta via trafegavam as questões da segurança pública. Findo o Império, a polícia nenhuma mudança sofreu, pelo contrário, tornou-se mais militarizada, vez que a República brasileira nasceu contaminada pelo vírus do regionalismo dominante, exteriorizado nas pretensões dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, que, desde o início, travaram uma incessante disputa pelo domínio do poder central, e certamente sem o aparato bélico e militar das Guardas Municipais, agora transformadas em Forças Públicas Estaduais, nenhum êxito teriam obtido nas suas intenções de dominação do cenário político nacional. 4. A MILITARIZAÇÃO DA POLÍCIA NO SÉCULO XX. Proclamada a República no Brasil, não demorou quase nada para que as velhas oligarquias manifestassem os seus anseios pelo poder. Nascida a partir de uma conspiração do poder militar, e desde cedo influenciadas pelos Estados mais poderosos: São Paulo e Minas Gerais, a jovem República manifestaria um de seus aspectos mais marcantes que foi a militarização das polícias estaduais, através da vinda a nosso país de missões militares do Exército francês em São Paulo (1905), patrocinada pelo então Governador daquele Estado Dr. Jorge Tibiriçá, que solicitou do então Ministro das relações exteriores – Barão de Rio Branco, o auxílio para o cumprimento de seu desiderato, e ainda, em Minas Gerais (1912) com a chegada de uma missão do Exército suíço. Como pólos irradiadores de doutrina e conhecimento técnicosprofissionais, à época, as polícias de São Paulo e Minas Gerais viriam a influenciar na militarização das demais polícias, visto que a partir dos ensinamentos oriundos de tais polícias, é que as demais se estruturariam. É sabido que os Governadores partiram para a criação de verdadeiros exércitos regionais, tendo para isto inclusive a permissão do Governo Central, conforme constata Souza (1986 : 22): “Aos Estados concedia-se, inclusive, a liberdade de se armarem militarmente, através de suas forças policiais [...] – as polícias militares sempre foram olhadas, pelo Exército como uma ameaça à União ...”. As missões militares estrangeiras desempenharam no início do século XX a tarefa de consolidar o pensamento militarizante dos gestores do poder político nos locais onde atuaram, pois com o estabelecimento da República, e o fim do Estado unitário, tornou-se possível o fortalecimento dos Estados mais bem aquinhoados, despertando o interesse pelo domínio político nacional. A revolução constitucionalista de São Paulo em 1932 é emblemática neste sentido. Os políticos paulistas inconformados com os rumos da política nacional, que impedira a ascensão de um representante de São Paulo, Júlio Prestes, à Presidência da República, desencadearam uma grande propaganda contra o Governo Federal, na qual se destacou a reivindicação pela convocação imediata da Constituinte. A revolução constitucionalista de 1932 teve na força militar estadual a sua base de sustentação para o atingimento das pretensões políticas daquele momento histórico visto que a força pública, hoje Polícia Militar do Estado de São Paulo, possuía condições de desestabilizar o regime político instalado, pois sozinha detinha mais meios e equipamentos bélicos do que a própria Força Terrestre Nacional ou seja o Exército Brasileiro. Finda a Revolução de 1932, o poder central estabeleceria, a partir da edição de normas legais, e em 1934 através da própria Constituição da República, mecanismos de controle federal sobre as Instituições Policiais Militares dos Estados, passando a controlar o armamento, o crescimento do efetivo e por fim institucionalizando a instrução militar do Exército nas já militarizadas polícias estaduais. Como atividade estatal de natureza civil, a segurança pública era somente de forma adjetiva uma atribuição das polícias militares, visto que substantivamente todo o adestramento dos integrantes das polícias militares sempre se conduziu pela doutrinação belicista e guerreira, inclusive de forma estrutural, quando se manteve uma férrea da hierarquia e uma férrea disciplina que mais se assemelhava aos procedimentos de um campo de guerra. 5. A POLÍCIA NO ESTADO GETULISTA Como representante da facção política caudilhista do eixo sul do Brasil, Getúlio Vargas assume o Governo Brasileiro, sustentado por castas da sociedade civil e militar, ambas descontentes com os rumos que tomou a República Velha, e sobretudo influenciados pela severa crise financeira de 1929, que abalou as estruturas econômicas mundiais. Os propósitos revolucionários e democráticos, a partir de 1937 são abandonados por Getúlio Vargas, que demonstrando o seu outro lado, intenta perpetuar-se no poder, promovendo o surgimento do denominado Estado Novo, período este que vai de 1937 a 1945 e que se estabeleceu através das perseguições sistemáticas a quaisquer ideologias que não derivassem do pensamento getulista. “Getúlio Vargas veio como resultado do estado de ausência das liberdades, veio para acabar com as oligarquias, mas levou-nos para um regime onde as liberdades públicas desapareceram totalmente, para um estado policial” (DONNICI : 1984 : 57). Qualquer projeto político anti-democrático tende a escudar-se em um amplo sistema legal de repressão, e assim a capilaridade territorial da polícia contribui para a sua utilização instrumental na realização do desiderato pela manutenção do poder. No Estado Novo não foi diferente. As Polícias Militares, sob o controle constitucional do poder federal, desde 1934, foram indubitavelmente empregadas para atuarem em defesa do Estado que houvera sido imposto, direcionando as suas ações para o fazimento da polícia política do regime de Vargas5, quando tornou-se explícita 5 Getúlio Dornelles Vargas – Ditador do Brasil de 1930 a 1945. a supressão dos mais lídimos direitos dos cidadãos, entre os quais o direito de divergir, de se contrapor e de pensar livremente. Amparado pela ascensão do nazifacismo, o período getulista serviria como laboratório para a formação desviante da polícia brasileira, que já militarizada, não profissional em sua área específica de atuação, ou seja a segurança pública, demonstraria mais tarde toda a sua aptidão para voltar a atuar como a atriz principal da triste novela do “Brasil ame-o ou deixe-o”6, que foi legada ao povo, agora novamente asfixiado, pela repressão do Regime Ditatorial de 1964. 6. O INÍCIO DA DEMOCRATIZAÇÃO BRASILEIRA. Findo o estado autoritário imposto durante década e meia por Getúlio Vargas, a nação brasileira influenciada pela vitória sobre o nazifacismo na Europa, vê soprar agora os ventos democráticos em nosso país-continente. Democratizar um país que já há quase 4 séculos e meio era governado por regimes não participativos, onde a cidadania e os demais direitos advindos desta condição não eram assegurados à população, requereria o estabelecimento de um novo pacto político que consolidasse e legitimasse a pretensão democrática. 6 Expressão cunhada pelos Ideólogos do Regime de 1964. A Constituição de 1946, talvez o mais democrático de nossos estatutos políticos, inseria a disposição para a busca de uma sociedade livre e democrática, redefinindo, neste contexto, o papel das polícias. “Pela primeira vez orientou-se as Polícias militares dos Estados para o exercício de sua atividade fim , compreendida como sendo a segurança interna e a manutenção da ordem” (SOUZA : 1986 : 46). De 1946 a 1964, as organizações policiais brasileiras encetaram ou priorizaram o atendimento das demandas de segurança pública, pois o regime político estabelecido, embora em desequilíbrio institucional constante, não direcionou as ações do Estado para os aspectos políticos-ideológicos, e se houve a repressão neste período, era simplesmente um desdobramento de hábitos adquiridos no passado pela polícia e não política do governo central. As razões anti-democráticas dos arautos de nosso nacionalismo não permitiriam a continuidade do regime constitucional de 1946, fazendo crer ao nosso povo, nas mobilizações dos primeiros anos da década de 60, que os rumos políticos tomavam formatos que nos impossibilitariam de viver em estabilidade e em paz na sociedade. Destas formulações foi criada a ambiência popular, para a protagonização por setores políticos tradicionais e de direita, objetivando a ruptura da ordem constitucional e o estabelecimento do regime militar, período este de perseguições ideológicas e do cerceamento da cidadania novaz e ainda incipiente naqueles tempos. 7. O REGIME DE 64 E A UTILIZAÇÃO DO APARELHO POLICIAL. O Brasil grande, decantado já na descoberta por Pero Vaz de Caminha, em sua carta ao Rei de Portugal, “terra em que se plantando tudo dá”, viveria a partir de 64 o seu período de áureo nacionalismo. A causa e a defesa do Estado, sobrepunham-se ao Estado Democrático de Direito. O perigo do comunismo, segundo afirmavam as Autoridades, era real, assim imperiosa se tornava a utilização de instrumentos fortes e que servissem para a contenção de quaisquer desvios políticos ideológicos que colocassem em perigo a segurança nacional. A restrição de direitos e a sistematização do aparelho do Estado para a consecução repressiva, não passariam longe da polícia, pelo contrário, tal Força enraizada no território nacional, seria manietada, despersonalizada, sem comando próprio, e assim controlada de Brasília, estaria a serviço da segurança nacional, sendo a mola mestra de toda a realização das atitudes repressivas e anti-democráticas impostas pelo Regime Militar. “O desrespeito ao homem, à sua vida e à sua dignidade foram o modo pelo qual se afinaram os instrumentos repressivos, com um saldo triste e lamentável de direitos espezinhados e conspurcados” (BICUDO : 1978). A polícia, historicamente serviçal dos mandatários do poder, sem diretrizes profissionalizantes na área de segurança pública, que deveria ter sido sempre o seu mister, foi e continua sendo co-responsável pelas mazelas da insegurança pública neste país, haja visto que a sua utilização real não é compatível com as sua destinação legal; o formato militar existente há séculos não habilitou a polícia para reagir contra o atentado à ordem democrática, pois como refém de um sistema antigo, repetitivo e perverso, a polícia brasileira foi utilizada pelos mandatários golpistas para fazer sofrer a nação brasileira, infelizmente. O recrudescimento do autoritarismo exigia uma super estrutura de repressão, a fim de preservar o Regime que se auto impunha. O Governo Militar, após a edição de vários Atos Institucionais, da falsa promulgação da Constituição de 1967 e da decretação do famigerado 667/697, enseja, com isto, viabilizar as polícias militares, que estariam respaldadas através do aparato legal de poder para atuarem na repressão ideológica, passando o direcionamento das ações de segurança pública, para a defesa da ordem política interna. Os DOI-CODI8 e outros órgãos basilares do regime autoritário não teriam tido tanto vigor se não fossem a capilaridade e o empenho do aparelho policial, auxiliados pela falsa idéia de que o regime em vigor era legítimo, pois tendia a defender-nos do perigo vermelho e da hecatombe comunista. A reação da sociedade civil não demoraria a vir à tona, passeatas, seqüestros de agentes diplomáticos e também a luta armada foram as atitudes de auto-defesa social para restaurar o regime democrático de direito. “No Governo Médici foram seqüestrados o Cônsul japonês Nobuo Okuchi, o Embaixador alemão Von Holleben, o Embaixador suíço Giovanni Buder, todos trocados pelos opositores ao regime, que entendiam uma mudança do sistema pela violência. Com isso, aumentava-se a repressão” (DONNICI : 1984 : 77). 7 Decreto Lei 667/69 que reestruturou as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares, durante o regime militar, e que ainda encontra-se em vigor. 8 DOI-CODI – Destacamento de Operações e Informações – Comando de Operações de Defesa Interna, órgão criado durante o Regime Militar do período de 1964 à 1985. Na atuação repressiva sistêmica a tais movimentos originados e amparados por setores diversos da sociedade, houve a ação onipresente da polícia, que adequada àquela realidade, treinava os seus efetivos para uma ação guerreira e anti-subversiva, enquanto as formulações das políticas públicas de segurança pública eram deixadas aos setores burocratizados do aparelho repressor estatal. “Pelo artigo 21 do Decreto-Lei 667, todas as atividades das Polícias Militares no Brasil passaram a ter o crivo do Estado-Maior do Exército, através da Inspetoria Geral das Polícias Militares, numa situação que perdura até hoje (1980)” (DONNICI : 1984 : 193). O aumento do êxodo rural, acarretando o inchaço das grandes cidades brasileiras, os acontecimentos de transformação da economia mundial e o desvirtuamento da função da polícia, que destarte, já não eram coisas novas, foram apenas alguns dos fatores condicionantes do aumento das ondas de criminalidade e violência a partir do final da década de 50. “Com o início da escalada dos crimes contra o patrimônio, iniciado na década de 50, começa então a chamada criminalidade aquisitiva violenta, primeiro com furtos (violência à coisa), passando, anos mais tarde, para os roubos (violência à coisa e à pessoa). Simultaneamente, a polícia brasileira entrou, na década de 50, o que vem permanentemente até hoje, numa deterioração funcional de tal ordem, que deixou de ser uma instituição confiável, protegendo tão somente aos ricos, usando de violência contra os pobres, deixando de assegurar e garantir os direitos humanos” (DONNICI : 1984 : 65). O desgaste causado pela longevidade do regime militar, o surgimento de condições para o retorno ao Estado Democrático de Direito, e a insatisfação popular, que em célebres manifestações demonstrava a sua recusa à continuidade do regime político iniciado em 1964, fez com que novas perspectivas fossem idealizadas pela sociedade brasileira, originando o retorno à normalidade democrática e por conseqüência a revisão de todos os nossos tratados políticos, no que fez consubstanciar o Congresso constituinte de 1986, e posteriormente, a Constituição de 1988, que como um de seus princípios fundantes, trouxe o respeito à dignidade humana e à vida, estes um verdadeiro paradoxo para a polícia violenta e militarizada, ainda existente no Brasil. 8. A NOVA CONSTITUIÇÃO E A POLÍCIA. Embora avançada em alguns pontos, entre eles o da cidadania, a carta constitucional de outubro de 1988, retrocedeu no item da segurança pública, pois ainda persiste em manter a vinculação das instituições policiais dentro do título reservado à “Defesa do Estado e das Instituições Democráticas”, mesmo título onde estão inseridos o Estado de Defesa, o Estado de Sítio e as Forças Armadas. Observa-se que os constituintes vinculam as forças policiais a primazia da defesa do Estado, como sempre ocorreu, dedicando adjetivamente uma função policial a tais órgãos encarregados da segurança pública. Contreiras (1998 : 54-55) faz importantes observações sobre esse período, assinalando entre outros fatos, o “lobby” que se formou quando do debate constituinte a respeito do lugar da polícia na ordem constitucional: “O Coronel Sebastião Ferreira Chaves foi ao Congresso em 1988 e tentou convencer alguns parlamentares a mudar o sistema policial dos Estados. Sua Maior frustração foi causada pela reação do Deputado Ulysses Guimarães. Apresentei meu projeto ao Deputado, mas ele disse que já não podia mudar nada porque tinha um compromisso com o General Leonidas Pires Gonçalves, Ministro do Exército do governo Sarney”. Segundo encontra-se conceituada no Manual de Instrução Modular9 (Polícia Militar do Espírito Santo, 1997), “segurança pública é a garantia que o Estado presta a nação contra quaisquer óbices que não sejam de natureza ideológica”. Por essa definição podemos depreender que o ordenamento das instituições policiais existentes atualmente, deveria estar desvinculado das questões de defesa do Estado, pois a vetorização conceitual nos induz a pensar que a mão de direção das ações de segurança pública é para a nação e não para o Estado como nos impõe o mandamento constitucional. A militarização da polícia militar acontece no texto constitucional, a partir do instante em que se estabelece a investidura militar e não civil dos servidores que integram os quadros das milícias estaduais. É contraditória, que a investidura pessoal seja militar e a destinação institucional de polícia seja civil. Essa contradição está estampada no artigo 42º e no artigo 144º, 5º e 6º parágrafos do texto constitucional: “Art. 42.: São servidores militares federais os integrantes das Forças Armadas e servidores militares dos Estados, Territórios e Distrito Federal os integrantes de suas polícias militares e de seus corpos de bombeiros militares. Art. 144.: A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 9 Sistema de Requalificação Profissional introduzido na Polícia Militar do Espírito Santo, a partir de 1992. I – (...) II – (...) III – (...) IV – (...) V – polícias militares e corpos de bombeiros militares. § 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. § 6º As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios” (Constituição Federal Brasileira, 1988). O modelo brasileiro é contraditório e contraproducente, pois diverge da visão moderna de polícia ao nível mundial, ao inverter o sentido da função civil da segurança pública, engessando a estrutura e ainda o lado comportamental dos integrantes das polícias militares, que a bem da verdade são militares e não policiais, como a destinação constitucional da polícia faz supor. 9. A POLÍCIA EM CRISE E AS PERSPECTIVAS DE SOLUÇÕES. Há muito se fala da ineficiência da polícia brasileira, e em particular da militar. No debate nacional, as reclamações da população neste mister nunca encontraram eco entre os nossos mandatários, às vezes, por força da dita tradição política brasileira, mas também pelo fato das polícias militares, em especial, possuírem um forte lobby na estrutura de poder neste país. Como um dos maiores policiólogos brasileiros da atualidade, o Coronel Jorge da Silva, Oficial da Reserva da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em sua conhecida obra “O Controle da criminalidade e da segurança pública na nova ordem constitucional”, mostra a dificuldade da mudança na polícia, quando afirma que: “A polícia com saudade dos velhos tempos da tortura e da truculência institucionalizada, incapaz de profissionalizar-se e trabalhar técnica e cientificamente (aliás, a polícia será a última a reconhecer que a força bruta não é mais o remédio eficaz dos velhos tempos...)” . O fato é que, como vimos, a Polícia Militar permanece reticente às mudanças, parecendo possuir um futuro estável e intocável, diante das transformações sociais que hoje são constantes e irrecuáveis. As mudanças estéticas surgidas a partir do fim do regime militar, não são suficientes para uma nova modelagem do aparelho policial, haja visto que os reclamos societários exigem algo mais dos órgãos encarregados da preservação da ordem pública. Nada adiantarão programas táticos como: os Núcleos de Segurança Comunitária em Pernambuco, os PM Box em Belém do Pará, o Policiamento Modular no Paraná, o Policiamento Discreto no Rio Grande do Sul, os Postos de Policiamento Ostensivo em Minas Gerais, e a atual Polícia Comunitária em São Paulo, entre outros, se a filosofia e a estratégia policial não se afinarem com os novos tempos, onde o valor da participação democrática, sobrepuja-se aos ditames positivistas do ordenamento militar, que de forma dúbia intenciona ações de aproximação com as comunidades, entretanto mantém como no caso do Espírito Santo, a formação dos policiais militares, calcada em conceitos militaristas, ocasionando através do condicionamento pavloviano, o que temos chamado de robotização do policial. Constatação feita por um grupo de professores da Universidade Federal do Espírito Santo, no estudo intitulado “A Função Social da Polícia Militar” comprova que os procedimentos de formação do elemento humano da Polícia Militar capixaba, ainda nos dias atuais, estão aquém de sua verdadeira destinação, que é a de ser um ativista social, um mediador de conflitos, permanecendo o velho paradigma da repressão e do combate à criminalidade, como se denota a transcrição do texto seguinte: “O policial é treinado, preferencialmente, para as operações de confronto armado, semelhante a uma guerra, que requer do sujeito um preparo físico adequado além de um controle tático e de armamento” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Caderno de Pesquisa. n. 5. Vitória : UFES, 1996). Direcionada em toda a sua existência secular para ações dirigidas no modelo militar, percebe-se a olhos nus, que a Polícia Militar, encontra-se agonizante pelo seu despreparo técnico policial, sequer conseguindo contribuir para o controle efetivo da criminalidade e do aumento da sensação de segurança da sociedade. Nenhuma organização policial no mundo, conseguiu resultados contra a criminalidade, sem antes voltar-se para uma remodelação sistêmica, envolvendo os conceitos filosóficos, estratégicos, táticos e técnicos que as nortearam. A Polícia Militar brasileira continua como sempre foi: corporativista, militarizada e tática. Eric Hobsbawn, em sua célebre obra “A Era dos extremos” nos ensina que: “O futuro não pode ser apenas uma continuação do passado. O mundo corre risco de implosão ou explosão. Temos que mudar”. Em decorrência das mutações sofridas pelo ambiente social, a modelagem cartesiana, verticalizada e de baixa densidade democrática que ainda persiste nas estruturas das Polícias Militares do Brasil, tende a evoluir pela pressão social, para um sistema mais aberto, participativo e inovador, adotando como vetores para a sua realização a comunitarização, a cidadanização e a humanização, sendo que a gestação de tal sistema de segurança pública, começa a ser moldada entre nós, a partir da experiência exitosa, de polícia interativa, iniciada em Guaçuí-ES, no ano de 1994. É de capital importância compreender o impacto das realidades organizacionais sobre a capacidade de desempenho, sobretudo quando tais realidades (burocracia, complexidade, estruturas hierárquicas, ideologia militar) interpõem-se no caminho da mudança, e impedem a realização das exigências democráticas no campo da segurança pública. CAPÍTULO II OS DIREITOS HUMANOS E O PAPEL DA POLÍCIA EM REGIMES DEMOCRÁTICOS 1. PRINCÍPIOS UNIVERSAIS DOS DIREITOS HUMANOS PARA A ORDEM DEMOCRÁTICA. Existem muitos significados para o termo “democracia”, assim como existe uma diversidade de formas de governos democráticos. Como o presente capítulo trata de direitos humanos e polícia, o termo democracia será entendido em um sentido bastante amplo e das maneiras em que ele foi expresso em diversos instrumentos de direitos humanos. A liberdade e a igualdade são dois valores universais que se traduzem em princípios básicos, dos quais emanam todos os direitos humanos. Foi baseado nesses valores que a humanidade veio consolidando ao longo da sua história o reconhecimento de que todo e qualquer ser humano é dotado de dignidade, inerente à sua condição humana. Este reconhecimento resultou na concepção de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, fundados nos princípios de igualdade e liberdade. A expressão mais notória desta grande conquista é o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948; que dispõe o seguinte: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Dotados como estão de razão e consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade”. Neste contexto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um marco, resultante de longa luta, conquista e construção perpetradas ao longo da história constitucional do ocidente, como pode ser verificado em vários antecedentes. Foi na Inglaterra onde emergiu o primeiro documento significativo que estabelece limitações de natureza jurídica ao exercício do poder do Estado Monárquico frente aos seus súditos: a Magna Carta de 1215, a qual, junto com o “habeas corpus” de 1679 e o “Bill of Rights” de 1689, podem considerar-se como precursores das modernas declarações de direitos. Estes documentos não se fundem em direitos inerentes à pessoa, são conquistas da sociedade. No lugar de proclamar direitos de cada pessoa, se enunciam melhor direitos do povo. Mais do que o reconhecimento de direitos inalienáveis da pessoa frente ao Estado, o que estabelecem são deveres para o Governo (IIDH : 1994). As primeiras manifestações concretas de direitos individuais, com força legal, fundadas sobre o reconhecimento de direitos inerentes ao ser humano que o Estado está no dever de respeitar e proteger, a encontramos nas Declarações de Independência Norte Americana e Ibero-americana, assim como na Declaração da Revolução Francesa. Por exemplo, a declaração de independência de 4 de julho de 1776 afirma que todos os homens foram criados iguais, que foram dotados pelo criador de certos direitos inatos; que entre esses direitos deve colocar-se em primeiro lugar a vida, a liberdade e a busca da felicidade; e que para garantir o gozo desses direitos os homens estabeleceram entre eles Governos cuja justa autoridade emana do consentimento dos governados. No mesmo sentido a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1784, reconhece que os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos e que as distinções sociais não podem estar fundadas senão na utilidade comum. É desta forma que o tema dos direitos humanos, mais especificamente o dos direitos individuais e das liberdades públicas ingressou no Direito Constitucional. Os princípios fundamentais que constituem a legislação moderna foram concebidos ao longo da história da humanidade. No entanto, foi somente neste século que a comunidade internacional tornou-se consciente da necessidade de desenvolver padrões mínimos para o tratamento de cidadãos pelos Governos. De acordo com o princípio da tripartição funcional do Governo, nas funções judiciária, legislativa e executiva, a Polícia é um componente orgânico da função executiva do Governo. Assim torna-se necessário contextualizar os direitos humanos para que se possa explicar o papel que os policiais devem desempenhar para promovê-los e protegê-los. Isto pede a explicação da origem, situação, âmbito e finalidade dos direitos humanos. Os policiais devem ser levados a compreender como o direito internacional dos direitos humanos afeta o desempenho individual do seu serviço, sobre as conseqüências das obrigações de um Estado perante o direito internacional para a lei e a prática nacionais. Um direito é um título. É uma reivindicação amparada legalmente, que uma pessoa pode fazer para com outra. Os direitos humanos são títulos legais que toda pessoa possui como ser humano. São universais e pertencem a todos, rico ou pobre, homem ou mulher. Esses direitos podem até ser violados, mas nunca podem ser retirados de alguém. Os direitos humanos são direitos legais – isso significa que eles fazem parte da legislação. Existem inúmeros instrumentos internacionais que garantem os direitos específicos e que proporcionam a compensação caso os direitos sejam violados. Além disso, os direitos humanos são protegidos pelas constituições e legislações nacionais da maioria dos países do mundo. O reconhecimento da inalienabilidade de tais direitos implica limitações no alcance das competências do poder público. Desde o momento em que se reconhece e garanta na Constituição que há direitos do ser humano inerentes à sua condição humana, anteriores e superiores ao poder do Estado, se está limitando o exercício deste, o qual lhe está vedado afetar o gozo pleno daqueles direitos. O poder não pode licitamente ser exercido de qualquer maneira, mas, concretamente, deve ser exercido a favor dos direitos da pessoa e não contra elas. Isto supõe que o exercício do poder deve sujeitar-se a certas regras, as quais devem compreender mecanismos para a proteção e garantia dos direitos humanos. Esse conjunto de regras que definem o âmbito do poder e o subordinam aos direitos e atributos inerentes à dignidade humana é o que configura o Estado de Direito. O Estado Democrático é associado a dois ideais significativos para a polícia: o regime da lei e a promoção dos Direitos Humanos. Encontramos disseminado em diversos instrumentos internacionais de Direitos Humanos, direitos que indicam o sentido do regime democrático. Os policiais detêm poderes conflitantes em relações aos Direitos Humanos. Embora a sua principal função seja a de promover e proteger os direitos humanos e liberdades fundamentais, as condições peculiares ao exercício de seus deveres fazem deles infratores potenciais dos próprios direitos que deveriam manter e apoiar. Esta situação paradoxal é suscitada pelo acúmulo de poderes e prerrogativas legais delegados aos policiais, a fim de habilitá-los aos cumprimento de suas tarefas e deveres. Entretanto, o abuso ou mau uso dos mesmos é freqüente por toda a parte. Captura e detenções ilícitas ou arbitrárias, falsificação de provas, emprego excessivo da força, maus tratos a pessoas detidas e torturas são apenas alguns dos muitos exemplos de práticas ilícitas e inaceitáveis, correntes em nossos dias, dentro e fora da instituição policial. Os direitos humanos implicam obrigações a cargo do Governo. Ele é responsável em respeitá-los, garanti-los e satisfazê-los. Por outro lado, em sentido estrito, só ele pode violá-los. As ofensas à dignidade da pessoa podem ter diversas fontes, porém nem todas configuram, tecnicamente, violações dos direitos humanos. Nem todo abuso contra uma pessoa, nem toda forma de violência social são tecnicamente atentados contra os direitos humanos. Podem ser crimes, inclusive gravíssimos, porém se é mera obra de particulares, não será uma violação dos direitos humanos. No dizer de Uprimy (1993), só o Estado viola os direitos humanos. A responsabilidade pela efetiva vigência dos Direitos Humanos incumbe exclusivamente ao Estado, que possui também entre suas funções primordiais a prevenção e a punição de toda classe de delitos. O Estado moderno se define pelo monopólio legítimo que detém da força, da coação física, com isso procurando evitar os perigos para a convivência social que resultam da multiplicação de poderes armados privados. Mas os riscos desse monopólio da violência em termos de opressão ao indivíduo e à sociedade obrigam a submeter a violência estatal a regras que asseguram os direitos dos cidadãos. As tentativas de submeter a violência estatal a regras e controles que garantam os direitos da população constituem o objetivo mais conhecido e tradicional do movimento dos Direitos Humanos. A polícia, como materialização da força que o Estado monopoliza, é destinada à preservação da ordem, e desta forma tem como incumbência atuar no contexto do Estado para que esta ordem seja mantida, que os direitos decorrentes da ordem vigente sejam garantidos, e os cidadãos possam deles usufruir. Entre os Direitos, que cabem a polícia proteger, inclui-se sobretudo os direitos civis, vertente indissociável da idéia e da natureza dos direitos humanos, que são direitos não apenas dos cidadãos do Estado, mas de qualquer pessoa que estiver em seu contexto. Estes direitos, que são padrões internacionais, comprometem legalmente os Estados signatários dos vários tratados, trazem implicações para as políticas e as práticas de policiamento. De maneira geral, desde que um Estado cumpra com suas obrigações de acordo com o Direito Internacional, como o faz não diz respeito ao Direito Internacional. Em alguns casos, no entanto, os Estados concordaram em cumprir com suas obrigações de maneira específica. Freqüentemente é este o caso na área dos direitos humanos, onde os Estados assumiram a responsabilidade de fazer com que certas condutas (por exemplo, tortura e genocídio) sejam crimes, e de puni-las por meio de seus sistemas jurídicos nacionais. O Direito Internacional vincula todos os Estados. O Estado é responsabilizado caso o direito internacional seja violado por um de seus agentes ou instituições. A responsabilidade dos Estados também abrange a função de assegurar que seus Governos, suas constituições e suas leis os possibilitem a cumprir suas obrigações internacionais, não podendo alegar qualquer disposição em sua Constituição ou Legislação como escusa para furtar-se a cumprir com suas obrigações perante o Direito internacional. Já está responsabilizados firmemente tanto por estabelecido atos ilícitos que civis Estados quanto podem ser criminais. A responsabilidade existe não somente em casos onde o próprio Estado é o perpetrador, mas também em situações onde a conduta de uma pessoa ou órgão pode ser imputada ao Estado. A conduta de um órgão Estatal será considerada, perante o Direito Internacional, como um ato desse Estado. Em relação aos atos cometidos por funcionários públicos, se os atos em questão forem executados na capacidade oficial (pública) da pessoa, independente da sua natureza ou legalidade, então o Estado é responsável por tais ações. Isto deixa bem claro que, no tocante aos policiais, suas ações, quando executadas em capacidade oficial, são imputáveis ao Estado. Desta forma, o Estado tem a obrigação de tentar remediar as conseqüências do ato, com reparação, através de retribuição e indenização em relação aos danos sofridos pela parte lesada. A existência do Estado Democrático de Direito, e o respeito por ele, origina uma situação onde direitos, liberdades, obrigações e deveres estão incorporados na lei para todos, em plena igualdade, e com a garantia de que as pessoas serão tratadas eqüitativamente em circunstâncias similares, assim como protegidas contra interferência ilegal ou arbitrária nos seus direitos e liberdades por outrem, inclusive por agentes estatais. A liberdade é, sem dúvida, conquista inigualável no Brasil democrático atual, mas ela sozinha não é, porém suficiente para assegurar ao país a plenitude do Estado Democrático de Direito. A polícia é o setor mais importante deste processo, pois é dela que flui a garantia ou não do usufruto e gozo de grande parte dos Direitos Humanos. 2. OS DIREITOS HUMANOS NO BRASIL – AUSÊNCIA DE CIDADANIA. Se, por ventura, um alienígena aportasse no Brasil e desejasse conhecer que país é este, e tivesse escolhido como primeiro referencial verificar a Constituição vigente, certamente teria certeza de ter aportado num Estado Democrático maravilhoso, quase perfeito no tocante ao ideal e aos princípios que fundamentam uma democracia. Para focar a sua busca e aprofundar conhecimentos em torno da mesma, elegeu os direitos civis, no específico interesse de saber sobre as normas constitucionais e os remédios jurídicos oferecidos pelo Estado, com vistas a garantir a vida e a integridade física dos cidadãos, para o que, considerou interessante verificar também a proposição político-institucional para as forças de segurança pública. Após estudar a Constituição e verificar que, através de diferentes artigos, o Estado brasileiro compromete-se a dar garantias individuais e coletivas aos cidadãos e aos estrangeiros residentes no país, como a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ao nosso alienígena parecia não restar dúvidas de estar ele diante de um Estado que adota em seu corpo de leis aqueles direitos consensuados internacionalmente como inalienáveis direitos do homem. Curioso, o nosso alienígena procura saber mais. Quer agora saber que medidas concretas o Governo brasileiro vem adotando para que a letra da lei não seja morta. É nesse momento que ele se depara com um impresso da Presidência da República, contendo um discurso do atual Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, proferido em setembro de 1995, por ocasião das festividades de comemoração da Independência nacional. Após uma leitura atenta, percebeu que nesta ocasião o Presidente falou com entusiasmo da apaixonante luta pela liberdade e pela democracia tantas vezes travada pela sociedade brasileira ao longo de sua história. Percebeu, sobretudo, que ao falar sobre este tema, o Presidente definiu a atualidade desta luta cunhando-a com o nome “Direitos Humanos”. Literalmente, disse o Presidente: “no limiar do século XXI, a luta pela liberdade e pela democracia tem um nome específico: chama-se direitos humanos”. Desconfiado, nosso alienígena procurou meios de conferir se este tinha sido somente um exercício de retórica do presidente ou se estava ele realmente disposto a dar centralidade aos direitos humanos, tornando-os fonte de inspiração e diretriz política principal, condutora de atos concretos do poder executivo no país. Foi quando encontrou, nos arquivos da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, um documento contendo proposições bastante concretas para o desencadeamento de ações de curto, médio e longo prazos, na área da garantia, promoção e proteção dos direitos humanos. Estas proposições, fazem parte do Programa Nacional de Direitos Humanos, lançado pelo Governo Federal em 13 de maio de 1996, e visam assegurar, entre outros, o direito de ir e vir sem ser molestado; o direito de ser tratado pelos agentes do Estado com respeito e dignidade, mesmo tendo cometido uma infração; o direito de ser acusado dentro de um processo legal e legítimo, onde as provas sejam conseguidas dentro da boa técnica e do bom direito, sem estar sujeito a torturas ou maus tratos; o direito de exigir o cumprimento da lei e, ainda, de ter acesso a um Judiciário e a um Ministério Público que, ciosos de sua importância para o Estado democrático, não descansem enquanto graves violações de direitos humanos estejam impunes, e seus responsáveis soltos e sem punição, como se estivessem acima das normas legais. Entretanto, ao ler o prefácio, assinado pelo Presidente, e a parte introdutória a este Programa, o alienígena percebeu que algo de muito sério ocorria neste país, que a situação de violação aos direitos humanos no Brasil atingiu limites perigosos, que a falta de segurança das pessoas e o aumento da escalada da violência era múltipla e perversa. O programa então, pelo que assinalou o Presidente, seria um instrumento através do qual se esperava estancar a banalização da morte e obstar a perseguição e discriminação contra os cidadãos. Que fatos marcam o cotidiano desta sociedade que dão motivos inadiáveis para implementação de um programa desta natureza? Para buscar resposta a esta pergunta, nosso alienígena percebeu que para saber e de fato conhecer que país é este, não poderia se ater somente às informações transmitidas pelos documentos oficiais do governo. Era preciso buscar em outras fontes. Consultou então o Relatório sobre a situação dos Direitos Humanos no Brasil, elaborado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)10. Nesse relatório, a Comissão identificava como principais problemas do Brasil quanto aos direitos humanos os seguintes: 10 - A administração da Justiça, inclusive o Ministério Público; - os grupos de extermínio; A publicação de relatórios sobre a situação dos direitos humanos é prática corrente em diversos países do mundo. Esses relatórios têm diversas origens, podendo ser feitos e apresentados por organizações internacionais, organizações não-governamentais, nacionais ou estrangeiras, e pelos próprios governos. Pretende-se através deles fornecer informação periódica e sistematizada a respeito do tema, de modo a servir de subsídio para entidades governamentais e particulares com responsabilidades quanto a defesa e implementação desses direitos. - a violência urbana e rural e a falta de segurança das pessoas; - a discriminação racial; - a situação da população indígena; - a violência contra os ocupantes de terras rurais não exploradas; - a violência contra mulheres; - a violência policial e sua impunidade, e a tortura como meio de investigação; - o sistema penitenciário; - a competência dos tribunais militares para julgar delitos comuns cometidos por policiais estaduais (“militares”); - a situação de servidão forçada dos trabalhadores rurais. Entre estas múltiplas formas de desrespeito e violação aos direitos humanos, uma chamou a sua atenção de forma particular: a violência policial. No capítulo dedicado a este tema, nosso alienígena constatou que a polícia no Brasil foi repetidamente acusada de violar de maneira sistemática o direito das pessoas e de que há um sistema11 que assegura a impunidade dessas violações. A Comissão considerou que efetivamente há uma história de práticas violatórias da polícia. A Comissão por anos vem sendo informada pela imprensa e por Organizações não-governamentais da atuação violenta das Polícias Estaduais, especialmente da Militar, acusada de atuar violentamente tanto no exercício de 11 Este Sistema inclui desde a chamada “lei do silêncio”, segundo a qual, as testemunhas oculares se negam a esclarecer as circunstâncias dos fatos presenciados por temor a possíveis represálias; a ineficácia do controle externo da atividade da polícia pelo Ministério Público; a Justiça Militar Estadual como foro privativo para o julgamento dos membros da Polícia Militar e sua conseqüente ação corporativa. suas funções como fora dele. Um argumento comumente usado pelas Polícias Militares sobre as acusações que lhes são feitas sobre as múltiplas mortes que ocasionam é que estas são decorrentes de confronto com criminosos, ocasionadas em legítima defesa ou no estrito cumprimento do dever. Embora seja certo que em muitos Estados há um clima de violência delinqüente, há provas de que a reação da polícia não só excede os limites do legal e regulamentar ,mas, em muitos casos, os funcionários policiais usam de seu poder, organização e armamento para atividades ilegais. Em 1994, dados parciais de 14 Estados revelam que ocorreram 6.494 homicídios de todos os tipos e que, para cerca de metade deles, há atribuição de responsabilidade. Destes últimos, 8% são atribuídos a policiais militares e outros 4% a “esquadrões da morte”12. Analisando Estado por Estado, são encontradas importantes diferenças: acusam-se policiais como responsáveis em 17% dos casos de homicídios em Alagoas. Em 6% a 9% dos casos no Amazonas, Amapá, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul; e em 5% ou menos dos casos no Ceará, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. Segundo informações recebidas pela CIDH, grande número dessas mortes não são causadas por ação da Polícia no estrito cumprimento do dever. Muitas vezes, essas mortes estão relacionadas com as chamadas “execuções 12 De acordo com a CIDH, os esquadrões da morte ou grupos de extermínio foram estabelecidos por antigos Oficiais da Polícia a fim de combater o crime, consistindo suas ações em matar os criminosos considerados mais perigosos. Seus membros são conhecidos como justiceiros. extrajudiciais”13, decorrentes da participação de membros da Polícia Estadual em grupos de extermínio, que têm como alvo, inclusive, adolescentes e crianças. Chama a atenção da Comissão que, embora o normal em enfrentamentos armados seja que haja uma proporção muito maior de feridos do que mortos, no período de maio de 1995 até fevereiro de 1996 no Rio de Janeiro, por exemplo, o número de civis mortos pela Polícia Militar em enfrentamentos foi mais de três vezes o número de civis feridos pelos mesmos. Isso demonstraria um excesso de uso de força e inclusive, um padrão de execuções extrajudiciais pela polícia. O nosso alienígena ficou estarrecido, confuso e não mais entendia em que país estava, em razão da incompatibilidade absoluta entre os princípios que fundamentam um Estado Democrático, como imprimido na Constituição, e a realidade vivida pela população desse Estado. O alienígena percebeu que apesar de estar assegurada na Constituição brasileira a garantia de um amplo campo de direitos para promover e elevar o status de cidadania do nacional, a realidade concreta de vida de grande contingente da população brasileira, sobretudo a mais pobre, está marcada pela negação e violação sistemática de seus direitos, pela não cidadanização de meios e recursos indispensáveis para promoção da dignidade humana e pela presença de um tipo de “sociabilidade insociável” que a cada dia faz mais vítimas. 13 Entende-se por execução extrajudicial a morte de pessoas suposta ou sabidamente criminosa, intentada por agentes policiais, normalmente praticada pelos esquadrões da morte, como forma de conter a prática delituosa, eliminando os criminosos, matando-os, ou ainda, de impedir o esclarecimento de crimes ou delitos diversos que envolvem policiais civis e/ou militares, prática que no jargão policial é denominada de “queima de arquivo”. Após investigar e chegar a constatações pouco animadoras sobre as possibilidade dos direitos humanos no Brasil, nosso alienígena concluiu que os tempos mudaram, mas a polícia brasileira não mudou. Fazendo uma análise comparativa entre a realidade de hoje e aquela que vigorou durante os 21 anos de ditadura militar, percebeu que no Brasil do período de março de 1964 a março de 1985, as principais violações de direitos humanos estavam associadas ao governo militar. A atuação repressiva sistêmica que envolveu efetivos das polícias no combate e repressão a todo e qualquer movimento coletivo ou individual de resistência e oposição ao regime, para o que se admitia o uso de técnicas covardes, cruéis e degradantes para se obter confissões do “inimigo”. O período inaugurado a partir de meados da década de 80 é marcado pela redemocratização do país e pela promessa das elites políticas de por fim ao “entulho autoritário” e as práticas de arbítrio extralegal de violência e discriminação contra o cidadão. Com os governos civis eleitos pelo voto popular, se inaugura no país uma nova postura em matéria de direitos humanos que põe em marcha um processo de reconhecimento da importância das iniciativas multilaterais de controle das violações a esses direitos. Tal postura vem permitindo ao país se tornar Estado-parte das mais importantes e significativas Convenções e Tratados internacionais na área da observância e proteção desses direitos. No plano interno o processo constituinte possibilitou à sociedade brasileira um debate rico sobre questões de interesse nacional e a Constituição aprovada em 1988 tem sido considerada um marco da história constitucional brasileira, ao mesmo tempo que verifica-se um esforço do governo brasileiro de adequar as leis e instituições nacionais às exigências traçadas pelos documentos internacionais dos quais o Brasil é signatário. Entretanto, apesar de todas estas iniciativas e realizações servirem de alento entre aqueles, que, como o nosso alienígena, compartilham da opinião segundo a qual a agenda dos direitos humanos é significativa para o equacionamento de questões sérias que sobressaltam o gênero humano no tempo presente bem como para a revalorização ética, jurídica e política da vida em sociedade, apesar disto, claro está também que os governos civis no Brasil não estão sendo capazes de impedir o agravamento da violência e o desrespeito aos direitos humanos impetrados por forças instaladas no interior do aparelho estatal. A violência e a arbitrariedade oficial grassa no seio da sociedade brasileira e, entre seus promotores, a polícia brasileira ganha destaque. Sentindo-se impotente para interferir numa realidade na qual está na condição de forasteiro, o nosso alienígena foi embora. Deixou para cada brasileiro o seguinte recado: cabe à sociedade brasileira a superação deste estado de coisas. Cada cidadão deve juntar-se com aquele que está a seu lado para, através da reunião de todas as forças interessadas, construir um Estado e uma sociedade que ofereça condições eqüitativas a seus cidadãos, promova a pacificação social e resgate o gênero humano do caminho da violência e da barbárie. O quadro de graves violações dos Direitos Humanos num país é a prova da carência de cidadania, que em essência é o direito de viver decentemente, cujo conceito complementa e interage com o conceito de democracia, a qual por sua vez complementa e interage com o conceito de direitos humanos. No alerta de Giovanni Sartori, o problema da democracia começa com a primeira refeição diária. Indo mais longe, pode-se dizer que no Brasil o problema da democracia, para aqueles que foram destituídos da condição humana, é o de ter assegurada sua integridade física para poder fazer a primeira refeição (Universidade de São Paulo : 1993). A verdadeira democracia, aquela que implica o total respeito aos direitos humanos, está ainda bastante longe no Brasil. O cidadão brasileiro na realidade não usufrui da cidadania que lhe é garantida nos instrumentos legais do Estado. 3. A POLÍCIA E OS DIREITOS HUMANOS SOB A ÓTICA DA NORMATIZAÇÃO INSTITUCIONAL. A lei e a ordem , assim como a paz e a segurança são questões de responsabilidade do Estado. A maioria dos Estados escolheu incumbir as responsabilidades operacionais desta área a uma organização policial, seja ela civil ou militar. As funções das organizações policiais, independente de suas origens, estrutura ou vinculação, estão geralmente relacionadas a três atividades básicas: - Preservação da ordem pública; - prestação de auxílio e assistência em todos os tipos de emergência; e - prevenção, detecção e desvendamento do crime. Aos policiais é concedida uma série de poderes que podem ser exercidos para alcançar os objetivos legítimos da lei: entre aqueles mais conhecidos e utilizados estão a prisão e a autorização para empregar a força quando necessário, inclusive a utilização de armas de fogo. A Autoridade legal para utilizar a força – incluindo a obrigação de empregá-la quando inevitável – é exclusiva à organização policial. Além dos poderes supra-citados, os policiais são investidos de vários outros para o cumprimento eficaz de seus deveres e funções. Alguns desses poderes estão relacionados à prevenção e detecção do crime, como a autorização para proceder busca e apreensão, entrada em lugares, localidades e casas onde crimes foram cometidos ou vestígios destes foram deixados; busca de provas e o seu confiscamento para instruir o processo judicial; a captura de pessoas e apreensão de objetos relativos a um crime cometido ou a ser cometido. Cada um desses poderes é definido claramente pela lei e deve ser exercido somente para fins legais. A relação entre o direito internacional por um lado e o exercício da função policial por outro – baseada no direito interno – pede uma explicação. Para os objetivos deste trabalho, o direito internacional dos direitos humanos pode ser dividido em instrumentos com “força legal”14 e instrumentos “sem força legal”15. O direito dos tratados cria obrigações legais aos Estados-partes, fazendo com que adaptem a legislação nacional para assegurar a plena conformidade com o tratado em questão, assim como adotar e/ou modificar as políticas e práticas relevantes. Os policiais formam um grupo de funcionários do Estado dos quais se espera que observem as exigências do tratado no seu trabalho diário. No caso dos instrumentos “sem força legal” no direito internacional dos direitos humanos, eles podem ser comparados com as normas administrativas que existem em todos os órgãos policiais. Apesar de não possuírem um caráter vinculativo estritamente legal, o seu teor tem especial importância na prática policial, e por isso o seu cumprimento é altamente recomendado. Os diversos instrumentos do direito internacional dos direitos humanos trazem disposições fundamentadas nos princípios de humanidade, respeito pela vida, liberdade e segurança pessoal, assim como disposições especiais para a proteção de grupos vulneráveis, como as crianças e mulheres. Existe ainda uma gama de direitos humanos e padrões humanitários internacionais que se referem especificamente aos policiais, enquanto agentes estatais. Nesse aspecto, esses direitos e padrões precisam ser conhecidos e atendidos, uma vez serem essenciais para que o policial possa desempenhar suas funções em conformidade com o papel destinado à organização policial 14 15 Por exemplo, direito dos tratados. Inclui diretrizes, princípios, códigos de conduta, etc. no contexto do Estado. É sobre alguns desses instrumentos e padrões que falaremos a seguir. 3.1 O Código de conduta para policiais. As práticas policiais devem estar em conformidade com os princípios da legalidade, necessidade e proporcionalidade. A questão da ética policial tem recebido alguma consideração nos instrumentos internacionais de direitos humanos e justiça criminal, de maneira mais destacada no Código de Conduta para os Encarregados da Aplicação da Lei (CCEAL)16. A resolução da Assembléia Geral da ONU que estabeleceu o CCEAL declarou que a natureza das funções policiais na defesa da ordem pública e a maneira como essas funções são exercidas, possui um impacto direto na qualidade de vida dos indivíduos, assim como da sociedade como um todo. Ao mesmo tempo que ressalta a importância das tarefas desempenhadas pelos policiais, a Assembléia Geral também destacou o potencial para o abuso que o cumprimento desses deveres acarreta. O CCEAL consiste de oito artigos. Não é um tratado, mas pertence à categoria dos instrumentos que proporcionam normas orientadoras aos Governos sobre questões relacionadas com direitos humanos e justiça criminal. É importante notar que esses padrões de conduta deixam de ter valor prático a não ser que o seu conteúdo e significado, através de educação, treinamento e acompanhamento, passem a fazer parte da crença de cada policial individualmente. 16 O CCEAL foi adotado pela Assembléia Geral das Nações Unidas na sua resolução nº 34/169, de 17 de dezembro de 1979. O artigo 1º estipula que os policiais devem sempre cumprir o dever que a lei lhes impõe, servindo a comunidade e protegendo todas as pessoas contra atos ilegais. No comentário do artigo é disposto que o serviço à comunidade deve incluir particularmente a prestação de serviços de assistência aos membros da comunidade que, por razões de ordem pessoal, econômica, social e outras emergências, necessitam de ajuda imediata. O artigo 2º requer que os policiais, no cumprimento do dever, respeitem e protejam a dignidade humana, mantenham e defendam os direitos humanos de todas as pessoas. O artigo 3º limita o emprego da força pelos policiais à situações em que seja estritamente necessária e na medida exigida para o cumprimento do dever. O artigo 4º estipula que os assuntos de natureza confidencial em poder dos policiais devem ser mantidos confidenciais, a não ser que o cumprimento do dever ou a necessidade de justiça exijam estritamente o contrário. O artigo 5º reitera a proibição da tortura ou outro tratamento ou pena cruel, desumano ou degradante. O artigo 6º diz respeito ao dever de cuidar e proteger a saúde das pessoas privadas de sua liberdade. O artigo 7º proíbe os policiais de cometer qualquer ato de corrupção, devendo também oporem-se e combaterem rigorosamente esses atos. O artigo 8º trata da disposição final, exortando os policiais mais uma vez a respeitar a lei e o código de conduta. Os policiais são incitados a prevenirem e se oporem a quaisquer violações da lei e do código. Em casos onde a violação do código é ou está para ser cometida, os policiais devem comunicar o fato aos seus superiores e, se necessário, a outras Autoridades apropriadas ou organismos com poderes de revisão ou reparação. 3.2 Princípios básicos sobre o uso de força e armas de fogo. Os Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo (PBUFAF)17 apesar de não constituir um tratado, o instrumento tem como objetivo proporcionar normas orientadoras aos “Estados-membros na tarefa de assegurar e promover o papel adequado dos policiais. Os princípios estabelecidos no instrumento devem ser levados em consideração e respeitados pelos Governos no contexto da legislação e da prática nacional, e levados ao conhecimento dos policiais, assim como de Magistrados, Promotores, Advogados, Membros do Executivo e Legislativo e do público em geral. O preâmbulo deste instrumento reconhece ainda a importância e a complexidade do trabalho dos policiais, reconhecendo também o seu papel de vital importância na proteção da vida, liberdade e segurança de todas as pessoas. Ênfase é dada em especial à eminência do trabalho de preservação da ordem pública e paz social; assim como à importância das qualificações, treinamento e conduta dos policiais. O preâmbulo conclui ressaltando a importância dos Governos nacionais levarem em consideração os princípios inseridos neste instrumento, com adaptação de sua legislação e prática 17 Adotados pelo Oitavo Congresso das Nações Unidas sobre a prevenção do crime e o tratamento dos infratores, realizado em Havana, Cuba, de 27 de agosto a 7 de setembro de 1990. nacionais. Além disso, os Governos são encorajados a manter sob constante escrutínio as questões éticas associadas ao uso da força e armas de fogo. De acordo com o instrumento em análise, os Governos e organismos policiais devem assegurar-se de que todos os policiais: - Sejam selecionados por meio de processos adequados de seleção; - tenham as qualidades morais, psicológicas e físicas adequadas; - recebam treinamento contínuo, meticuloso e profissional. E que a aptidão para o desempenho de suas funções seja verificada periodicamente; - sejam treinados e examinados com base em padrões adequados de competência para o uso da força; e - só recebam autorização para portarem uma arma de fogo quando forem especialmente treinados para tal. Na formação profissional dos policiais, os Governos e organizações policiais devem dedicar atenção especial: - Às questões de ética policial e direitos humanos; - às alternativas ao uso de força e armas de fogo, incluindo a solução pacífica de conflitos, o conhecimento do comportamento das multidões e os métodos de persuasão, negociação e mediação com vistas a limitar o uso da força e armas de fogo. No cumprimento de suas funções, os policiais, na medida do possível, devem aplicar meios não violentos antes de recorrer ao uso da força e armas de fogo. O recurso às mesmas só é aceitável quando os outros meios se revelarem ineficazes ou incapazes de vir a produzir o resultado esperado. Sempre que o uso legítimo de força e armas de fogo for inevitável, os policiais deverão: 1º - Exercer moderação no uso de tais recursos e agir na proporção da gravidade da infração e do objetivo legítimo a ser alcançado; 2º - minimizar danos e ferimentos e respeitar e preservar a vida humana; 3º - assegurar que qualquer indivíduo ferido ou afetado receba assistência e cuidados médicos o mais rápido possível e que os familiares sejam notificados o mais depressa possível, bem como comunicando imediatamente o incidente aos seus superiores. Os Governos deverão assegurar que o uso arbitrário ou abusivo da força e armas de fogo pelos policiais seja punido como delito criminal, de acordo com a legislação em vigor. A regra é no sentido de que os policiais não devam usar armas de fogo contra indivíduos. Admite-se apenas quatro exceções: 1º - Em legítima defesa, contra uma ameaça iminente de morte ou ferimento grave; 2º - para impedir a perpetração de crime particularmente grave que envolva séria ameaça à vida; 3º - para efetuar a prisão de alguém que esteja praticando uma conduta delituosa que envolva séria ameaça à vida e resista à autoridade dos policiais; 4º - para impedir a fuga de uma pessoa que esteja colocando em risco sério a vida. Em qualquer caso, o uso da arma de fogo contra pessoas só será legítimo quando outros meios menos extremos se revelem insuficientes para atingir tais objetivos e o uso letal intencional só poderá ser feito quando for estritamente inevitável para proteger a vida. Quando o policial estiver respaldado numa das quatro exceções anteriormente descritas, ainda assim deverá cumprir as exigências que devem anteceder a decisão de efetuar o disparo da arma de fogo, que são as seguintes: 1ª - Identificar-se claramente como policial; 2ª - avisar prévia e claramente a respeito da sua intenção de recorrer ao uso de arma de fogo; 3ª - dar um tempo suficiente para que tal aviso seja levado em consideração. Tais procedimentos obrigatórios que devem anteceder ao disparo de arma de fogo só serão dispensados quando representarem um risco indevido para os policiais ou acarrete para terceiros um risco de morte ou dano grave, ou seja claramente inadequado ou inútil dadas as circunstâncias do fato. Os Governos e as organizações policiais deverão assegurar que os oficiais superiores sejam responsabilizados, caso tenham ou devam ter tido conhecimento de que policiais sob seu comando estão, ou tenham estado, a recorrer ao uso ilegítimo da força e armas de fogo, e caso os referidos oficiais não tenham tomado todas as providências ao seu alcance a fim de impedir, reprimir ou comunicar tal uso. Também deverão assegurar que não seja imposta qualquer sanção criminal ou disciplinar a policiais que se recusarem a cumprir uma ordem no sentido de usar força e armas de fogo em desacordo com os princípios já descritos, até mesmo porque o cumprimento de ordens superiores não constituirá justificação quando for manifestamente ilegítima e o executor tenha tido oportunidade razoável de se recusar a cumprir essa ordem. A responsabilidade caberá a ambos. 3.3 A Convenção contra a tortura. A proibição da tortura é absoluta e não abre exceções. Não há situações em que a tortura pode ser legal, nem existem possibilidades para uma defesa legal, com êxito, de atos de tortura. Até nos casos de emergência pública que ameace a vida das nações não permite uma derrogação da proibição da tortura18. A confirmação da proibição da tortura encontra-se nas Convenções de Genebra de 1949 e seus Protocolos Adicionais de 1977, os quais banem a tortura em qualquer forma de conflito armado. 18 Artigo 4º do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. A proibição da tortura faz parte do Direito Internacional costumeiro, sendo incluída em diversos instrumentos internacionais19. A Convenção Contra Tortura (CCT) contém disposições que enfatizam a responsabilidade pessoal dos policiais – e novamente confirma que não se pode usar como justificativa de tortura ordens superiores ou circunstâncias excepcionais20. Os Estados signatários da CCT são exortados a incluir a proibição da tortura nos currículos de formação de policiais, assim como regras ou instruções relativas ao cumprimento de seus deveres. Para os efeitos da CCT, o termo tortura significa “qualquer ato pelo qual uma violenta dor ou sofrimento, físico ou mental, é intencionalmente infligido a um indivíduo com o fim de obter dele ou de uma terceira pessoa informações ou confissão, punindo-o por um ato que ele ou uma terceira pessoa tenha cometido ou se suspeite ter cometido, ou intimidando-o ou coagindo-o ou a uma terceira pessoa ou por qualquer razão com base em discriminação de qualquer espécie, quando tal dor ou sofrimento é infligido por, a instigação de, ou com o consentimento ou aquiescência de um funcionário público ou outra pessoa atuando no exercício de funções oficiais”. Exclui dor ou sofrimento apenas resultante, inerentes ou conseqüência de sanções legais. 19 Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 5º); Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (art. 7º); Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 5º). 20 Convenção Contra Tortura (art. 2º). 3.4 A Proteção aos direitos humanos no ordenamento jurídico do Brasil. A Carta da Organização das Nações Unidas, efetivamente, tornou os direitos humanos uma questão de interesse internacional. A própria Organização das Nações Unidas considera a promoção e a proteção dos direitos humanos como uma de suas finalidades principais. A promulgação de uma infinidade de instrumentos internacionais relacionados aos direitos humanos tem a intenção de clarificar quais são as obrigações relativas aos direitos humanos dos Estados membros da Organização das Nações Unidas. Além de seus compromissos internacionais de caráter universal sobre a promoção e respeito aos direitos humanos, o Brasil se compromete a cumprir as obrigações e garantias decorrentes da Carta da OEA que em relação aos direitos humanos, consubstanciam-se na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. De acordo com a Constituição Federal, todos os tratados e convenções em que o Brasil é Estado-parte são de aplicação imediata no ordenamento interno do país. Essa executoriedade imediata dos compromissos internacionais no âmbito dos direitos humanos faz com que estes sejam diretamente aplicados, sem que seja necessário adotar previamente medidas legislativas, administrativas ou de outra natureza. Isso decorre do artigo 5º da Constituição, nos seus parágrafos 2º e 1º, respectivamente, que rezam o seguinte: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”. “As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”. A Constituição de 1988, atualmente vigente, representa no campo dos direitos humanos importante avanço, resultando na mais ampla carta de direitos humanos que a história do país registra. Em seu título I, “Dos direitos e garantias fundamentais”, a Constituição vigente faz constar a “dignidade da pessoa humana” e a “prevalência dos direitos humanos” entre os princípios essenciais em que se fundamenta a República Federativa do Brasil, na qualidade de Estado Democrático de Direito. Abriga também um enorme elenco de direitos humanos que transcendem a própria Declaração Universal. São direitos individuais, do cidadão, do nacional, do trabalhador, cujo cerne encontra-se inscrito no caput do artigo 5º: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade à igualdade, à segurança e à propriedade...”. O passo de maior conseqüência na normatização institucional dos direitos humanos no Brasil certamente foi a adoção do Programa Nacional de Direitos Humanos21. Foi um marco de referência claro e inequívoco do país com a proteção e promoção dos direitos humanos. Neste contexto, o papel da polícia é importante, pois pode contribuir de maneira significativa para o desenvolvimento econômico e social da 21 Instituído através do decreto federal nº 1.904, de 13 de 1996. sociedade, como protetora e garantidora do usufruto dos direitos civis e como facilitadora e garantidora dos direitos políticos. Para tal é necessário apenas que todas as ações que envolvem o policiamento sejam eficazes, mas rigorosamente legais. A eficácia da polícia é reforçada pelo apoio da população para quem ela presta serviços. O fundamento do apoio do público à polícia é o seu controle, através das instituições e processos políticos de natureza democrática e o respeito pelos Direitos Humanos por parte da força policial, hoje expressados pelas ações de supervisão civil da polícia. 4. EXIGÊNCIAS DEMOCRÁTICAS NO CAMPO DA SEGURANÇA PÚBLICA. As organizações policiais brasileiras são na sua totalidade sistemas fechados, estritamente hierárquicos. A sua estrutura, assim como o seu sistema de patentes e também o seu arcabouço ideológico adota o sistema militar. Operam normalmente obedecendo uma cadeia rígida de comando, com separações estritas de poder e autoridade, na qual o processo de tomada de decisões é feito de cima para baixo. A capacidade deste tipo de organização policial em responder a estímulos externos fica limitada a respostas padronizadas, demonstrando pouca, ou nenhuma antecipação proativa dos desenvolvimentos atuais e futuros que não se encaixem no sistema. A organização policial como um sistema fechado tem dificuldades em estabelecer e manter relações eficazes com o público. Também tem dificuldades em determinar os desejos, as necessidades e as expectativas do público em dado momento. Os índices de criminalidade e violência são alarmantes. Os índices de solução de crimes e credibilidade nas organizações policiais são decepcionantes, assim como o são os esforços dirigidos para o desenvolvimento e a implantação de táticas para uma prevenção mais eficaz do crime. Não resta dúvida de que a forma como as organizações policiais estão distribuindo seus recursos materiais e humanos, e as decisões que priorizam o apanhar criminosos, o tradicional jogo de bandido e polícia está ultrapassado, pois esgotou a capacidade de responder as demandas da sociedade. É preciso buscar uma forma de “fazer polícia” dentro da ordem democrática, como se deseja e é esperado pela sociedade. Acreditamos que a Resolução nº 34/169 da Assembléia Geral das Nações Unidas, a qual adotou o Código de Conduta para Policiais, mas que dispôs também especificamente sobre o policiamento democrático, apresenta a alternativa que proporcionará as condições de modelagem do como “fazer polícia” em conformidade com a nova ordem. No tocante ao policiamento democrático, a citada resolução dispõe expressamente da seguinte forma: “Assim como todas as instituições do sistema de justiça criminal, qualquer instituição policial deve ser representativa da comunidade como um todo, correspondente às suas necessidades e expectativas e responsável perante esta comunidade”. Nesta disposição encontramos as três características fundamentais do policiamento democrático: representativo, correspondente às necessidades e expectativas públicas e responsável, as quais expressam o padrão internacional dos direitos humanos nesta questão, e que serão explicadas a seguir. 4.1 O Policiamento representativo. A característica básica do policiamento representativo é a certificação de que os policiais sejam suficientemente representativos da comunidade a que servem. As minorias devem ser representadas adequadamente dentro das instituições policiais, através de políticas de recrutamento justas e não discriminatórias, e políticas feitas para permitir aos membros desses grupos desenvolverem suas carreiras dentro das instituições. Além disto, dentro de uma instituição policial, deve ser levado em consideração, além da composição numérica, a composição qualitativa. Isto significa verificar se além da existência de números adequados de policiais representativos da população, com representação igual de homens e mulheres, assim como a representação proporcional de minorias, os policiais têm a vontade e a capacidade de realizar um policiamento democrático, tendo em vista a promoção da cidadania22. 22 Em 1981, ocasião em que os autores deste trabalho fizeram o concurso público para ingresso na Polícia Militar do Espírito Santo, um dos quesitos constantes do Relatório de Investigação Social, procedido pelo serviço de informações da corporação (Polícia Militar/2) era se o candidato professava ideologia contrária ao regime. Há que ser ressaltado que o regime vigente era a ditadura militar. Se o agente responsável pela investigação indicasse positivamente, significava a contra-indicação e conseqüente eliminação do candidato do processo seletivo. A vontade e capacidade de realizar um policiamento democrático é baseada no princípio de que todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito, sem discriminação, a igual proteção. Isto significa que as pessoas que tiverem entendimento e forem movidas pelo sentimento de trabalhar em prol da consolidação do modelo igualitário de sociedade, onde a lei seja expressão da vontade popular e sua aplicação seja dirigida a todos, devem ser incentivada a integrar os quadros da polícia. E nunca serem impedidas da investidura policial, como em passado remoto era abertamente feito. 4.2 O Policiamento correspondente às necessidades e expectativas públicas. O policiamento correspondente às necessidades e expectativas públicas significa que a polícia deve estar consciente das necessidades e expectativas da população e corresponder a elas. Evidentemente, a população necessita e espera que a polícia previna e desvende o crime e preserve a ordem pública. Entretanto, estas necessidades e expectativas são demasiadamente gerais. A polícia precisa também considerar as maneiras pelas quais a população demanda que estes objetivos sejam atendidos e quais as necessidades e expectativas específicas da população em um determinado tempo e em uma determinada localidade. Isto exige uma mudança gradual, partindo de um sistema fechado23 para um sistema mais aberto na área policial, com ênfase na descentralização da organização e até mesmo na extinção da abundância de níveis funcionais 23 São sistemas nos quais a maioria dos processos decisórios é restrita à cúpula da organização. na sua estrutura. É preciso criar uma proximidade e entendimento mútuo entre a população e a organização, partindo da premissa fundamental de que a responsabilidade pela segurança pública não é só da polícia, mas compartilhada entre o Estado e seus cidadãos. As Organizações policiais, ou melhor, os funcionários responsáveis por sua administração estratégica, só há pouco começaram a sentir o quanto a capacidade e eficiência das mesmas são prejudicadas pelas estruturas altamente burocratizadas e centralizadas. O incentivo à mudança deve-se mais a uma crescente pressão (política) exercida de fora para dentro da Organização, do que a uma convicção categórica de que a burocracia e os sistemas hierárquicos são provavelmente características contraproducentes num contexto dinâmico e sujeito a contínuas mudanças. Esta pressão parte de instâncias políticas decisórias insatisfeitas com os níveis atuais de eficiência apresentados pelas organizações policiais tradicionais. Por trás dessa insatisfação, quase sempre haverá a reprovação da opinião pública, ao lado de percepções e experiências desfavoráveis do desempenho da Polícia. O rápido crescimento do mercado da segurança privada é um indicador seguro de que as empresas do setor, na verdade, passaram a vender a proteção e a segurança que os órgãos governamentais estão deixando de fornecer (Rover : 1998). A crescente insatisfação experimentada pela sociedade ocasiona a mudança das organizações policiais. Aos poucos, por toda parte, observa-se a adoção em caráter experimental de estruturas descentralizadas e menos burocratizadas de aplicação da lei. Novos conceitos de gerenciamento são adotados e testados. O velho estilo de tomada de decisões de cúpula dá lugar aos conceitos de “auto-gestão” e “responsabilidade pelos resultados” que implicam na distribuição de responsabilidades e créditos pelo desempenho da função policial entre todos os planos funcionais da Organização. Conceitos como o de “policiamento comunitário” são vistos com crescente entusiasmo. O tipo e a qualidade dos serviços dependem da capacidade da Organização policial para identificar e interpretar as demandas e necessidades da comunidade a que serve. Isto implica em algo mais do que manter linhas telefônicas de emergência para atender os pedidos de socorro de pessoas em perigo. Requer o acesso a todas as camadas da população e ligações com todos os setores da sociedade. Pressupõe, ao mesmo tempo, fácil acesso à própria Organização policial e a existência de uma confiança mútua entre os cidadãos e os policiais ao seu serviço. Este tipo de relacionamento não surge espontaneamente, nem se consolida de um dia para o outro. Quando estabelecido proporciona capacidade de antecipação e reação. Capacidade de antecipação e reação significa a capacidade da Organização policial de responder – de maneira reativa ou proativa – às demandas e necessidades da sociedade. Assim definida, esta característica encontra-se diretamente relacionada e condicionada ao padrão e à qualidade efetiva dos serviços, baseado nas relações com a comunidade e as atividades de inteligência policial. A maioria das organizações policiais têm baixa capacidade para responder de forma proativa aos desenvolvimentos externos, e, por conseguinte, limita-se a um gerenciamento à base de respostas reativas. É por esta razão que a Polícia tende a concentrar o foco de suas atenções nos indivíduos em situações de perigo ou nos casos de infração da lei, situações que obviamente exigem uma ação legal. As respostas proativas pressupõem um foco muito mais amplo, procurando tomar em consideração os diversos componentes que constituem a sociedade e determinam suas necessidades em termos de aplicação da lei. Aspectos como situação e desenvolvimento econômico, composição da população, grau de urbanização e dados demográficos, cada um a seu modo, favorecem a compreensão das tendências atuais e futuras de desenvolvimento da sociedade. Com base em tais “insights”, pode se chegar a prognósticos úteis e precisos quanto aos futuros desdobramentos na esfera da ordem e da segurança pública. As estratégias preventivas que deveriam ser a grande mola propulsora das organizações policiais, não constituem o ponto forte delas, não sendo muito apreciadas ou valorizadas pelos policiais. Tem-se a impressão de que os resultados da prevenção não podem ser verificados objetivamente, dificultando a avaliação do valor das táticas isoladas. É difícil afirmar quantos acidentes de trânsito poderiam ser evitados postando-se um guarda uniformizado num cruzamento perigoso, ou quantos furtos são impedidos por rondas policiais noturnas em áreas residenciais. O requisito da capacidade de antecipação e reação deve tomar em consideração as opiniões da comunidade e formular respostas proativas, com preferência às reativas. A constatação de que a organização tradicional da polícia constitui, na verdade, um obstáculo à aplicação proativa da lei, só muito lentamente ganha terreno no interior das organizações policiais. Deve ser considerado que tanto o crime como a segurança pública tem dimensões diferenciadas (locais, municipais, estaduais, nacionais e internacionais). A dimensão local parece ser a mais afinada com a articulação e o desdobramento das Polícias Estaduais no Brasil, bem como as demandas da comunidade, o que implica em repensar a maneira como vem trabalhando. Não há como lidar com essas relações se a interação da polícia com a comunidade não for estabelecida. A prevenção, a detecção e o desvendamento do crime só tem possibilidade de concretizar-se quando a polícia toma conhecimento. A polícia só toma conhecimento de duas formas: diretamente, quando pessoalmente está presente e indiretamente, quando alguém a informa. Em nenhum lugar do mundo os efetivos policiais são suficientes para ocupar todos os espaços públicos, além de ser considerável a quantidade de infrações praticadas em espaços privados. Por isso a polícia deve estabelecer um canal de informação fluindo da sociedade para ela. Só que existe uma barreira que impede esse fluxo. Esta barreira é principalmente a falta de confiança e descrédito nas resoluções dos problemas que cabem à polícia responder. Devem ser estabelecidos mecanismos que eliminem essa barreira e permitam o fluxo desejado de informações. Se o cidadão conhece o policial, se a polícia atuar da forma esperada e desejada pelo cidadão, se o cidadão passa a ter voz e vez, se o cidadão for ouvido e seu desejo for atendido, fica estabelecido uma via de mão dupla entre ele e a polícia, surgindo um elo de confiança e credibilidade. 4.3 O Policiamento responsável. O policiamento responsável é atingido de três maneiras principais: legalmente, politicamente e economicamente. Assim como todos os indivíduos e todas as instituições nos Estados onde a lei prevalece, a polícia tem que prestar contas à lei. Ela deve prestar contas à população à qual serve, através das instituições políticas e democráticas de Governo. Desta forma, suas políticas e práticas de fazer cumprir a lei e manter a ordem, submetem-se ao escrutínio público. A polícia é responsável pelo modo pelo qual utiliza os recursos que lhe são alocados. Isto vai além do exame minucioso de suas principais funções policiais, e é uma forma de controle democrático sobre todo o comando, a gerência e a administração de uma instituição policial. A eficiência da Polícia depende, em larga medida, das qualificações individuais dos Agentes, em termos de conhecimento, competência, postura e conduta. A função policial não é de modo algum um processo de produção mecânico com alternativas variáveis de controle de qualidade anteriores à venda do produto acabado. O principal produto desta “indústria” são serviços. A maioria destes serviços é prestada “no local”, fora dos limites de controle dos funcionários com poderes de supervisão e/ou revisão. A “clientela” que consome os seus serviços são cidadãos, elemento mais importante, a própria essência do Estado contemporâneo. Os poderes e prerrogativas outorgados pelo Estado à função policial são, na verdade, poderes e prerrogativas exercidos por agentes individuais, em circunstâncias determinadas. A questão de saber se deveria, por um lado, delegar a estes agentes responsabilidades e prerrogativas que, em última instância, poderão significar um poder de decisão sobre a vida ou morte, enquanto, por outro lado, os mesmos não detêm quase nenhuma autoridade ou poder de decisão dentro da própria Organização a que pertencem, é um ponto polêmico. Embora todas as Organizações policiais sejam, de uma forma ou de outra, submetidas à fiscalização pública24, a maioria não se empenha em estabelecer ou manter relações estruturadas com a comunidade a que servem. Sabe-se que nem todas as operações policiais são executadas segundo a forma prescrita. Com muita freqüência, o princípio de legalidade e, sobretudo, os de necessidade e proporcionalidade são violados. Na maioria das vezes tais práticas não são suscetíveis de verificação. No curso de uma investigação criminal, por exemplo, os Agentes poderão obter informações valendo-se de métodos e/ou meios que não se acham em estrita conformidade com os princípios supracitados. O registro, verificação e avaliação de desempenho equivaleriam a uma espécie de contabilidade das práticas policiais. As organizações policiais devem prestar contas ao Governo local e à comunidade como um todo, e suas ações e práticas devem ser compatíveis com as leis nacionais e com as obrigações assumidas pelo Estado perante o Direito Internacional dos Direitos Humanos. A fim de facilitar a necessária fiscalização, a transparência das organizações nas práticas policiais é imperativa. 24 A fiscalização pública se processa através da atuação institucional do Ministério Público, do Judiciário, das Corregedorias e Ouvidorias. Três níveis de responsabilidade final precisam ser estabelecidos. O primeiro nível é o da responsabilidade perante a comunidade internacional pelas práticas policiais. Conforme o Direito Internacional dos Direitos Humanos, os Estados podem ser individualmente responsabilizados por situações em que se verifica, dentro de seus territórios, um padrão consistente de violações graves e seguramente atestadas de direitos humanos, como disposto na Resolução nº 1.503 (XI – VIII) do Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas, de 27 de maio de 1970. Nos casos em que se possa atribuir tal padrão de violações às práticas policiais, tais práticas serão consideradas no âmbito internacional como atribuíveis ao Estado, e pelas quais o mesmo pode ser responsabilizado. No caso de eventuais violações dos Direitos Humanos que não configurem “um padrão consistente de violações graves”, o Estado será ainda responsabilizado pelas mesmas. Apenas os mecanismos de denúncia diferem. O segundo nível é o da responsabilidade perante a sociedade das organizações policiais por suas práticas. Os policiais deverão atuar dentro do território do Estado em conformidade com a legislação respectiva e serão responsabilizados perante ela. O desenvolvimento de estratégias e políticas de atuação policial deverão envolver igualmente a organização policial, o Governo local, a comunidade, o Poder Judiciário e o Ministério Público, os quais deveriam empenhar-se por igual também na avaliação da implementação de estratégias e políticas. O terceiro nível, a responsabilidade interna das organizações policiais, compreende a responsabilidade individual efetiva de todo policial em respeitar e observar rigorosamente os preceitos da lei. Esta responsabilidade ultrapassa o simples conhecimento da legislação. Ela pressupõe requisitos de postura e competência, os quais, aliados ao necessário conhecimento, poderão garantir a aplicação imediata, adequada e oportuna da lei, sem distinção de qualquer natureza. Os policiais prestar-se-ão, mediante os procedimentos de relato e revisão, à supervisão, ao controle e à fiscalização de seus atos. Os Oficiais superiores deverão proporcionar orientação aos seus subordinados e impor medidas corretivas, sempre que as circunstâncias assim exigirem. Se necessário, tais medidas poderão resultar em ação disciplinar ou acusações criminais contra determinado funcionário. Outro aspecto da responsabilização interna é o exame periódico de desempenho da função policial em função das estratégias e políticas em curso. As conclusões de tais avaliações contribuirão para assegurar o correto gerenciamento e administração da organização como um todo. Os três níveis de responsabilização não serão concebidos como entidades separadas, mas antes como um todo coeso. Ao final do processo, a responsabilidade final visa estabelecer garantias de que a prática policial será compatível com os princípios de legalidade, necessidade e proporcionalidade. É possível também conceber outros métodos informais ou formais de responsabilização a um nível bem local, por exemplo, grupos de ligação entre polícia e cidadãos, ou conselhos locais da comunidade interagidos com a polícia para deliberar sobre as questões locais de segurança pública. Além disso, esta forma de responsabilização é um meio pelo qual a polícia pode tomar consciência das necessidades locais imediatas e corresponder a elas. 4.4 Apontando a solução. A aplicação da lei dá-se em um contexto dinâmico, onde os enfoques e relações envoluem continuamente e adquirem crescente complexidade. A Organização policial deverá, pois, por intermédio de seus Agentes, desenvolver uma capacidade de adaptação e mudança, a fim de que o sistema como um todo não se torne um obstáculo ao progresso da sociedade. Somente assim os policiais estarão em condições de atender às demandas e necessidades da comunidade e corresponder às expectativas que esta depositou neles. Qual o mecanismo que possibilita ao cidadão ser servido por uma polícia de acordo com sua necessidade e expectativa, que possa deliberar onde quer e como quer a polícia, que possa efetivamente exercer o controle sobre ela e que ao mesmo tempo transforme esse mesmo cidadão em coresponsável pela segurança e partícipe das relações que permitirão a polícia ser mais eficiente e eficaz? Que mecanismo se indica para que o modo de fazer policiamento seja conforme os princípios e padrões dos Direitos Humanos, ao mesmo tempo sendo também instrumento de promoção e proteção dos próprios Direitos Humanos? Pensamos que a resposta seja a comunitarização da polícia. Então há que se conhecer os fundamentos da denominada Polícia Interativa, seus pressupostos e a forma como sistematizase e é implementada (Costa(2) : 1995) para sabermos se é ou não um modo de fazer polícia de segurança pública conforme e para os Direitos Humanos. Estamos convictos quanto ao fato de o processo de interação darse-á a partir do conhecimento das verdades societais/policiais, que possibilitarão a resolução proativa das demandas específicas da área de segurança pública, esta sim, o maior dos objetivos da polícia moderna, cidadã e participativa, e que a cada dia mais, gerida em parceria com a sociedade civil organizada, contribui para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito, e de suas molas mestras que são o respeito e a dignidade humana. CAPÍTULO III UM NOVO MODELO PARA O ORGANISMO POLICIAL BRASILEIRO 1. ENTENDENDO A NECESSIDADE DE MUDANÇA DO MODELO ATUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. 1.1 Considerações iniciais. Um dos grandes desafios das polícias como agências prestadoras de serviços de segurança pública, no findar de mais um milênio, tem sido definir estratégias para a concepção da atuação da polícia de modo mais eficaz e constante. É comum atribuir às Polícias a crescente e contínua sensação de insegurança expressa pela população. A imagem das polícias necessita de melhoria. É visível o clamor público por mais segurança. O controle da criminalidade, cujas condicionantes são sobretudo estruturais (no campo econômico e social), exige soluções que ultrapassam a capacidade das polícias, quando estas não pautam as suas ações operacionais pela solidariedade das comunidades. Sem prejuízo das ações voltadas para o criminoso, é necessário que as comunidades queiram e disponham de proteção contra a eclosão do delito. Aqui, está a gênesis da Polícia Interativa, pois, entrosada com os estamentos diversos da sociedade onde atua, a polícia deixa de ser a “polícia do aconteceu”, passando a direcionar as suas ações operacionais para ser “a polícia do pode acontecer”, fazendo da proação o principal instrumento de controle da criminalidade. A interação da polícia com as comunidades permite que essas tomem consciência de que o crime não é problema só da polícia, mas também de cada cidadão. O desiderato da segurança pública é a garantia da ordem pública, que se traduz pela convivência harmoniosa e pacífica da sociedade que deve ser também fruto da consciência participativa de todo o estamento societal. O modelo secular de polícia no Brasil, com pequena participação comunitária, está ultrapassado e não reflete os anseios do cidadão. Conhecer as características da função da polícia, bem como o ambiente externo de sua atuação, constitui a condição primeira para a realização do processo de interatividade na área de segurança pública. A polícia interativa, como uma nova maneira de pensar na proteção e socorro públicos, baseia-se na crença de que os problemas sociais, condicionantes da criminalidade, em síntese, terão, cada vez mais, soluções efetivas, na medida em que haja a participação das comunidades na sua identificação, análise, proposta e implementação de ações conjuntas para a busca de soluções. As ações e operações policiais devem ser concebidas tendo como alvo principal a população ordeira e não os infratores da lei; passando, portanto, a priorizar a atuação pró-ativa da Policia como atenuante de seu emprego repressivo. Tanto quanto possível, deve-se buscar a presença permanente do policial junto a uma determinada localidade, dando-se preferência pelo emprego do policiamento preventivo, mais próximo e em contato mais estreito com as pessoas, tornando-o mais visível e de mais fácil acesso. 1.2 Fatores intervenientes no desenvolvimento do processo interativo. A percepção e a implementação das mudanças devidas para o atingimento de uma nova modelagem das organizações envolvidas na prestação de serviços de segurança pública, esbarram atualmente em alguns óbices, entre os quais evidenciamos os que, ao nosso ver, são hoje os principais fatores para a dificultação do processo interativo: - O distanciamento das organizações integrantes do sistema criminal da população socialmente menos favorecida; - os hábitos seculares ainda muito enraizados nas instituições policiais brasileiras que persistem em confundir pobreza com marginalidade; - a baixa profissionalização e instrumentalização do estamento policial; - o precário financiamento estatal das instituições policiais, o que em alguns casos tem motivado a busca de recursos pela policia junto às comunidades, ocasionando uma crescente “privatização” dos serviços de segurança pública, através do privilegiamento de comunidades mais bem aquinhoadas financeira e socialmente; - as comunidades se mostram receosas em servir de informantes à Polícia, temendo o abandono e a conseqüente retaliação por parte dos agentes marginais; e - a falta de maturidade participativa, por parte de diversos segmentos comunitários. 1.3 Conceitos indispensáveis para o entendimento do processo interativo. A compreensão de alguns conceitos elementares25 na área de segurança pública e da interação participativa, levar-nos-á a visualização do novaz processo de interface entre a sociedade civil organizada e os órgãos encarregados da prestação dos serviços de segurança pública em nosso país, assim vejamos: a) Segurança Pública: É a garantia que o Estado (União, Unidades Federativas e Municípios) proporciona à Nação, a fim de assegurar a Ordem Pública, contra violações de toda espécie, que não contenham conotação ideológica. b) Ordem Pública: Conjunto de regras formais, coativas, que emanam do ordenamento jurídico da Nação, tendo por escopo regular as relações sociais em todos os níveis para estabelecer um clima de convivência harmoniosa e pacífica; constitui, assim uma situação ou condição que conduz ao bem comum. 25 Conceitos constantes do Manual de Instrução Modular da Polícia Militar do Espírito Santo, edição de 1995, páginas 214 a 217. c) Preservação da Ordem Pública: É o exercício dinâmico do poder de polícia26, no campo da Segurança Pública, manifestado por atuações predominantemente ostensivas, visando a prevenir e/ou coibir eventos que alterem a Ordem Pública – os delitos – e a dissuadir e/ou reprimir os eventos que violem essa Ordem para garantir sua normalidade. d) Policiamento Ostensivo: É a atividade de Manutenção da Ordem Pública executada com exclusividade pela Polícia Militar, observadas as características, princípios e variáveis próprias, que visem à tranqüilidade pública. e) Tranqüilidade Pública: É o estágio em que a comunidade se encontra num clima de convivência harmoniosa e pacífica, representando assim uma situação de bemestar social. f) Defesa Pública: É o conjunto de medidas adotadas para superar antagonismos ou pressões, sem conotações ideológicas, de forma que evite, impeça ou elimine a prática de atos que perturbem a Ordem Pública. Robert Trojanowicz e Bonnie Bucqueroux, em seu livro “Policiamento Comunitário Como Começar?”, definem o seguinte conceito de comunidade: 26 Poder de polícia é a prerrogativa que os cidadãos concedem ao Estado (no caso dos Estados democráticos, como o Brasil) de restringir o uso e o gozo de liberdades individuais em benefício do bem comum, sem no entanto desrespeitar direitos expressos nas leis (como o da inviolabilidade do domicílio, por exemplo). “Qualquer tentativa de definição do movimento do policiamento comunitário deve incluir necessariamente o que se entende pela palavra “comunidade” neste contexto. Embora à primeira vista possa parecer que uma definição de apenas uma única frase simples já seria suficiente, comunidade pode significar coisas muito diferentes para pessoas diferentes. A compreensão da comunidade é essencial para a prevenção e o controle do crime e da desordem, assim como do medo do crime. O controle social é mais eficaz a nível individual. Existe uma diferença bastante acentuada entre a comunidade geográfica e a comunidade de interesse – conceitos que facilmente se confundiam no passado, quando ambas as comunidades se misturavam para abranger a mesma população. Este fato é extremamente relevante para o uso de “comunidade” no policiamento comunitário porque o crime, a desordem, e o medo do crime podem criar uma comunidade de interesse dentro de uma comunidade geográfica. Assim, o uso da palavra “comunidade” em policiamento pode referir-se muitas vezes a entidades superpostas. É a comunidade de interesse gerada pelo crime, o que permite aos policiais uma entrada na comunidade geográfica. Após esta entrada, o policial e os residentes podem desenvolver estruturas e táticas elaboradas para melhorar a qualidade de vida, permitindo que seja criado e floresça um renovado espírito comunitário.” 1.4 Características do Modelo Interativo de Polícia27. O processamento da interatividade entre a polícia e as comunidades, faz-se exteriorizado através das seguintes características: a) Comunitarização: O objetivo do processo de interatividade entre a polícia e as comunidades é efetivar a alteração dos hábitos de ambas as partes, exsurgindo daí, as condições ideais para uma atuação conjunta e permanente no ambiente social, o que denominamos de comunitarização, isto se dando no exercício bipartite do controle da criminalidade. 27 Adaptado a partir dos parâmetros para a sistematização do modelo de polícia interativa, apresentados pela Polícia Militar do Espírito Santo, durante o I Encontro Estadual de Lideranças de Polícia Interativa, realizado em 18/10/98. A fim de estabelecer uma seqüência lógica como catalizadora do processo de comunitarização, entende-se que a adoção dos parâmetros norteadores abaixo, torna-se indispensável para a obtenção do êxito na formatação de um novo modelo de atuação da polícia com as comunidades: Gestão participativa e prestação de contas: A Resolução 34/169 de 17 de dezembro de 1979, expedida pela Organização das Nações Unidas, estabelece como regramento para os países associados que os seus estamentos policiais devem ser representativos da comunidade e a esta de forma organizada, deverão prestar contas. A Constituição do Estado do Espírito Santo, promulgada em 5 de outubro de 1989, estabeleceu também em seu artigo 124, parágrafo único que: “Fica assegurado, na forma da lei, o caráter democrático da formulação da política e no controle das ações de segurança pública do Estado, com a participação da sociedade civil”. O estabelecimento de um órgão societal para, em parceria com a polícia, formular políticas públicas de segurança pública, é imprescindível para que seja exitoso o processo de comunitarização. Os Conselhos Interativos de Segurança Pública, surgidos a partir de Guaçuí/ES, são organizações não-governamentais, com personalidade jurídica própria, formados pela sociedade civil organizada, e que recepcionam as demandas populares na área da segurança pública, funcionando como instrumentos de gestão democrática e participativa neste segmento, inovando, pois constituem-se no fórum de supervisão e controle civil dos órgãos policiais envolvidos no processamento da interação. A formação, registro e os demais procedimentos legais para o funcionamento dos Conselhos Interativos, seguem minimamente a seqüência sugerida adiante: - Reuniões comunitárias visando a congregação das pessoas que estejam dispostas a participar do processo de interatividade entre a comunidade e a polícia; - Registro de atas, eleição da Diretoria Executiva, aprovação de estatuto e regimento da associação ora em formação; - Registro em Cartório, no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda; - Declaração da ONG28, como de utilidade pública nas esferas municipal, estadual e federal; e - Registro na Secretaria de Receita Federal, visando adquirir o direito de emitir recibos aos contribuintes voluntários dos Conselhos Interativos para abatimento nas declarações de Imposto de Renda. Interação: É o conjunto de procedimentos adotados simultaneamente pela polícia e pela sociedade civil organizada, através dos Conselhos Interativos de Segurança Pública, objetivando a consecução do processo de comunitarização. A ação de reciprocidade entre a polícia e a comunidade implica em compromissos quanto a implementação de um novo modelo de gestão dos assunto pertinentes ao segmento da segurança pública que, 28 O Conselho Interativo de Segurança Pública, na forma surgida e aplicada em Guaçuí/ES é uma Organização não-governamental. implementado com efetiva parceria dos órgãos estatais e societais, almeja a resolução preventiva dos problemas que afetam a ordem pública. Fixação do Efetivo: A experiência originária da cidade de Aberdeen na Escócia, com os chamados “team policing” ou equipes de policiamento, comprovam que para que se efetive a comunitarização da polícia, é necessária a aplicação do exercício de policiamento com profissionais ambientados na circunscrição social onde se desenvolve a parceria. As partes devem se conhecerem, pois somente através dos contatos pessoais de seus integrantes é que se obterá êxito no controle da criminalidade, visto que policiar é sobretudo conhecer, investigar, obter informações, entre outros tantos aplicativos. O distanciamento do policial das pessoas na circunscrição em que age, despersonifica o trabalho da polícia, tornando anônima a sua atuação no seio da sociedade, gerando o desconhecimento das causas primárias da criminalidade. A fixação de equipes e a sua permanente interação com os diversos atores sociais constitui-se em fator de sucesso do trabalho realizado. b) Cidadanização: A polícia brasileira por seu “DNA histórico”29 só recentemente despertou-se para a necessidade de inverter a mão de direção da sua atuação, deixando de agir como uma instituição somente garantidora do Estado, passando agora a valorar a segurança das pessoas, principalmente da grande 29 Expressão utilizada pelos Autores para justificar a falta de comprometimento com as causas sociais por parte da polícia, em virtude de seu processo de formação. massa popular, universalizando as suas ações de prevenção e o controle da criminalidade. Na concretização deste desiderato é importante que sejam ressaltadas as seguintes ações: Politização: a polícia não é um órgão autóctone como se idealizou por muitos anos neste país. A interface com a sociedade civil organizada e o estabelecimento do Estado Democrático de Direito motivam um novo perfil para o policial, agora não mais um guerreiro, e sim um ativista social, intermediador de conflitos. Supervisão civil da polícia: os países democráticos após a 2ª Guerra Mundial vêm buscando alternativas estratégicas e táticas para a melhoria dos serviços prestados por seus organismos policiais, desenvolvendo-se o conceito de que a sociedade civil organizada deve atuar no controle e na supervisão das ações da polícia como forma de inibir os excessos e também como um meio de melhorar a sua eficácia operacional. Defesa dos Direitos Humanos: o respeito à vida e à dignidade do ser humano, são premissas basilares para um modelo de polícia que se queira implementar. No Brasil o desrespeito a integridade física das pessoas, não é culpa só da polícia, mas também de um sistema criminal inoperante e sectário, que com raízes históricas profundas na consciência daqueles que atuam no sistema de poder, faz transcender a discriminação contra os mais humildes social e financeiramente, quando se deseja cuidar da ordem pública de modo seletivo, repressivo e autoritário como nos ensina em seu livro “Violência e Racismo no Rio de Janeiro”, o eminente policiólogo – o Coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Jorge da Silva, que diz: “Cadeia no Brasil é só prá pobre, preto e prostituta, o que tem sido confimado pelos diferentes censos carcerários". Encontramos na Bíblia, a resposta do profeta João Batista30 aos soldados de sua época, a cerca dos direitos humanos: “E uns soldados o interrogaram também dizendo: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal nem defraudeis, e contentai com o vosso soldo”. A defesa dos direitos humanos começa pela polícia, que é a única organização que se encontra totalmente capilarizada no território brasileiro, e por isto é fator de intercessão do Estado com o cidadão. c) Profissionalização: Em desvio de função, a polícia brasileira, como já mostramos na primeira parte deste trabalho, chega ao terceiro milênio ainda desqualificada para a execução de seus principais mandatos que são: o cumprimento da lei e a preservação da ordem pública, isto porque a formação patrocinada pelo próprio Estado não tem permitido a profissionalização dos servidores policiais com embasamento técnico-científico. O empirismo cotidiano ainda é prática na força policial deste Brasil. 30 Evangelho de São Lucas – Cap 3:14. A implementação do modelo interativo de polícia exige que sejam revistos os procedimentos, e que a polícia baseie cientificamente as suas ações na prestação dos serviços de segurança pública, daí advindo a necessidade de encetarmos as seguintes medidas: Ênfase pró-ativa: A prevenção constitui-se na melhor forma de se policiar. Relacionando-se com todos os atores sociais de modo sistêmico e organizado, os órgãos policiais atuarão antecedendo o acontecimento do fato criminal. As ações centrífugas da polícia, ou seja do centro para as periferias não são suficientes para o eficaz controle da criminalidade, pois servem apenas como meros paliativos e por falta de continuidade não atuam na base do fato criminal, a exemplo disto citamos que mesmo com as constantes “blitzeens”31 a criminalidade tem aumentado substancialmente nas regiões periféricas das grandes cidades. A proação nas atividades da polícia deverá ter seu sentido mudado para ações centrípetas, ou seja das regiões periféricas para o centro das grandes cidades, uma vez que a efetiva atuação do policiamento ostensivo, velado ou investigativo nas cercanias permite de forma continuada e comunitária/participativa um melhor controle da criminalidade com a conseqüente redução dos índices de crimes. Para a realização da ênfase pró-ativa, enumeramos as seguintes ferramentas utilizadas no modelo de polícia interativa desenvolvido em Guaçuí 31 Expressão que significa as operações policiais conhecidas também como batidas policiais. e em outros municípios que adotaram o modelo primaz ora evidenciado: Reuniões Comunitárias com os diversos segmentos sociais. Exemplo: Moradores, comerciantes, torcidas de futebol, camelôs, etc. Programa “Linha Aberta com a Comunidade”: evento semanal realizado através de meio de comunicação (rádio, TV, etc.), que visa manter a população informada sobre os principais eventos que envolveram a atuação da polícia no setor em que se dá a interação. Urnas Interativas: caixas coletoras tipo as dos correios, colocadas em pontos estratégicos da cidade, visando captar as demandas societais por segurança pública. Atuam como uma excelente fonte de informações que, após analisadas, servirão para a facilitação do trabalho operacional da polícia. Serviços de Atendimento aos Cidadãos: constituem-se na setorização territorial das ações táticas da polícia, atuando como pontos referenciais para o atendimento às comunidades de forma descentralizada, e que visam estabelecer a efetiva prática da comunitarização da polícia. Os Serviços de Atendimento aos Cidadãos também têm por objetivo facilitar o acesso dos cidadãos à polícia, visto que nestes lugares, procura-se de modo enfático atuar na resolução preventiva dos problemas originados no dia-a-dia das comunidades, e que por vezes pelo pequeno impacto são desprezados, mas que funcionam como alimentadores do aumento da sensação de insegurança e de temor da sociedade. Qualificação: Dá-se de três formas: 1ª - Antecipada – conscientização interna e externa sobre o processo interativo entre a polícia e as comunidades; 2ª - Contínua – visa consolidar e aprimorar os hábitos técnicos dos servidores policiais; e 3ª - Periódica – intenta proceder a atualização profissional dos servidores da polícia. Valorização da Inteligência policial: Os órgãos policiais destinar-se-ão ao eficaz controle da criminalidade através da percepção de que o êxito da atuação policial depende do conjunto de informações disponíveis que possibiliterm uma operacionalidade racional. 1.5 O Método Interativo – Modalidades de Interação. O programa de interação comunitária da Polícia Militar do Espírito Santo, iniciado em Guaçuí, a partir de 1994, desenvolveu ineditamente o método de interatividade, consubstanciado nas seguintes modalidades de interação, destacando-se para compreensão didática, que estas serão executadas de forma simultânea e sincronizada para o alcance dos resultados esperados. Estas iniciativas concebidas como parte do processo contínuo de interação entre polícia e sociedade orientaram a definição de cinco etapas32 de desenvolvimento (MUNIZ : 1996) (implantação e monitoramento) do programa de polícia interativa, que são: a – Interação Funcional. Nesta fase, o público alvo é a própria corporação. Deve-se primeiramente, investir na mudança das mentalidades operacional e administrativa, aplicando políticas internas de valorização, capacitação, aperfeiçoamento, reciclagem e melhoria das condições de trabalho do policial. É indispensável o desenvolvimento de um trabalho permanente de conscientização e disseminação da filosofia comunitária, envolvendo toda a escala hierárquica da polícia. b – Interação Estratégica e Social. Consiste em mobilizar recursos internos e externos à polícia, no intuito de promover e consolidar a parceria com as comunidades e agências públicas e civis – elemento essencial no processo de comunitarização do provimento de ordem pública. Recomenda-se o emprego de expedientes criativos para sensibilizar e envolver as comunidades e suas lideranças nas atividades do programa. Deve-se, ainda, fazer uso de 32 A concepção das etapas de desenvolvimento do programa de polícia interativa foi de autoria intelectual do Capitão Júlio Cézar Costa, que as fez publicar no documento intitulado “Diretrizes para a Implantação e Implementação da Polícia Interativa”, em 1995, através de publicação de Diretriz da 3ª Seção do Estado Maior Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, que então serviu de base para a elaboração do texto apresentado pela Drª Jacqueline Muniz do ISER/Viva Rio, duranto o 1º Seminário sobre Segurança, Justiça e Cidadania, realizado sob o patrocínio do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas – PNUD/ONU e do Governo Federal, na cidade do Rio de Janeiro, em 28 e 29/11/96. dispositivos formais e informais que visem não só garantir e ampliar a participação comunitária, como também estimular o convívio social entre policiais e cidadãos. c – Interação Financeira/Logística. Esta etapa ocupa-se de inventariar os meios legais necessários para institucionalizar os Conselhos Interativos de Segurança – instâncias comunitárias deliberativas, responsáveis por levantar os recursos financeiros necessários à realização dos objetivos do programa; desenvolver estratégias conjuntas com os órgãos de segurança; e fiscalizar suas atividades. d – Interação Complementar. Reporta-se a necessidade de reforçar as iniciativas voltadas para a busca de cooperação das comprometidas – agências municipais direta indiretamente ou e estaduais – com o provimento de ordem e segurança públicas. Trata-se de ampliar os recursos públicos disponíveis, através da ação coordenada com o poder local, a Polícia Judiciária e o Ministério Público. Em harmonia com a necessária descentralização das atividades de comando, recomenda-se que esse trabalho cotidiano de interação seja realizado pelos policiais responsáveis pelos contempladas pelo programa. setores ou sub-áreas e – Interação Tática. Refere-se à alocação dos recursos humanos e materiais disponíveis, para o exercício dos serviços de polícia. Objetivando uma maior proximidade com a população, sugere-se que as unidades operacionais ultrapassem as fronteiras e se enraízem no interior das comunidades. O corpo interativo (batalhão/superintendência de polícia judiciária) deve ser dividido em núcleos interativos (companhias/delegacias), e estes em células interativas (pelotões, destacamentos, entre outros). Salienta-se que o planejamento e a execução do policiamento ostensivo devam orientar-se pelas estatísticas policiais e pelas necessidades e expectativas das comunidades, expressas nas reuniões do Conselho Interativo ou através de outras formas de interação. Cabe ainda observar que o emprego tático supõe que as etapas anteriores estejam concluídas ou encontrem-se bastante adiantadas. 2 CONCLUSÃO De acordo com os parâmetros para sistematização do modelo interativo de polícia, documento editado pela Polícia do Espírito Santo em outubro de 1988, o Estado do Espírito Santo projetou-se como referência nacional em ações na segurança Pública, com o novo modelo que a Polícia Militar desenvolveu para a sua atuação, que foi popularizado sob o nome de Polícia Interativa. O modelo interativo de polícia caracteriza-se como uma nova maneira de pensar na proteção e no socorro públicos; baseia-se na crença de que os problemas sociais e as causas da criminalidade, terão soluções mais efetivas, na medida em que haja participação das comunidades na sua identificação, análise, proposta e implementação de ações conjuntas para a busca de soluções. A Polícia Interativa consiste no resgate da função originária da Polícia. Ela é um mecanismo que certamente proporcionará ao Estado Democrático ingressar no cerne que o justifica e representa a sua essência, que é assegurar a toda e qualquer pessoa proteção e garantia dos direitos reconhecidos e declarados como fundamentais. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS AZKOUL, Marco Antônio. A polícia e sua função constitucional. São Paulo : Oliveira Mendes, 1998. BÍBLIA. Português. Bíblia sagrada. 86. ed. Rio de Janeiro : Imprensa Bíblica Brasileira, 1996. BICUDO, Hélio. O AI-5 e os direitos humanos. Jornal do Brasil. 10 dez. 1978. BRASIL. Constituição (1988). Constituição [da] República Federativa do Brasil. Brasília, DF : Senado Federal, 1988. CANCELLI, Elizabeth. O mundo da violência : a polícia da era Vargas. Brasília : UNB, 1993. COMPARATO, Fábio Konder. Direitos humanos e Estado. In FESTER, Antonio Carlos Ribeiro (Org). Direitos humanos e estado. São Paulo : Brasiliense, 1989. CONTREIRAS, Hélio. Militares : confissões. Histórias secretas do Brasil. Rio de Janeiro : Mauad, 1998. COSTA, Emília Viotti da. Da senzala à colônia. 3. ed. Brasiliense, 1989. COSTA(2), Júlio Cézar. Diretrizes para implantação e implementação da polícia interativa. Vitória : PMES, 1995. DONNICI, Virgílio Luiz. A criminalidade no Brasil. Meio milênio de repressão. Rio de Janeiro : Forense, 1984. FAORO, Raymundo. Os donos do poder : formação do patronato político brasileiro. 7.ed. Rio de Janeiro : Globo, 1987. HOBSBAWN, Eric. A Era dos extremos. Rio de Janeiro : Nova Fronteira, 1991. INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. Estudos básicos de derechos humanos. Asdrúbal Aguiar Aranguren. San José, C.R. : IIDH, 1994. ___. Estudos básicos de derechos humanos II. Kenneth Anderson. San José, C.R. : IIDH, 1995. MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. São Paulo : Hemus, 1996. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Programa Nacional de Direitos Humanos. Imprensa Oficial, 1996. MORAES, Bismael B. Direito e polícia, uma introdução à polícia judiciária. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1986. MUNIZ, Jacqueline. Programa do 1º seminário sobre segurança, justiça e cidadania. Rio de Janeiro, 1995. ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. Relatório sobre a situação dos direitos humanos no Brasil. Secretaria Geral da OEA. Washington, DC, 1997. PIETÁ, Elói. Crime e Polícia. 2. ed. São Paulo : Assembléia Legislativa, 1997. POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. Manual de instrução modular. 3. ed. Vitória : Imprensa Oficial, 1997. ___. Caderno de parâmetros para a sistematização do modelo de polícia interativa. Vitória : Imprensa Oficial, 1998. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Almanaque da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro : PMERJ, 1980. PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA. Gabinete de documentação e Direito comparado. Compilação das normas e princípios das nações unidas em matéria de prevenção do crime e justiça penal. Portugal, Lisboa, 1995. RIBEIRO, Brandino José de Mello. Organização policial face à evolução do crime organizado no Brasil. Rio de Janeiro, 1993. ROVER, Cees de. Direitos humanos e direito internacional humanitário para forças policiais e de segurança. Vermelha, Genebra, 1998. Comitê Internacional da Cruz SILVA, Jorge da. Controle da criminalidade e segurança pública na nova ordem constitucional. 2. ed. Rio de Janeiro : Forense, 1990. SILVA, Jorge da. Violência e racismo no Rio de Janeiro. Niterói : EDUFF, 1998. SOUZA, Benedito Celso de. A Polícia militar na Constituição. Edição Universitária de Direito. São Paulo, 1986. TROJANOWICZ, Robert & BUCQUEROUX, Bonnie. Policiamento Comunitário : Como Começar?. Tradução de Mina Seinfeld de Carakushansk. Rio de Janeiro : PMERJ, 1994. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Os direitos humanos no Brasil. Edição final. KAHN, Túlio. Núcleo de Estudos da Violência e Comissão Teotônio Vilela. São Paulo : NEV-CTU, 1993. UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Caderno de pesquisas. n. 5. Vitória : UFES, 1996.
Download