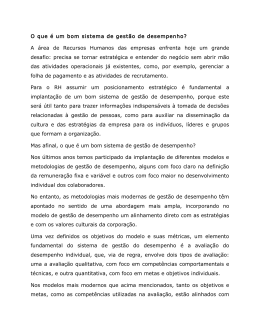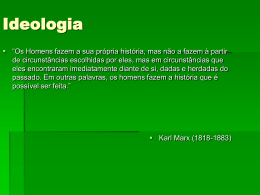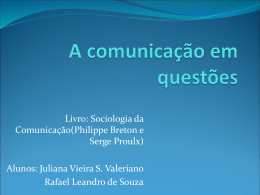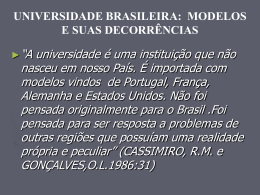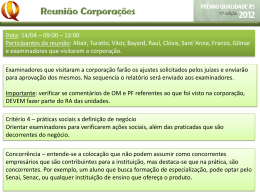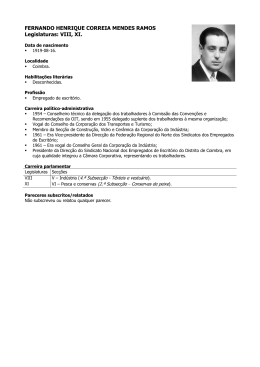Responsabilidade Social e Ideologia: Notas sobre a Gênese de um Conceito Autoria: Fabio Bittencourt Meira Resumo: O artigo apresenta, sob a forma de ensaio teórico, idéias de Maurício Tragtenberg a respeito da ideologia da grande empresa, esboçadas em seu livro Administração, Poder e Ideologia. A partir das pistas lançadas pelo autor discute o conceito de responsabilidade social. O problema da legitimação social da grande empresa, e as soluções desenhadas por autores alinhados à ideologia do capitalismo gerencial são apresentadas, com ênfase na obra seminal de Howard R. Bowen (1953). A conclusão, retoma as críticas de Tragtenberg objetivando identificar as dimensões propriamente ideológicas do conceito de responsabilidade social. Introdução A recente reedição de Administração, Poder e Ideologia, de Maurício Tragtenberg, deve ser celebrada pelos pesquisadores interessados no debate crítico sobre o papel social da grande empresa. Analisando a ideologia administrativa das grandes corporações, Tragtenberg revela a atualidade de suas idéias ao trazer à superfície a raiz ideológica do discurso sobre responsabilidade social, que, nos dias de hoje, ecoa na academia, na imprensa e nos meios corporativos. Pela via da retomada de autores do pós-guerra, defensores da harmonia entre grande empresa e sociedade, o autor oferece valorosas indicações para aqueles que objetivem esquadrinhar o conjunto de fundamentos do discurso e da prática da responsabilidade social corporativa. O presente artigo é uma tentativa de síntese de uma pesquisa, em andamento, sobre a gênese do conceito de responsabilidade social. Inspirada na abordagem de Tragtenberg, a pesquisa analisa obras determinantes da ideologia administrativa, para pinçar elementos constitutivos da noção de responsabilidade social. A idéia é esboçar o quadro de referências que deu origem às preocupações éticas e sociais das organizações, tão em voga na atualidade. O campo em que, hoje, se situa a discussão da responsabilidade social — Business and Society — é tradicional na área de organizações, e desenvolveu-se sobretudo nos EUA, a partir da década de 60 (McGUIRE, 1963). O tema que mobiliza o campo Negócios e Sociedade é o da relação entre corporações e sociedade, ou melhor, o campo funda uma problematização específica desta relação, qual seja, a compreensão do espaço entre corporação e sociedade como espaço de continuidade, e não antagonismo; busca encontrar os pontos de contato que promovam o equilíbrio da relação: é aí que o conceito de responsabilidade social encontra seu lugar. Do ponto de vista histórico, entretanto, a responsabilidade social antecede o campo e compõe um tema recorrente do discurso managerial desde, pelo menos, os anos 20. O interesse no trabalho crítico de Tragtenberg reside no fato de por em questão precisamente o espaço entre corporações e sociedade, indicando a ideologia em que assenta a construção temática do equilíbrio entre ambas. É bastante conhecida sua tese de que a teoria geral da administração é uma ideologia (TRAGTENBERG, 1971; 1992). Segundo o autor, as idéias de Saint-Simon, Fourier, Taylor, Fayol e Mayo evocam uma representação da sociedade capitalista em termos de “harmonias administrativas”. As teorias administrativas são 1 abordagens micro-sociais com uma inexorável vocação para garantir a produtividade fabril por meio da harmonização do conflito capital/trabalho e ocultamento de suas contradições (ibid., 1971; 1992; PAES DE PAULA, 2000; SILVA, 2001). Sua ambigüidade as torna ideológicas, pois constituem um conjunto de técnicas (produtivas, administrativas e comerciais) vinculadas às determinações sociais reais, e, ao mesmo tempo, deformam essas mesmas determinações, ao apresentá-las como um universo sistemático organizado (TRAGTENBERG, 1992: 89). Em Administração, Poder e Ideologia, Tragtenberg dedica um pequeno capítulo à “ideologia administrativa das grandes corporações”, em que estende sua tese, fazendo referência a autores posteriores — tais como Warner, Berle, Kaysen, Rippert, Drucker, etc. — para relevar o transbordamento da ideologia administrativa para além da fábrica. Nesse novo registro, afirma haver “... uma grande contradição que dilacera a corporação moderna: o contraste entre sua natureza privada e seu alcance social” (2005: 223, grifo meu). Aqui, a ideologia administrativa sai da fábrica, para imputar à grande corporação uma “alma” e uma “função social” (2005: 18); constrói, assim, uma representação da propriedade privada que é sua própria negação. Para a análise aqui proposta, este ponto é fundamental: a ideologia segundo a qual a grande empresa capitalista é identificada a uma instituição radicada num “contrato social”, em que a corporação aparece dirigida para além do lucro, pautando-se por alguma coisa próxima do interesse geral, ou, nas palavras de Tragtenberg, “os interesses do povo e do Estado”, “o interesse público”. O que é específico da grande corporação é a separação entre poder de controle e estrutura proprietária, sob a forma jurídica da sociedade anônima. O trabalho da ideologia consiste, portanto, em ajustar o conceito de propriedade a essa nova realidade. O obstáculo a transpor é a ampliação e independência crescente do poder da gerência [managers], que repõem a contradição capital/trabalho no nível da relação entre acionistas-proprietários e controladoresgerentes. Assim, de acordo com Tragtenberg, encontramo-nos numa “nova forma de absolutismo”: “Tal é a separação entre propriedade e controle que é bem possível que os controladores funcionem contrariamente aos interesses da propriedade. Verifica-se o fenômeno inusitado de a propriedade privada ser negada pela corporação ... [por ser controlada de forma autônoma], porém, no plano interno, o grupo controlador manda” (2005: 11, grifo nosso). No plano formal, se a propriedade adquire a condição de uma função, ao desindividualizar-se e dissolver-se entre milhares de acionistas proprietários, seria possível pensar um tipo de sociedade em que os trabalhadores se tornassem seus próprios capitalistas. Mas, a grande corporação representa uma nova lógica de relação de forças na sociedade capitalista, em que a gerência ocupa posição hegemônica ante os acionistas (TRAGTENBERG, 2005: 15). Isto significa que o exercício do controle será pautado por uma racionalidade do tipo tecnoburocrática, alinhada aos interesses proprietários. No plano concreto, representa um ajuste via concertação interna: “a corporação aparece como o espaço onde acionistas, gerentes e diretores estabelecem uma solução de compromisso ... em que gerentes e diretores também possuem ações” (2005: 12). Assim, de uma negação do caráter privado resulta uma maior concentração da propriedade, combinada a uma crescente hegemonia do grupo controlador: a gerência. 2 Tragtenberg desenvolve, a partir dessas constatações, ampla análise das diversas experiências históricas de participação dos trabalhadores na grande empresa, almejando mapear a nova relação de forças na sociedade de corporações. Ao que tudo indica, nossa questão é anterior a tais preocupações: se Tragtenberg toma como ponto de partida o exercício da hegemonia por parte do estrato gerencial, a questão aqui discutida incide sobre o processo de condução desse grupo à posição hegemônica. Mais precisamente, pergunta-se em que medida o conceito de responsabilidade social relaciona-se ao processo de legitimação da gerência e consolidação de sua posição hegemônica? Parte da resposta já se encontra em Tragtenberg, afirma o autor que “[a] positividade do business norte-americano é o grande tema da ideologia patronal da década de 50” (2005: 14), em especial, a grande corporação aparece como redentora, signo de uma nova era do business norte-americano, entendida como novo fenômeno “... reflexo de valores e atitudes que se desenvolveram inusitadamente, permitindo o salto da fase dos barões assaltantes [robber barons] para a empresa com responsabilidade social” (WARNER apud TRAGTENBERG, 2005: 10). Pode-se antever que a responsabilidade social tem forte relação com a tese da ideologia administrativa das grandes corporações, posto que seu caráter propriamente ideológico está também nessa transmutação da propriedade privada em “função social”. Além disso, porque o controle da corporação é exercido pelo manager, a “função social” (seu funcionamento) será, necessariamente, por ele mediada: “quem dirige a grande corporação o faz procurando atingir, além do lucro, os interesses do povo e do Estado” (2005: 18). Em vista dessas indicações, parece justificável empreender uma pesquisa sobre a gênese do conceito de responsabilidade social, tendo como ponto de partida a suspeita de que a gerência pôde se tornar grupo hegemônico, na sociedade capitalista, a partir de um processo de legitimação em que a noção de responsabilidade social cumpre papel central. Para tanto, foi feita uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de encontrar textos que reflitam a ideologia dos anos 50, nem todos referidos por Tragtenberg. É o caso de um dos textos discutidos neste artigo: Social Responsibilities of the Businessmen, de Howard Bowen, publicado em 1953; livro referido como trabalho seminal, inteiramente dedicado ao tema, sendo reconhecido como obra fundadora da era moderna da responsabilidade social (CARROLL, 1999). O artigo se divide três partes. De início, discute-se o problema da legitimação social da grande empresa, e como é enfrentado por autores alinhados à ideologia do capitalismo gerencial. Em seguida, apresenta-se a obra de Howard R. Bowen enfatizando seu acento normativo, ancorado na doutrina social da igreja. Finalmente, esboça-se uma discussão da dimensão ideológica embutida no conceito de responsabilidade social. Da tensão ao equilíbrio entre Negócios e Sociedade: a tese da responsabilidade social Em 1886, a Suprema Corte norte-americana, julgando o caso Condado de Santa Clara vs. Southern Pacific Railroad, outorgou a uma corporação, pela primeira vez na história, o status jurídico-legal de “pessoa”. O debate doutrinário, em torno dessa decisão, acabou levando os tratados de direito a estabelecer uma concepção da grande empresa não como “criação do Estado”, mas como “’entidade natural’, ... as just another right-bearing person ... a fait accompli” (MARCHAND, 1998: 7). Assim, na aurora do capitalismo monopolista, a legitimidade das corporações, no plano jurídico-legal, tornou-se um fato, porém, no plano 3 social, estava longe de sê-lo. Do intenso movimento de fusões, que marcou a passagem do século nos EUA, resultou grande concentração de poder econômico, numa sucessão de distintas estruturas oligopolísticas: o pool, o trust e, finalmente, a holding company (McGUIRE: 1963: 40). Parece correto afirmar que, no período que vai da guerra civil ao New Deal, o poder econômico virtualmente dirigiu a nação americana. Em especial, na virada do século, as sessenta famílias mais ricas da América, “[c]omo numa sociedade feudal, ... detinham a potência econômica e constituíam um governo de fato” (BIRNBAUM, 1972). Vanderbilt, Rockefeller, J. P. Morgan e outros fizeram-se conhecer por robber barons, graças às suas práticas comerciais inescrupulosas. A concentração de poder, nunca antes vista, combinou-se a esta reputação dos empreendedores que primeiro formaram os conglomerados, maculando a imagem pública das grandes corporações. A legitimação da grande empresa frente ao público surge, então, como problema. Como relata Marchand (1998), o signo do descrédito público era uma opinião generalizada de que faltava “alma” às corporações, “a noção de soullessness refletia a legitimidade social incompleta da corporação gigante” (ibid.: 9), e sua refutação ecoava forte nos títulos dos folhetos de relações públicas — “United States Steel: a Corporate with a Soul”, “Corporations and Souls”, “The Heart of a ‘Soulless Corporation’”, etc. Faltava construir os nexos com as instituições tradicionais da sociedade, explica Marchand. Assim, o trabalho das “relações públicas”, de criar uma “alma corporativa”, representou intensa mobilização, em vista de encontrar um lugar no âmbito daquelas instituições. A efetiva impessoalidade da grande empresa confrontava o ícone do empreendedor individual, não havia pessoas por trás da corporação! Esta imagem de despersonalização foi combatida pela disseminação de uma imagem “humanizada” dos executivos chefes (ibid.: 10). Assim também, a imagem de “irresponsabilidade moral” combateu-se pela via da publicidade dos programas de benefícios aos empregados, associação do nome da empresa às cruzadas morais ou patrióticas, ou ainda, pelo esforço em apresentar as operações empresariais como “serviço público” (idem). O motto do “serviço público” [public service] parece ter predominado no intento de erigir a corporação ao status de instituição social. Os anos 20 caracterizaram-se pelo “despertar” do management para o cultivo das graças do público. Nas inúmeras falas de dirigentes corporativos, em evidente contraste ao robber baron, definia-se uma auto-imagem pelo apelo às virtudes do trusteeship e stewardship (HEALD, 1961; ACQUIER et al., 2005). A corporação era descrita como uma nova instituição justamente porque a separação entre controle e propriedade era explicada em termos de uma mudança institucional, ficando a figura do manager associada a de um trustee controlador da nova instituição. A ambigüidade dessa atividade nascente fica patente nas seguintes palavras de um dirigente da época: “... faz muita diferença em minha atitude no trabalho como executivo chefe da General Electric se eu sou um trustee de uma instituição ou o defensor de um investidor acionista. Se sou um trustee da instituição, quem são os beneficiários dessa confiança? A quem eu devo minhas obrigações?” (Owen D. Young apud HEALD, 1961: 131). Há evidências de que preocupações normativas foram centrais na busca de legitimação social por parte do estrato gerencial [management]. Como contrapartida da crescente independência frente aos proprietários, se efetiva uma fala a respeito da diversidade de interesses — empregados, consumidores, acionistas e comunidade — que, ao mesmo tempo, marca o afastamento dos acionistas da esfera das decisões e políticas da corporação: 4 “O american way é pagar bem o acionista, tratá-lo gentil e honestamente, mas mantê-lo em seu lugar, assim ele não tem o desejo e a oportunidade de interferir nas operações e políticas [da companhia]” (Arthur Pound apud HEALD, 1961: 130) Caracteriza-se, assim, os contornos do campo de ação do management, dando ensejo à definição da gerência em termos de uma profissão, com uma noção correlata de responsabilidade profissional. O cultivo do manager ganha vulto, cria-se uma imagem do gerente “esclarecido” [enlightened]. A extensão do ensino para além de uma perspectiva restrita à economia aplicada, incluindo Psicologia, Sociologia, Filosofia, e outras ciências é, exalta McGuire (1963), o sinal de uma “nova ciência dos negócios”. Já nos anos 20, Heald (1961) sinaliza a existência de vários cursos visando a formação generalista do manager, numa nova abordagem das Business Schools. As associações e câmaras de comércio tornamse os arautos do novo credo profissional, a idéia da auto-regulação dos negócios era francamente defendida e a promulgação de códigos de ética tornou-se prática comum: “Em 1925, o presidente da Câmara de Comércio dos EUA reportou com orgulho que a declaração de ‘Princípios de Conduta nos Negócios’ foi subscrita por mais de setecentos e cinqüenta organizações representando mais de trezentos mil businessmen. ‘Não houve ... jamais tamanho reconhecimento da obrigação para com o público ... nesse país’” (HEALD, 1961: 133). Se “as corporações representam uma das maiores concentrações de poder econômico que se tem notícia na história da humanidade” (TRAGTENBERG, 2005: 21), os gerentes logram eclipsar este poder ao postarem-se como defensores do público e auto-intitularem-se trustees da nova instituição. O enlightened manager será o emblema da moralidade no exercício do poder, de maneira que, aquelas preocupações com o balanço dos diversos interesses torna-se não uma abertura para o controle externo e social dos negócios, mas um afirmação categórica do poder absoluto do estrato gerencial. Baran e Sweezy (1967) chamam a atenção para a identificação total entre gerentes e corporação. Para ou autores, a empresa típica do capitalismo monopolista é como um tipoideal em que (1) o controle está nas mãos de gestores profissionais; (2) este grupo de gestores profissionais tende a se “autoperpetuar”; (3) há elevado grau de liberdade de ação desses profissionais. Aqui as restrições típicas dos mercados competitivos dão lugar a um modus operandi de independência financeira e controle profissional específico. Fazem-se alianças, agrupamentos e acordos, mas todos os arranjos são decididos internamente, pela alta gerência, sem interferências ou imposições de fontes externas de controle. O gerente é um insider, sua lealdade é para com a organização à qual pertence e através da qual se expressa: “... o bem da companhia torna-se tanto um fim econômico quanto ético" (1967: 30). O modus operandi da empresa monopolista permite desvelar duas operações no seio ideologia do enlightened manager. De um lado, a potência econômica aparece negada por sua própria causa eficiente, dito de outro modo, o exercício do poder parece tomar o lugar do poder para negá-lo enquanto tal. De outro lado, a dimensão propriamente política do poder é negada, entrando em seu lugar a “ilustração” gerencial, a dimensão moral desliga-se da dimensão política para neutralizar o exercício efetivo do poder. Esses dois movimentos ficam evidentes nas obras dos apologistas do capitalismo gerencial. Carl Kaysen (1957) define a “corporação com alma”, enfatizando a racionalidade presente na gestão da “corporação moderna”, onde intuition gives way to computation, psicologia, 5 sociologia, economia, estatística, invadem o que antes era um mundo de decisões puramente gerenciais e contábeis. Segundo o autor, os gerentes assumem um amplo escopo de responsabilidade, não se comportam como simples agentes da propriedade perseguindo a maximização do retorno sobre investimento, mas vêem a si mesmos como responsáveis pelos acionistas, empregados, clientes, e pelo público em geral, entendem a empresa como uma instituição, zelando pela sua integridade. De acordo com Kaysen “... este comportamento pode ser designado ‘responsável’: não há sinais de avidez, cobiça ou avareza; não se tenta pressionar os empregados e a comunidade ... A corporação moderna é uma corporação com alma [soulful corporation]” (ibid.: 314). Na “corporação com alma”, o poder de mercado é utilizado para assegurar a permanência da instituição, pela intensa criação de tecnologias e ocupação dos mercados. Assim, a corporação pode “repassar os benefícios” aos seus membros, em todos os níveis da hierarquia institucional, bem como ao público em geral, “principalmente pela redução de custos gerada, tornando os produtos mais abundantes, mas também de outras formas” (ibid.: 314). Esse cuidado com o público ofusca o caráter privado da gestão na grande empresa. Como afirma Earl Cheit, os autores do “capitalismo gerencial” apontam que a posição dos gerentes se aproxima daquela dos administradores públicos, dirigindo-se cada vez mais à reconciliação e mediação de interesses conflitantes que recaem sobre a corporação e seus resultados (1964: 182). A obra emblemática dessa operação foi The Twentieth Century Capitalist Revolution, onde Adolf Berle analisa a “revolução” que se segue à instituição jurídica e econômica das sociedades anônimas, e constrói uma noção de “consciência corporativa”, aderida aos dirigentes das grandes corporações, que lhes propicia uma antevisão dos conflitos sociais e suas soluções. Berle entende que o significado da desvinculação entre propriedade e controle se explica pelos atributos teóricos da propriedade. De um lado, a propriedade pode ser um meio, uma mediação da criação, produção e desenvolvimento; de outro lado, ela oferece a possibilidade de receber, fruir e consumir. A sociedade anônima separa os dois tipos de atributos da propriedade, para possibilitar o crescimento das organizações separando a criação e produção, de uma fruição modificada da propriedade, sob a forma monetária do direito a uma proporção dos lucros. O acionista é um beneficiário inativo, que dispõe de seus dividendos a bel-prazer, mas “deverá aplicar noutro lugar suas vocações de produtor e criador. ... No interior da companhia, a direção tem o poder e a possibilidade de empregar, produzir e criar, no limite dos fundos de que dispõe” (1957: 20). A civilização moderna e o progresso técnico exigem companhias de grande porte, e, para se obter o modo de vida que a comunidade norte americana deseja, a cisão entre propriedade e controle é indispensável. Daí o grande poder dos gestores das sociedades anônimas. Como explica Berle, ao concentrarem-se as funções produtivas e criativas nas mãos de um pequeno número, “produz-se este fenômeno que chamamos Poder ... uma capacidade de determinar, por constrangimento, a ação dos outros” (1957: 21). Ora, o poder quase ilimitado das grandes organizações deve-se ao enfraquecimento dos contrapesos tradicionalmente associados aos mecanismos de mercado. As grandes empresas parecem não estar submetidas ao que Berle nomeia "veredicto do mercado", razão pela qual, diz o autor, o governo acaba ativando, sistematicamente, uma regulação política, através de 6 mecanismos legais antitruste, visando promover um equilíbrio planejado dos mercados. A concentração, entretanto, permanece, pois vigora um tipo de concorrência oligopolista, que faz crescer o poder (1957: 37). Berle apresenta, então, o problema do poder compensador como uma questão central a ser respondida pela democracia norte americana, buscando referências em Kenneth Boulding: “J. K. Boulding descreve o sistema americano como o resultado de uma revolução ‘organizada’; ele reconhece que uma intervenção considerável do Estado é politicamente inevitável, mas deseja que considerações éticas contenham as instituições que se opõem umas às outras, para que elas consigam equilibrar a complexidade dos efeitos [derivados desta oposição]” (BERLE, 1957: 38). Na tese de Boulding, duas forças estão surgindo para conter o potencial de “tirania” implícito no poder das corporações: a força da opinião pública de pressionar o governo, incitando maior regulação e intervenção estatal nos negócios; e a natureza mesma do oligopólio, que, mantém um nível mínimo de competição entre produtores. Mas, Berle acrescenta uma terceira força, para montar seu quadro de análise: o poder político do Estado, que é a base das duas outras forças. Assim, a ameaça do estatismo, presente do “outro lado do mundo”, estará afastada se e somente se as empresas não cessarem de “satisfazer as normas da comunidade”, pois “a existência de um público satisfeito é a garantia real de uma organização industrial não estatista nos EUA” (1957: 43). Desse raciocínio, Berle deriva o caráter político não estatal das grandes empresas, elevando os dirigentes privados ao estatuto de homens públicos; e uma vez que as exigências da opinião pública norte-americana são sempre de ordem pragmática e limitam-se às “coisas possíveis”, a função pública dos dirigentes resumir-se-ia unicamente em dizer a verdade sobre o que podem ou não fazer: “Este parece ser o único imperativo que se impõe aos dirigentes; eles devem dizer a verdade e se comportarem de maneira a preservar a confiança de seus clientes, de seus empregados, de seus fornecedores, e da parte do público com a qual mantêm relações. [...] A sociedade anônima de nossos dias é uma instituição política não estatal, e seus diretores estão no mesmo barco dos funcionários do Estado. Se os dirigentes fundassem a conservação de sua posição sobre o poder e não sobre a razão, isto terminaria num desastre” (1957: 43, grifo meu). Ora, é preciso definir com precisão o que é uma instituição política, para tanto Berle desenvolve uma teoria do poder fundada na “consciência do rei”!? Explica: no mundo ocidental, se o soberano pôde exercer um poder absoluto, tal fato se deve ao fenômeno recorrente de que por trás desse poder encontrava-se “uma concepção do bem, da moralidade, e da justiça”. Um dos exemplos de operação da consciência do rei, são os procedimentos de um certo duque, chamado Rollon le Normand, que: “... tinha um sentido de Estado, porque sabia que o poder e a justiça andam lado a lado. O duque visitava pessoalmente as vilas normandas, decretando que todo aquele que tivesse sofrido uma injustiça causada por vizinhos, oficiais feudais ou pelo próprio duque, gritasse: ‘Ah! Rollo’. Assim, parava e escutava o reclamante, julgando-o segundo a lei de Deus e segundo sua consciência” (1957: 47). Assim, o poder das corporações se define por analogia, seu “véu de santidade” é a pressuposição de uma lei que faça os dirigentes agirem pelo melhor interesse da sociedade. Pois, argumenta Berle, uma decisão corporativa é fruto de um poder absoluto, porque só pode 7 ser julgada a posteriori, apenas depois de ter sido tomada, e em função de suas conseqüências; portanto, uma tal decisão não poderia ser dirigida de fora, por uma lei exterior, pois, se cada decisão tomada pela direção de uma empresa fosse revista em todos os seus aspectos, explica Berle, o julgamento comercial daquele que decide estaria sendo substituído pelo julgamento dos que o controlam, não haveria, de fato, decisão. O poder de decidir implica um espaço de soberania, por isso, na empresa, não há como substituir a “consciência” de quem decide: “[se] há uma coisa indiscutível, é que o exercício do poder, no domínio onde ele se exerce, é assunto de uma só pessoa. No interior do campo, o verdadeiro juiz é a consciência do homem ou dos homens que agem” (1957: 48). Por fim, o argumento alcança a evidência de que o poder da grande empresa pressupõe algo similar à “consciência do rei”!? Nesse caso, porém, erigida institucionalmente numa “consciência corporativa”: as corporações estão cada vez mais preocupadas com a opinião pública e suas demandas, por isso tendem a ser dirigidas por um tipo semelhante de consciência. Na equação de Berle, o poder compensador acaba por ser internalizado na empresa, a autonomia de decisão é garantida por uma consciência autodirigida. Há uma onisciência implicada em tudo isso: uma vez que a consciência institucional da gerência se determina pela garantia de um público satisfeito, deve ser capaz de abarcar a opinião pública em sua totalidade. As questões sociais tornam-se, assim, internalizadas pelo poder institucional incorporado no homem de negócios, posto que não podem excedê-lo em sua soberania. Dito pelo avesso, se como afirma Berle, o único imperativo que se impõe aos dirigentes é que falem a verdade, esse imperativo se reverte imediatamente, tornando-os portadores da verdade. A obra seminal de Howard R. Bowen: ‘Social Responsibilities of the Businessman’ (1953) Responsabilidades Sociais do Homem de Negócios não faz uma apologia ao “homem de negócios”, seu autor, Howard R. Bowen era um economista keynesiano, que ensinou Responsabilidade Social na Universidade de Illinois, e acabou demitido, por questões políticas, devido ao macarthismo (ACQUIER et al., 2005: 7). Talvez por isso, o autor guarde, explicitamente, suas distâncias quanto ao entusiasmo com a classe gerencial e suas responsabilidades sociais. O livro tem acento crítico reformador, evidência que se oferece logo na Introdução, onde se lê num rol de definições e suposições, o seguinte: “Este livro se refere principalmente às responsabilidades sociais das grandes empresas dos EUA ... pela expressão ‘homem de negócios’ designamos os administradores e diretores dessas grandes empresas ... [Nosso] exame diz respeito exclusivamente ao sistema econômico capitalista, tal como existe presentemente nos Estados, no qual predominam grandes áreas de iniciativa e empreendimento privado. Supõe-se que o povo americano deseja e tenciona conservar este tipo de sistema econômico ... concerne, por conseguinte, ao papel que cabe aos homens de negócio para incrementar o sucesso do funcionamento do sistema” (1957: 15). A responsabilidade social é definida como doutrina que implica a aceitação voluntária, por parte dos homens de negócios, em adotar orientações compatíveis com os fins e valores da sociedade, ainda que se admita que possam criticá-los e melhorá-los. Por isso, a doutrina não deve ser vista como “maravilha curativa”, e tampouco como “panacéia” (1957: 16). O trabalho empreendido deve ser, de acordo com Bowen, definir o que se pode licitamente esperar do voluntarismo gerencial, visando tornar a responsabilidade social uma realidade no 8 mundo dos negócios. Talvez, tanta cautela se explique pelo fato do livro ser resultado de uma encomenda. O empreendimento de Bowen faz parte de um conjunto de estudos patrocinado pelo Conselho Nacional das Igrejas Cristãs nos EUA, projeto iniciado em 1949, e coordenado por seu Departamento de Vida Religiosa e Econômica, resultando na publicação de seis volumes sobre as relações entre a religião e a economia. Um relatório de Childs e Cater (1957), revela que dois desses estudos foram dedicados especialmente ao problema das organizações e sua administração: Organizational Revolution de Kenneth Boulding, além do livro de Howard R. Bowen. O relatório expõe as diretrizes gerais do projeto, apresentando um capítulo sobre o “dilema do homem de negócios”, que enfatiza a dificuldade em reconciliar o imperativo impessoal do lucro e o imperativo pessoal da ética cristã (1957: 77). Isto de explica porque a grande expansão da industrialização, fez surgir uma “teoria neo-calvinista”, representada pela ascensão do darwinismo social de Herbert Spencer, a defesa de um tipo de laissez-faire amoral, que pouco tinha das idéias originais de Adam Smith, além do crescente poder do homem de negócios, graças ao novo “evangelho da produção” em que as políticas de crescimento tomam o lugar do lucro máximo. O resultado foi uma perda da “razão de ser” para o businessman, acarretando a decadência de sua imagem social: o crescimento das empresas resultou aumento proporcional dos problemas morais, os empreendimentos gigantes não mais desempenhavam seu papel competitivo tradicional nos mercados, e com a remoção das restrições comerciais o poder econômico desses homens lhes permitia “fazer as cousas como lhes aprouvesse” (1957: 83). Diz, ainda, o relatório que “os trabalhos pioneiros de Elton Mayo” abriram caminho para a humanização dos negócios, incitando a sensibilidade social dos dirigentes, com reflexos positivos no seu prestígio. Este avanço em direção à maior responsabilidade social corresponde, de acordo com o relatório, às conclusões do livro de Howard Bowen. Charles P. Taft, então presidente do Departamento de Vida Religiosa e Econômica, redige o “Proêmio” de Responsabilidades Sociais do Homem de Negócios revelando as preocupações religiosas, econômicas, e também políticas do projeto (leia-se o comunismo). De acordo com Taft, “um ceticismo fanático ou uma filosofia oposta às próprias bases da Sociedade Ocidental” que toma parte do mundo é a razão da “verdadeira crise” da segunda metade do século XX; é preciso “enfrentar esse desafio do mal, na medida em que é mal, e esclarecer, em relação às nossas próprias instituições, as afirmações éticas fundamentais que sustentamos” (1957: 4, grifo meu). O livro de Bowen, explica Taft, se insere num projeto que reúne esforços de teólogos e cientistas sociais para uma “investigação cuidadosa e realista da vida econômica e de suas relações com os valores espirituais e morais” (1957: 5). Explica-se, portanto, porque a doutrina social cristã oriente, em grande medida, as preocupações de Bowen. Há um capítulo dedicado às “opiniões protestantes sobre as responsabilidades sociais dos homens de negócios”, e outro dedicado às idéias econômicas católicas. Assim, o autor faz concessões aos seus patrocinadores, tempera um certo liberalismo econômico com doutrinas cristãs, o que lhe imputa um caráter reformador. Não seria equivocado afirmar que mesmo a dimensão crítica do trabalho de Bowen deve muito ao pensamento cristão protestante. Suas propostas ancoram-se num confronto de perspectivas tendo, de um lado, a visão dos homens de negócio, e, de outro, os pensadores sociais protestantes (ACQUIER et al., 2005). A partir de um quadro geral de proposições 9 chamado “metas econômicas” — alto padrão de vida, progresso econômico, estabilidade econômica, segurança pessoal, ordem, justiça, liberdade, desenvolvimento da personalidade individual e melhoramento da comunidade — Bowen identifica, nas transformações recentes do capitalismo norte-americano, uma série de restrições ao equilíbrio das dimensões econômica e social, ocasionados pelo advento da grande empresa. A análise enfatiza que tais mudanças resultaram numa tensão entre os interesses privados e públicos, provocando uma desconexão dessas dimensões no tocante às decisões dos homens de negócio: “Quando se pede ao homem de empresa para tomar em consideração, no estudo de suas decisões, os latos efeitos sociais e econômicos, que é que fica subentendido? De um modo geral, espera-se que aprecie suas ações futuras segundo o seu ponto de vista pessoal e de sua firma (dos acionistas), e, ao mesmo tempo, sob o ponto de vista da Sociedade. Quando se harmonizem os interesses privados e sociais, como sucederá repetidamente em uma sociedade organizada, não há problema. Mas quando não são idênticos esses interesses, apresenta-se um conflito ético, e o problema consiste em alcançar um equilíbrio razoável entre o interesse privado e público” (BOWEN, 1957: 41) QUADRO 1 – opiniões protestantes sobre as responsabilidades sociais O Sistema Econômico Entendido como desligado da vontade divina, produto histórico e resultado da livre escolha do homem. A forma das instituições importa muito, porque é imprescindível que sejam adequadas às práticas do cristianismo, os indivíduos cristãos têm, portanto, o dever de aproximá-las, daí que a validade de sua inserção em movimentos sociais. Os pensadores cristãos “cônscios das tendências pecaminosas da humanidade”, desconfiam das idéias utopias, e enfatizam que a perfeição humana não depende de mudanças institucionais. A Propriedade Privada Não é um direito divino e absoluto e só pode ser justificada quando atende ao bem estar da comunidade. Os administradores devem evitar os fins egoístas e orientar-se pelas necessidades sociais. “Sob o ponto de vista moral, não deve haver nada como a posse irrestrita e irresponsável: o dono é um depositário, responsável perante Deus e a sociedade” (1957: 46). A postura é pragmática e não defende forma específica de propriedade, entende que se trata de um direito condicional, pode estar sujeita ao controle público ou cooperativo, “e sempre confere aos donos uma responsabilidade por sua administração com mira no interesse social” (idem). O Poder É visto com suspeição, em qualquer uma de suas diversas formas. O controle da grande empresa é reconhecido como fonte de concentração de poder na mão de poucos homens, assim como as organizações sindicais. Preconizam o exercício responsável do poder, em prol dos interesses sociais, mas desconfiam das alegações benevolentes a respeito do seu exercício. Um dos dilemas irresolvidos pelos pensadores protestantes é a consecução do “equilíbrio razoável e relações harmoniosas entre os vários centros de poder organizado de nossa sociedade. Os princípios morais, criados originalmente para serem aplicados às relações entre os seres humanos tomados individualmente, não se aplicam às relações entre grupos humanos” (ibid.: 48). Os Motivos e Valores No sistema capitalista, são capitaneados pela aquisição material, que assume precedência sobre o espiritual, perdendo a aura divina que lhe atribuía a idéia calvinista de prosperidade material. Os lucros devem ser vistos como aceitáveis desde que seu volume a aplicação leve em conta a necessidade da Sociedade, harmonizando-se à preocupação com o bem-estar geral. A Vocação Tem sido duramente enfraquecida, “as condições de emprego no regime capitalista são de molde a anular o sentimento de vocação cristã do operário” (ibid.: 49). Questiona o tratamento desumano dos trabalhadores, defendendo o retorno da vocação, o tratamento digno pelo empregador, e o salário com base nas necessidades domésticas médias. 10 A Co-participação e Neo-Paternalismo. É uma idéia “subentendida” nas doutrinas protestantes. Defende a participação nas decisões comerciais de todos aqueles que sejam por elas afetados. Contesta o ponto de vista neo-paternalista dos homens de empresa, que sob a alegação de uma mediação de interesses por eles operada, mantém a exclusividade sobre as decisões. A crítica ao neo-paternalismo é tripla: (1) as boas intenções não são capazes de tornar os homens imparciais frente a seus interesses; (2) por esta razão, a co-participação levaria a decisões mais equilibradas e harmoniosas; (3) “a coparticipação é o único modo de obter responsabilidade, harmonia social e solidariedade social” (ibid.: 56). Discutir as responsabilidades sociais do homem de negócios de uma tal perspectiva implica, é verdade, tratar o problema em termos do alcance social das decisões privadas. Há, entretanto, uma suposição de que o desequilíbrio econômico-social radica num tipo de conflito de ordem ética. Aqui se faz presente, com toda sua força, a modalidade de reforma preconizada por Bowen. A visita às “opiniões protestantes sobre as responsabilidades sociais dos homens de negócios” (1957: Capítulo 5) lhe permitirá esquadrinhar o quadro social desejável de uma “sociedade organizada”, para encontrar o reequilíbrio em vista das “metas econômicas” ambicionadas. A apresentação se divide em tópicos, conforme o Quadro 1. O caminho para o bem-estar econômico, de acordo com a análise de Bowen, está em um sistema misto, numa combinação adequada de empreendimentos privados, públicos e cooperativos, que contemple interesses sociais e individuais, com ênfase sobre os primeiros. O controle deve ser exercido tanto pela competição de mercado, quanto pela auto-regulação e regulamentação pública, e a renda distribuída não apenas em função das alocações de produção, mas também das necessidades das pessoas. Não há, entretanto, qualquer indicação prática sobre o funcionamento de tal sistema, nem orientação para aplicá-lo, explica o autor, “[n]ão obstante, aqui está, em linhas gerais, uma proposta séria para o ordenamento de nossa vida econômica, uma proposta que se esteia na força da liderança intelectual protestante” (1957: 52). Oferece-se ao homem de negócios uma série de orientações genéricas, de forte acento deontológico, com base no pensamento protestante. São orientações de caráter amplo, que pareceriam uma canção conhecida aos ouvidos de um executivo de hoje. Eis alguns exemplos: mover-se pela intenção de servir à sociedade antes que pela de aumentar os lucros como única finalidade de sua empresa; administrar todos os recursos naturais salvaguardando os interesses das gerações atuais e futuras; avaliar a eficiência levando em consideração os fatores humanos e os custos não pecuniários; abster-se de discriminação das pessoas por motivos de raça, religião, opiniões políticas, nacionalidade, status social, aparência física ou sexo; cooperar ativamente para a diminuição dessa discriminação; dar oportunidade igual a todas as pessoas para um desenvolvimento pessoal compatível com suas potencialidades; assegurar condições de trabalho saudáveis, seguras e higiênicas, com um número comedido de horas e providências adequadas para atender às necessidades físicas e culturais dos trabalhadores, etc. Embora o trajeto em direção ao bem-estar econômico lhe pareça indicar um sistema misto, há na sociedade norte-americana uma clara rejeição pelo controle estatal, e uma preferência pelo empreendimento privado: “Os norte-americanos ... querem conservar a liberdade, a descentralização das decisões, a flexibilidade, os incentivos, a iniciativa e as oportunidades proporcionadas por este sistema [privado]. E querem reduzir a regulamentação do comércio pelo governo ao mínimo possível ... Eles pretendem criar formas de controle social que permitam ao comércio permanecer essencialmente livre e, no entanto, atendendo aos interesses mais gerais da Sociedade” (1957: 11 181). Daí que a plena realização da doutrina da responsabilidade social pareça espelhar essas aspirações sociais. A inclinação da sociedade em direção à auto-regulação das atividades econômicas justifica um conjunto de propostas que manifesta a vocação keynesiana do autor, numa “arquitetura econômica” (ACQUIER, 2005) misturando competição de mercado, controle estatal e adoção voluntária da responsabilidade social pelos homens de negócio. O desafio é “conseguir persuadir o comércio a conformar-se com as necessidades sociais que forem surgindo” (BOWEN, 1957: 181), para tornar desnecessária a regulamentação estatal. Essas propostas são apresentadas no Quadro 2. QUADRO 2 – propostas: modificações na organização e nas práticas do comércio Composição das diretorias . Incluir um ou mais diretores que representem o ponto de vista dos trabalhadores, da comunidade local ou do ”público em geral”; . Outros grupos além dos acionistas devem ter o direito de escolher um ou mais diretores; . Eleição de um diretor que haja como curador das partes interessadas além dos acionistas; Representação do ponto de vista social na administração . Representação dos vários interesses nos quadros da própria administração; . Há várias possibilidade: funcionários nomeados, representantes comunitários, etc.; . Maturação da função de “relações públicas” para uma curadoria do interesse público; . “Talvez, algum dia, possa ser criado o cargo de ‘administrador do departamento de responsabilidade social’” (sic) (1957: 185); ‘Exame de Contas’ Social . Auditorias sociais feitas por empresas independentes, com sigilo, para garantir a facticidade do relatório; . Criação de organizações cooperativas independentes que promovessem exames periódicos de auditoria social, financiadas grupos de empresas comerciais, Educação Econômica e Social dos Administradores . Os homens de negócio apregoam a educação do povo nos “fundamentos” econômicos, mas “quiça não estejam conscientes de que eles próprios também carecem de educação” (sic) (ibid.: 187); . É preciso dar subsídios para que os homens de negócio possam tornar-se “Filósofos de Empresas”: ler, discutir e refletir devem ser atividades encorajadas na educação dos executivos; Participação dos Administradores Privados na Administração Pública . Promover maior interação entre administradores públicos e privados; . O governo deve incentivar o trabalho dos administradores privados em comissões consultivas; Publicidade . As grandes empresas devem divulgar mais informações sobre suas atividades, “afastar o clima de mistério, segredo e rigidez que rodeou tradicionalmente os assuntos comerciais” (ibid.: 190); . Apresentar de forma inteligível e clara para o público o funcionamento da empresa; . Elevar a informação pública a respeito dos negócios privados; Códigos de Comércio . Formulação de normas e códigos de ética comercial, tanto por associações, como por empresas; Pesquisas Científicas . As empresas devem apoiar generosamente as pesquisas destinadas a auxiliar na definição para sua boa atuação social ; O traço que marca a obra de Bowen é uma solução para o problema do desequilíbrio entre o econômico e social que apresenta a responsabilidade social como caminho de reconciliação entre sociedade e corporação. A adequação de tal solução é evidente a ponto de se inscrever 12 no próprio imaginário social norte-americano, refletindo o desejo da sociedade de “conservar a liberdade, a descentralização das decisões, a flexibilidade, os incentivos, a iniciativa e as oportunidades etc.” (1957: 181). A liberdade dos negócios é absolutamente coincidente com a sociedade, não há, portanto, qualquer oposição de fato, o conflito é contingencial. Mas não apenas isso, o conflito é também moral, daí que a solução possa se dar pela purificação da vontade da gerência. Este caminho não é fácil, mas é possível. Trata-se, sem dúvida, de uma proposta conservadora, posto que representa um esforço teórico de acomodação da mudança social aos limites de adaptabilidade do sistema vigente (HEILBRONER, 1964). Por outro lado, anula o conflito social fazendo a grande corporação aparecer como instituição total, capaz de absorver a sociedade e harmonizá-la ao econômico. Como bom defensor da doutrina da responsabilidade social, localiza a causa eficiente dessa operação na ação da gerência. Conclusão: responsabilidade social “e” ideologia Depois dessa viagem pelo mundo da responsabilidade social, é possível rascunhar uma análise da ideologia embutida nas idéias dos diversos autores. O ponto de partida será a denúncia de Tragtenberg de uma operação ideológica na atribuição à propriedade privada de uma “função social”. Na tradição funcionalista, “função” se define por aquilo que dá unidade à sociedade, e responde pela manutenção da continuidade da estrutura social (MERTON, 1970). A função é aquilo que integra os indivíduos, manifesta-se na ação de cada um. Por outro lado, é uma construção do observador e não dos agentes. Dito de outro modo, não é a consciência dos indivíduos ou sua intenção que define a “função”, mas a contribuição que suas ações aportam à “manutenção da continuidade estrutural” (ibid.: 88). A integração da totalidade social numa rede de relações é o pressuposto da noção de “função”, mas sua efetiva realização é, de um ponto de vista analítico, independente das intenções dos agentes. Desse ponto de vista, podemos tomar como fundamento das relações que “funcionalizam” a responsabilidade social o pressuposto da conexão entre Negócios e Sociedade. Será, portanto, este pressuposto de continuidade aquilo que dá sentido próprio à ação gerencial responsável. Entretanto, todo o percurso se inicia pela afirmação de que alguma descontinuidade, de fato, acontece, caso contrário não haveria razão para um esforço teórico na construção de uma ponte — o conceito de responsabilidade social — entre pólos já ligados. A estratégia teórica, em todos os autores que visitamos, parece residir numa transformação do virtual antagonismo entre Negócios e Sociedade em uma relação do tipo polar, só assim á possível construir sua conexão. Esta estratégia de redução do antagonismo à polaridade é, de acordo com Zizek (1996), uma das operações ideológicas mais elementares. A operação pode ser descrita em etapas: (1) identificação de um antagonismo; (2) admissão de um campo neutro compartilhado pelos extremos antagônicos; (3) criação de um terceiro ambiente neutro, no qual os dois pólos coexistam (ibid.: 28). Assim, Zizek define o “e” idealista-ideológico, “que funciona precisamente como esse termo terceiro, como o meio comum da polaridade de elementos” (ibid.: 29, grifo meu). Ora, é precisamente este tipo de conectivo que se interpõe entre ‘Negócios “e” Sociedade’ 13 para constituir o espaço intermediário, dando à responsabilidade social uma “função” operadora desse espaço. A operação ideológica desvela-se porque desde o início, o antagonismo era falso, o problema do conflito entre a corporação e o público estava resolvido, a continuidade entre os pólos estava admitida. Toda a argumentação é tautológica, pois apenas reafirma as premissas que estabelecem a harmonia entre o econômico e o social. Eis porque é possível conceber a sociedade e a corporação como uma unidade que se realiza na decisão gerencial. A “função social” adere à ação do manager para confirmar a extensão entre os pólos. A tão almejada legitimidade social da corporação parece estar dada de antemão, não apenas porque há uma diferença essencial entre o empreendedor individual e a corporação, que transforma o domínio da propriedade privada num espaço de concertação social mediado pela razão gerencial, mas, sobretudo, porque a “função social” é, desde sempre, o que garante o status de instituição social das corporações. Eis que a legitimidade está dada por definição. O que marca o debate sobre a responsabilidade social, está contemplado numa observação de Heilbroner sobre a ideologia dos negócios [business ideology] nos anos 50: “O conflito característico do clima ideológico contemporâneo é que os grupos ‘dissidentes’, trabalhadores, governo e acadêmicos, todos buscam acomodar suas proposições de mudança social aos limites de adaptabilidade da ordem econômica existente [prevailing business order]” (1962: 2). Vem daí a acusação de Tragtenberg, para este autor a propriedade privada é o virtual impedimento da conexão entre negócios “e” sociedade. Não há função social possível para propriedade privada, porque ela funda uma sociedade dividida em classes. Não há acomodação possível numa tal sociedade, pois como enuncia Zizek, “a luta de classes não é nada mais do que o nome do limite imprescrutável, que é impossível objetivar, situado dentro da totalidade social, já que ela mesma é o limite que nos impede de conceber a sociedade como uma totalidade fechada” (1996: 27). Aqui os antagonismos são irreconciliáveis. Referências Bibliográficas ACQUIER, Aurélien; GOND, Jean-Pascal. Aux sources de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise. (Re)Lecture et analyse d’un ouvrage fondateur: Social Responsibilities of the Businessman d’Howard Bowen (1953). AIMS-2005 XIVème Conference Internationale de Management Stratégique, Angers-Nantes, 6-9 juin 2005. Disponível em <http://www.strategie-aims.com/angers05/index.htm> Acesso em 24/fev/06. BARAN Paul; SWEEZY, Paul M. Monopoly Capital. New York: Monthly Review Press, 1967. BERLE, Adolf A. Le Capital Americain et la conscience du roi: le neocapialisme aux EtatsUnis. Paris: Armand Colin, 1957. BIRNBAUM, Pierre. Le estructura del poder en los Estados Unidos. Buenos Aires: Editora Universitária de B. Aires, 1972. BOWEN, Howard R. Responsabilidades sociais do homem de negócios. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1957 [1953]. CARROLL, Archie B. Corporate social responsibility. Business and Society, 38 (3), sep. 1999, pp. 33-42. CHEIT, Earl F. The New Place of Business: Why Managers Cultivate Social Responsibilities. 14 In: CHEIT, Earl F. (ed.). The Business Establishment. New York: John Wiley, 1964. CHILDS, Marquis W.; CATER, Douglas. A ética numa sociedade mercantil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1957. HEALD, Morrel. Business thought in the twenties: social responsibility. American Quarterly, vol. 13 (2), summer 1961, pp. 126-139. HEILBRONER, Robert L. The View from the top. In: CHEIT, Earl F. (ed.). The Business Establishment. New York: John Wiley, 1964. KAYSEN, Carl. The Social Significance of the Modern Corporation. American Economic Review, vol. XLVII, n. 2, may 1957, pp. 311-319 MANNHEIM, Karl. Por uma Nova Filosofia Social, In: Diagnóstico de Nosso Tempo. Rio de Janeiro: Zahar, 1973. McGUIRE, Joseph W. Business and Society. New York: MacGraw-Hill, 1963. MERTON, Robert K. Sociologia: Teoria e Estrutura. São Paulo: Mestre Jou, 1970. PAES DE PAULA, Ana Paula. Tragtenberg revisitado: as inexoráveis harmonias administrativas. Anais do XXIV EnANPAD, 2000. SILVA, Felipe L. Gomes e. Uma breve reflexão sobre as harmonias administrativas: de Frederick W. Taylor a Taiichi Ohno. In: SILVA, Doria Accioly e; MARRACH, Sonia A. (org.). Maurício Tragtenberg: uma vida para as Ciências Humanas. São Paulo: UNESP, 2001. SWEEZY, Paul M. “The ilusion of the Managerial Revolution”. Capítulo 3, In: The Present as History, New York: Monthly Review Press, 1962 (1ª edição, 1953). TAFT, Charles P. “Proêmio”. In: BOWEN, Howard R. Responsabilidades sociais do homem de negócios. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1957 [1953]. TRAGTENBERG, Maurício. A teoria da geral da administração é uma ideologia? In: RAE Revista de Administração de Empresas FGV, Rio de Janeiro, 11(4), p. 7-21, out./dez. 1971. ______________ . Burocracia e ideologia. São Paulo: Ática, 1992. ______________ . Administração, poder e ideologia. São Paulo: UNESP, 2005. WRIGHT MILLS, C. A Nova Classe Média. Rio de Janeiro: Zahar, 1979 (1ª edição 1951) ZIZEK, Slavoj. Um mapa da ideologia. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996. 15
Download