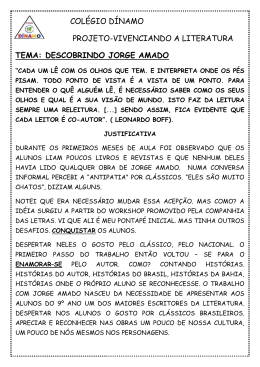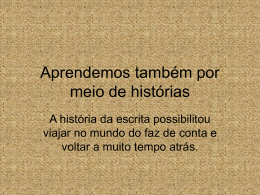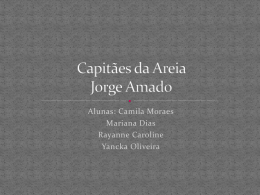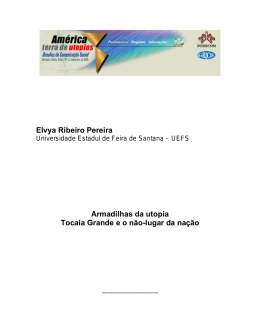Artigo Jorge Amado na tocaia da grande história Marcos Botelho Definitivamente, não estamos imersos numa história de ausência de História. Felix Guattari1 . Nunca existirá um mundo homogêneo, deve-se respeitar o direito à diferença, e os excluídos reclamam: ou nos levam em conta, ou terão de nos levar em conta como ruído na aparente harmonia da nova ordem internacional. Sub-Comandante Marcos, líder da Guerrilha Zapatista. O diálogo entre Literatura e História vem se constituindo, contemporaneamente, como um dos mais rentáveis dentro do atual quadro das revisões históricas. Diversos autores de vários cantos do globo têm demostrado um interesse renovado pelo revisionismo histórico. O Capital de Marx relido como um romance histórico sobre a barbárie do capitalismo; a vida do Imperador narrada a partir das alcovas do seu fiel secretário, em O Chalaça, romance-diário de José Roberto Torrero; a escravidão e as colonizações das Índias Ocidentais revistas por pescadores negros, em Omeros, do poeta caribenho Derek Walcott; as negociações culturais entre Ocidente e Oriente nas andanças de anjos migrantes caídos; Londres, nos Versos Satânicos, de Salman Rushdie; a poética da memória afro-descendente trazida à 133 UEFS baila no espaço de uma pobre família “americana”, em Amada, de Toni Morrison; a aventura das grandes navegações lusitanas recontadas pela vivência iniciática de um grumete judeu, em Peregrinações de Barnabé da Índias, de Mário Cláudio; as “vagas descobertas” e a Invenção do Brasil pelo olhar dos degredados e da arraia-miúda, no Auto do Descobrimento, de Jorge de Souza Araújo, são alguns poucos exemplares de um certo de tipo de literatura que vêm marcando a poética cultural na pós-modernidade. Uma das linhas de forças dessa literatura é a releitura estratégica e desconstrutora dos arquivos da História, não apenas para enfrentar os autoritarismos embutidos nos discursos históricos oficiais, mas para agenciar uma visibilidade provisória às minorias, às pequenas narrativas apagadas pelo eixo ideológico da História. Mas o que está acontecendo na literatura contemporânea? Por que ela vem propondo a emergência de histórias recalcadas de figuras “ex-cêntricas”, e confrontado a violência etnocêntrica de Robson Crusoé à insubmissão de Sexta-Feira? Por que tantos autores – movidos por um desejo crítico paralogístico sem precedentes – passaram a acessar o conturbado passado de suas histórias nacionais e oficiais? Para Walter Mignolo, os romances contemporâneos indicam uma mobilidade das fronteiras entre história e literatura. As ficções tendem a devorar os discursos historiográficos para desarticulá-los por dentro, corrigindo as imagens reprimidas pela história monumental2 . A História dos grandes acontecimentos começa a ser minada por versões alternativas oferecidas pela “história vista de 134 Cadernos de Literatura e Diversidade baixo” – as experiências daqueles “cuja a existência é (...) mencionada apenas de passagem na principal corrente da história”3 . Para muitos, trata-se de uma moda passageira, uma crise de criatividade generalizada, uma nova onda de nostalgia no arrastão do “capitalismo tardio”; para outros, o “olhar” pós-moderno vem repolitizar a literatura e o pensamento para além das grandes narrativas interpretativas; é um conjunto heterogêneo de atos micropolíticos encontrados pelas artes para atravessar o milênio e encarar as questões contemporâneas mais urgentes: a transa das culturas em confronto no mundo globalizado; a emergência das minorias, dos povos colonizados, grupos segregados pela grande história; as migrações, os desmontes imperialistas, a “volta” dos nacionalismos racistas, o enfraquecimento dos Estados-nação, as relações entre poder e saber etc. Porém, mesmo com o abalo no edifício das grandes narrativas e a conseqüente crise das ideologias, constata-se que as tensões entre forças dominantes e dominadas ainda são travadas nos domínios dos discursos históricos, no “teatro da história” (conforme a famosa frase de Marx na Ideologia Alemã), e que a História com H maiúsculo parece dissolver-se no ar da “nova” configuração mundial. A dissolução da História nada tem a ver com as versões neo-liberais e apocalípticas que apregoam “o fim da história”. A História não acabou. Mas, pelo contrário, foi acelerada e sua fuselagem ideológica começou, principalmente nas últimas décadas, a apresentar sérias fissuras. A aceleração da história é um dos sintomas da descentrali135 UEFS zação global e da disseminação das tecnologias da informação: culturas antes “locais” ligam-se numa rede global, provocando zonas de “glocalização” que dão visibilidade a novas e velhas subjetividades, culturas minoritárias e micropolíticas de afirmação, que buscam legitimidade na historia. Então, como conferir o privilégio da “verdade” histórica às interpretações das ciências humanas, numa época cujas “verdades” se tornam mais “reais” quando mostradas na televisão? Como se pensar numa História Universal num mundo cada vez mais globalizado, cujas as margens reclamam direitos e visibilidade e se tornam também centros de histórias? Gianni Vattimo observa esses paradoxos, dizendo que “a contemporaneidade (...) é a época em que, (...) com o aperfeiçoamento dos instrumentos de coleta e transmissão da informação, seria possível realizar uma ‘história universal’, precisamente essa história se tornou impossível”4 . Essa dispersão da História surge, então, da exigência à multiplicidade, na medida em que “os povos sem história” buscam inserir suas culturas e diferenças num contexto político geral. O colapso das metanarrativas são um convite direto à coabitação entre várias micro-narrativas (locais, étnicas, minoritárias, religiosas, etc). Com efeito, está em cheque uma das visões mais disseminadas da modernidade, aquela que a caracteriza como a “época da história (...), com seus corolários, a noção de progresso e superação”5 . Por isso “dissolução” aqui quer dizer crise dos paradigmas tradicionais que sustentaram a escrita da História como a versão dos vencedores. Ou seja: o conjunto de narrativas 136 Cadernos de Literatura e Diversidade sedimentadas pela axiomática da Historigrafia oficial, que neutraliza ou compatibiliza as micro-narrativas, as forças criativas da resistência e dos excluídos, às suas imagens e representações. Então vejamos: existe a História; e através dela, as histórias. Mas também é necessário reconhecer que a mera oposição entre as pequenas histórias, as versões dos “povos sem história”, como queria Hegel, e a grande História – o grande relato canônico dos vencedores – resulte num impasse binarista e estéril. Não é um caso fácil de inversão, ou melhor, da substituição de uma História por suas versões antípodas, ou da modulação de uma autoridade por outra. Sabemos que o poder, em sua capacidade reticular e reterritorializante, pode também se instalar na microfísica das versões marginais da história. Por isso não basta pôr em cena personagens e representações dos desvalidos sociais. Ao contrário, muitas vezes, retomar uma figura heráldica da pedagogia nacionalista, e representá-la como um ser falível, pode ser mais transgressivo e pode questionar a legitimidade dos discursos da História6 . Os próprios arquivos da história abrem, ou deixam vazias, as fissuras por onde a escrita pode penetrar, não para somar uma verdade à outra, mas para alterar o cálculo sedimentado, como diz Homi Bhabha. Os vácuos da história, que podem causar ainda certo embaraço aos historiadores, “obrigando-os a lembrarem-se de que a história é um discurso” como outros discursos, “são, para o ficcionista”, como lembra Leyla Perrone-Moysés, “um convite ao exercício da imaginação”.7 Mas a opção estratégica pelas histórias alternativas é 137 UEFS importante no processo de desarticulação da própria noção de História oficial como única e soberana. Ela serve também para lembrar que, na verdade, o que há são “histórias” múltiplas, e que todos, vencidos e vencedores, têm o seu arsenal de memórias coletivas. Também a própria polarização vencedores/vencidos passa a ser problemática, já que ela advém de uma “narrativa mestra”, de uma utopia que se mostrou autoritária e que tornou os termos posicionados em identidades fortes ontologicamente. Além de evitar as oposições reducionistas, uma posição estratégica pode questionar sempre a superioridade embutida nas correntes dominantes da História, pois, diante da impossibilidade de se escrever uma História Geral, as histórias diversas rebentam da criatividade de cada segmento cultural. Daí que alternativas conceituais como a micro-história, história vista de baixo, a metaficção historiográfica, a micropolítica, as teorias pós-coloniais, dentre outras, surgem como importantes operadores de leitura para os estudos das relações entre a história e o texto artístico. A relação entre ficção e história é o “abre-te Sésamo” para a leitura do romance Tocaia Grande – a face obscura, de Jorge Amado. O romance serve-nos para um raciocínio básico: a História tornou-se um instrumento privilegiado de dominação e seu discurso oficial é uma máquina de poder – encarnada parodicamente nos discursos dos padres, dos políticos, dos poetas municipais e eruditos provincianos, no pórtico do romance. Por isso, é necessário recuperar e escavar as origens marginais, como nos ensina Nietzsche, vasculhar as memórias à cata dos vestígios apagados pelo 138 Cadernos de Literatura e Diversidade continuum da História, mas que podem ser o testemunho de uma carência. Maria de Lourdes Netto Simões percebe a especificidade deste romance como um momento decisivo da obra amadiana. Diz ela que “Jorge Amado, com Tocaia Grande, relê a saga do cacau, não mais da perspectiva do poder do coronel, mas, então, da perspectiva do menos favorecido, ou seja, do trabalhador rural, da prostituta, do negro, do árabe comerciante”8 . O impulso de expressar pela ficção as histórias recalcadas da fundação e desenvolvimento de uma cidade, Irisópolis, conduz a narrativa. O autor contrapõe a versão sacramentada da cidade às suas histórias marginais. A história oficial de Irisópolis gravita no eixo do devaneio ufanista, a versão dominante que apaga a face obscura da trama fundadora: Tocaia Grande foi fundada pela violência; e é a face fantasmagórica de Irisópolis. Com o intuito de desmistificar as “páginas de civismo”, “exemplos para as gerações vindouras”9 , Amado possibilita a emergência das contraversões dos fatos estabelecidos pela História pedagógica de Irisópolis. Por isso, o escritor sintonizado com o seu tempo “não tem outro compromisso”: ele está sempre na tocaia da grande História, agindo nas brechas ideológicas dos grupos dominantes, cavando as trincheiras da resistência cultural. A ficcionalização da história funciona como um dos fluxos de produção daquilo que Gilles Deleuze chama de “devir revolucionário”. Para o filósofo francês, o devir não é história; mas os desvios da história, as condições criadas para “devir”, para inventar o novo nas histórias que atravessam a História. Deleuze conversa e diz: 139 UEFS a história não é experimentação, ela é apenas o conjunto de condições quase negativas que possibilitam a experimentação de algo que escapa à história. Sem a história, a experimentação permaneceria indeterminada, incondicionada, mas a experimentação não é histórica (...) A única oportunidade do homem está no devir revolucionário, o único que pode conjurar a vergonha e responder ao intolerável.10 A literatura pode instalar os intervalos necessários nos discursos de captura da História institucional. Mas, para isso, também é preciso que a própria literatura, ou melhor, aqueles que a produzem – as comunidades interpretantes dos críticos, teóricos, historiadores, autores, professores, universidades, etc – repensem e redistribuam melhor a própria história, ainda centralizada conveniente e etnocentricamente pela violência epistêmica de sua historiografia. Na emergência das micro-histórias, a arte tem um papel nevrálgico: dizer não quando a maquinaria dominadora diz sim; pondo em evidência os focos de resistência ativos no processo histórico. Re-escrever a História significa: falar contra, escrever contra11 , inscrever ou dizer um “não” suplementar contra a infelicidade, como fazem o “ex-cêntrico” Raimundo Silva, personagem da História do Cerco de Lisboa, de José Saramago, e o narrador irônico de Tocaia Grande. Por ser caracteristicamente minoritária, a literatura está aí para desafinar o coro uníssono dos contentes, os vencedores e administradores da História. Ela pode mesmo precariamente – e as artes em geral – desvendar as histórias ocultas de um povo e se nutrir da energia que a história liberada 140 Cadernos de Literatura e Diversidade irradia. Em Tocaia Grande é o próprio narrador quem apresenta suas armas: Digo não quando dizem sim em coro uníssono. Quero descobrir e revelar a face obscura, aquela que foi varrida dos compêndios de História por infame e degradante; quero descer ao renegado começo, sentir a consistência do barro amassado com lama e sangue, capaz de enfrentar e superar a violência, a ambição a mesquinhez, as leis do homem civilizado (...) Digo não quando dizem sim, não tenho outro compromisso.12 O romance Tocaia Grande tem a feição de um relato circular, ou falso relato histórico narrado em flashback, que reencena a gestação e a fundação de Irisópolis, na verdade um microcosmo metonímico da “sociedade cacaueira”. A partir da história subterrânea da cidade, Amado agencia uma outra compreensão dos processos políticos e sociais que interferiram e foram rechaçados na “formação da identidade grapiúna”. Para isso, o autor narra a história a partir das trajetórias individuais de “pessoas comuns” do lugar. Tratase de um expediente usual nos romances cuja a presença da história é fundamental. Peter Burke nota que essa técnica é um lugar-comum entre os romancistas históricos, e isso desde os tempos de [Walter] Scott e Manzoni, cujo Betrothed (1827) foi atacado na época (da mesma forma que a história vista de baixo e a micro-história foram atacadas mais recentemente), por escolher como seu tema “a crônica miserável de uma aldeia obscura”.13 141 UEFS Em Tocaia Grande, os párias “ex-cêntricos” despontam e instauram um ruído diferencial no discurso oficial da História irisopolitana: Natário da Fonseca, Zezinha do Butiá, Fadul Abdala, Negro Castor Abduim, Rufina... Os signos reprimidos por sua História pipocam a todo instante: as negociações dos afro-descendentes, dos ciganos, dos árabes, das mulheres desafortunadas, dos capangas, dos tabaréus, dos condenados da terra... Um personagem lendário, um Corisco de São Jorge, um marginal mítico e ícone das resistências populares, um Zumbi, a mitologia ágrafa, a Irmandade do Povo Brasileiro, as falas características de um lugar, Maria da fé, Pai Inácio, Tição Aceso, etc, são imagens de uma cultura que precisam ser “reveladas” como proteínas identitárias. O “capitão” Natário da Fonseca, por exemplo, além de típico herói amadiano, daqueles que grudam na memória do leitor, mesmo possuidor de “domínios”, simboliza uma memória coletiva recalcada pela História. A comparação entre Natário da Fonseca com outra legenda pode ser bastante útil: Antônio das Mortes, o sombrio matador de cangaceiros criado por Glauber Rocha e personagem dos filmes Deus e o diabo na terra do sol (1964) e O Dragão Da Maldade Contra O Santo Guerreiro (1968/69), aparece silhuetado na caracterização do personagem de Jorge Amado. Ambos são jagunços que honram na bala a palavra bíblica do “olho por olho dente por dente”. Eles transitam em pequenos espaços, “aldeias obscuras”, onde impera a lei de talião, do caxixe e da traição: Antonio das Mortes, em Jardim das Piranhas, e Natário da Fonseca, em Tocaia Grande. Há também diferenças óbvias: Antônio das Mortes 142 Cadernos de Literatura e Diversidade tem uma densidade psicológica maior, o que viabiliza o desenvolvimento do seu dilema. Já o “capitão” Natário lembra, em muitas seqüências da narrativa, um herói alencarino de “baraço e cutelo”. Sua mestria em armar tocaias e suas habilidades “militares” são dignas da performance de um Aquiles homérico. É claro que Antônio das Mortes não possui toda essa aura glorificadora. Mas os dois são figuras míticas de rebelião social alimentadas e fortalecidas pelo imaginário cultural. Ou seja, como observa Eric Hobsbawn, são eles bandidos sociais (...) encarados como criminosos pelo senhor e pelo Estado, mas que continuam a fazer parte da sociedade (...), e são considerados [pelos excluídos] como heróis, como campeões, vingadores, paladinos da justiça, talvez até mesmo como líderes de libertação, como homens a serem admirados, ajudados e sustentados14 . Como seres “ex-cêntricos”, tanto Natário – mesmo sem grandes vôos verticais – quanto Antônio das Mortes vivem um paradoxo: são pagos para matar por aqueles (os coronéis, os verdadeiros “dragões da maldade”) que oprimem gente como eles. Ambos são sicários e tentam sublimar esse conflito pela noção trágica da predestinação. Eles acreditam que devem cumprir suas “missões”. Para Antônio das Mortes seu compromisso é histórico; para Natário é uma questão de honra e palavra. Em Deus e o Diabo na Terra do Sol, Antônio das Mortes diz: “Num quero que ninguém entenda nada de minha pessoa... Fui 143 UEFS condenado nesse destino e tenho que cumprir sem pena e pensamento”.15 Enquanto Natário desabafa nas seqüências finais do folhetim amadiano: “Minha vida inteira meu ofício foi esse, o de jagunço, você sabe disso”.16 Mas por que figuras como Antonio das Mortes e Natário da Fonseca parecem tão deslocadas – e até mesmo anacrônicas – no mundo dos Escadinhas, Amadinhos e Leonardos Parejas? Às vezes, assemelham-se a fantasmas surgidos de uma outra época, sem forças para competir com os “maravilhosos” Wolverine, SuperOutro e Shaft. A recente literatura vem produzindo novos “ex-cêntricos”, em outros sertões e favelas, mais sintonizados com o mundo contemporâneo e sem a mitificação literário-ideológica do nacional-popular: Reizinho, o “olheiro” do Inferno de Patrícia Melo, Cabeleira e Tigrinho, da Cidade de Deus de Paulo Lins, o caribenho Achille, de Omeros, épico dos despossuídos de Derek Walcott, por exemplo. O que retorna em diferença é a mesma violência: não apenas nas ações dos anti-heróis, mas na crítica à fome, à humilhação, à exclusão social, ao racismo. Mas tanto o livro de Amado – significativamente o último dos chamados “livros do cacau” – quanto os filmes de Glauber – principalmente aqueles “filmes do sertão” – apontam para alguma etapa histórica cumprida ou algum tipo de relato utópico que desaparecia. Ao mesmo tempo, essas obras são um prolongamento e um limite de suas próprias utopias. Talvez por isso Glauber Rocha tenha des-locado Antônio das Mortes do sertão, e o tenha colocado perdido entre automóveis e caminhões numa rodovia urbanizada, 144 Cadernos de Literatura e Diversidade nas cenas finais do Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro (o próprio cineasta estava se deslocando para filmar outros “ex-cêntricos”: guerrilheiros e africanos, de Der Leone has Sept Cabeças, e os “marginais heróicos” do morro carioca, em Câncer). Também não é por acaso que o romance de Amado seja a ponta de uma trilogia empenhada em cartografar os processos de transferência do poder semi-feudal dos velhos “coronéis” do cacau para as mãos dos exportadores capitalistas, os venturinhas e bacharéis de gabinete, os novos tubarões a viverem às custas dos “escravos”. Glauber Rocha dizia que, para compor Antônio das Mortes, se inspirou nas histórias malditas dos matadores – e nos heróis solitários do western americano –, ouvidas durante a infância, em Vitória da Conquista. E Jorge Amado não se cansava de repetir que a matéria-prima de sua obra está naquilo que viu, naquilo que viveu, naqueles que conheceu, nos natários das tocais e terras do sem fim. Mesmo diante da impossibilidade de representação definitiva do “Outro”, esses autores reinventam as histórias de violência desses “marginais”, proibidas e limadas pelas lições de civismo das escolas, a fim de que elas rivalizem com o imaginário dominante da História institucional, a face luminosa que não paga a pena contar e não tem graça17 . Re-escrever criticamente a história é uma estratégia para religar os fios do passado que ainda estão dispersos, ativos e assombram o presente. E, como nos lembra Derek Walcott, para “enamorar-se da vida apesar da História”. 145 UEFS NOTAS BIBLIOGRÁFICAS GUATTARI, Felix, ROLNIK, Suely. Micropolítica – cartografias do desejo. Petrópolis: Editora Vozes, 1999. p.185. 2 MIGNOLO, Walter. Lógica das diferenças e política das semelhanças da literatura que parece história ou antropologia, e vice-versa. In: AGUIAR, Flávio (org.). Literatura e história na América Latina. São Paulo: EDUSP, 1993. 3 SHARPE, Jim. A História vista de baixo. In: BURKE, Peter (org.); A escrita da história – novas perspectivas. São Paulo: Editora da Unesp, 1992. p.41. 4 VATTTIMO, Gianni. O fim da modernidade: niilismo e hermenêutica na cultura pós-moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1996. p. XV. 5 Id. Ibid, p. IX. 6 Exemplo: Salazar despencando, em slow-motion, de uma cadeira podre devorada por cupins, no conto Cadeira, de José Saramago, em Objecto quase: contos (São Paulo: Cia das Letras, 1994) 7 Leyla PERRONE-MOISËS, Formas e usos da negação na ficção histórica de José Saramago. In: Tania Franco CARVALHAL, Jane TUTIKIAN (Orgs.) Literatura e história: três vozes de expressão portuguesa, 1999. 8 SIMÕES, Maria de Lourdes Netto. A literatura da Região Cacaueira baiana: questão identitária. In: Revista do Centro de Estudos Portugueses Hélio Simões/UESC – Nº1 (1997/1998). Ilhéus: Editus, 1998. p. 123. 9 AMADO, Jorge. Tocaia Grande – a face obscura. Rio de Janeiro: Record, 1984. p.14. 10 DELEUZE, Gilles. Conversações, 1979-1990. São Paulo: Editora 34, 1992. p. 210-11. 11 SANTIAGO, Silviano. O Entre-lugar do discurso latino-americano. In: –– Uma literatura nos trópicos. São Paulo: Perspectiva, 1978. p. 19. 12 AMADO. Op.cit., p.15. 13 BURKE, Peter. A História dos acontecimentos e o renascimento da narrativa. In: –– (org.); A Escrita da história – novas perspectivas. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1992. p.327. 14 HOBSBAWN, E. J. Bandidos. Rio de Janeiro: Editora Forense-Universitária, 1975. p. 11. 146 1 Cadernos de Literatura e Diversidade ROCHA, Glauber. Deus e o Diabo na terra do sol. In: SENNA, Orlando (org.); Roteiros do Terceyro Mundo. Rio de Janeiro: Editorial Alhambra, 1985. p. 279. 16 AMADO. Op. cit. p.477. 17 Id. Op. Cit. p. 505. 15 Marcos Botelho é Mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura e Diversidade Cultural, ex-professor de Literatura Brasileira da UFBA e professor da UEFS. 147
Baixar