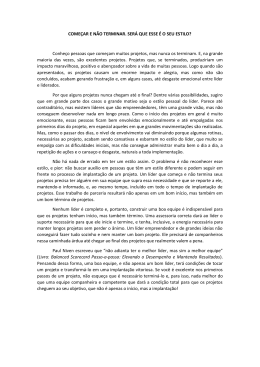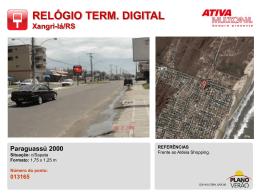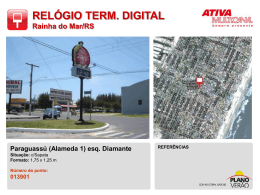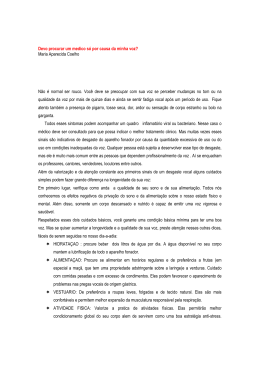PR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ CAMPUS DE CURITIBA DEPARTAMENTO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA E DE MATERIAIS – PPGEM CRISTÓVÃO AMÉRICO FERREIRA DE CASTRO RESISTÊNCIA AO DESGASTE ABRASIVO DAS SAPATAS DE TRATOR DE ESTEIRA APÓS PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO CURITIBA MARÇO - 2010 CRISTÓVÃO AMÉRICO FERREIRA DE CASTRO RESISTÊNCIA AO DESGASTE ABRASIVO DAS SAPATAS DE TRATOR DE ESTEIRA APÓS PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO Projeto de dissertação apresentado como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Engenharia, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais do Departamento de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR. Orientador: Prof. Carlos Henrique da Silva, Dr. Co-orientador: Prof. Ossimar Maranho, Dr. CURITIBA MARÇO – 2010 Dados Internacionais de Catalogação na Publicação C355 Castro, Cristóvão Américo Ferreira de Castro Resistência ao desgaste abrasivo das sapatas de trator de esteira após processos de recuperação / Cristóvão Américo Ferreira de Castro. — 2010. 73 f. : il. ; 30 cm Orientador: Carlos Henrique da Silva Co-orientador: Ossimar Maranho Dissertação (Mestrado) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais, Curitiba, 2010. Bibliografia: f. 63-6 1. Desgaste mecânico. 2. Materiais – Testes dinâmicos. 3. Resistência de materiais. 4. Tratores – Manutenção e reparos. 5. Revestimento em metal. 6. Engenharia mecânica – Dissertações. I. Silva, Carlos Henrique da, orient. II. Maranho, Ossimar, co-orient. III. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais. III. Título. CDD (22. ed.) 620.1 Biblioteca Central da UTFPR, Campus Curitiba RESUMO Considerando as dificuldades de pequenos e médios proprietários como: distância dos grandes centros, custo de manutenção, preço de peças de reposição; este estudo propõe uma busca de alternativa para recuperação de sapatas de trator de esteira desgastada pelo efeito abrasivo do solo. Este trabalho aborda uma análise comparativa entre a resistência ao desgaste de uma sapata de trator de esteira original nova com duas sapatas semelhantes, recuperadas por dois processos distintos. O primeiro processo de recuperação utiliza a aplicação de um postiço na região de desgaste e o segundo consiste da recuperação da região afetada mediante a deposição por soldagem de revestimento duro. As sapatas originais são laminadas e temperadas apresentando uma composição química semelhante ao aço SAE/AISI 1060. O postiço, também laminado, é fabricado em aço ABNT 1045 e o revestimento foi aplicado pelo processo de soldagem com eletrodo revestido (SMAW - Shielded Metal Arc Welding), com eletrodo E-83.58, apresentando uma dureza de 510 HV na quarta camada depositada. Corpos de provas padronizados com dimensões: 76,2 x 25,4 x 12,7 mm, foram submetidos, ao ensaio de desgaste roda de borracha (ASTM G65) para verificação de seu desempenho. Análises microestruturais via microscopia óptica e eletrônica de varredura também foram realizadas para identificar os mecanismos de desgaste presentes. Foi possível observar que o revestimento com eletrodo E-83.58 mostrou ser uma alternativa para este tipo de recuperação,uma vez que, analisando os resultados de resistência ao desgaste obtidos em ensaio tipo roda de borracha, apresentou uma resistência ao desgaste superior à resistência apresentada pela sapata original. Palavras chave: revestimento duro, desgaste abrasivo, soldagem, eletrodo revestido ABSTRACT Considering the difficulties of small and medium landowners as from the major centers, maintenance fees, price of spare parts, this study proposes an alternative to seeking recovery of shoes tractor belt worn by the abrasive effect of the soil. This study addresses a comparison between the wear resistance of a shoe track-type tractor with two new original shoes similar retrieved by two separate processes. The first recovery process uses the application of an inserted wear in the region and the second is the regeneration of the area affected by deposition welding hardfacing. The original shoes are laminated and tempered , that present a chemical composition of 0.36% C; 0.98% Mn; 0.17% Cr; 0.22% Si e 0.13% Mo. The inserted also laminate is made of ABNT steel 1045 and the coating was applied by the welding process with shielded electrodes (SMAW - Shielded Metal Arc Welding), electrode OK 83.58 up 0.60% C, 0.60% Si, 0.70% Mn, 6.80% Cr e 0.50% Mo, with a hardness 510 HV in the fourth layer deposited. Standard specimens with dimensions: 76.2 x 25.4 x 12.7 mm, were submitted the abrasion test rubber wheel (ASTM G65) for verification of their performance. Microstructural analysis via optical microscopy and scanning electron microscopy were also performed to identify the existing wear mechanisms. It was observed that the shielded electrode E- 83.58 was shown to be an alternative for this type of recovery. It was observed that the electrode coated with E-83.58 may be an alternative for this type of recovery, since analyzing the results, showed a wear resistance higher than the original shoe. Keywords: hardfacing, wear resistance, welding, electrode coated. DEDICATÓRIA À minha esposa e filhos pela compreensão e apoio nas horas mais difíceis. AGRADECIMENTOS • Ao meu orientador Prof. Dr. Carlos Henrique da Silva por sua valiosa orientação, conselhos e paciência nesta jornada. • Ao meu co-orientador, Prof Dr. Ossimar Maranho, a quem eu confesso grande admiração. • Ao Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica-PPGEM/UTFPR. • Ao Centro de Microscopia Eletrônica do Setor de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Paraná (UFPR) pela disponibilização do MEV para auxiliar na caracterização dos mecanismos de desgaste. • À Construtora ETAM – Construção de estradas Ltda., estabelecida em ManausAM, pela doação da sapata utilizada neste estudo. • Ao IPT- Instituto de Pesquisas Tecnológicas pelo fornecimento da areia, componente indispensável no ensaio de desgaste roda de borracha. • Ao Prof. MSc. César Lúcio Molitz Allenstein pela ajuda, na caracterização de materiais através dos ensaios de espectrometria realizados na SpectroScan Tecnlogia de Materiais Ltda. • À Ferramentaria da Amazônia Ltda. particularmente ao Sr. Nelson Pio Barrionevo por disponibilizar seus equipamentos de usinagem para a confecção dos corpos de provas. • À MINUSA Tratorpeças Ltda. pelo fornecimento de informações importantes utilizadas no trabalho. • Aos estagiários do Laboratório Integrado de Materiais (LIM-DAMEC) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. • À Coordenação do Minter-Manaus: Prof. Dr.Vicente Lucena e Prof. Dr. José Pinheiro. • Ao IFAM - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, por não ter medido esforços, ao longo dos anos, para a realização de um Mestrado Interinstitucional. • Ao aluno Vitor de Bassi Bernardi, graduando em Engenharia Mecânica Industrial da UTFPR, pelo auxílio nos ensaios com abrasômetro Roda de Borracha, realizados na UTFPR. • Ao Prof. Alberto Monteiro, professor de Metalografia, pela colaboração nos ensaios metalográficos realizados no IFAM. Este trabalho foi desenvolvido no programa de Mestrado Interinstitucional – MINTER entre a UTFPR e o IFAM, que recebeu financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES – através do projeto ACAM 1379/2006 e da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA – através do convênio 084/2005. O autor deste trabalho foi bolsista do PROGRAMA RH-INTERINSTITUCIONAL da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado ao Amazonas - FAPEAM – no ano de 2009. Nossos sinceros agradecimentos pelo apoio recebido. LISTA DE FIGURAS Figura 2.1– Trator de esteiras e suas peças sujeitas à desgaste (FRAENKEL, 1980). .................................................................................................................................... 5 Figura 2.2 – Foto de um trator mostrando principalmente sua esteira do lado direito (CATERPILLAR, 2006). .............................................................................................. 6 Figura 2.3 – Exemplo de sapata com identificação da garra, placa e furos (CATERPILLAR, 2006). .............................................................................................. 7 Figura 2.4 – Tipos de sapatas de tratores de esteira: (a) sapata de garra simples utilizada em serviços leves; (b) sapata de garras duplas; (c) sapata com furo central trapezoidal; (d) sapata de garra simples utilizada em serviços pesados; (e) sapata autolimpante de baixa pressão no solo e (f) sapatas cortadoras (CATERPILLAR, 2006). .............................................................................................. 8 Figura 2.5 – Exemplos de danos sofridos pelas sapatas no campo: (a) desgaste nas extremidades da garra; (b) quebra da sapata; (c) quebra da sapata e (d) trinca da aba (CATERPILLAR, 2006)......................................................................................... 9 Figura 2.6 – Procedimento com uma régua para avaliar a altura das garras após processo de desgaste (CATERPILLAR, 2006).......................................................... 10 Figura 2.7 – Exemplos de recuperação de sapatas: (a) soldagem de enchimento; (b) adição de postiço (adaptado de SOTREQ, 2007). .................................................... 10 Figura 2.8 – Detalhe do desgaste irregular na sapata (CATERPILLAR, 2006). ........ 11 Figura 2.9 – Demonstração esquemática do processo de soldagem com eletrodo revestido (ESAB, 2009). ............................................................................................ 11 Figura 2.10 – Representação esquemática da fixação do postiço em uma sapata desgastada (MINUSA, 2008)..................................................................................... 16 Figura 2.11 – Mecanismos de desgaste conforme DIN 50320 (BRANKOVIC, 1998 apud KÖNIG,2007).................................................................................................... 18 Figura 2.12 – Fotografia de sapatas de uma esteira em atividade e submetida ao processo de desgaste (CATERPILLAR, 2006).......................................................... 19 Figura 2.13 – Demonstração esquemática da classificação do desgaste abrasivo: abrasão entre dois corpos (a) e abrasão entre três corpos (b) (BRANKOVIC,1998) apud KÖNIG (2007). ................................................................................................. 20 Figura 2.14 – Representação esquemática dos micromecanismos de desgaste por abrasão (adaptado de ZUM-GAHR, 1987). ............................................................... 21 Figura 2.15 – Exemplo da ocorrência dos três micro-mecanismos de desgaste: (a) sulcamento; (b) formação de proa e (c) corte; em função da profundidade de penetração, (adaptado de HOKKIRIGAWA et al.,1988). ........................................... 23 Figura 2.16 – Abrasômetro Roda de Borracha – Representação esquemática padronizada pela ASTM (ASTM G 65, 2001). ........................................................... 24 Figura 2.17 – Macrografia da marca do desgaste abrasivo em abrasômetro tipo Roda de Borracha (MARANHO, 2006). .............................................................................. 24 Figura 2.18 – Gráfico representativo da perda de massa em função das camadas (BUCHELY et al., 2005). ........................................................................................... 25 Figura 2.19 – Macrografias de cdp após ensaio de desgaste abrasivo em roda de Borracha onde verfica-se a presença marcante de trincas, (ARNT et al.,2006)........ 26 Figura 2.20 - Exemplos de mecanismos de desgastes por deformação plástica por corte. (a) Corte ao longo de carboneto M6C rico em Tungstenio, (b) corte interrompido em carboneto M7C3 rico em Cromo (BUCHELY et al., 2005). .............. 27 Figura 3.1 - Fotografia de um corpo de prova. ......................................................... 29 Figura 3.2 – Ilustração da região da retirada dos corpos de prova da sapata. .......... 30 Figura 3.3 – Sapata de trator de esteira. (a) desenho de uma sapata com linhas tracejadas indicando o local onde foram retiradas as barras (b) barras cortadas utilizadas como substrato. ......................................................................................... 31 Figura 3.4 – Esquema da aplicação das camadas e amanteigamento. .................... 32 Figura 3.5 – Ilustração da confecção de corpos de prova com enchimento: (a) aplicação da primeira camada (amanteigameto); (b) aplicação das camadas com eletrodo E- 83.58; (c) medição da tensão em 74,7 volts com circuito aberto e (d) tensão de 19,7 volts com circuito fechado. ............................................................... 33 Figura 3.6 – Desenho esquemático da seção transversal do corpo de prova com as camadas de enchimento. .......................................................................................... 34 Figura 3.7 – Representação esquemática das posições onde foram realizadas as medições de dureza Vickers nos corpos de provas. ................................................. 35 Figura 3.8 – Equipamento de ensaio de desgaste: (a) desenho esquemático, (b) detalhe do disco de aço com anel de borracha e corpo de prova e (c) vista frontal do equipamento indicando o dispositivo da carga aplicada e depósito de areia após uso. .................................................................................................................................. 37 Figura 4.1 – Perfil de dureza da garra da sapata: (a) detalhe da crista da garra e suas medidas de dureza da borda ao núcleo e (b) desenho esquemático da lateral da esteira................................................................................................................... 45 Figura 4.2 – Macrografia da seção transversal do cdp com solda após ensaios de determinação de perfila de dureza. a) indicação das medidas b) identificação das camadas. ................................................................................................................... 46 Figura 4.3 – Perfil de dureza Vickers da amostra com deposição de cordões de amanteigamento e de solda. ..................................................................................... 47 Figura 4.4 – Micrografia do material do postiço. (a) Região próxima à superfície (200x), (b) mesma região com maior ampiação (500 x). Reagente Nital 2%. ........... 48 Figura 4.5 – Micrografia do material da sapata. (a) Região próxima à superfície (200x), (b) mesma região com maior ampliação (500 x). Reagente Nital 2%. .......... 49 Figura 4.6 – Microrafias do cdp soldado: a) macrografia com identificação das três regiões; b) substrato com interface do amanteigamento e solda e c) região da solda. .................................................................................................................................. 50 Figura 4.7 – Fotografia de um cdp com solda (a) e sua micrografia onde nota-se a microtrinca e riscos na região do ensaio de desgaste (b) (MEV). ............................. 51 Figura 4.8– Fotografias de corpos de prova com presença de trincas. (a) cdp de RIBEIRO (2004) e (b) cdp de ARNT et al. (2006). .................................................... 52 Figura 4.9 – Representação gráfica dos resultados de dureza e perda de massa.... 54 Figura 4.10– Fotomicrografia da seção transversal do corpo de prova indicando a profundidade do desgaste em mm e as três regiões distintas: substrato, amanteigamento e solda. (22x). ................................................................................ 55 Figura 4.11– Imagem por MEV da superfície da garra desgastada no campo apresentando (a) riscos e (b) deformação plástica. .................................................. 58 Figura 4.12 – Diagrama de mecanismos de desgaste para diferentes ângulos de ataque em função da dureza da superfície do material submetido à abrasão: transição de mecanismos de sulcamento, formação de proa e corte (adaptado de HOKKIRIGAWA et al. (1988)..................................................................................... 61 LISTA DE TABELAS Tabela 2.1 – Composição química das ligas estudadas por BUCHELY et al. (2004). .................................................................................................................................. 26 Tabela 3.1 – Parâmetros utilizados no processo de deposição por soldagem tipo SMAW. ...................................................................................................................... 34 Tabela 3.2 – Composição química dos materiais dos corpos de provas. .................. 36 Tabela 4.1 – Valores de dureza Vickers dos corpos de provas................................. 43 Tabela 4.2 – Medidas de dureza da crista da garra. ................................................. 44 Tabela 4.3 – Perda de massa (em gramas) média corrigida dos cdps. .................... 53 Tabela 4.4 – Custos simplificados envolvidos nos processos. .................................. 56 Tabela 4.5 – Resultado geral dos ensaios Roda de Borracha. ................................. 57 Tabela 4.6 – Relação de Ha/Hs dos materiais estudados. ........................................ 59 Tabela 4.7 – Resumo dos resultados de desgaste em relação aos micromecanismos apresentados........................................................................................ 60 LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS A = Ampére ABNT = Associação Brasileira de Normas Técnicas AISI = American Iron and Steel Institute ASTM = American Society for Testing Materials B = Boro C = Carbono Cdp = Corpo de prova Cr = Cromo DIN = Deutsches Institut fϋr Normung Fe = Ferro GL = Gay Lussac FCAW = Flux-Cored Arc Welding FFBMC = Ferro fundido branco multicomponente g = Grama GMAW = Gás Metal Arc Welding Ha = Dureza do Abrasivo Hs = Dureza do substrato HV = Dureza Vickers MAG = Metal Active Gas Mn = Manganês MEV = Microscópio eletrônico de varredura mi = massa inicial mf = massa inicial MIG = Metal Inert Gas min = minuto mm = Milímetro µm = Micrometro Mo = Molibidênio Nb = Nióbio NBR = Norma brasileira Ni = Níquel OAW = Oxy-Fuel Gas Welding OECD = Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico ONU = Organização das Nações Unidas P = Fósforo Pm = Perda de massa Pmc = Perda de massa corrigida Pv = Perda de volume RPM = Rotações por minutos S = Enxofre SAE = Society of Automotive Engneers Si = Silício SMAW = Shielded Metal Arc Welding δ = Densidade Øi = Diâmetro inicial Øf = Diâmetro final µm = Micrômetro UTFPR = Universidade Tecnológica Federal do Paraná V = Volts ZTA-GG = Grãos grosseiros da zona termicamente afetada SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 1 1.1 Especificação do Problema .........................................................................................................3 1.2 Objetivos ......................................................................................................................................3 1.2.1 Objetivo geral ...................................................................................................................3 1.2.2 Objetivos específicos........................................................................................................3 2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .................................................................................... 5 2.1 Terraplenagem ............................................................................................................................5 2.1.1 Trator de esteiras .............................................................................................................5 2.1.2 Esteiras .............................................................................................................................6 2.1.3 Sapatas ............................................................................................................................6 2.2 Danos nas Sapatas .....................................................................................................................9 2.3 Recuperação de Sapatas ......................................................................................................... 10 2.3.1 Revestimento de recuperação por soldagem ............................................................... 11 2.3.2 Recuperação por adição de postiço .............................................................................. 15 2.4 Definições de Desgaste ............................................................................................................ 16 2.5 Mecanismos de Desgaste ........................................................................................................ 17 2.6 Desgaste Abrasivo ................................................................................................................... 19 2.6.1 Classificação do desgaste abrasivo .............................................................................. 20 2.6.2 Micromecanismos de desgaste abrasivo ...................................................................... 20 2.7 Abrasômetro tipo Roda de Borracha ........................................................................................ 23 3 MATERIAIS E MÉTODOS .................................................................................... 29 3.1 Materiais ................................................................................................................................... 29 3.2 Caracterização dos Materiais ................................................................................................... 35 3.3 Metodologia do Ensaio de Desgaste ........................................................................................ 37 3.3.1 Procedimentos executados nos ensaios ....................................................................... 40 4 RESULTADOS E DISCUSSÕES .......................................................................... 42 4.1 Dureza ...................................................................................................................................... 42 4.2 Metalografia .............................................................................................................................. 47 4.2.1 Postiço ........................................................................................................................... 47 4.2.2 Sapata ........................................................................................................................... 49 4.2.3 Solda.............................................................................................................................. 50 4.3 Trincas Superficiais .................................................................................................................. 51 4.4 Resultados dos Ensaios de Desgaste ...................................................................................... 53 4.5 Mecanismos de Desgaste ........................................................................................................ 57 4.5.1 Superfície de uma sapata desgastada .......................................................................... 57 4.5.2 Dureza do abrasivo x dureza da superfície ................................................................... 58 4.5.3 Mecanismos de Desgaste x Propriedades Mecânicas ................................................. 59 5 CONCLUSÕES ..................................................................................................... 62 6 SUGESTÃO DE TRABALHOS FUTUROS ........................................................... 63 REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 64 ANEXO A – RELATÓRIO TÉCNICO ......................................................................... 71 Capítulo 1 Introdução 1 1 INTRODUÇÃO Na indústria mundial, uma das maiores preocupações é o desgaste de equipamentos, porque é a mais freqüente causa de falha do maquinário ou parte dele, ocasionando perdas por paradas inesperadas, manutenção e reposição VILLABÓN e SINATORA (2006). A luta das áreas de manutenção das indústrias é incessante contra o desgaste, visando aumentar o tempo entre paradas de manutenção ou reduzir as trocas de componentes. Segundo MONTEIRO e CUNHA (1993), a possibilidade de reconstruir esses componentes ou prepará-los para suportar melhor as condições de trabalho em aplicações que exijam grandes solicitações ou fenômenos complexos de desgaste, é constantemente estudada e novas técnicas propostas, sempre no sentido de aumentar a vida útil e reduzir tempos e custos. Uma das técnicas mais empregadas é a aplicação de revestimentos que reduzam o desgaste, podendo esta ser feita por soldagem ou metalização entre outros processos disponíveis, com excelentes resultados e permitindo, em muitos casos, alcançar tempos de vida superiores ao de peças novas. A soldagem de revestimento tem assumido uma importância cada vez maior, por realizar reconstituições de peças avariadas e deposições de camadas protetoras com baixo custo operacional, e por propiciar a redução do tempo de parada não programada. Logo se apresenta como uma solução prática e viável, devido às grandes vantagens e flexibilidade desta técnica (BRAMDIM et al., 2003). Segundo BUCHELY et al.(2004), aplicar um material de elevada dureza é uma das maneiras mais úteis e econômica de melhorar o desempenho dos componentes submetidos às condições severas de desgaste. FERNANDES et al. (2001), relata que os componentes de máquinas da indústria mineradora são freqüentemente envolvidos em processo de desgaste severo. Este é o caso do apoio das rodas do trator de esteiras de escavação em mina a céu aberto. Portanto, as tecnologias de desenvolvimento e deposição são essenciais para melhorar o desempenho da superfície de tais componentes. Os tratores de esteiras são máquinas utilizadas em terraplenagem, em geral trabalham em qualquer terreno em baixa velocidade. A sua fabricação em escala foi Capítulo 1 Introdução 2 iniciada logo após a 1ª Grande Guerra (1914-1918), aproveitando o tempo ocioso das antigas fábricas que produziam tanques para a guerra (FRAENKEL, 1980). Genericamente podemos definir terraplenagem ou movimento de terras como o conjunto de operações necessárias à remoção do excesso de terra para locais onde esteja em falta, tendo em vista um determinado projeto a ser implantado (RICARDO e CATALANI, 1990). O trator de esteiras se diferencia dos demais tipos de tratores pelo tipo de trem de rolagem; como o próprio nome diz, é composto de duas esteiras formadas pela união de várias sapatas. As sapatas das esteiras têm dupla finalidade: primeiro elas devem suportar o peso da máquina, isto é, dar sustentação e segundo elas devem proporcionar tração através do seu atrito com o solo para permitir que o trator execute sua função de remover material (SOTREQ, 2006). Para RICARDO e CATALANI (1990), os tratores de esteiras apresentam elevado esforço trator, conjugado com boa aderência sobre o terreno, o que lhes permite rebocar ou empurrar grandes cargas sem haver o perigo de patinamento, mesmo com rampas com alta declividade. Três fatores influenciam diretamente na vida útil de uma sapata. Primeiro: as condições do solo, que são a profundidade da camada orgânica e o teor de umidade; segundo: os tipos de solo (rochas, pedras, areia, lixões, etc..) e finamente, as condições de operação, que podem ser exemplificadas por terrenos íngremes e valetas (CATERPILLAR,1991). Basicamente, três métodos são utilizados na recuperação das sapatas, como: simples troca por outra sapata semelhante à original, adição de um postiço fixado por solda na região desgastada ou aplicação de um revestimento duro utilizando o processo de soldagem a arco elétrico. Diversos trabalhos já foram desenvolvidos cujo foco é a resistência ao desgaste de revestimentos duros aplicados por soldagem, como BUCHELY et al.(2004), que estudou a resistência ao desgaste de ligas diferentes e multicamadas; ARNT et al.(2006), no qual foi avaliado o desempenho de revestimentos resistentes ao desgaste em rolos de moagem de carvão; LIMA (2008), por sua vez estudou a resistência ao desgaste de revestimentos aplicados por soldagem na indústria sucroalcooleira. Capítulo 1 Introdução 3 Neste estudo, os ensaios foram todos do tipo abrasivo, pois o mecanismo de desgaste por abrasão é o preponderante nestas aplicações. O desgaste nas garras ocorre com freqüência por estar em contato direto com o solo; e são os primeiros componentes a sofrerem o processo de desgaste. Outros fatores atuam como aceleradores desse desgaste que são: Peso, potência, velocidade, impacto e todas as variáveis operacionais que provocam mudanças de direção, escorregamento ou deslizamentos improdutivos. O desgaste da sapata influencia na perda de tração da máquina e como conseqüência, menor produtividade. Quebra da placa e trincas são outros danos comuns que podem ocorrer nas sapatas (CATERPILLAR, 1991). 1.1 Especificação do Problema A dificuldade dos proprietários de trator de esteiras, instalados em locais distantes dos grandes centros, em comprar sapatas de reposição, ou mesmo, pela inexistência de oficinas especializadas na recuperação desses componentes, em suas proximidades, faz com que o desgaste natural das sapatas se tornem um grande problema para esses pequenos e médios proprietários. 1.2 Objetivos 1.2.1 Objetivo geral Propor um método, utilizando a deposição de material resistente ao desgaste através de um processo de soldagem eficiente e ao mesmo tempo viável, levando em consideração a aplicabilidade e materiais de consumo utilizados. 1.2.2 Objetivos específicos • Caracterizar o material de uma sapata original de trator de esteira; • Caracterizar o material utilizado como postiço na recuperação de sapatas (método utilizado neste tipo de manutenção); Capítulo 1 Introdução 4 • Aplicar um revestimento resistente ao desgaste através de processo de soldagem com eletrodo revestido; • Comparar o comportamento, quanto à resistência ao desgaste, do material proposto com o material da sapata original e com o método de adição de postiço. Capítulo 2 Revisão da Literatura 2 5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 2.1 Terraplenagem Terraplenagem de um modo geral é a arte de modificar a configuração do terreno. Duas aplicações clássicas da terraplenagem encontram-se na construção de barragens e na construção de estradas. Na construção de estradas, a terraplenagem é o trabalho de construir o leito da estrada na sua altura certa. Sobre esse leito, posteriormente, é construído um pavimento que recebe as cargas do tráfego de veículos. A terraplenagem compreende a desobstrução do local em que vai ser construída a estrada, o preparo das fundações, escavações, o transporte, colocação, compactação e conformações dos materiais que vão formar o corpo da estrada, o ajardinamento, a limpeza da área construída e outras operações eventuais. A drenagem também pode ser considerada como integrante da terraplenagem (FRAENKEL, 1980). 2.1.1 Trator de esteiras As máquinas sobre esteiras ou lagartas são próprias para serviço muito pesado com deslocamento a pequenas distâncias. Seu deslocamento de um serviço para outro deve ser feito sobre carretas baixas com caminhão trator (FRAENKEL, 1980). A Figura 2.1 ilustra um trator de esteiras e as principais partes e acessórios. Figura 2.1– Trator de esteiras e suas peças sujeitas à desgaste (FRAENKEL, 1980). Capítulo 2 Revisão da Literatura 6 2.1.2 Esteiras Esteiras ou lagartas para tração, como mostra a Figura 2.2, são partes fundamentais de máquinas para terraplenagem e por outras máquinas que a utilizam, em geral trabalhando em qualquer terreno e a pequena velocidade. São formadas por peças chamadas sapatas ou telhas articuladas sobre roletes, formando um conjunto fechado giratório com mínima resistência ao movimento. Sistema de peças bem lubrificadas, o que reduz muito as perdas de energia no deslocamento da máquina em qualquer tipo de terreno. As esteiras têm grande aderência ao terreno em que se apóiam, podendo exercer consideráveis esforços de tração, e são o melhor sistema de tração para máquinas sujeitas a elevados esforços horizontais (FRAENKEL, 1980). Figura 2.2 – Foto de um trator mostrando principalmente sua esteira do lado direito (CATERPILLAR, 2006). 2.1.3 Sapatas As sapatas da esteira além de ter a tração e a sustentação da máquina, como principais finalidades, devem satisfazer três requisitos para proporcionar um serviço adequado ao usuário. Primeiro, elas devem ser resistentes à flexão e as quebras, segundo, a garra e a placa da sapata devem ser resistentes ao desgaste e terceiro, as sapatas devem manter a integridade dos furos durante toda a vida útil, evitando Capítulo 2 Revisão da Literatura 7 assim que se desprenda do conjunto. As sapatas da esteira, ilustrada na Figura 2.3, são fabricadas por processos de laminação e têmpera. Para evitar distorções as mesmas são endurecidas em fornalha ou por indução e, resfriadas em moldes (isto é, colocadas em um dispositivo antes do resfriamento para assegurar que não empenem ao se resfriarem). Isto ajuda a manter as dimensões e o formato destas peças após o resfriamento (SOTREQ, 2007). Figura 2.3 – Exemplo de sapata com identificação da garra, placa e furos (CATERPILLAR, 2006). Existem vários modelos de sapatas, com formas e tamanhos diferentes; suas aplicações variam, principalmente, com o tipo do solo em que estão sendo utilizadas. Algumas sapatas são adequadas para solos “fracos” ou “instáveis” outras são mais resistentes ao desgaste e outras ainda são utilizadas quando é necessário um contato maior com o solo para proporcionar maior tração à máquina, (FRAENKEL, 1980). A Figura 2.4 mostra exemplos de tipos e aplicações de sapatas de tratores de esteiras. Capítulo 2 Revisão da Literatura 8 Figura 2.4 – Tipos de sapatas de tratores de esteira: (a) sapata de garra simples utilizada em serviços leves; (b) sapata de garras duplas; (c) sapata com furo central trapezoidal; (d) sapata de garra simples utilizada em serviços pesados; (e) sapata autolimpante de baixa pressão no solo e (f) sapatas cortadoras (CATERPILLAR, 2006). Sapatas de garra simples são para aplicação em geral (diferentes tipos de terreno); as sapatas de garras duplas trabalham melhor em aplicações que requeiram menos penetração e tração; sapatas com furo central trapezoidal são recomendadas para aplicações onde o acúmulo de detritos causam tensão na esteira; sapatas de garras simples para serviços pesados são recomendadas quando há presença de impacto moderado e alto; sapatas autolimpantes têm bom desempenho em solos instáveis (comumente chamados de fofos), devem ser evitadas quando há presença de abrasão e impacto; sapatas cortadoras são recomendadas quando os detritos tendem a grudar nas sapatas. Capítulo 2 Revisão da Literatura 9 2.2 Danos nas Sapatas A Figura 2.5 ilustra exemplos de danos sofridos por sapatas no campo, com destaque para o desgaste que, dos problemas sofridos por sapatas, é considerado inevitável e responsável pelas primeiras paradas de máquina para manutenção (CATERPILLAR, 2006). Figura 2.5 – Exemplos de danos sofridos pelas sapatas no campo: (a) desgaste nas extremidades da garra; (b) quebra da sapata; (c) quebra da sapata e (d) trinca da aba (CATERPILLAR, 2006). Segundo especialistas (mecânicos, tratoristas, técnicos em manutenção de máquinas pesadas) o desgaste da sapata não deve ultrapassar 50% da altura da garra, caso contrário, a recuperação torna-se mais difícil. Portanto faz-se necessário um acompanhamento permanente para verificação do melhor momento para realização da parada de máquina e recuperação das mesmas. A Figura 2.6 mostra um procedimento utilizado para verificação da altura da garra. 10 Capítulo 2 Revisão da Literatura Figura 2.6 – Procedimento com uma régua para avaliar a altura das garras após processo de desgaste (CATERPILLAR, 2006). 2.3 Recuperação de Sapatas Basicamente existem dois processos para recuperar sapatas desgastadas, uma é fazer um enchimento com solda de revestimento duro e a outra é adicionar um postiço, pré-fabricado, para essa destinação. A Figura 2.7 mostra esquematicamente a utilização desses dois processos. Figura 2.7 – Exemplos de recuperação de sapatas: (a) soldagem de enchimento; (b) adição de postiço (adaptado de SOTREQ, 2007). O desgaste na garra da sapata não se dá de maneira uniforme, e sim de maneira mais acentuada nas extremidades conforme mostra a Figura 2.8. Este fato ocorre pelo maior nível de tensões de contato nesta região, além da possibilidade de Capítulo 2 Revisão da Literatura 11 maior movimento relativo entre solo-sapata. Portanto no momento da recuperação, com adição do postiço, faz-se necessário um nivelamento com solda. Figura 2.8 – Detalhe do desgaste irregular na sapata (CATERPILLAR, 2006). 2.3.1 Revestimento de recuperação por soldagem A soldagem a arco com eletrodos revestidos (Shielded Metal Arc WeldingSMAW), esquematicamente mostrado na Figura 2.9, é um processo que produz a união entre metais pelo aquecimento destes com um arco elétrico estabelecido entre um eletrodo metálico revestido e a peça que está sendo soldada MARQUES et al.(1991). Figura 2.9 – Demonstração esquemática do processo de soldagem com eletrodo revestido (ESAB, 2009). 12 Capítulo 2 Revisão da Literatura O eletrodo revestido consiste de uma vareta metálica (comumente chamada alma do eletrodo), em forma de arame, que conduz a corrente elétrica e fornece metal de adição para enchimento da união, a alma é recoberta por uma camada formada pela mistura de diferentes materiais, que formam o revestimento do eletrodo. Dentre outras funções do revestimento, destacam-se: Estabilizar o arco elétrico; proteger a poça de fusão e o metal de solda contra a contaminação pela atmosfera, ajustar a composição química do cordão de solda. O processo de soldagem por revestimento duro, por sua vez, utiliza a deposição de materiais previamente selecionados e com características específicas para cada condições de trabalho. Suas propriedades, por exemplo, podem ser direcionadas para a reconstrução de partes de equipamentos danificados por desgaste abrasivo. Para isso deve ser observada a composição química da liga e a dureza esperada na camada depositada (ARNT et al.,2006). 2.3.1.1 Amanteigamento e diluição • Amanteigamento Amanteigamento é um termo técnico comumente utilizado na área da soldagem que se refere a deposição de uma camada de material dúctil, por soldagem, na superfície do material sensível, antes da soldagem de união propriamente dita (MARQUES et al.,1991). Segundo CONDE (1986), amanteigamento é a aplicação de um ou mais passes de solda intermediária, por razões metalúrgicas, entre dois materiais de ligas diferentes. Um exemplo é a deposição de ligas de alto níquel sobre uma base de baixa liga. Um dos principais problemas dos equipamentos fabricados com materiais ferríticos do tipo Cr-Mo em empresas de processamento petroquímico é o surgimento de trincas após operações de soldagem. Sabe-se que a propagação dessas trincas é mais intensa na região de grãos grosseiros da zona termicamente afetada (ZTA_GG), favorecida (BRACARENSE et al., 2006). pela maior área do contorno de grãos Capítulo 2 Revisão da Literatura 13 Tubulações de aços de baixa liga do tipo Cr-Mo reparadas por soldagem muitas vezes exigem a realização de do tratamento térmico para refino de grão e alívio das tensões oriundas destas operações. Em vista disso, pesquisas têm sido realizadas em busca de um procedimento de soldagem que dispense o tratamento térmico nas situações citadas. O próprio código ASME, seção XI item IWB-4420 (1984), recomenda que seja empregada a ‘técnica da meia camada’ (half bead) em situações onde seja impraticável o tratamento térmico (BRACARENSE et al., 2006). Esta técnica consiste no amanteigamento de toda a cavidade a ser reparada usando eletrodo de Ǿ 2,4 mm. Essa camada é então esmerilhada até 50% da sua espessura, sendo posteriormente depositadas camadas subseqüentes com eletrodos de maior diâmetro (até 4,0 mm) para promover o refino e/ou revenimento da ZTA-GG da primeira camada (BRACARENSE et al., 2006). • Diluição Segundo WAINER et al. (1991), a diluição é definida como a mudança na composição química de um metal de adição com o metal base ou o metal de adição anterior. Na soldagem de revestimento não há necessidade de alta penetração, mas somente uma boa ligação entre o metal de solda e o metal de base. 2.3.1.2 Revestimento duro Segundo HUTCHINGS (1992), entende-se por revestimento duro, uma liga homogeneamente depositada por soldagem, na superfície de um material de menor dureza, geralmente um aço de baixo ou médio carbono, com o propósito de aumentar a sua dureza e resistência ao desgaste, sem provocar perda significativa de ductilidade e tenacidade do substrato. Para CONDE (1996), os revestimentos duros são aplicados com o objetivo de reduzir o desgaste por abrasão, erosão, impacto ou cavitação. Várias técnicas são utilizadas na aplicação de revestimentos duros, como exemplo: processo oxi-acetilênico (OAW), MIG/MAG (GMAW), Arco Elétrico com Eletrodo Revestido (SMAW), Arco Submerso (SAW) e Arames Tubulares (FCAW). 14 Capítulo 2 Revisão da Literatura Baixo custo e facilidade de aplicação são fatores diferenciais para a utilização do Eletrodo Revestido enquanto que a alta produtividade e qualidade da solda dão destaque aos Arames Tubulares (BUCHELY et al., 2004). A maioria das ligas para resistir ao desgaste é produzida por consumíveis depositados por soldagem para serem utilizados em situações críticas. A faixa de dureza se encontra entre 390 e 690 HV (CONDE, 1986). Segundo WAINER et al.(1991), não existe uma classificação de metal de adição que envolva a maioria das ligas utilizadas para revestimento duro. As classificações existentes são baseadas na composição química do metal de adição depositado sem nenhuma diluição. Os autores citam uma classificação desenvolvida por SPENCER, baseada na composição química, dividindo as ligas ferrosas em cinco classes: • Classe 1 - Aços de baixa e média liga com 2 a 12% de elementos de liga; • Classe 2 – Aços de alta liga, incluindo aços rápidos e aços ao manganês; • Classe 3 - Ligas a base de ferro com 25 a 50% de elementos de liga; • Classe 4 – Ligas à base de cobalto, níquel e níquel-cromo; • Classe 5 – Ligas de carbonetos de tungstênio (38 a 60%) em matriz dúctil. Por sua vez, GREGORY (1980), apud LIMA (2008), apresentou uma classificação das ligas de revestimento em quatro grupos: • Grupo 1 – Ligas à base de ferro com menos de 20% de elementos de liga; • Grupo 2 - Ligas à base de ferro com mais de 20% de elementos de liga; • Grupo 3 – Ligas à base níquel e/ou cobalto; • Grupo 4 – Ligas com carbonetos de tungstênio. Segundo BUCHANAN et al.(2007) apud LIMA (2009), ao se escolher uma liga para revestimento duro deve-se levar em conta a sua soldabilidade, os custos e a compatibilidade metalúrgica. Dentre as diversas ligas desenvolvidas, os Capítulo 2 Revisão da Literatura 15 revestimentos à base de ferro são os mais populares na indústria sucroalcooleira, devido ao seu custo relativamente baixo e à sua aplicação. A sua composição é frequentemente de uma estrutura hipoeutética ou hipereutética e a resistência ao desgaste, atribuída a uma microestrutura de carbonetos duros dispersos em uma matriz relativamente macia. As ligas com alto Fe-Cr-C são particularmente atrativas porque os carbonetos podem formar uma grande variedade de micro-constituintes, provendo um aumento da resistência à abrasão. Segundo CORRÊA et al.(2007) apud LIMA (2009), as ligas Fe-Cr-C (o autor não cita, porém, acreditamos que seja alto cromo) são susceptíveis às trincas de solidificação, as quais aliviam as tensões de soldagem, mas, no caso de aplicações onde o componente está sujeito à vibração ou impacto, podem levar à fragmentação do revestimento. Em função disso, se busca incessantemente a obtenção de ligas que apresentem um bom desempenho de resistência ao desgaste e tenacidade. 2.3.2 Recuperação por adição de postiço O postiço é uma opção de forma de recuperação de sapatas desgastadas, o mesmo é fabricado por uma indústria de peças para máquinas pesadas e fornecido em barras de 3.000 mm. As dimensões do perfil transversal variam de acordo com as dimensões da sapata do trator para o qual o mesmo foi projetado. Segundo o fabricante, o postiço é laminado em aço ABNT 1045. A Figura 2.10 ilustra a forma de utilização do postiço o qual é unido à sapata por processo de soldagem. Os corpos de prova, dele retirado, em mesmo número e com as mesmas dimensões daqueles retirados de uma sapata original, foram confeccionados, também, por usinagem utilizando o mesmo centro de usinagem. Capítulo 2 Revisão da Literatura 16 Figura 2.10 – Representação esquemática da fixação do postiço em uma sapata desgastada (MINUSA, 2008). 2.4 Definições de Desgaste Segundo ZUM-GAHR (1987) apud LIMA (2008), “desgaste abrasivo é o deslocamento de material causado pela presença de partículas duras entre duas superfícies que possuem movimento relativo. Essas partículas podem estar entre as superfícies ou incrustadas em uma delas. O desgaste abrasivo pode ainda ser ocasionado pela presença de protuberâncias duras em uma, ou nas duas superfícies móveis”. Desgaste vem ser a perda progressiva de matéria da superfície de um corpo sólido devido ao contato e movimento relativo com um outro corpo sólido, líquido ou gasoso ASTM (G-40). A falha de um componente ou estrutura pode estar associada aos danos causados por quatro mecanismos fundamentais: a deformação plástica, a formação e propagação de trincas, a corrosão ou o desgaste ZUM-GAHR(1987) apud LIMA (2008). Normalmente o termo desgaste refere-se a dano ao material, geralmente envolvendo perda de material, devido ao movimento relativo entre superfícies em contato direto ou entre superfície e substâncias existentes entre as mesmas. 17 Capítulo 2 Revisão da Literatura Segundo a Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OECD Organisation for Economic Co-operation and Development ) da ONU, desgaste pode ser definido como sendo um dano progressivo que envolve a perda de material, perda a qual ocorre na superfície de um componente como resultado de um movimento relativo a um componente adjacente. Na maioria das aplicações práticas quando ocorre o movimento relativo entre duas superfícies sólidas, este movimento ocorre na presença de lubrificantes (STOETERAU, 2004). BUDINSKI (1987) sugere a seguinte classificação dos tipos de desgaste: desgaste por abrasão, erosão, adesão ou fricção e fadiga térmica e segundo EYRE (1991) apud LIMA (2008), devido a complexidade dos fatores envolvidos no desgaste, procura-se estabelecer classificações que facilitem o estudo do fenômeno e a sua prevenção. Entretanto, a classificação dos vários tipos de desgaste é difícil, pois há muita divergência entre os mesmos e seus efeitos. Existem situações onde um tipo de desgaste muda de um para outro, ou onde dois ou mais tipos podem operar juntos. 2.5 Mecanismos de Desgaste O desgaste apresenta-se sob diferentes tipos; sendo mais freqüentes os desgastes: abrasivo, erosivo, por deslizamento e por fadiga de contato. A norma DIN 50320 destaca quatro principais tipos de mecanismos de desgaste, que são: desgaste adesivo, desgaste abrasivo, desgaste por fadiga de superfície e desgaste por reação triboquímica. esquematicamente estes quatro tipos de desgaste. A Figura 2.11 mostra Capítulo 2 Revisão da Literatura 18 Figura 2.11 – Mecanismos de desgaste conforme DIN 50320 (BRANKOVIC, 1998 apud KÖNIG,2007). De uma maneira simplificada, pode-se diferenciar os quatro tipos de mecanismos de desgaste da seguinte maneira: • Adesão: Formação e ruptura da união adesiva interfacial ( exemplos: Junções soldadas a frio, desgaste por atrito); • Abrasão: Remoção de material mediante processo de riscamento (processo de microcorte); • Fadiga de superfície ou contato: Fadiga e formação de trincas em regiões superficiais devido a ciclos de tensão, resultando em separações de material; • Reações triboquímicas: Desenvolvimento de produtos resultantes de reações químicas desenvolvidas entre o par de desgaste e o meio interfacial. Considerando que o mecanismo de abrasão é aquele preponderante nas sapatas de tratores de esteiras, este será melhor detalhado a seguir. Capítulo 2 Revisão da Literatura 19 2.6 Desgaste Abrasivo O desgaste abrasivo é um dos principais tipos de desgaste, sendo um dos mais intensos e dos mais encontrados na prática, sendo responsável por 50 % das causas de falhas das máquinas ou componentes (EYRE,1991) apud (VILLABÓN e SINATORA, 2004). Além disso, o desgaste abrasivo tem especial importância nas atividades agrícolas, de transporte e de mineração, atividades de importância estratégica para países como o Brasil e a Colômbia (VILLABÓN e SINATORA, 2004). A Figura 2.12 ilustra as sapatas de uma esteira em plena atividade. Figura 2.12 – Fotografia de sapatas de uma esteira em atividade e submetida ao processo de desgaste (CATERPILLAR, 2006). Pode-se observar na Figura 2.12 que a garra da sapata é a parte que mais intensamente entra em contato com o solo, sendo assim, a região da sapata que necessita de recuperação devido principalmente ao desgaste abrasivo. Capítulo 2 Revisão da Literatura 20 2.6.1 Classificação do desgaste abrasivo Segundo DE MELLO et al., (1994), o desgaste abrasivo pode ser classificado de acordo com a configuração mecânica atuante no conjunto, em: • Abrasão entre dois corpos: as partículas abrasivas ou asperezas são animadas de movimento relativo em relação à superfície do material. Marcas e riscos são formados paralelamente à direção de deslocamento destas partículas, conforme ilustrado na Figura 2.13(a) (BRANKOVIC, 1998) apud KÖNIG (2007). • Abrasão entre três corpos: as partículas abrasivas agem como elementos interfaciais entre duas superfícies em movimento relativo. As partículas estão livres na interface, deformando plasticamente as superfícies de contato, conforme apresentado na Figura 2.13 (b) (BRANKOVIC, 1998) apud KÖNIG (2007). Figura 2.13 – Demonstração esquemática da classificação do desgaste abrasivo: abrasão entre dois corpos (a) e abrasão entre três corpos (b) (BRANKOVIC,1998) apud KÖNIG (2007). 2.6.2 Micromecanismos de desgaste abrasivo O desgaste abrasivo pode ainda ser classificado de acordo com o micromecanismo de abrasão atuante, conforme mostra a Figura 2.14, da seguinte forma: Capítulo 2 Revisão da Literatura 21 a) Microsulcamento: deformação plástica sem perda de material, gerando um sulco com conseqüente formação de acúmulos frontais e laterais do material movimentado. Em algumas situações, este micromecanismo pode acarretar a perda de material, devido a ação simultânea ou sucessiva de muitas partículas abrasivas; b) Microcorte: formação de microcavacos com pequena deformação plástica lateral c) Trincamento: formação de grandes partículas de abrasão devido à formação e interação de fissuras. Ocorre quando as tensões impostas superam as tensões criticas para a formação e propagação de trincas, sendo um mecanismo restrito a materiais frágeis. Figura 2.14 – Representação esquemática dos micromecanismos de desgaste por abrasão (adaptado de ZUM-GAHR, 1987). Hokkirigawa et al. (1988) mostraram que dois parâmetros de grande importância em ensaios abrasivos (profundidade de penetração da partícula – Dp e ângulo de ataque – θ) poderiam provocar a mudança de mecanismos de desgaste. A Figura 2.15 mostra a ocorrência de mecanismos de sulcamento, formação de proa e corte em metal duro, quando riscado com um indentador de diamante. Capítulo 2 Revisão da Literatura 22 O micro-mecanismo de desgaste por sulcamento é visto na Figura 2.15(a) onde o perfil do sulco indica pouca profundidade, não havendo remoção de material da superfície, pois o material é deformado plasticamente para as bordas dos sulcos. À medida que aumenta a profundidade de penetração do indentador a deformação plástica, que anteriormente se movia para as bordas, pode gerar uma formação de proa que podo ser vista na Figura 2.15(b). A Figura 2.15(c), por sua vez, mostra um perfil de sulco maior e consequentemente um aumento na deformação, porém com deslocamento e remoção de material, ou seja, um mecanismo de micro-corte, gerando assim perda de material. Os processos de desgaste podem ser simulados em laboratório, para isso, diversos equipamentos são construídos com essa finalidade. Dentre os mais conhecidos tipos tipos de equipamentos para este tipo de estudo pode-se citar: tribômetro tipo pino-contra-disco (pin-on-disc), abrasômetro tipo roda de borracha entre outros.Neste trabalho, foi utilizado um equipamento de ensaio de desgaste tipo roda de borracha. Capítulo 2 Revisão da Literatura 23 Figura 2.15 – Exemplo da ocorrência dos três micro-mecanismos de desgaste: (a) sulcamento; (b) formação de proa e (c) corte; em função da profundidade de penetração, (adaptado de HOKKIRIGAWA et al.,1988). 2.7 Abrasômetro tipo Roda de Borracha Este equipamento foi apresentado pela primeira vez por Haworth em 1948 (LIMA, 2008) e consiste em um disco de aço envolvido com um anel de borracha que gira em contato com a superfície do corpo-de-prova, com abrasivo na interface. Este equipamento permite realizar ensaios a seco ou a úmido, com alta confiabilidade de resultados, sendo empregado tradicionalmente na indústria de mineração; usa-se para classificar materiais quanto a sua resistência ao desgaste (VILLABÓN e SINATORA, 2006). O seu princípio de funcionamento, conforme a Capítulo 2 Revisão da Literatura 24 Figura 2.16, consiste em esmerilhar um corpo de prova padronizado com uma areia de granulometria controlada. O abrasivo é introduzido entre o corpo de prova e um anel de borracha de dureza especificada, provocando o riscamento (ASTM G 65-00, 2001). Figura 2.16 – Abrasômetro Roda de Borracha – Representação esquemática padronizada pela ASTM (ASTM G 65, 2001). A Figura 2.17 apresenta um corpo de prova com a marca característica de desgaste em abrasômetro tipo Roda de Borracha. Segundo MARANHO (2006), faz parte dos resultados referentes aos revestimentos aplicados por aspersão térmica sobre substratos de aço ao carbono e FFBMC – ferro fundido branco multicomponente. Figura 2.17 – Macrografia da marca do desgaste abrasivo em abrasômetro tipo Roda de Borracha (MARANHO, 2006). Capítulo 2 Revisão da Literatura 25 BUCHELY et al., (2005), conforme gráfico demonstrado na Figura 2.18, compararam a resistência ao desgaste abrasivo em ensaio tipo Roda de Borracha, levando em consideração a composição química das ligas (Tabela 2.1) utilizadas por soldagem , como também, o resultado por camadas aplicadas. Figura 2.18 – Gráfico representativo da perda de massa em função das camadas (BUCHELY et al., 2005). Conforme o gráfico representativo da resistência ao desgaste, nota-se a superioridade dos carbonetos complexos na terceira camada, seguido do revestimento rico em cromo na segunda camada. Quando o autor analisa os resultados da primeira camada, o melhor resultado foi da liga rica em tungstênio, seguido da liga rica em cromo e por fim a liga rica em carbonetos complexos. 26 Capítulo 2 Revisão da Literatura Tabela 2.1 – Composição química das ligas estudadas por BUCHELY et al. (2004). Composição Química Nominal % LIGAS C Cr W Mn Nb Mo Si V Liga 1 4,3 35 - 1,1 - - - - Liga 2 4,5 - 26 2,1 - - - - Liga 3 4,2 23 3,5 - 5,4 4,1 1,5 0,8 Liga 1 - Revestimento duro rico em cromo; Liga 2 – Revestimento duro rico em tungstênio; Liga 3 – Revestimento duro rico em carbonetos complexos. ARNT et al.(2006) apresentam macrografias como resultados de desgaste abrasivo em Roda de Borracha, mostradas na Figura 2.19, nas quais, as setas indicam trincas formadas no processo de deposição. Figura 2.19 – Macrografias de cdp após ensaio de desgaste abrasivo em roda de Borracha onde verfica-se a presença marcante de trincas, (ARNT et al.,2006). Trincas são fortes concentradores de tensão, podendo favorecer o início de fratura frágil na soldagem. São as descontinuidades mais graves em soldagem. De 27 Capítulo 2 Revisão da Literatura um modo bem simples, uma trinca pode ser considerada como o resultado da incapacidade do material em responder às solicitações impostas localmente pelas tensões decorrentes do processo de soldagem (MARQUES et al.,1991). Após o ensaio de desgaste existem várias formas de analisar os resultados, uma delas é a análise dos micromecanismos de desgaste. Esta análise, normalmente é feita com ajuda de um microscópio eletrônico de varredura- MEV. BUCHELY et al. (2005) mostram na Figura 2.20 a ocorrência de micromecanismo de corte (deformação plástica) em ligas com carbonetos tipo-M6C (Fishbone) com depósito rico em Tungstênio (Figura 2.20-a) e um efeito de interrupção do corte em um carboneto tipo-M7C3 em depósito rico em Cromo (Figura 2.20-b). (a) (b) Figura 2.20 - Exemplos de mecanismos de desgastes por deformação plástica por corte. (a) Corte ao longo de carboneto M6C rico em Tungstenio, (b) corte interrompido em carboneto M7C3 rico em Cromo (BUCHELY et al., 2005). Esta revisão da literatura servirá como base dos conhecimentos necessários para o desenvolvimento dos capítulos seguintes, notadamente, Materiais e Métodos e Resultados e Discussões. Três pontos terão importância vitais nesta dissertação de mestrado: primeiramente a aplicação de camadas de solda, utilizando o processo de soldagem com eletrodo revestido e suas técnicas inerentes, em uma sapata desgastada e em Capítulo 2 Revisão da Literatura 28 seguida o estudo da resistência ao desgaste através do ensaio com abrasômetro, dessas camadas. Finalmente um estudo comparativo das resistências ao desgaste abrasivo em uma sapata original, nova; em uma sapata recuperada com adição de postiço e com uma sapata recuperada pelo processo de soldagem supra citado. Capítulo 3 Materiais e Métodos 3 29 MATERIAIS E MÉTODOS Este capítulo descreve os diversos materiais, equipamentos e metodologias utilizadas ao longo da realização desta dissertação. 3.1 Materiais Três materiais foram utilizados para confecção dos corpos de prova, e serão apresentados a seguir: a) Sapata original A sapata original (denominada neste trabalho somente por sapata) de um trator de esteiras modelo D-6, foi uma doação de uma construtora de estradas instalada na região Norte do País. Segundo os técnicos da manutenção da construtora, a sapata é fabricada em aço ABNT 5140, laminada e temperada. Os corpos de provas, em número de três, foram confeccionados nas dimensões: 76,2 x 25,4 x 12,7 (mm); comprimento, largura e espessura, respectivamente, cujo formato, é ilustrado na Figura 3.1. Vale ressaltar que todos os corpos de prova utilizados nesta dissertação, apresentam estas mesmas dimensões finais, antes do início dos ensaios de desgaste. Figura 3.1 - Fotografia de um corpo de prova. 30 Capítulo 3 Materiais e Métodos Os corpos de provas da sapata foram confeccionados pelo processo de usinagem utilizando um centro de usinagem marca Romi, modelo T 1200 e retirados da região da garra da sapata conforme ilustração da Figura 3.2. Figura 3.2 – Ilustração da região da retirada dos corpos de prova da sapata. b) Postiço O postiço utilizado para confeccionar os corpos de prova foi retirado de uma sapata recuperada pela adição de postiço. Portanto trata-se de um postiço que recebeu uma carga térmica proveniente do processo de soldagem, consequentemente é muito provável que apresente alguma diferença comparando com um postiço novo, como nos valores de dureza, por exemplo. Semelhante aos três corpos de prova retirados da sapata, essas amostras foram também confeccionadas na mesma quantidade e mesmos processos. c) Cordão de solda Os corpos de prova confeccionados pelo processo de soldagem com eletrodo revestido SMAW (shielded metal arc welding) foram fabricados utilizando parte de uma sapata nova como substrato e com a adição de um consumível para revestimento duro E-83.58, que segundo o fabricante (ELETRODOS ESAB), é indicado para revestimento de peças desgastadas como: caçambas e dentes de escavadeiras, recuperação de peças de britadores, moinhos, misturadores, rosca Capítulo 3 Materiais e Métodos 31 sem-fim de alimentadores, partes de máquinas expostas ao desgaste por minério, pedra, areia, coque, entre outros. Este tipo de corpo de prova será doravante neste trabalho denominado somente pelo termo “solda”. A fonte de energia empregada para o processo de soldagem foi uma fonte retificadora do tipo tensão constante, modelo OrigoArc 456, da ESAB, com corrente máxima de 430 A a 60 %. Para limpeza das amostras com enchimento de solda, entre cada passes de soldagem, foi utilizada uma picadeira; uma escova de arame; uma lixadeira rotativa com escova de arame; uma esmerilhadeira rotativa com disco de desbaste. As próximas sub-seções descrevem detalhadamente a confecção dos corpos de prova por soldagem, além da tomada de alguns parâmetros de soldagem. c.1) Procedimentos de soldagem Barras com dimensões de 90 x 30 x 12 mm retiradas da placa da sapata, conforme ilustrado na Figura 3.3, foram utilizadas como substrato. Vale ressaltar que a camada de tinta amarela foi retirada das placas antes do inicio do procedimento de soldagem. Figura 3.3 – Sapata de trator de esteira. (a) desenho de uma sapata com linhas tracejadas indicando o local onde foram retiradas as barras (b) barras cortadas utilizadas como substrato. Primeiramente foi aplicada uma camada (amanteigamento) com eletrodo E308-L, diâmetro (Ø) 3,25 mm, cuja composição química nominal é: 0,03% C; 0,80% Si; 0,80% Mn; 19,60% Cr; 9,90% Ni. Após a aplicação de 6 passes paralelos foi feito 32 Capítulo 3 Materiais e Métodos um desbaste utilizando a esmerilhadeira e disco apropriado, até a camada ficar com a espessura aproximada de 1,0 a 1,5 mm. Em seguida foram feitas quatro camadas, de seis passes paralelos com o eletrodo de revestimento duro, ficando as barras com aproximadamente 18 mm de espessura. A Figura 3.4 mostra esquematicamente a aplicação destas camadas de cordão de solda. Figura 3.4 – Esquema da aplicação das camadas e amanteigamento. O excesso foi retirado pelo processo de usinagem por fresa seguido de retificação na camada de enchimento e fresamento para redução da espessura até 12,7 mm, no substrato. Para evitar superaquecimento, a soldagem foi aplicada alternadamente entre os cinco corpos de provas, sendo o resfriamento ao ar. Três corpos de prova para o ensaio de desgaste e dois para outras análises. A Figura 3.5 ilustra a confecção dos corpos de prova por enchimento e na seqüência a Figura 3.6 mostra um desenho esquemático de como ficaram dispostas as camadas depositadas na seção transversal do cdp. Para acompanhar o resfriamento das peças evitando que um passe subseqüente fosse aplicado com o cdp acima de 180˚ C, fato que poderia gerar distorções e/ou perdas de propriedades mecânicas, foi utilizado um termômetro digital a laser da INSTRUTHERM TI-09. Capítulo 3 Materiais e Métodos 33 Figura 3.5 – Ilustração da confecção de corpos de prova com enchimento: (a) aplicação da primeira camada (amanteigameto); (b) aplicação das camadas com eletrodo E- 83.58; (c) medição da tensão em 74,7 volts com circuito aberto e (d) tensão de 19,7 volts com circuito fechado. Circuito aberto e circuito fechado são termos comumente usados em soldagem. Sendo,circuito aberto uma referência ao equipamento, mesmo quando ligado, está fora de operação, ou seja, não está em procedimento de soldagem e circuito fechado, por sua vez, refere-se ao momento no qual o equipamento está, realmente em operação de soldagem. 34 Capítulo 3 Materiais e Métodos Figura 3.6 – Desenho esquemático da seção transversal do corpo de prova com as camadas de enchimento. c.2) Parâmetros de soldagem A Tabela 3.1 indica os parâmetros de soldagem utilizados durante a aplicação dos cordões de solda, tanto no procedimento de amanteigamento com eletrodo E308-L como na aplicação do revestimento duro (E-83.58). Estes parâmetros foram escolhidos visando o desempenho do processo, sobretudo para evitar trincas; porosidade e baixa dureza. Os valores de corrente elétrica (A), estão dentro das faixas indicadas pelo fabricante para cada eletrodo utilizado e a velocidade de aplicação está compatível com as dimensões da peça e prática do operador. Tabela 3.1 – Parâmetros utilizados no processo de deposição por soldagem tipo SMAW. Eletrodo Corrente (A) Voltagem (V) Velocidade (mm.min-1) E- 308-L 100 26 ~29 140 E- 83.58 140 19 ~21 137 Capítulo 3 Materiais e Métodos 35 3.2 Caracterização dos Materiais a) Dureza As medidas de dureza, num total de onze, com descarte da maior e menor, foram realizadas com durômetro EMCOTEST modelo M4C 025 G3M em escala Vickers, com cargas de 100 kgf para sapata e solda e 30 kgf para o postiço. O durômetro pertence ao Laboratório Integrado de Materiais (LIM-DAMEC) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Para verificação da dureza foram utilizados corpos de prova idênticos aos submetidos aos ensaios de desgaste abrasivo. A Figura 3.7 ilustra as regiões de onde foram realizadas as medições de dureza. Figura 3.7 – Representação esquemática das posições onde foram realizadas as medições de dureza Vickers nos corpos de provas. b) Metalografia O material para análise metalográfica foi obtido a partir de amostras retiradas dos corpos de prova com auxílio da máquina de corte marca STRUERS modelo LABOTOM e embutidas em baquelite. Posteriormente, as mesmas foram lixadas manualmente seguindo a seqüência tradicional de lixas grana 220, 320, 400, 600, 800, 1200, 1500, e em seguida, polidas na máquina de polir amostras metálicas marca STRUERS modelo DAP V, com abrasivo de alumina de granulação 3,0 µm e 36 Capítulo 3 Materiais e Métodos atacadas com solução de nital a 2,0%. A análise metalográfica foi realizada em um microscópio ótico marca Carl Zeiss/Zepa modelo NEOPHOT 32. Estes equipamentos pertencem ao laboratório de metalografia do LIM DAMEC da UTFPR. c) Análise química A análise química dos três materiais (denominadas aqui por real, ou seja, com as composições químicas reais das amostras) foram realizadas com auxílio do espectrômetro de emissão ótica BAIRD, cortesia da SPECTROSCAN TECNOLOGIA DE MATERIAIS LTDA. A composição química (denominada por nominal) do eletrodo de solda E-83.58 fabricado pela ESAB é fornecida em catálogos do fabricante. As análises foram realizadas em corpos de provas idênticos aos cdp ensaiados com abrasômetro. A Tabela 3.2 mostra os resultados finais das análises químicas enquanto que os resultados completos encontram-se no Anexo 1, onde são fornecidas informações sobre rastreabilidade e normas técnicas. A diferença das composições químicas do eletrodo (nominal x real) se justifica pelo ganho e perda de elementos químicos no momento da diluição, ou seja, no momento da solidificação da poça de fusão. Tabela 3.2 – Composição química dos materiais dos corpos de provas. Comp. Quím. Materiais C Mn Cr Ni Si Mo S Sapata real 0,36 0,98 0,17 - 0,22 0,13 0,02 Postiço real 0,67 0,66 0,23 - 0,10 0,15 0,02 nominal 0,60 0,70 6,80 - 0,60 0,50 - real 0,79 0,79 10,68 0,15 0,78 0,49 0,02 Solda Capítulo 3 Materiais e Métodos 37 d) Microscopia eletrônica de varredura A obtenção de imagens por microscopia eletrônica de varredura (MEV) tiveram dois objetivos: • Observar a superfície de desgaste de uma sapata original usada, buscando a identificação dos mecanismos de desgaste atuantes em campo; • Analisar os mecanismos de desgaste atuantes durante os ensaios de desgaste. As imagens de MEV utilizadas neste trabalho são de elétrons secundários (SE) obtidas no equipamento JEOL modelo JSM-6360 LV do Centro de Microscopia Eletrônica do Setor de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Paraná (UFPR). 3.3 Metodologia do Ensaio de Desgaste Os ensaios de desgaste, três amostras por material, foram realizados em um abrasômetro tipo roda de borracha (areia seca), ilustrado pela Figura 3.8, seguindo o método B padronizado pela norma ASTM G 65-00 (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, 2001). Esse método recomenda como rotação do eixo da roda de 200 rpm, carga normal de 130 N, e tempo de ensaio de 10 minutos. O abrasivo utilizado foi a areia normal brasileira, granulometria 100 (tamanho médio de 0,15 mm) segundo a norma NBR 7214 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,1982). Figura 3.8 – Equipamento de ensaio de desgaste: (a) desenho esquemático, (b) detalhe do disco de aço com anel de borracha e corpo de prova e (c) vista frontal do equipamento indicando o dispositivo da carga aplicada e depósito de areia após uso. 38 Capítulo 3 Materiais e Métodos Os corpos de prova foram limpos em álcool etílico utilizando ultrasom e secagem com ar quente, na secadora de amostras STRUERS modelo DryBox-2, antes de serem pesados em balança analítica com precisão de 0,001 g. Outras condições fixas do ensaio foram: a) Dimensões das amostras foram 76,2 x 25,4 x 12,7 mm; b) Disco de 12,7 x 228 mm; c) Anel de borracha com dureza de 60 shore A (espessura de 12,7 mm); d) Distância percorrida do ensaio de 1436 m; e) Taxa de alimentação de areia: 175,1 ± 11,5 g/min. O desgaste foi avaliado pela diferença de peso dos corpos de prova, antes e após o ensaio, sendo a perda de massa (Pm) determinada pela diferença entre a massa inicial e a massa final, conforme mostra a Equação 3.1. Pm = mi − m f Eq. 3.1 sendo que: Pm = perda de massa (g); mi = massa inicial do corpo de prova (g); mf = massa final do corpo de prova (g). Após cada ensaio com o abrasômetro, é normal que a borracha também sofra uma redução no seu diâmetro. Para considerar esta mudança no sistema tribológico durante os ensaios, nos cálculos de resistência ao desgaste, a norma G 65 propõe a equação Eq. 3.2. Pmc = Pm φi φf Eq. 3.2 39 Capítulo 3 Materiais e Métodos sendo que: Pmc = perda de massa corrigida (g); Pm = perda de massa ( Pmi – Pmf ) (g); φi = diâmetro inicial da roda de borracha (228,6 mm); φi = diâmetro da roda de borracha após ensaio (mm). Para facilitar a comparação entre as perdas de massas de diferentes materiais, torna-se necessário converter a perda de massa para perda de volume, em milímetros cúbicos e encontrar a resistência ao desgaste (Q’) em (mg x m-1)-1, o que pode ser feito pelo uso das Equações 3.3 e 3.4. Pv = Pmc δ x1000 Eq. 33 sendo que: Pv = perda de volume (mm3) Pmc = perda de massa corrigida média (mg); δ = densidade (mg/cm3) A massa específica de cada material (sapata; postiço e solda) foram obtidas em MATWEB (2010) e seus valores foram: 7,84; 7,87 e 7,87 g/cm3 , respectivamente. Mais detalhes sobre características destes materiais podem ser encontradas no Apêndice A. Para melhor visualização dos resultados, podemos obter (Q’’) que é o inverso do quociente da perda de volume (Pv) pela distância percorrida no ensaio (1436 m). 40 Capítulo 3 Materiais e Métodos Pv Q' ' = dist −1 Eq. 3.4 sendo que: Q’’ = Resistência ao desgaste (mm3 . m-1)-1 ; Pv = Perda de volume (mm3); dist. = distância percorrida durante os ensaios (m). A distância percorrida em todos os ensaios foi de 1436 metros. Convém informar que foram realizadas 3 repetições para cada tipo de corpo de prova (sapata, postiço e solda) desta forma é necessário o cálculo de valores médios e desvios padrão tanto da perda de massa corrigida quanto da resistência ao desgaste. 3.3.1 Procedimentos executados nos ensaios Em conformidade com as sugestões da norma ASTM G 65 foram adotados os seguintes procedimentos: a) encher o reservatório com areia padrão100; b) medir o diâmetro inicial da roda e ajustar a rotação do eixo da roda de borracha; c) ajustar a carga normal em 130 N; d) limpar o corpo de prova com álcool etílico 92,8° GL e ultrasom por 5 minutos; e) secar o corpo de prova com jato de ar quente; f) pesar o corpo de prova em balança analítica para obter a massa inicial; g) fixar o corpo de prova no porta amostras; h) iniciar o ensaio e finalizar após 10 minutos; Capítulo 3 Materiais e Métodos 41 i) medir o diâmetro final da roda de borracha; j) proceder a limpeza do corpo ensaiado com álcool, ultrasom e secagem; k) pesar novamente o corpo de prova para obter a massa final; l) calcular a perda de massa pela diferença inicial e final e corrigir com o diâmetro da roda de borracha; m) Procedimento da limpeza da roda de borracha m.1) limpeza da roda de borracha com lixa granulometria 220; m.2) envolver um corpo de prova em lixa granulometria 220 e fixar no porta amostra; m.3) aproximar o corpo de prova envolvido com a lixa e iniciar um leve desbaste por 60 segundos até retirar resíduos de abrasivo incrustado na borracha; m.4) retirar resíduos de abrasivo das laterais da roda de borracha. n) prosseguir o ensaio com outro corpo de prova voltando ao item a). 42 Capítulo 4 Resultados e Discussões 4 RESULTADOS E DISCUSSÕES Neste capítulo serão discutidos os resultados obtidos durante as etapas de caracterização dos materiais usados na fabricação e recuperação de sapatas de tratores de esteiras e também da medição da resistência ao desgaste em ensaio Roda de borracha. 4.1 Dureza Sendo a dureza uma propriedade de extrema importância para a caracterização das amostras sujeitas a processo de desgaste, optou-se por mensurar esta propriedade mecânica em dois aspectos diferentes: distribuição de dureza ao longo da seção transversal de amostras soldadas e dureza da superfície de desgaste. A) Dureza da superfície das amostras Os resultados das medições de dureza de topo de cada material estão apresentados na Tabela 4.1. Ressalta-se que os cdps para o ensaio de dureza, da superfície, seguiram os mesmos procedimentos de fabricação aos quais foram submetidos os cdps do ensaio de desgaste. Nestas tabelas estão apresentadas 9 das 11 medições realizadas, pois foram descartadas o maior e o menor valor de dureza. 43 Capítulo 4 Resultados e Discussões Tabela 4.1 – Valores de dureza Vickers dos corpos de provas. Medições Postiço Sapata Solda 1 268 431 507 2 266 469 437 3 263 459 448 4 266 404 428 5 269 451 517 6 268 467 547 7 283 427 510 8 266 469 498 9 273 445 497 Média 270 ± 6 447 ± 22 490 ± 40 Observando a Tabela 4.1 nota-se que o maior valor de desvio padrão é encontrado nas medidas do cdp soldado, o que não é estranho, pois é natural que a solda apresente uma estrutura heterogênea, fato este que é inerente aos processos de soldagem de multipasses. Analisando os valores de dureza dos materiais separadamente, tem-se: • Dureza do postiço O postiço, segundo o fabricante, seria um aço SAE/AISE 1045. Porém, ao ser analisado quimicamente via espectrômetro, o postiço apresentou composição química que cumpre requisito de norma para aço 1060 (resultado completo no Anexo A). Convêm salientar que essas distorções nos resultados do material, são questões comerciais e que fogem do controle do usuário. Analisando a dureza do postiço verifica-se que esta é compatível com um aço SAE/AISI 1060 (MATWEB, 2010) tanto pela composição como pelo aporte térmico recebido no momento da união com a sapata desgastada (processo de união por 44 Capítulo 4 Resultados e Discussões soldagem a arco submerso, com resfriamento lento), o que acabou por promover uma normalização deste material e consequentemente acarretando uma dureza menor que a sapata, a qual será apresentada a seguir. • Dureza da sapata A sapata, assim como o postiço, também apresentou distorção nos resultados em relação ao que era esperado. Segundo especialistas (técnicos pós-venda), o material seria o aço SAE/AISI 5140 e segundo a análise química via espectrômetro, apresentou compatibilidade com um aço SAE/AISI 1040. Analisando os valores de dureza Vickers da sapata, mostrados na Tabela 4.2, na região da crista constatou-se que esta não é uniforme, pois, enquanto a região do núcleo (Figura 4.3-a) apresenta dureza próxima a 230 HV, a região da superfície da garra apresenta-se próxima 440 HV. Tal fato pode ser considerado aceitável, pois a sapata, em suas últimas etapas de fabricação, segundo o fabricante, é laminada e temperada. A Tabela 4.2 apresenta os valores das medições de dureza Vickers no perfil da crista da garra da sapata em detalhe na Figura 4.1. Tabela 4.2 – Medidas de dureza da crista da garra. Posição Dureza (HV) Posição Dureza (HV) 1 434 1’ 446 2 402 2’ 434 3 354 3’ 382 Analisando os valores de dureza Vickers da sapata, mostrados na Tabela 4.2, na região da crista constatou-se que esta não é uniforme, pois, enquanto a região do núcleo (Figura 4.1-a) apresentou dureza próxima a 368 HV, a região da superfície da garra apresenta-se próxima a 440 HV. Tal fato pode ser considerado aceitável, pois Capítulo 4 Resultados e Discussões 45 a sapata, em suas últimas etapas de fabricação, segundo o fabricante, é laminada e temperada. Figura 4.1 – Perfil de dureza da garra da sapata: (a) detalhe da crista da garra e suas medidas de dureza da borda ao núcleo e (b) desenho esquemático da lateral da esteira. • Dureza da solda Segundo dados do fabricante (ESAB), a dureza do cordão de solda deveria variar entre 697~832 HV. Porém, neste experimento, a dureza teve um valor médio de 490 HV com desvio padrão de 40. A caracterização metalográfica apresentada a seguir mostrará que o cordão de solda apresenta poros e micro-trincas. Estes defeitos provenientes do processo de soldagem influenciaram nos valores de dureza e na dispersão dos resultados. Sabe-se que a dureza da solda depende de vários fatores, como por exemplo: velocidade de resfriamento; temperatura entre passes, pré e pós-aquecimento, entre outros. Portanto, é possível obter valores mais elevados de dureza, utilizando este mesmo eletrodo. De qualquer forma, a escolha deste eletrodo tinha a função de promover uma maior dureza no cordão de solda, em relação aos outros materiais, fato este que terminou por ocorrer, como mostra a Tabela 4.1. Capítulo 4 Resultados e Discussões 46 Analisando os valores das durezas: sapata (447 ± 22) e solda (490 ± 40) temse uma variação de 425~469 para sapata e 450~530 para solda, portanto as durezas da sapata e da solda não podem ser consideradas muito diferentes. B) Dureza ao longo da seção transversal do material soldado A Figura 4.2(a) mostra as indentações de dureza na seção transversal de uma amostra com enchimento de solda, da qual foram confeccionados os cdps para ensaios de desgaste. Nesta figura nota-se a presença de 3 regiões distintas de material (camada de enchimento, região do amanteigamento e sapata usada), conforme esquematizado na Figura 4.2(b). Figura 4.2 – Macrografia da seção transversal do cdp com solda após ensaios de determinação de perfila de dureza. a) indicação das medidas b) identificação das camadas. Na Figura 4.2(a) a numeração 1` e 2`, referem-se a repetições de medição de dureza à mesma profundidade do corpo de prova. Na Figura 4.2, como era esperado pela análise do tamanho das impressões de dureza, observa-se 3 regiões distintas de dureza. Nota-se também que na região dos cordões de enchimento (solda), a dureza se eleva gradualmente. Isto era esperado devido a ocorrência de diluição dos materiais do eletrodo de alta dureza e do eletrodo usado para o amanteigamento. Outro detalhe que vale a pena salientar, Capítulo 4 Resultados e Discussões 47 é quanto à dureza na região da sapata. Observa-se na Figura 4.3, que essa dureza representa a propriedade mecânica da aba da sapata ( Figura 3.3, região que foi utilizada para o enchimento com solda). Portanto com uma dureza bem menor que a dureza da crista da garra (±446 HV). Figura 4.3 – Perfil de dureza Vickers da amostra com deposição de cordões de amanteigamento e de solda. Tendo em vista que neste trabalho utilizou-se o eletrodo de amanteigamento para reduzir tensões provenientes do processo de soldagem e evitar trincas na solda, é de se esperar que a dureza nesta região fosse menor. Nota-se que a dureza entre a sapata e o amanteigamento não muda de maneira brusca, isso deve-se à diluição entre as camadas. 4.2 Metalografia 4.2.1 Postiço A Figura 4.4 ilustra a micrografia, do material do postiço. Nota-se uma microestrutura de colônias de perlita e poucas áreas de ferrita. 48 Capítulo 4 Resultados e Discussões (a) (b) Figura 4.4 – Micrografia do material do postiço. (a) Região próxima à superfície (200x), (b) mesma região com maior ampiação (500 x). Reagente Nital 2%. 49 Capítulo 4 Resultados e Discussões 4.2.2 Sapata Analisando a micrografia da Figura 4.5, observa-se uma microestrutura de pleno carbono destacado por colônias perlíticas. (a) (b) Figura 4.5 – Micrografia do material da sapata. (a) Região próxima à superfície (200x), (b) mesma região com maior ampliação (500 x). Reagente Nital 2%. Capítulo 4 Resultados e Discussões 50 Na Figura 4.5(a) ainda é possível notar uma diferença microestrutural significativa da superfície em relação ao núcleo (destacando o tamanho de grão), com uma camada de aproximadamente de 35 µm. Tal fato estaria de acordo com o processo de fabricação das sapatas com laminação e têmpera. 4.2.3 Solda A Figura 4.6(a) mostra a seção transversal do cdp soldado, que, assim como, nas medidas de durezas (Figura 4.2) observa-se a presença de 3 regiões distintas. Figura 4.6 – Microrafias do cdp soldado: a) macrografia com identificação das três regiões; b) substrato com interface do amanteigamento e solda e c) região da solda. A região mais escura é o substrato (sapata usada) e logo acima uma região intermediária (mais clara) que é a região do amanteigamento (em destaque na 51 Capítulo 4 Resultados e Discussões Figura 4.6(b) e na parte superior a região da solda propriamente, Figura 4.6(c) A região da solda mostra uma microestrutura de fusão com estrutura de solidificação dendrítica. 4.3 Trincas Superficiais Analisando o revestimento duro utilizado neste trabalho, com teor de elementos de ligas abaixo de 20%, mais especificamente com 0,79% C; 0,78% Si; 0,79% Mn; 10,68% Cr e 0,49% Mo, nota-se que este apresentou valores de dureza por volta de 490 HV, portanto com dureza superior à da sapata (447 HV). As condições de soldagem e este acréscimo de dureza não provocaram o surgimento de trincas significativas quando comparado com resultados de outros pesquisadores, conforme Figura 4.8. A imagem da Figura 4.7-a é uma fotografia de um cdp soldado antes do ensaio de desgaste e a Figura 4.7-b uma micrografia da superfície de desgaste após o ensaio roda-de-borracha. Nota-se nesta figura a presença de uma trinca com comprimento de aproximadamente 60~70 µm, o que pode ser considerado como mínimo, comparando com outros trabalhos discutidos a seguir. Figura 4.7 – Fotografia de um cdp com solda (a) e sua micrografia onde nota-se a microtrinca e riscos na região do ensaio de desgaste (b) (MEV). Capítulo 4 Resultados e Discussões 52 RIBEIRO (2004) utilizou um eletrodo revestido com composição química 5,3% C; 1,2% Si; 0,8% Mn e 42,0% Cr, com dureza aproximada de 784 HV, no entanto, em suas conclusões verificou que poucas amostras não apresentaram trincas na superfície do revestimento. A Figura 4.8-a mostra um corpo de prova com diversos defeitos devido a soldagem e uma visível trinca transversal. Figura 4.8– Fotografias de corpos de prova com presença de trincas. (a) cdp de RIBEIRO (2004) e (b) cdp de ARNT et al. (2006). ARNT et al. (2006), utilizou eletrodo tubular com composição química composta de 4,8% C; 0,93% Si; 0,16% Mn; 18,9% Cr; 6,82% Nb; 0,4% B. A dureza encontrada foi de 746 HV e, também, constatou a presença de trincas conforme item (b) da Figura 4.8. Segundo BUCHANAN et al. (2007) apud LIMA (2008) é recomendável que ao se escolher uma liga para revestimento duro deve-se levar em conta a sua soldabilidade, custos e a compatibilidade metalúrgica. As ligas com alto teor de FeCr-C são particularmente atrativas porque os carbonetos resultantes podem formar uma grande variedade de micro-constituintes, provendo um aumento de resistência à abrasão. 53 Capítulo 4 Resultados e Discussões Entretanto, CORREA et al. (2007) apud LIMA (2008), afirmam que as ligas FeCr-C são susceptíveis às trincas de solidificação, as quais aliviam as tensões de soldagem, mas, no caso de onde o componente está sujeito à vibração ou impacto podem levar à fragmentação do revestimento. Em função disso, se busca incessantemente a obtenção de ligas que apresentem um bom desempenho de resistência ao desgaste e tenacidade. Considerando que os resultados deste trabalho, tanto a dureza como a resistência ao desgaste (como será visto logo abaixo) se mostraram superiores aos mesmos indicadores da sapata e do postiço e quando comparados com os resultados dos trabalhos de outros pesquisadores, levando em consideração, por exemplo: trincas, porosidade aparente e outros defeitos visíveis de solda, a aplicação de cordões com baixo teor de Cromo (10,7%) e pouco elemento de liga (0,5% Mo) mostrou-se viável. Outro aspecto relevante é que o metal de adição de baixa liga tem sua aplicação mais simples por apresentar melhor soldabilidade. 4.4 Resultados dos Ensaios de Desgaste Apesar da presença de trincas no cdp soldado, a sua perda de massa foi a menor, conforme mostra a Tabela 4.3, ou seja, se for feito no futuro um aprimoramento das condições de soldagem – pré-aquecimento, pós-aquecimento, etc...- o processo com enchimento por cordão de solda pode ser considerado bem adequado. Tabela 4.3 – Perda de massa (em gramas) média corrigida dos cdps. Medidas sapata postiço solda 1 0,509 0,412 0,364 2 0,466 0,390 0,366 3 0,490 0,393 0,358 Média 0,49 ± 0,02 0,399 ± 0,012 0,363 ± 0,004 Capítulo 4 Resultados e Discussões 54 Analisando a profundidade de 0,43 mm, em um corte transversal, na região de desgaste no cdp soldado, após o ensaio de desgaste, nota-se que a profundidade do desgaste está longe da camada de amanteigamento. Isto é mostrado na Figura 4.10. Figura 4.9 – Representação gráfica dos resultados de dureza e perda de massa. Comparando os resultados de dureza e perda de massa, representados na Figura 4.9, observa-se que a dureza da sapata foi superior à dureza do postiço, porém a sapata apresentou maior perda de massa. Esta ocorrência se explica porque a dureza do material, em alguns casos, não apresenta uma relação direta com a resistência à abrasão. RIBEIRO (2004) relata que seus resultados coincidiam com os resultados encontrados por KOTECKI e OGBOM (1995), que concluíram que a dureza não é o melhor indicador da resistência ao desgaste, e sim a microestrutura. Outro fator importante é que a dureza da sapata diminui à medida que se aproxima do núcleo. Portanto, ao analisarmos a Figura 4.10 que mostra a superfície do corpo de prova indicando um desgaste, no ensaio, de 430 µm e compararmos com a Figura 4.5(a) na qual, a superfície tratada da sapata não é maior que, aproximadamente, 35 µm. Conclui-se então, que a camada superficial Capítulo 4 Resultados e Discussões 55 onde se observa uma dureza mais elevada da sapata é rapidamente eliminada por processos de desgaste, tanto no ensaio tribológico como no trabalho real em campo. Figura 4.10– Fotomicrografia da seção transversal do corpo de prova indicando a profundidade do desgaste em mm e as três regiões distintas: substrato, amanteigamento e solda. (22x). Este primeiro resultado da recuperação por solda, em relação aos outros métodos, indica que vale a pena um aprofundamento na possibilidade de adotar este método para recuperar sapatas em campo. De uma maneira ainda simples, também é possível comparar estas opções do ponto vista dos custos envolvidos. A Tabela 4.3 apresenta de forma esquemática os custos de cada uma destas soluções e nos indica uma real vantagem deste método 56 Capítulo 4 Resultados e Discussões Tabela 4.4 – Custos simplificados envolvidos nos processos. Material Custo (R$) Mão de Obra (R$) Total (R$) Sapata nova Original comprada do fabricante 250,00 - 250,00 Sapata nova Comprada no mercado de reposição 155,00 - 155,00 Postiço Com comprimento de 500 mm 60,00 90,00 Solda Admitindo 2 kg depositados por sapata 10,00 60,00 30,00 50,00 Para melhor entendimento da Tabela 4.4, vale ressaltar que a reposição a custo zero, tanto para a sapata original como a sapata do mercado paralelo é referente à uma manutenção pelo proprietário do equipamento, portanto não incidindo em custos adicionais. Outro detalhe importante para esta análise de custos (muito simplificada) é que esse custo é unitário, ou seja, custo por sapata. Na manutenção, utilizando postiço, considera-se o preço do postiço e o custo da mão-de-obra de soldagem a arco submerso executado em oficina especializada, enquanto que na solda de enchimento, essa mão-de-obra é considerada como de um profissional contratado para fazer a soldagem no local de trabalho da máquina e o equipamento para soldagem sendo do proprietário do trator. Portanto considerando que um soldador consegue depositar 2 kg/hora, quantidade necessária para uma sapata (considerando o peso do postiço aproximadamente 2 kg para um trator de porte médio e o rendimento da soldagem próximo a 100%), o mesmo conseguirá recuperar um número próximo de oito sapatas/dia. A Tabela 4.5 apresenta os resultados gerais dos materiais quanto à perda de massa e volume, como também, resistência ao desgaste considerando tanto a massa como o volume perdido. 57 Capítulo 4 Resultados e Discussões Tabela 4.5 – Resultado geral dos ensaios Roda de Borracha. Param. Materiais Perda de massa corrigida – pmc (g) Perda de volume – PV (mm3) Resistência ao desgaste – Q’ (mg.m-1)-1 Resistência ao desgaste – Q” (mm3.m-1)-1 Sapata Postiço Solda 0,49 ± 0,02 0,399 ± 0,012 0,363 ± 0,004 59 ± 2 48 ± 1 43,7 ± 0,5 3,1 ± 0,1 3,8 ± 0,1 4,18 ± 0,05 24,4 ± 1,1 29,9 ± 0,9 32,9 ± 0,4 A apresentação dos resultados em forma de resistência ao desgaste, ao invés de somente perda de massa, nos possibilita comparar com resultados de outros pesquisadores. BUCHELY et al. (2005) em um estudo semelhante a este, também com deposição de cordão soldado em multipasses, obtiveram resultados bem superiores ao deste trabalho, com valores de resistência ao desgaste entre 115 e 230 (mm3.m-1)-1. No entando, deve-se considerar que tanto o processo de soldagem utilizado (arco submerso – SMAW), quanto as ligas de materiais depositadas (todas ricas em Cromo, Tungstênio, Molibdênio, além de Nióbio e Vanádio) apresentam custo muito mais elevados que as soluções apresentadas neste trabalho para uma recuperação por solda. 4.5 Mecanismos de Desgaste Do ponto de vista dos mecanismos de desgaste presentes nas superfícies analisadas, diversas abordagens puderam ser realizadas. 4.5.1 Superfície de uma sapata desgastada Analisando a superfície de uma garra de sapata que sofreu desgaste no campo, nota-se a presença de muita deformação plástica (com muito sulcamento) e Capítulo 4 Resultados e Discussões 58 também riscos de abrasão (características de mecanismos de corte), conforme está ilustrado na Figura 4.11. Figura 4.11– Imagem por MEV da superfície da garra desgastada no campo apresentando (a) riscos e (b) deformação plástica. A presença destes dois mecanismos na superfície de desgaste de uma sapata usada foram importantes para a confirmação do uso do ensaio tipo roda de borracha, como um ensaio capaz para fazer as comparações que estão sendo apresentadas neste trabalho. 4.5.2 Dureza do abrasivo x dureza da superfície Segundo MARINO et al. (1997) apud LIMA (2008), a dureza do abrasivo influi no grau de penetração na superfície do material, portanto, vai influenciar também na taxa de desgaste. Se a dureza do abrasivo for muito superior à dureza da superfície, o desgaste é classificado como estando acontecendo em regime severo. Caso contrário, para taxas de desgaste pequenas o regime é chamado de moderado. A Tabela 4.6 apresenta os valores da relação de dureza do abrasivo (Ha = dureza da sílica ∼ 1100 HV) e da superfície de desgaste de cada material estudado. Esta relação é denominada aqui por Ha/Hs. 59 Capítulo 4 Resultados e Discussões Tabela 4.6 – Relação de Ha/Hs dos materiais estudados. Medições Postiço Sapata Solda Dureza (média) 270 447 490 Ha/Hs 4,07 2,46 2,24 O limite da relação Ha/Hs para que ocorra a transição de desgaste moderado para severo não é unânime entre os pesquisadores (NATHAN e JONES, 1967 e RICHARDSON, 1968) podendo variar de 0,8 a 1,5. No entanto, para os materiais em estudo, pode-se dizer, então, que o regime de desgaste para as três amostras foi um regime severo. 4.5.3 Mecanismos de Desgaste x Propriedades Mecânicas Analisando as imagens das superfícies de desgaste dos materiais ensaiados, apresentadas na Tabela 4.7, pode-se dizer que os mecanismos de desgastes presentes são o corte (ou micro-corte) e o sulcamento (deformação plástica), mostrando assim que os ensaios de desgaste em laboratório utilizados são adequados, pois simulam os mecanismos apresentados em uma sapata usada (Figura 4.11). Com a observação dos resultados apresentados na Tabela 4.7 é possível salientar os seguintes pontos: • na sapata e no postiço, observa-se pouca presença de mecanismo de riscamento (corte ou micro-corte) com predominância de sulcamento (deformações plásticas intensa). Aparentemente não há diferença significativa nos mecanismos de desgaste destes dois materiais; • a resistência ao desgaste do postiço é superior à da sapata, porém, do ponto de vista da resistência mecânica, a dureza da sapata é superior à do postiço; • na amostra de solda, que é aquela que apresenta a maior dureza e resistência ao desgaste, observamos somente a presença do mecanismo de riscamento; Capítulo 4 Resultados e Discussões 60 Tabela 4.7 – Resumo dos resultados de desgaste em relação aos micromecanismos apresentados. - Dureza: 490 HV - Relação de dureza: solda Ha/Hs = 2,24 - Resistência ao desgaste: Q’= 4,18 [mg/m]-1 - Mecanismo de desgaste preponderante: micro-corte - Dureza: 270 HV - Relação de dureza: postiço Ha/Hs = 4,07 - Resistência ao desgaste: Q’= 3,8 [mg/m]-1 - Mecanismo de desgaste preponderante: Sulcamento - Dureza: 447 HV - Relação de dureza: sapata Ha/Hs = 2,46 - Resistência ao desgaste: Q’= 3,1 [mg/m]-1 - Mecanismo de desgaste preponderante: Sulcamento Ao analisar os resultados da Tabela 4.7, verifica-se que o mecanismo de desgaste principal na amostra de solda (490 HV) é o micro-corte em contrapartida às outras amostras (270 – 450 HV), onde mecanismos de sulcamento (com ou sem a formação de proa), é possível relacionar com os resultados dos experimentos de HOKKIRIGAWA et al. (1988). Estes pesquisadores mostraram que é possível passar Capítulo 4 Resultados e Discussões 61 de mecanismos de sulcamento e formação de proa para o mecanismo de microcorte com o aumento da dureza do material da superfície para um mesmo ângulo de ataque. A Figura 4.12 permite observar que para ângulos de ataque superiores a 30º é possível que material com uma dureza elevada, passe a apresentar mecanismo de micro-corte. Figura 4.12 – Diagrama de mecanismos de desgaste para diferentes ângulos de ataque em função da dureza da superfície do material submetido à abrasão: transição de mecanismos de sulcamento, formação de proa e corte (adaptado de HOKKIRIGAWA et al. (1988). Vale ressaltar que não foi possível identificar alguma diferença significativa entre os ângulos de ataque dos ensaios realizados com os três materiais ensaiados. HOKKIRIGAWA et al. (1988) também salientam que a fração de partículas capazes de promover corte e não sulcamento em uma superfície exposta à abrasão, aumenta com a dureza da superfície, explicando assim, parte dos resultados encontrados neste trabalho. Capitulo 5 - Conclusões 5 62 CONCLUSÕES Os resultados obtidos neste trabalho permitiram que fosse possível concluir que: • A solda com elementos de liga abaixo de 20% apresentou dureza compatível com o material a ser recuperado; • Mesmo com a presença de poros e trincas a resistência ao desgaste da solda mostrou-se 34,8% superior à dureza da sapata original. • O riscamento (corte e micro-corte) foi o mecanismo de desgaste predominante na solda; que nos ensaios, se apresentou como o material mais duro e mais resistente ao desgaste enquanto que o mecanismo de desgaste por sulcamento foi observado no postiço e sapata; • O fato da resistência ao desgaste da solda deste trabalho apresentar resultados menores que outros trabalhos que utilizaram materiais de maior dureza, não inviabiliza esta proposta; • A superfície da solda apresentou boa aparência quando comparada com superfícies de materiais mais duros; • Os custos com a recuperação por soldagem se mostraram mais vantajosos que com os outros métodos; • A metodologia de ensaio utilizada foi considerada adequada para atingir os objetivos propostos. Capitulo 6 - Trabalhos Futuros 6 63 SUGESTÃO DE TRABALHOS FUTUROS • Realizar um estudo para adequação das condições de soldagem dos cordões multipasses como: velocidade, amperagem, temperatura entre passes, com o objetivo de reduzir o número de trincas e poros; • Variar tamanho e tipo de abrasivo para verificar a influência dos abrasivos na solução obtida neste trabalho; • Propor a recuperação da sapata utilizando o processo de soldagem ao arco submerso; • Realizar experimentos com eletrodos mais ricos em número de elementos de liga visando geração de carbonetos, tendo o cuidado de não exceder em muito os 20% em elementos de liga. 64 Referências REFERÊNCIAS ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 7214: Areia normal para ensaio de cimento. São Paulo, 1982. AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM G 65: Test Method for Measuring Abrasion using dry/sand rubber wheel apparatus. West Conshohocken, 2001. ARNT, A.B.C.; ROCHA, M.R da; TORRES, L.A.; LEANDRO, B.J. - Avaliação do desempenho de revestimentos depositados por solda em rolos de moagem de carvão.In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA E CIÊNCIA DOS MATERIAIS, 17., 2006, Foz do Iguaçu. Anais Eletrônicos... Curitiba: Disponível em: <http://www.metallum.com.br/17cbecimat/resumos/17cebecimat-306-006.pdf>. Acesso em 06 out. 2008. BRACARENSE, A.Q.; MARQUES, P.V.; SILVA, A.R. Aplicação de uma técnica variante da dupla camada na soldagem do aço 5%Cr-0,5%Mo. Infosolda.com.br. <WWW.infosolda.com.br/download/15dda.pdf > Acesso em 15 jul. 2010. BRANDIM, A. de S.; ALCÂNTARA, N. G.; HERNANDEZ, O.J.S.; PARANHOS, R. P.R. Resistência ao Desgaste por abrasão em metal de solda do tipo Fe-C-Cr, obtidos por arco submerso. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE FABRICAÇÃO, 2., 2003, Uberlândia. BUCHELY, M.F.; GUTIERREZ, J,C.; LEON, L.M.; TORO,A. The effect of microstructure on abrasive wear hardfacing alloys, Tribology and surfaces Group, National University of Colômbia, Medell’in, Colômbia. Science Direct. Wear 259.2005. p. 52-61. Disponível em:< http://www.elsevier.com/wear > Acesso em 15 nov. 2008. BUDINSKI, K.G. Hardfacing V - Choosing a process. Welding Desaign & Fabrication. 1987. CATERPILLAR- Escola de Formação Mecânica - Material Rodante. Módulo XV, 2000. 40p. CONDE, R.H. Recubrimientos resistentes al desgaste. Boletín Técnico Conarco, n.85, p.2-20, dec. 1986. Referências 65 DE MELLO, J.D.B.; BINDER, R.; SILVA Júnior, W.M. Microabrasão do Ferro Sinterizado e Oxidado a Vapor: Mecanismos de Desgaste. Tecnologia em Metalurgia e Materiais, São Paulo,v.2,n.2, p 39-44, out-dez 2005. Disponível em <http://www.abmbrasil.com.br/portaltecnologico/portal/revista_tecnologia/resumos.as p >. Acesso em 28 de nov. 2008. Deutsches Institut fϋr Normung DIN 50320 Análise sistemática dos processos de desgaste. Classificação dos fenômenos de desgaste, Metalurgia & Materiais, 53 p., 1997, p 619-622. FERNANDEZ, J.E.; VIJANDE,R.; TUCHO, R.; RODRIGUEZ,J.; MARTIN,A. Effect of cold deformation on the abrasive resistance of coatings with applications in mining industry, Science Direct. Wear 250. 2001. p 28-31 Disponível em: <http://www.elsevier.com/wear> Acesso em 16 de nov. 2008. FRAENKEL, B.B.; Engenharia Rodoviária. Guanabara Dois. Rio de Janeiro, 1980. HOKKIRIGAWA, K.; KATO, K.; LI, Z.Z. Effect of hardness on the transition of the abrasive wear mechanism of steels, Wear, v.123, p. 241-251, 1987. HUTCHINGS, I. M. Tribology: friction and wear of engineering materials, London: Edward Arnol, 1992. 273 p. KONIG, R.G.; OLIVEIRA,C.A.S.; GILAPA,L.C.Mª. Estudo do efeito de revestimentos na resistência ao desgaste em matrizes de corte para a conformação a crio de elementos de fixação. In: CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ENGENHARIA MECÂNICA,8. 2007.Cusco, Peru. Anais eletrônicos... Disponível em: <http://www.pucp.edu.pe/congreso/cibim8/pdf/15/15-58.pdf > Acesso em 12 jan. 2008. LIMA, Aldemi C. Estudo da aplicação de revestimento duro por soldagem com arames tubulares quanto à resistência ao desgaste de facas picadoras de cana de açúcar. 2008. 232 f. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2008. MARANHO, Ossimar. Aspersão térmica de ferro fundido branco multicomponente. 2006.188 f. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica)- Departamento de Engenharia Mecânica, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Referências 66 MARQUES, P.V. Tecnologia da Soldagem. Belo Horizonte: O Lutador, 1991. 352 p. MATWEB, Material Property Data. Disponível em: <http://www.matweb.com> Acesso em: 08 fev. de 2010. MONTEIRO, M. P.; CUNHA, J. A. R. Tecnologia de arames tubulares com Proteção gasosa para revestimento anti-desgaste para aplicações em usinas sucroalcooleiras e mineradoras. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA SOLDAGEM, 19., 1993, Águas de São Pedro. Anais… São Paulo. p. 195-210. G.K. Nathan ; W.J.D. Jones. Influence of the Hardness of Abrasives on the Abrasive Wear of Metals, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Vol 181 (No. 30), 1966-67, p. 215-221. ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT. OECD Reserch group on wear of engineering materials; Glossary of terms and definitions in the Field of friction, wear and lubrication (Tribology); Paris, 1969. RIBEIRO,R. Avaliação da resistência ao desgaste abrasivo de revestimentos soldados do tipo Fe-C-Cr utilizados na indústria sucroalcooleira. 2004. 104 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, Universidade Estadual Paulista, Ilha Solteira,2004. RICARDO, H. S.; CATALANI, G. Manual prático de escavação - Terraplenagem e escavação de rocha. São Paulo: Pini,1990. 80 p. SOTREC. Manual de Manutenção. Caterpillar.São Paulo, 2000. 40 p. STOETERAU, R.L. Tribologia. Apostila, Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis,179 f., 2004. Disponível em : < http://www.scribd.com/doc/19271358/StoeterauTribologia > Acesso em 03 jun. 2008. 2004. UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ. Normas para elaboração de trabalhos acadêmicos Curitiba: Editora da UFTPR, 2008. 122 p.. Referências 67 VILLABÓN. L.R.; SINATORA, A. Construção e instrumentação de abrasômetro do tipo roda-de-borracha para o estudo do comportamento tribológico de aços. APAET Mecânica Experimental.,2006,Vol 13,Pg 1-11. Disponível em <http://search.msn.com/results.aspx?q=apaet+mecanica+experimental++villabon&form=QBNO>. Acesso em 02 dez 2008. WAINER,E.; BRANDI, D.S.; HOMEN, F.D. – Soldagem Processos e Metalurgia. São Paulo: Edgard Blucher. 494p.1992. 68 Apêndice A – Resultados dos ensaios de desgaste APÊNDICE A- Resultados dos ensaios de desgaste Perda de Massa Tempo de ensaio = 10 minutos Rotações = 200 rpm Carga Normal = 130 N Total de revoluções = 2000 Distância percorrida = (1436 m) considerando o diâmetro da roda de 228, 6 mm Calcular, conforme a norma, o Volume desgastado (desgaste volumétrico) (P = r V) SAPATA NOVA Peso Ensaio Inicial Final P.Massa φ roda inicial final Fator de correção [mm] P.Massa Corrigida [g] [g] [g] 1 147,683 147,201 0,482 228,6 216,5 1,0559 0,509 2 148,148 147,707 0,441 228,6 216,4 1,0564 0,466 3 148,292 147,828 0,464 228,6 216,3 1,0569 0,490 Média 0,462 0,488 D. Padrão 0,021 0,022 SAPATA COM POSTIÇO Peso Ensaio Inicial Final P.Massa φroda inicial final Fator de correção [mm] P.Massa Corrigida [g] [g] [g] 1 191,852 191,461 0,391 228,6 217,0 1,0535 0,412 2 190,627 190,257 0,370 228,6 217,0 1,0535 0,390 3 188,090 187,717 0,373 228,6 216,9 1,0539 0,393 Média 0,378 0,398 D. Padrão 0,011 0,012 69 Apêndice A – Resultados dos ensaios de desgaste SAPATA RECUPERADA COM SOLDA Peso Ensaio Inicial Final P.Massa φ roda inicial final Fator de correção [mm] P.Massa Corrigida [g] [g] [g] 1 189,771 189,426 0,345 228,6 216,7 1,0549 0,364 2 189,617 189,270 0,347 228,6 216,7 1,0549 0,366 3 189,403 189,064 0,339 228,6 216,6 1,0554 0,358 Média 0,344 0,363 D. Padrão 0,004 0,004 Resultados do Desgaste Material Sapata média desvio Postiço média desvio Solda média desvio P.vol. mm3 Fator de correção Massa corrigida Coef. desg. -1 (mg/m) Q" 3 -1 (mm /m) 7,84 7,84 7,84 7,84 0 P. massa (g) 0,482 0,441 0,464 0,4623 0,0206 61,48 56,25 59,18 58,9711 2,6213 1,0559 1,0564 1,0569 1,0564 0,0005 0,509 0,466 0,490 0,488 0,022 2,9793 3,2562 3,0948 3,110 0,139 23,36 25,53 24,26 24,383 1,091 7,87 7,87 7,87 7,87 0 0,391 0,370 0,373 0,3780 0,0114 49,68 47,01 47,40 48,0305 1,4432 1,0535 1,0535 1,0539 1,0536 0,0003 0,412 0,390 0,393 0,398 0,012 3,6726 3,8811 3,8499 3,801 0,112 28,90 30,54 30,30 29,915 0,885 7,87 7,87 7,87 7,87 0 0,345 0,347 0,339 0,3437 0,0042 43,84 44,09 43,07 43,6679 0,5290 1,0549 1,0549 1,0554 1,0551 0,0003 0,364 0,366 0,358 0,363 0,004 4,1623 4,1383 4,2360 4,179 0,051 32,76 32,57 33,34 32,888 0,401 Densid. (g/cm3) Ha/Hs 2,46 4,09 2,26 70 Apêndice A – Resultados dos ensaios de desgaste TABELA DA DUREZA HV Amostras SAPATA POSTIÇO (100 kgf)* (30 kgf)* SOLDA (100 kgf)* 1 431 268 507 2 469 266 437 3 459 263 448 4 404 266 428 5 451 269 517 6 467 268 547 7 427 283 510 8 469 266 498 9 445 273 497 Media 446,9 269,1 487,7 D.P. 22,5 5,9 40,5 AREIA 1100 * Carga Inicial Perda de Volume Sapata Densid. (g/cm3) 7,84 P. massa (mg) 488,00 Postiço 7,87 398,00 50,57 0,012 Solda 7,87 363,00 46,12 0,004 Material P. Volume d.p. (mg/m)-1 62,24 0,022 Anexo A – Relatório Técnico ANEXO A – RELATÓRIO TÉCNICO 71 Anexo A – Relatório Técnico 72 Anexo A – Relatório Técnico 73
Download