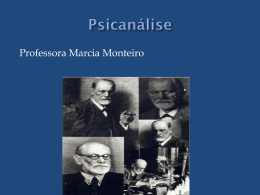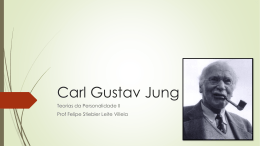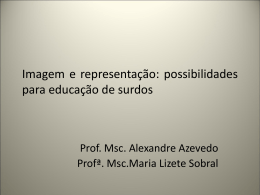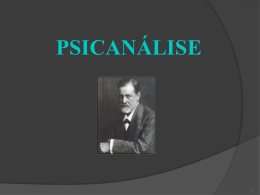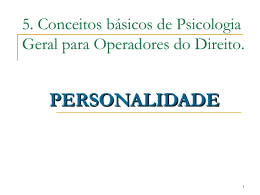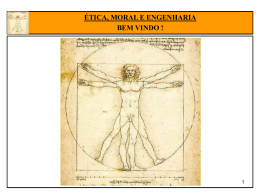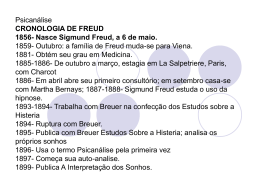O que pode a clínica? A posição de um problema e de um paradoxo. Algo que se passa entre o Corpo, a Arte e a Clínica: é neste interstício da passagem, neste entredois, ponto ilocalizável ou não lugar (um u-topos) onde acreditamos a experiência da clínica se situa. É muito difícil, talvez mesmo impossível, situar a clínica. Daí ser melhor substituir a pergunta “onde a clínica se passa” por essa outra: “o que se passa na clínica?”. Essa pergunta para nós, mais adequada, se desdobra numa outra: o que pode a clínica? Pergunta paráfrase que nos evoca Espinoza e uma nova dobra da questão: o que pode um corpo? Modulação de nossa questão inicial, ela se justifica pelo fato de que toda experiência clínica é uma experiência com as afecções da existência ou com isso que se produz a partir de nossa posição no mundo, como corpo em encontro com outros corpos que assim se afetam de modo alegre ou triste. O que pode um corpo? Espinoza nos propõe esta pergunta como índice tanto de nossa ignorância quanto de nossa experiência paradoxal conosco mesmo. Eis meu corpo – afirmação que nos lança de imediato na experiência do paradoxo, pois quem diz isso? Quem afirma ter um corpo? Esse que afirma tendo um corpo se apreende como tal, sendo um corpo? Esse que se diz ser um corpo se sente efetivamente nos limites desta forma física? E, diante desta situação embaraçosa, somos como que impelidos a assumir uma das duas alternativas: ou nos refugiar na solução cartesiana do dualismo, ou assumir a situação paradoxal de sermos e não sermos a um só tempo este corpo. Esta segunda alternativa se justifica no fato de nos sentirmos fechados nos limites desta forma corpórea, dela, no entanto, sempre fugindo pela força que em nós nos impulsiona para além. Ímpeto que nos anima a este despregar-se cotidiano e glorioso tal como o gesto sublime que na Vitória de Samotrácia[1] permite que leveza e peso, transparência e opacidade, presença e ausência, carne e pedra se distingam mas não se separem. Assim é a experiência paradoxal com o corpo: estar nele contido, mas fazendo deste pertencimento uma abertura. Espinoza no escólio da proposição 2 da 3a parte da Ética (1661-1665) afirma: “Ninguém, é verdade, até o presente determinou isto que pode o Corpo, quer dizer, a experiência não ensinou a ninguém, até o presente isso que, pelas únicas leis da natureza considerada enquanto somente corporal, o corpo pode fazer e isso que ele não pode fazer, a menos sendo determinado pela alma. Ninguém de fato conhece tão exatamente a estrutura do corpo que tenha podido explicar todas as funções, para não dizer nada disso que se observa muitas vezes nas feras que ultrapassa em muito a sagacidade humana, e disso que muito freqüentemente fazem os sonâmbulos durante o sono, que eles não ousariam durante a vigília, e isso mostra bastante que o Corpo pode, pelas únicas leis de sua natureza, muitas coisas que causam à sua alma estupefação” *2+. Espinoza assim faz nossa declaração de ignorância, apontando para um “mais além” do conhecimento, ou para este ponto cego onde o pensamento se apresenta em sua dimensão inconsciente. Em seu anti-cartesianismo, é um crítico da consciência e de toda moral assentada na dominação das paixões pela reflexão do espírito. Sua tese paralelista refuta a hierarquia entre corpo e alma, fazendo prova disto ao tomar o corpo como modelo de seu pensamento. E por que este privilégio metodológico? Porque o corpo supera sempre o conhecimento que temos dele, sempre nos surpreendendo como fazem as feras e os sonâmbulos. E se há um para além do que conhecemos de nosso corpo, podemos inferir – eis aí o método que Deleuze designa de materialismo[3] – que assim como há um fora do conhecimento do corpo que nos surpreende como a sua potência, há também um fora do espírito, também uma força, para além das condições dadas da consciência. Há, portanto, uma força inconsciente no espírito assim como há uma potência insuspeita do corpo. Espinoza é um pensador do corpo e do inconsciente. Sua crítica à noção de consciência identifica esta última ao domínio da ilusão. A consciência nos ilude porque opera ilusoriamente, e opera assim porque conhece somente os efeitos ignorando as causas. Conhecer pelas causas é, segundo o filósofo, conhecer pela composição das coisas. De que partes as coisas são compostas? Como estas partes se relacionam? Cada coisa extensa assim como cada idéia se caracteriza por relações de combinação, por modos de conexão. Conhecer é, então, conhecer a composição, ou por outra, conhecer a ordem das causas é conhecer a ordem de composição e decomposição das relações que constituem a natureza. Na primeira página da Ética, Espinoza apresenta 6 “definições” que serão os pilares de sua construção. Na 3a., 5a. e 6a. definições lemos respectivamente: (3a) “Entendo por substância isto que é em si e concebido por si: quer dizer isso cujo conceito não tem necessidade do conceito de uma outra coisa, do qual ele deve ser formado”; (5a.)“Entendo por modo as afecções de uma substância, dito diferentemente isto que é em uma outra coisa, por meio da qual ele é também conhecido”; (6a.) “Entendo por Deus um ser absolutamente infinito, quer dizer uma substância constituída por uma infinidade de atributos cada um exprimindo uma essência eterna e infinita”. Todas as coisas, coisa pensante ou coisa extensa, é um modo de ser, portanto, é uma modulação da substância, um grau intensivo ou efeito expressivo dela. Como tal todo modo se explica pelo que lhe é causa, isto é, o modo é uma explicação da substância, enquanto a substância em si tem toda a realidade complicada. No comentário que Deleuze faz da obra de Espinosa no livro Spinoza et le problème de l’ expression[4], o capítulo XIV dedica-se a uma digressão acerca do problema do corpo. Tentar responder à pergunta “o que pode um corpo?” nos obriga, segundo Deleuze, a pensar um sistema rigoroso – ao modo de um geômetra – de equivalências. Essas equivalências inicialmente dizem respeito a como Espinoza define um corpo enquanto um modo finito ou um modo existente. Há uma teoria da expressão em Espinoza ou uma teoria da modulação. A filosofia espinozista toma toda a realidade existente como modulações ou expressões da substância divina. O ser é uno em sua potência de se desdobrar, de se expressar em modos finitos que guardam, enquanto graus da potência divina, a sua infinitude. Segundo Deleuze (1968) há duas “tríades expressivas do modo finito”. Na primeira, os existentes, tal como um corpo, se definem como: a) tendo uma essência que é um grau de potência; b) tendo uma relação característica, particular, na qual a essência se exprime no existente; c) tendo um conjunto de partes extensivas que compõem a existência do modo. Esta tríade se equivale a uma outra que assim coloca o modo existente: a) tendo uma essência que é um grau de potência; b) se exprimindo por um certo poder de ser afetado; c) tendo esse poder a cada instante preenchido por afecções. Dessa equivalência podemos concluir que o corpo enquanto um grau de potência se define por um modo de por em relação, que equivale a um poder de afetar e de ser afetado, de tal maneira que as partes extensivas que compõem este corpo garantem a ele, a cada instante, afecções que preenchem o poder de afetar e ser afetado. Deleuze chega, portanto, a essa outra equivalência: perguntar o que pode um corpo equivale a perguntar qual é sua estrutura, ou por outra, como ele se compõe como corpo afetivo. Se queremos parafrasear a pergunta espinozista propondo esta outra: o que pode a clínica?, a argumentação das equivalências entre as duas tríades do modo finito nos leva à seguinte proposição: a clínica se define por um modo de por em relação, isto é, por um poder de afetar e ser afetada; por um conjunto de afecções que tanto a define quanto é por ela tomado como seu objeto de afecção, seu ponto de incidência. Perguntar o que pode a clínica é o mesmo que perguntar do que a clínica é composta, o que equivale, por sua vez, a perguntar como ela pode afetar e ser afetada e que conjunto de afecções exprimem a sua essência. Além disso, enquanto atitude, enquanto ética de intervenção, a clínica se apresenta como uma experiência de libertação (no sentido foucaultiano do termo[5]) do modo existente, isto é, uma experiência de retomada do conhecimento pela causa, de retomada do plano de composição tanto dos que lhe demandam intervenção quanto de si mesma enquanto instituição, enquanto realidade existente. O que queremos dizer é que o que caracteriza a clínica – seu ser de composição ou seu conjunto de afecções – é isso mesmo que ela toma como seu problema. Nesta operação de desdobramento de si, debruçada sobre o seu próprio plano de composição, a clínica se efetiva em um movimento de modulação que impõe a variação tanto de quem lhe demanda intervenção quanto da instituição clínica ela mesma. Esta afirmação segue numa dupla direção: a do plano transdisciplinar da clínica e a da definição do objeto da clínica como híbrido e paradoxal. O plano transdisciplinar da clínica[6] Perguntar o que pode a clínica é colocar em questão os seus limites: quais são os limites da clínica que uma vez ultrapassados nos comprometeriam com o não-clínico? Pergunta que nos indica o esforço de delimitação de um campo onde a clínica se distingue e separa da arte, da ciência, da filosofia, da política. Mas manter tais limites não é enclausurar a clínica lá onde ela fenece? Como fecha-la em um campo, uma vez que por definição ela não se totaliza na unidade seja de um conceito – veja os conceito de inconsciente – seja de uma escola que enunciaria a verdade de seu objeto? Neste sentido, o plano da clínica se estende por hibridações, estando sempre na passagem de seu domínio para outro, isto que chamamos de transdisciplinaridade. Forçando sempre os seus limites ou operando no limite, a clínica se apresenta como uma experiência do entre-dois que não pode se realizar senão neste plano onde os domínios do eu e do outro, de si e do mundo, do clínico e do não clínico se transversalizam. Daí a dificuldade da pergunta “onde a clínica se passa?” e a sua substituição por “o que se passa na clínica?”. E o que ali se passa tem a forma do paradoxo do que é não é ao mesmo tempo[7]. O que queremos dizer é que o plano da clínica não pode ser estranho ao indecidível de seu objeto que parece resistir a toda tentativa de definitiva apreensão nos limites de uma identidade, que persiste como figura paradoxal sendo igual e diferente de si ao mesmo tempo, o que bem se expressa a partir do conceito inaugural de inconsciente. O híbrido e paradoxal objeto da clínica Já em Freud encontramos a definição do objeto da clínica marcado por este caráter híbrido e paradoxal. No texto metapsicológico de 1915[8], o autor apresenta a afirmação paradoxal do primado do inconsciente na teoria do aparelho psíquico ou, por outra, a afirmação de que há o primado do que é segundo, isto é, do que é engendrado, produzido. Lemos no texto freudiano uma descrição do inconsciente que não pode deixar de considerar a operação que o engendra e que Freud nomea de recalcamento. O paradoxo, portanto, é este: para ser primeiro é preciso ser segundo.Tematizar o conceito de inconsciente é necessariamente por em questão o paradoxo de sua produção, isto é, esta situação em que se produz o próprio agente produtor. A montagem do plano transdisciplinar da clínica se sustenta, aqui, em duas afirmações: (1) o inconsciente é produtor e produzido. É essa instância de produção sem agente produtor que dela se separe; (2) Assumir a dimensão paradoxal do inconsciente é recusar qualquer dualismo, oposição ou contradição. No paradoxo aqui se apresenta na forma desta situação em que os domínios que se distinguem não se separam. Seguindo o texto de 1915, o inconsciente se define pela operação de recalcamento, isto é, pelo processo que “não consiste em cancelar, em aniquilar uma representação representante da pulsão, mas sim em impedir-lhe que se torne consciente” (Freud, 1998, p.161). Esta operação dita de recalcamento originário não apenas garante conteúdos para o inconsciente como lhe constitui. Esse momento da formulação freudiana, aposta, justamente, numa dinâmica de produção do inconsciente. Lemos em Freud uma definição positiva do inconsciente que não o coloca a reboque da consciência. No entanto, afirmar o primado do inconsciente, para Freud, parece não significar, paradoxalmente, tomá-lo como 1º. Há um primado do inconsciente, porém o inconsciente é segundo, pois há uma operação de produção do inconsciente. O inconsciente é produzido, mas produzido por quem? Freud não deixa dúvidas quanto à resposta: o inconsciente é produzido inconscientemente. Para ser 1º é preciso ser 2º. Para entendermos esta dimensão paradoxal do inconsciente é importante pensar sua relação com a pulsão. A relação com a pulsão expressa o hibridismo do inconsciente nas formulações de Freud. Aliás, o próprio conceito de pulsão atesta este hibridismo, já que diz respeito a uma posição limítrofe, irremediavelmente indeterminada entre o somático e o psíquico, entre o dentro e o fora do aparelho psíquico. A relação de hibridismo entre pulsão e inconsciente se expressa no mecanismo de produção do inconsciente, isto é, na inseparabilidade entre inconsciente como produção e como produto. Mas para sustentarmos tal afirmação não nos afastando da dimensão paradoxal do problema, é preciso evitar a depuração da noção de inconsciente pelas vias da sua desmaterialização. É preciso articular o inconsciente à dimensão produtiva da pulsão. Entretanto, ao distinguir pulsão (produção) de inconsciente (produto), não podemos tentar separá-los. A pulsão por seu caráter híbrido se apresenta para Freud na forma de uma estranha arquitetura. Destaquemos duas definições dadas à pulsão: (a) conceito situado na fronteira entre o mental e o somático, sendo tomada como representante psíquico dos estímulos endossomáticos. Esta definição pode ser lida em “Pulsões e seus destinos”*9+, assim como na análise do caso Schreber *10+ onde também é afirmado que a pulsão é o representante psíquico de forças orgânicas ; (b) enquanto conceito da delegação do somático no psíquico, a pulsão se apresenta na forma de representantes: representante psíquico (idéia, Vorstellungrepräsentanz) e afeto (Affekt). Freud afirma que “a pulsão nunca pode passar a ser objeto da consciência; só pode sê-lo a representação que é seu representante... tampouco no interior do inconsciente pode estar representada a não ser pela representação” (Freud, 1915a , pp: 173). Afirmar que a pulsão está sempre no registro da representação – como representação e como representação de representação – é para Freud construir, à sua maneira, uma mitologia. “A teoria das pulsões é, por assim dizer, nossa mitologia“*11+. Trata-se de uma mitologia, pois como diz Freud na “Psicopatologia da vida cotidiana”*12+, a mitologia é a psicologia projetada no mundo externo, uma espécie de percepção endopsíquica, projeção de fatores inconscientes que se espelham na construção de uma dada realidade. Se a teoria das pulsões é uma mitologia e se a mitologia é a “representação” de uma experiência endopsíquica, pergunta-se: o que Freud teria sentido ou experimentado na clínica que apontou para esta construção do conceito de pulsão? Para construir este conceito, Freud usou a palavra Trieb e não a palavra Instinct. Por que esta distinção? Quando Freud fala de pulsão quer dar conta de um impulso (treiben = impelir) que mobiliza o humano, malgrado a inespecificidade do objeto e da meta desta impulsão. Frente ao inespecífico da produção pulsional, Freud formula uma definição do psíquico sempre representacional. E por que assim? Se acompanhamos a construção da Psicanálise podemos entender este destino do inespecífico. Clinicamente, este inespecífico aparecia na experiência clínica com a histérica. Aquelas mulheres ouvidas atentamente por Freud não suportavam tal inespecificidade, não suportavam o caráter fronteiriço disso que as impulsiona, aferrando-se sintomaticamente ao que têm à mão de mais específico, a saber, seu corpo: corpo específico que é convertido em palco para a representação de seu sofrimento. Essa conversão se dá na forma do “teatro da histérica”, onde ela finge (ou representa) um corpo. É da histérica responder representacionalmente à experiência do inespecífico. Isso que não pára de impulsionar o organismo como uma fonte interna de que não se pode escapar exaspera a histérica que luta dramaticamente para parar esta excitação. “É preciso parar este movimento”. “Isso não pára de funcionar”. “Cessar esta produção”. Algo é colocado no lugar do inespecífico da produção pulsional, com esta função de substituição. A operação histérica é a de se aferrar nos produtos definitivamente específicos, que resultam de e paralisam o seu processo de produção ele mesmo. Daí as paralisias histéricas. O produto a que se aferra a histérica é seu próprio corpo teatralizado. Podemos, então, dizer que Freud constrói a teoria das pulsões a partir do modelo obtido na experiência com a histérica. O que talvez Freud não tenha levado em consideração foram as condições heteróclitas presentes no plano da produção do mundo histérico, encantado que ficou pelo jogo da representação que, no discurso daquelas mulheres, encenava personagens de uma vida privada. O que é experimentado pela histérica como inespecífico é o que se oculta, ou se intimiza, no interior de uma alcova: um “pequeno segredo sujo”. A instituição do segredo e a histérica O subtítulo do livro de Sennet O declínio do homem público: as tiranias da intimidade[13] nos indica um efeito desta “alcovatização” da vida associada à transformação da família no século XIX. A criação da “estável família burguesa”, ao contrário do que muitas teorias sobre a mudança da família extensa para a família nuclear creditavam, não se deveu a uma necessidade de maior eficiência frente ao crescimento urbano da época. Muito menos a família burguesa se constituiu numa “resposta positiva para uma sociedade nova simbolizada pela cidade grande, estruturada pela burocracia impessoal, pela mobilidade social e pela grande divisão do trabalho” (Sennet, 1989, p.222). Na sociedade moderna esperava-se da família a possibilidade de seus membros expressarem suas personalidades. As regras sociais voltavam-se para a criação de ordem dentro da família, a fim de “estabilizar” as aparências que os membros apresentavam uns aos outros. Esta estabilização era fundamental para as relações sociais no domínio público. Mais do que reação à desordem material do mundo, a luta pela ordem no processo familiar foi gerada pelas mesmas regras que fizeram com que as pessoas vissem as obras da sociedade em termos pessoais. Essa luta pela ordem familiar está, neste momento, totalmente afinada com a forma da família nuclear. Difunde-se, portanto, a idéia de que o desenvolvimento da personalidade só pode ocorrer através da estabilização das interações pessoais. A vida da família nuclear adequa-se perfeitamente a isto e desempenha papel importante contra os processos de complexificação/caotização/desequilibração. Nos textos médicos do século XIX pode ser arrolado um catálogo de queixas que consistiam em “aflições físicas não catastróficas originadas em ansiedade, prolongada tensão nervosa ou temor paranóico” (Sennet, 1989, p.227). Este “catálogo”, segundo Sennet, é um testamento para os tribunais na tentativa de criarem ordem no comportamento e na expressão em casa. O panorama é, então, o de uma sociedade que propõe a seus membros a regularidade e a pureza de sentimentos. Estes seriam o preço a ser pago para se ter um eu próprio, sua própria personalidade. Neste contexto, a histeria pode ser vista como uma espécie de “rebelião”. “Virgindade, pureza, permanência de sentimentos, ausência de qualquer experiência ou de qualquer conhecimento de outro homem: daqui proviriam as futuras queixas das histéricas sobre a vida”(Sennet, 1989, p.228). O propósito era o domínio. Domínio sobre a espontaneidade, sobre o corpo, sobre a processualidade da vida. É a instituição do segredo que é implantada, ocultando este fundo de turbulência que a ordem social quer dominar, operando como controle do que é vivido como inespecífico. Assim, a histérica é a expressão do “sentimento involuntário” no interior da família, a expressão da complexidade, do inespecífico que, não encontrando meios de ser vivido, paralisa o processo, congela em seu corpo o movimento de produção inconsciente. A histérica é, ao mesmo tempo, rebelião – porque denuncia a irregularidade, a inespecificidade, a complexidade da vida – e paralisia do processo de produção inconsciente – porque representa de modo congelado, paralisado, na cena da família nuclear, a ordem social vigente. No plano de produção do mundo histérico, portanto, há condições heteróclitas que não podem ser reduzidas à alcova ou a um mundo privado e intimizado da personalidade Pulsão e produção do inconsciente Em uma entrevista na PUC/SP, em agosto de 1992, Felix Guattari se refere à “revolução extraordinária operada por Freud”: separar a vida instintiva da pulsional sem negar a primeira. A pulsão não se define apenas pela relação com sua fonte biológica, sendo pensada por Freud a partir de sua relação com a pressão energética libidinal, seu objeto e sua meta. Se no instinto o objeto é necessário e a meta é invariável, na pulsão tem-se um objeto contingente e uma meta variável. Logo, a defesa da separação entre instinto e pulsão supõe a dimensão produtora da relação pulsional com o mundo. É isto que Guattari destaca ao privilegiar a relação da pulsão com o objeto, entendendo assim sua ligação com a existência – não uma existência dada definitivamente no jogo entre o Ser e o Nada, mas uma existência que vai se artificializando segundo as condições diversas e materiais dadas. Trata-se de um outro existencialimo mais pragmático, construtivista: a pulsão é construção de existência, é maquínica da existência. Compreender essa dimensão maquínica da pulsão pressupõe que desloquemos a atenção da representação pulsional e do aspecto dinâmico do recalque. O inconsciente é, então, redefinido, segundo uma perspectiva construtivista, como uma fábrica, uma máquina de produção de existência. Esse construtivismo inconsciente, essa “caosmose”*14+, pressupõe uma reversão do esquema tradicional de explicação. Nessa outra perspectiva, quem produz ou constrói? Ou, dito de outra maneira, “quem é primeiro, a galinha ou o ovo, mas também o pai e a mãe ou a criança?”*15+. A solução tradicional aponta seja para um pólo ou outro, pressupondo, qualquer que seja o pólo, uma solução para o impasse: a) a criança vem antes, pois “o pai está doente de sua própria infância”; b) o pai vem antes, pois ”a criança só o é em relação a um pai e uma mãe”. (Deleuze & Guattari, 1976, p. 348). Essa busca por uma origem ou princípio explicativo é confrontada com uma solução que, no lugar de buscar sair do impasse, assume sua forma circular de paradoxo: pai e filho, ovo e galinha, são figuras que se determinam simultaneamente, em um mesmo plano social com seus investimentos inconscientes. O plano do inconsciente é um plano de produção com materiais heteróclitos onde paradoxalmente o inconsciente é a produção e o produto, ou seja, é autopoiesis[16]. Por ser este funcionamento paradoxal, autoprodutivo, nunca é fundamento, sendo sempre segundo. A falta do primeiro ou do fundamento é o que confere à experiência psíquica seu “fundo” de inespecificidade, fundo este superficial, fundo do plano. Se em Freud é a teoria da representação que acaba por imprimir um certo olhar, uma certa escuta, construindo, assim, uma certa clínica, em Espinoza encontramos a valorização da expressão em detrimento da representação, como apreensão das formas existentes. Como fazer modular a clínica de tal modo a tomar o inconsciente em sua função expressiva? Se acompanharmos Espinoza afirmaremos que isto que é da ordem do inespecífico ou do complicado se especificará, ou se descomplicará no modo existente (no corpo ou na idéia). Neste sentido, o inconsciente se manifesta não por uma representação da/na realidade, mas sim, pela existencialização dela. Chegamos, então a essa posição que podemos dizer também ética, segundo a qual a clínica lida com esse plano de existencialização, a partir do qual tanto a realidade de si, quanto a realidade do mundo emergem como efeitos ou modulações do inconsciente. É por repetição diferenciadora que esse plano de existencialização se desdobra: repetição do complicado no explicado, da substância nos modos existentes, do inespecífico da pulsão no específico do corpo, portanto, do não corpo (substância) no corpo (modo existente), do não finito no finito. A repetição só é diferenciadora quando e porque ela se dá numa série múltipla de afecções, pela ação de composição própria dos encontros. É pela distinção e inseparabilidade entre estes termos da série expressiva que o plano do inconsciente se apresenta em sua dimensão paradoxal. É porque a clinica não pode prescindir da noção de inconsciente que ela tampouco pode se furtar a esta experiência do paradoxo, sendo constantemente forçada a extrair o não clínico na clínica nesta operação que designamos de transdisciplinar. Podemos, agora, dizer que assim como a ética espinozista é tomada em sua relação expressiva com a substância divina que se desdobra nos modos, a clínica é tomada em sua relação com o inconsciente enquanto paradoxal e híbrido. Considerando o plano de atravessamento entre a clínica e a filosofia, estes dois termos, substância e inconsciente, exigem de nós temos que tomemos de saída uma posição que deixa importantes conseqüências. Tais termos em sua condição de primado podem ser entendidos como multiplicidade ou como totalidade, como diferença ou como unidade. Pensar o inconsciente como diferença é toma-lo como plano de diferenciação, o que faz da clínica esta experiência de modulação em que fazemos nossas apostas. [1] Escultura de autor anônimo, 190 a. c. , 3,28cm, Louvre. [2] Spinoza, B. Éthique. Paris: Flammarion, 1965, p:137-138 (as traduções são de nossa responsabilidade) *3+ Deleuze, em seus comentários sobre a Ética de Espinoza entendida como “filosofia prática”, indica a “tríplice denúncia” que ela opera: denúncia da consciência, dos valores e das paixões tristes. A cada uma delas corresponde uma categoria de acusação que recai sobre o filósofo que escandaliza sua época com a ousadia de suas teses: materialismo, imoralismo e ateísmo. A tese materialista de Espinoza diz respeito à desvalorização da consciência realizada pela definição de um outro modelo para o pensamento: o corpo. Deleuze, G. Spinoza: philosofhie pratique. Paris: Éditions de Minuit, 1981. *4+ Deleuze, G. Spinoza et le problème de l’expression. Paris: Minuit, 1968 [5] Discutindo a ética foucaultiana, Rajchman indica os traços gerais de uma teoria da liberdade neste autor. Rajchman, J. Foucault: A liberdade da filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1987. [6] Já apresentamos em outro lugar a idéia de que a experiência clínica não se fecha em um campo disciplinar, mas compõe um plano transdisciplinar. Não repetiremos aqui a argumentação, remetendo o leitor ao artigo Passos, E.; Barros, R. B. A construção do plano da clínica e o conceito de transdisciplinaridade. Psicologia: Teoria e Pesquisa, Brasília, v. 16, n. 1, p. 71-79, 2000. [7] Acerca desta relação com a forma paradoxal do tempo cf. PASSOS, E.; BARROS, R. B. Clínica e biopolítica na experiência do contemporâneo. Psicologia Clínica. Pós-Graduação e Pesquisa. PUCRJ, v. 13, n. 1, p. 89-99, 2001. [8] Freud, S. Lo inconciente (1915 a). Em Freud, S. Obras Completas, v XIV. Buenos Aires: Amorrortu, pp 155-213, 1998a [9] Freud, S. Pulsiones y destinos de pulsion[9](1915 b) Em Freud, S. Obras Completas, v XIV. Buenos Aires: Amorrortu, pp107-134, 1998b. [10] Freud, S. Puntualizaciones psicoanaliticas sobre un caso de paranoia ( Dementia paranoides) descrito autobiográficamente (1911) Em Freud, S. Obras Completas, v XII. Buenos Aires: Amorrortu, pp. 1-76,1996 [11] Freud, S. Nuevas Conferencias de introducción al psicoanálisis (1933) Em Freud, S. Obras Completas, v XXII. Buenos Aires: Amorrortu, pp. 1-168, 1997a. [12]Freud, S. Psicopatologia de la vida cotidiana (1901) Em Freud, S. Obras Completas, v VI, Buenos Aires: Amorrortu, 1997b [13] SENNET, R. O declínio do homem público: as tiranias da intimidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. [14] Guattari, F. Caosmose. Um novo paradigma estético.Rio de Janeiro: Editora 34, 1992. [15] Deleuze,G & Guattari,F O Anti-Édipo: Capitalismo e Esquizofrenia, Rio de Janeiro: Imago, 1976,p:347. [16] Acerca da relação do conceito de autopoiese e os estudos da subjetividade cf. Passos, E. Cognição e produção de subjetividade: o modelo máquina e os novos maquinismos nos estudos da cognição. Revista do Departamento de Psicologia da UFF, Niterói, v. 11, n. 2/3, p. 67-76, 1999.
Download