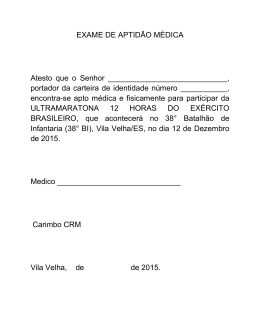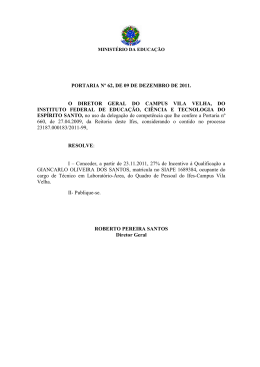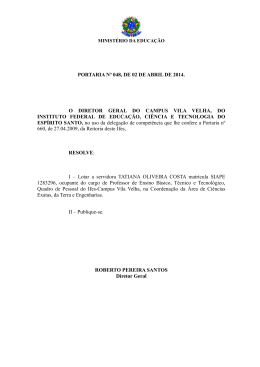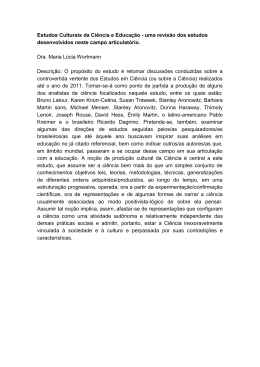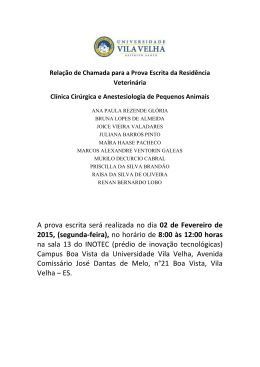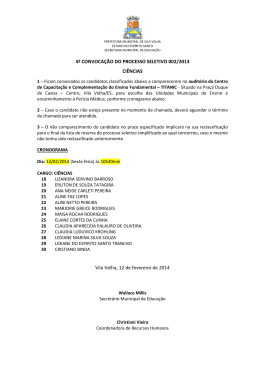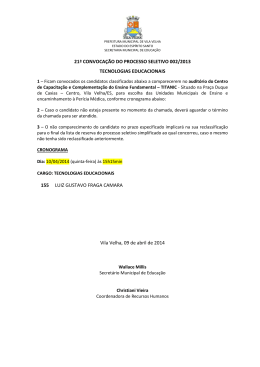1 A cidade é Galloway. O rio Merrimac, largo e plácido, desce até ela das colinas de New Hampshire, interrompido nas cachoeiras para criar um caos borbulhante nas rochas, espumando sobre pedra antiga na direção de um lugar onde o rio repentinamente faz uma curva e se abre em um remanso amplo e sereno, segue margeando a cidade e vai para lugares conhecidos como Lawrence e Haverhill, passa por um vale coberto de florestas e chega ao mar em Plum Island, onde o rio entra em uma infinidade de águas e desaparece. Em algum lugar bem distante ao norte de Galloway, nas cabeceiras perto do Canadá, o rio é continuamente alimentado e enchido até a borda por fontes infindáveis e nascentes incomensuráveis. As crianças pequenas de Galloway se sentam às margens do Merrimac e pensam sobre esses fatos e mistérios. Na noite agreste ecoante e enevoada de março, o pequeno Mickey Martin se ajoelha diante da janela de seu quarto e escuta a torrente do rio, o latido distante dos cães, o murmúrio trovejante das cachoeiras e reflete sobre as fontes e nascentes de sua própria vida misteriosa. Os adultos de Galloway se preocupam menos com essas reflexões à beira-rio. Eles trabalham – em fábricas, em oficinas e lojas e escritórios, e nas fazendas em toda parte. As fábricas de tecido feitas de pedra, altas e sobranceiras, sólidas, ficam enfileiradas ao longo do rio e dos canais, e a noite inteira as indústrias se movimentam e zumbem. Esta é Galloway, uma cidadezinha industrial no meio de campos e florestas. Se um homem for à noite à mata que cerca Galloway e subir em uma colina, pode ver tudo ali, diante dele, em um panorama amplo: o rio correndo devagar em arco, as fábricas com suas longas fileiras de janelas todas acesas, as chaminés das fábricas se erguendo mais altas que as torres das igrejas. Mas ele sabe que essa não é a verdadeira Galloway. Algo na paisagem invisível e sorumbática que cerca a cidade, algo nas estrelas brilhantes que oscilam perto de uma encosta onde dorme o cemitério velho, algo nas folhas macias e sussurrantes das árvores sobre os campos e muros de pedra contam a ele uma história diferente. Ele olha para os nomes no velho cemitério: “Williams... Thompson... LaPlanche... Smith... McCarthy... Tsotakos”. Sente a pulsação lenta e profunda do rio da vida. Um cachorro late na fazenda a um quilômetro de distância, o vento murmura sobre as lápides antigas e as árvores. Aqui está o registro escrito do viver longo e lento e da morte por muito tempo lembrada. John L. McCarthy, lembrado como um homem de cabelos brancos que caminhava meditativo pela estrada ao entardecer; o velho Tsotakos, que viveu e trabalhou e morreu, cujos filhos continuam a trabalhar a terra não muito longe do cemitério; Robert Thompson – agacha-se perto e lê as datas, “Nascido em 1901, Morto em 1905” – a criança que se afogou no rio há três décadas; Harry W. Williams, o filho do dono do armazém que morreu na Grande Guerra em 1918 cuja antiga namorada, agora mãe de oito crianças, ainda é assombrada por seu rosto há muito perdido; Tony LaPlanche, enterrado perto do 13 muro antigo. Há pessoas velhas, vivas e ainda lúcidas, que podiam contar muita coisa a você sobre os mortos de Galloway. Quanto aos vivos, desça a encosta na direção das ruas e casas silenciosas dos subúrbios de Galloway – você vai ouvir a torrente sussurrante permanente – e passe sob as árvores frondosas, os postes de luz, passe pelos quintais gramados e pelas varandas escuras, as cercas de madeira. Há uma luz em algum lugar no fim da rua, e um trevo que leva às três pontes de Galloway que trazem você ao coração da própria cidade e à sombra das paredes das tecelagens. Siga até o centro da cidade, até a praça, onde ao meio-dia todo mundo conhece todo mundo. Olhe ao redor agora e veja as atividades da cidade deserta na assombrada meia-noite: os mercados baratos, as duas ou três lojas de departamentos, as mercearias e lanchonetes e farmácias, os bares, os cinemas, o teatro, o salão de bailes, os salões de bilhar, o prédio da Câmara de Comércio, a Prefeitura e a Biblioteca Pública. Espere o amanhecer por aí, pela hora em que os escritórios das imobiliárias ganham vida, quando os advogados erguem as persianas das janelas e o sol invade os escritórios empoeirados. Olhe para esses homens nas janelas, nas quais seus nomes estão escritos em letras douradas, fazendo um aceno com a cabeça para a rua quando outros moradores da cidade passam. Espere até que cheguem os ônibus repletos de trabalhadores que tossem e andam de cara amarrada e correm até a cafeteria para mais uma xícara de café. O guarda de trânsito se posta no meio da praça e faz um gesto com a cabeça para um carro que buzina de leve e alegremente para ele; um político muito conhecido atravessa a rua com o sol brilhante batendo em seu cabelo branco; o colunista do jornal local entra sonolento na charutaria e cumprimenta o balconista. Aqui há alguns fazendeiros de caminhão comprando provisões e mantimentos e fazendo pequenos negócios. Às dez horas as mulheres chegam em exércitos, com bolsas de compras, seus filhos seguindo ao lado. Os bares se abrem, homens engolem uma cerveja matinal, o balconista limpa o mogno do bar, há um cheiro de sabão limpo, cerveja, madeira velha e fumaça de charuto. Na estação de trem o expresso que desce até Boston expele nuvens de vapor em volta dos velhos torreões marrons do prédio da estação, os guardas de trânsito descem majestosamente para deter o tráfego quando toca a campainha metálica, as pessoas correm para pegar o trem de Boston. É de manhã, e Galloway ganha vida. Lá na encosta, perto do cemitério, o sol rosado penetra em diagonal por entre as folhas de olmos, uma brisa fresca sopra através da grama macia, as pedras reluzem à luz da manhã, sente-se o odor de barro e grama – e é uma alegria saber que vida é vida e morte é morte. Essas são as coisas que cercam de perto as tecelagens e os negócios de Galloway, que fazem dela uma cidadezinha com raízes na terra na pulsação antiga da vida e do trabalho e da morte, que fazem de seu povo gente do interior e não gente da cidade. Comece do centro da cidade em uma tarde ensolarada, da Daley Square, e suba caminhando a River Street para onde converge todo o trânsito, passe pelo banco, pela Galloway High School e pela A.C.M., e continue seguindo até que comecem a surgir as residências particulares. Deixando o distrito comercial para trás, os muros 14 das fábricas ficam à esquerda e à direita do bairro comercial, quase ao alcance da mão. Ao longo do rio há uma rua tranqüila com algumas casas funerárias sedadas, um orfanato, mansões de tijolos de um tipo particular, e as pontes que atravessam para os subúrbios, onde mora a maior parte das pessoas de Galloway. Cruze a ponte conhecida como White Bridge, que passa bem por cima das cachoeiras do Merrimac, e pare por um instante para ver a paisagem. Na direção da cidade, há outra ponte, o remanso tranqüilo onde o rio faz a curva, e depois uma margem de terra distante densamente povoada. Deixe a cidade e olhe para o outro lado, por cima da cachoeira borbulhante, e olhe para dentro dos confins enevoados que incluem New Hampshire, um trecho de terra verde e plácida e águas calmas. Há os trilhos de trem que acompanham o rio, alguns tanques de água e desvios ferroviários, mas o resto é só floresta. O outro lado do rio traz uma auto-estrada pontilhada de casinhas e barraquinhas de beira de estrada, e uma olhada de volta rio acima revela os subúrbios cobertos de telhados e árvores. Atravesse a ponte até esses subúrbios e vire rio acima, passando pela borda de povoamento que acompanha a auto-estrada, e ali há uma estrada de asfalto negro que leva para o interior. É a estrada velha de Galloway. Bem no ponto em que sobe, antes de mergulhar outra vez nas florestas de pinheiros e fazendas, repousa uma concentração de casas tranqüilas espaçadas umas das outras – uma residência de pedra coberta de hera, a casa de um juiz; uma casa velha caiada com colunas de madeira redondas na varanda – é uma fazenda leiteira, há vacas no campo dos fundos; e uma casa vitoriana grande, velha e de aspecto triste e abatido; circundada por uma cerca viva, com árvores enormes e frondosas que escurecem sua fachada, uma rede na velha varanda, e um quintal dos fundos bagunçado com uma garagem e um celeiro e um balanço de madeira velho. Esta última casa é o lar da família Martin. Do topo do olmo mais alto no quintal da frente, como podem atestar alguns dos filhos vigorosos dos Martin, em um dia bom é possível ver com clareza até New Hampshire, além das fazendas e florestas densas de pinheiros, e em dias excepcionalmente claros, até as sugestões enevoadas das White Mountains podem ser avistadas, cem quilômetros ao norte. Essa casa atraiu George Martin de modo especial quando pensou em alugá-la em 1915. Na época, ele era um jovem vendedor de seguros, que morava na cidade em um apartamento com a esposa e a filha. “Meu Deus”, disse ele à esposa, Marguerite, “isto é exatamente o que o médico receitou!” Depois disso, durante os vinte anos seguintes na grande casa velha, com a colaboração da sra. Martin, ele se dedicou a produzir mais oito crianças, três filhas e seis filhos no total. George Martin entrou para o ramo gráfico e obteve grande sucesso na cidade, primeiro como gráfico e depois como editor de pequenos jornais políticos que eram lidos principalmente nas cadeiras giratórias da prefeitura ou nas charutarias. 15 com a mesma facilidade ficar muito sentimental e com os olhos úmidos. Franzia a testa em uma espécie de concentração ameaçadora acima de um par de sobrancelhas negras pesadas, os olhos eram francos e azuis, e, quando alguém falava com ele, tinha o hábito de olhar para cima com ar de espanto e admiração. Viera de Lacoshua, New Hampshire, uma cidadezinha nas montanhas, quando era jovem, abandonando o trabalho nas serrarias por uma chance na cidade. Com o passar dos anos, sua família deu personalidade à velha casa cinza e a seu terreno, dando a eles seu aspecto cansado e estranho de simplicidade, casualidade e vidro. Era uma casa que soava a barulhos e conversas, música, marteladas, gritos pela escada. À noite, quase todas as suas janelas brilhavam enquanto a família desempenhava suas inúmeras atividades. Na garagem havia um carro velho e um carro novo; no celeiro, toda a tralha acumulada que só uma família americana com muitos meninos pode reunir ao longo dos anos; e, no sótão, a confusão e a variedade de objetos eram igualmente admiráveis. Quando toda a família estava ferrada no sono, quando o poste de luz a alguns passos da casa brilhava à noite e projetava sombras grotescas das árvores na casa, quando o rio suspirava na escuridão, quando os trens apitavam a caminho de Montreal, bem longe rio acima, quando o vento assoviava entre as folhas macias das árvores e alguma coisa batia e chacoalhava no velho celeiro – você podia ficar na Galloway Road e olhar para esse lar e saber que não há nada mais assombrado que uma casa à noite quando a família está dormindo, algo estranhamente trágico, algo eternamente belo. [2] CADA MEMBRO da família que mora nesta casa está envolto em sua própria visão de vida, e medita por dentro da inteligência envolvente de sua própria alma em particular. Com a marca da família de alguma forma impressa sobre a vida de cada um deles, surgem abraçados e protegidos e enfurecidos no mundo como os Martin, um clã de pessoas energéticas, vigorosas, graves e absortas, repentinamente aterrorizadas e melancólicas, risonhas e alegres, ingênuas e astutas, freqüentemente preocupadas e com a mesma freqüência vorazmente excitadas, pessoas fortes, muito unidas e astutas. Observe-os um a um, dos mais jovens, que estão tirando suas impressões do mundo ao redor como se esperassem viver para sempre, até os membros mais velhos da família, que encontram garantias em toda parte e todo dia de que a vida é exatamente o que eles sempre acharam ser. Veja como todos eles atravessam sua sucessão de dias, os dias robustos e exuberantes, os dias de celebração e os dias de doença do coração. O pai da família Martin é um homem de mil interesses: ele toca seu negócio de impressão, opera uma linotipo e uma prensa e controla os livros. No meio disso ele joga nos cavalos e faz suas apostas com um bookmaker em uma rua secundária do centro da cidade, a Rooney Street. Ao meio-dia, entabula uma conversa aos gritos com agentes de seguros, jornaleiros, vendedores e donos de charutarias em um barzinho perto da Daley Square. No caminho de casa para jantar, pára em um restaurante chinês para ver seu velho amigo Wong Lee. Após o jantar, escuta seus programas favoritos, sentado em seu escritório com o rádio no volume máximo. 16 Depois que anoitece, vai de carro até o boliche e salão de bilhar que supervisiona, para ganhar um dinheirinho extra. Lá fica sentado no escritório pequeno conversando com uma congregação de seus velhos amigos enquanto as bolas de bilhar batem umas nas outras, as pistas de boliche funcionam com estrondos e há fumaça e conversa por toda parte. À meia-noite ele se vê em um jogo de pôquer ou pinocle que entra pela noite. Chega em casa exausto, mas de manhã sai novamente para sua empresa, deixando atrás de si uma trilha de fumaça de charuto, gritando bons-dias para seus companheiros na oficina, comendo um lauto café-da-manhã na lanchonete perto da linha do trem. Aos domingos ele não pode passar de jeito nenhum sem sair no seu Plymouth e levar com ele uma boa parte da família que gosta de ir junto. Ele dirige por toda a Nova Inglaterra, explorando as White Mountains, as cidadezinhas antigas no litoral e no interior. Tem vontade de parar em todo lugar onde a comida ou o sorvete pareçam bons, quer comprar sacos de maçãs mackintosh e garrafões de cidra nas barraquinhas de beira de estrada, e cestos repletos de morangos e mirtilos e tanto milho quanto possa carregar no chão do carro. Ele quer fumar todos os charutos, entrar em todas as mesas de pôquer, conhecer todas as estradas e praias e cidades da Nova Inglaterra, comer em todos os bons restaurantes, fazer amizade com todos os homens e mulheres bons, ir a todos os hipódromos e apostar em todos os salões de jogos clandestinos, ganhar tanto dinheiro quanto gasta, rir e se divertir por aí e contar piadas o tempo todo – ele quer fazer tudo, ele faz tudo. A mãe da família Martin é uma dona de casa maravilhosa que segundo o marido é “fácil a melhor cozinheira da cidade”. Ela faz bolos, faz grandes assados de carne de vaca, carneiro e porco, mantém a geladeira repleta de comida, varre o chão e lava roupas e faz tudo o que faz a mãe de uma família grande. Quando senta para relaxar, pega um baralho, fica embaralhando as cartas, olhando por cima da armação de seus óculos e antevendo marés de boa sorte, presságios do destino, maus augúrios de todos os tipos e tamanhos. Ela se senta à mesa da cozinha com a filha mais velha e interpreta as notícias no fundo de sua xícara de chá. Vê sinais em toda parte, acompanha com atenção a previsão do tempo, lê os obituários e anúncios de casamento e nascimento, acompanha todas as doenças e infortúnios, toda a saúde e a boa sorte, segue o crescimento das crianças e o encolher dos velhos na cidade inteira, as notícias de presságios de outras mulheres e a aproximação das estações novas. Nada escapa à vasta visão maternal dessa mulher: ela já previu tudo, sentiu tudo. “Você não precisa acreditar, se não quiser” diz ela para a filha mais velha, Rose, “mas outra noite sonhei que o meu pequeno Julian veio até mim à noite, entrou direto na cama como costumava fazer quando estava doente demais para dormir ou quando estava com medo do escuro, como fazia no ano em que morreu, e falou para mim: ‘Mamãe’, disse, ‘você está preocupada com Ruthey?’, e eu respondi: ‘Estou, querido. Mas por que você está perguntando isso?’, e ele disse: ‘Não se preocupe mais com Ruthey, está tudo bem, agora, está tudo bem, agora’. Ele continuou dizendo isso: ‘Está tudo bem, agora’. 17
Download