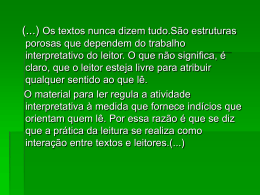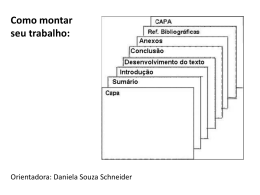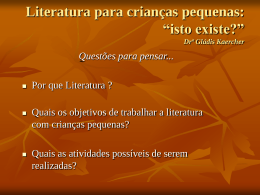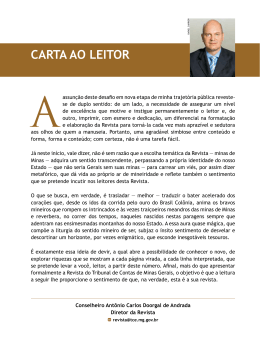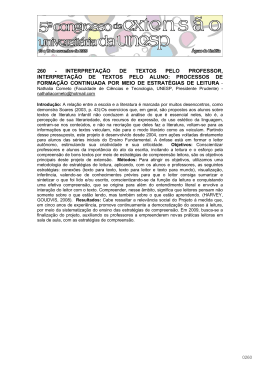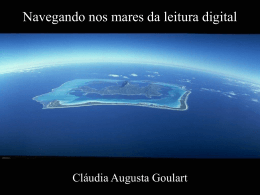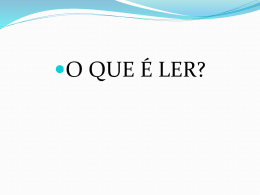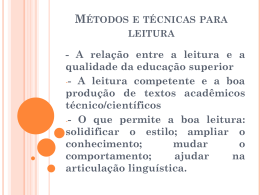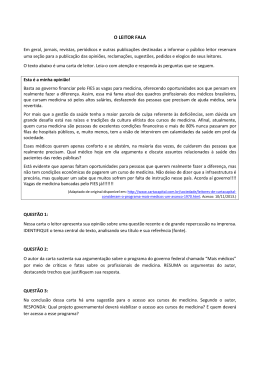UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO EM LÍNGUA E LITERATURA COM ÊNFASE NOS GÊNEROS DO DISCURSO DAIANE MADALENA DE BEM DIFICULDADES DE LEITURA: PROFESSOR E ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL CRICIÚMA, JUNHO DE 2009 DAIANE MADALENA DE BEM DIFICULDADES DE LEITURA: PROFESSOR E ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL Monografia apresentada à Diretoria de Pós-graduação da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, para a obtenção do título de especialista em Língua e Literatura com ênfase nos gêneros do discurso. Orientadora: Profª. Msc. Janete Aparecida Machado CRICIÚMA, JUNHO DE 2009 Dedico essa monografia, em especial, a meus pais, Paulo e Vera pelo apoio e paciência, ao meu noivo Denison, pela compreensão e pelas palavras de incentivo nas horas mais difíceis e aos meus familiares que de alguma forma estiveram presentes durante a realização desse trabalho. AGRADECIMENTOS Ao Denison pelo companheirismo, por ter estado ao meu lado no decorrer dessa trajetória. A minha mãe e meu pai pelas lições essenciais de vida. Pelos familiares (irmão, cunhada, tia, tio,...) pelas palavras de incentivo. Aos colegas de classe pela amizade, disponibilidade e alegria em trocar experiências durante o curso. A todos os professores que, com suas palavras sábias e entusiasmo, ensinam maravilhosamente os conteúdos propostos. Em especial, meus agradecimentos aos professores Celdon Fritzen e Ângela Cristina Back pela oportunidade e auxílio em momentos difíceis. A professora Nívea Rohling da Silva, pela atenção e sabedoria contribuindo com sua experiência nessa caminhada. Em especial, a minha orientadora, Profª. Msc. Janete Aparecida Machado pela compreensão, pela amizade e orientação precisa e segura, por ter confiado em mim na hora mais difícil dessa trajetória. A Deus, por sempre caminhar comigo, transmitindo-me paz, sabedoria, paciência, dando forças para concluir este curso. Enfim, a todos que, direta ou indiretamente contribuíram com essa pesquisa, minha gratidão. “A leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas por incrível que pareça, a quase totalidade, não sente esta sede”. Carlos Drummond de Andrade RESUMO Este estudo tem por objetivo possibilitar o levantamento de dados relacionados às dificuldades de leitura nas perspectivas do professor e do aluno de sextas-séries do Ensino Fundamental. Esse levantamento possibilitará a identificação das dificuldades dos alunos e dos professores também na aula de leitura. Além de habilidades de decodificar palavras, envolver signos, o leitor precisa estabelecer objetivos na leitura, de forma a criar motivações para que se constitua a interação entre ele e o texto, no decorrer de cujo processo encontra-se a compreensão. Primeiramente, este trabalho trata de conceituar como o homem concebe a leitura, sendo uma das primeiras formas de entretenimento, em que apresenta a leitura de mundo e, mais adiante, a da palavra. Elenca-se a leitura através dos tempos, desde a Antiguidade, passando pela oralidade ao manuscrito. Aborda-se, também, a questão da leitura no Brasil, seu desenvolvimento e democratização em que se mostra mais acessível. O capítulo sobre o processamento da leitura descreve como a informação é armazenada na memória de longo, médio e curto prazo, em que as dificuldades e facilidades do leitor na compreensão do texto estão diretamente envolvidas nesses processos mentais. A partir disso, o leitor define estratégias nesse processo. O capítulo sobre o papel do professor diante da leitura enfatiza os procedimentos usados pelo professor para formar leitores competentes com a utilização da diversidade de textos, leituras atraentes, atribuindo sentido e ao mesmo tempo, ajustando a realidade do leitor. O capítulo final ressalta a importância da família e seu papel no incentivo à leitura. Por fim, faz-se um levantamento de dados por meio de uma pesquisa de campo de caráter qualitativo com obtenção de resultados relativos às dificuldades do professor e do aluno nas aulas de leitura. Esses dados obtidos em pesquisa confirmam os posicionamentos teóricos selecionados. Palavras-chave: Texto. Leitura. Compreensão. Dificuldades. Aluno. Professor. Pesquisa de campo. SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO................................................................................................................. 7 2 PENSANDO EM LEITURA........................................................................................... 12 2.1 Como o sujeito concebe a leitura .................................................................................... 12 2.2 Leitura através dos tempos ............................................................................................. 14 2.3 Leitura no Brasil ............................................................................................................ 17 2.4 Os processos da leitura na memória................................................................................ 20 2.4.1 Estratégias no processamento da leitura....................................................................... 24 2.5 O papel do professor perante a leitura............................................................................. 28 2.6 O papel da família frente á leitura................................................................................... 32 3 METODOLOGIA ........................................................................................................... 34 3.1 Levantamento de dados.................................................................................................. 34 3.1.1 Dados do questionário com os alunos .......................................................................... 35 3.1.2 Dados do questionário com os professores................................................................... 38 3.2 Análise e interpretação dos dados recolhidos.................................................................. 40 3.2.1 Análise e interpretação dos dados recolhidos no questionário para os alunos ............... 41 3.2.2 Análise e interpretação dos dados recolhidos em questionário com professores ........... 53 3.3 Considerações sobre os dados recolhidos ....................................................................... 64 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS.......................................................................................... 68 REFERÊNCIAS................................................................................................................. 74 APÊNDICES ...................................................................................................................... 76 APÊNDICE A - Questionário para os alunos ....................................................................... 77 APÊNDICE B - Resposta do questionário aplicado aos alunos............................................. 80 APÊNDICE C - Questionário para os professores .............................................................. 192 APÊNDICE D - Resposta do questionário aplicado aos professores ................................... 194 7 1 INTRODUÇÃO Para que o processo de ensino/aprendizagem da leitura tenha êxito, é preciso descartar a concepção de que ler é apenas decodificar, decifrar sílabas e palavras. Em função da falta de tradição, e da desvalorização conferida à leitura, a escola diplomou leitores inaptos, com dificuldades para compreender textos e construir posicionamentos perante a leitura. Na verdade, as escolas estão formando leitores incapazes de compreender o que leem. Os textos que circulam na escola não dinamizam a interação entre a obra e os interlocutores. O conhecimento sobre literatura e os textos de literatura infanto-juvenil são um tanto inacessíveis e, além disso, a mediação do professor está marcada por equívocos metodológicos, devido a sua formação. Dessa forma, como ensinar leitura de literatura e ser bem sucedido? Como fazer da escola um espaço de formação estética competente de leitores estudantes e de leitores professores? Quais as dificuldades encontradas pelos professores e pelos alunos nas aulas de leitura? O PCN (1997, p. 55) ressalta que, se o objetivo da escola é formar cidadãos capazes de compreender os diversos textos com que se defrontam, é preciso organizar o trabalho educativo para que pratiquem e aprendam isso na unidade escolar. Assim, a finalidade desse trabalho é analisar e identificar através do levantamento de dados as dificuldades de leitura do aluno e do professor, por meio de uma pesquisa de campo na unidade escolar. Assim, é inquestionável a importância do assunto em questão, pois está diretamente relacionado com a formação do indivíduo, de sua personalidade e intelecto. Por isso, enfatiza-se que o ato de ler é a instância em que o indivíduo se posiciona em face do mundo, em face do outro, desenvolvendo, por meio da compreensão, da análise e da escrita, 8 as habilidades críticas. Segundo Freire (1995, p. 21) “a importância do ato de ler, que implica sempre a percepção critica, interpretação e re-escrita do lido [...]”. É na interação com a leitura, sendo esta um instrumento de aprendizado e critica, mas também de relaxamento e diversão, que o leitor se desenvolve. Esta pesquisa justifica-se pelo fato de que, somente através da leitura, o indivíduo se constrói como sujeito ativo e crítico, estabelecendo condições para refletir sobre vários aspectos e formular opiniões. Tal entendimento propõe a idéia de que a formação de leitores competentes se constitui por meio do contato com diversos textos, relacionando os dados textuais com seu conhecimento prévio, de modo a interagirem com a leitura. A motivação para a realização deste trabalho é justificada pela constatação de que os professores relegam a segundo plano a leitura em sala de aula, cuja relevância formadora já é de todos conhecida. O professor, então, deixa explícito seu desinteresse pela leitura. Ele precisa gostar de ler e ter o hábito da leitura. Precisa estar motivado e deixar transparecer essa motivação ao aluno. O aluno lê pouco porque, uma vez que a leitura não lhe é apresentada como algo fascinante, ele tem sua atenção tomada por outros pontos de interesse que estão ao seu alcance e para os quais encontra maior motivação. As dificuldades com a leitura e com a escrita são compreensíveis, tendo em vista exigirem habilidades que não são inerentes ao estudante. Ao longo do seu percurso, essas habilidades receberão reforços, podendo atingir excelentes níveis de competência. A leitura é uma dessas habilidades. Em condições ideais, trata-se de experiência que já tem início no lar e deve continuar na escola, num processo permanente e progressivo. Observa-se, entretanto, que a falta de diversidade de obras é um dos motivos para a má formação de leitores, mas não é o único. Como ressalta Kleiman (2000, p. 16-17) muitas das deficiências do ensino da leitura, nesse caso, no Ensino Fundamental, são resultantes de metodologias inadequadas e desmotivadoras. 9 Tais metodologias podem ser vistas no ato de leitura, que consiste em leitura oral, em voz alta, sem preocupação com o significado. Para Kleiman (2000, p. 16-17) o professor não se certifica se a leitura foi construtiva e entendida pelo aluno. Os professores e alunos agem como se a leitura em voz alta fosse à completude da compreensão do texto. Na sala de aula, os textos são fragmentos descontextualizados, como afirma Soares (2006, p. 25), geralmente retirados do livro didático, que rege a aula. Os textos são utilizados como argumento para a prática de atividades repetitivas, como metalinguagens, vocabulário, interpretação e proposta de redação. Para a Proposta Curricular de Santa Catarina (1997, p. 42) “é lendo a obra na sua totalidade que se pode tecer individual e coletivamente a leitura do homem contextualizado no seu tempo [...] a opção por recortes de obras serve para representá-las, mas, certamente, não serve para que a conheçamos”. Desse modo, os fragmentos de textos lidos pouco acrescentam de importante à vida do leitor. Ocorre um desinteresse gradativo, em relação à leitura de literatura, entre as séries inicias e o último ano do ensino fundamental. Como retrata Kleiman (2000, p. 16) o ato de ler na infância era algo prazeroso, havia a curiosidade em ler, e, além disso, havia o incentivo. Hoje, a tecnologia está influenciando cada vez mais o dia-a-dia. A opção de leitura adquirida fica dividida entre revistas semanais ou a internet, muito embora, admite-se, a leitura de obras vai ficando mais complexa conforme o nível de escolaridade e, geralmente, vem acompanhada de cobranças. Segundo o PCN (1997, p. 53) “a leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção do significado do texto, a partir de seus objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a língua [...]”. Não apenas ler para aprender ou escrever e melhorar vocabulário, mas ler para saber o que acontece. A família no que diz respeito à orientação e estimulo também exerce um papel relevante para a formação do leitor. Não somente a família, mas o professor também precisa 10 estar preparado para orientar o estudante num momento em que a leitura se torna mais exigente e requer mais atenção do ponto de vista intelectual. Diante disso, a escola torna-se o veículo de interação, de forma a oferecer a diversidade de textos, a dinamização entre eles, construindo o gosto pela leitura, visto que os objetivos do indivíduo na leitura podem ser diversos. Pode-se ler apenas para buscar informações; para responder questões, conhecer lugares, por prazer de forma a sonhar, divertir-se com a leitura. A Proposta Curricular de Santa Catarina (1998, p. 42) enfatiza que o leitor precisa: [...] acima de tudo, aprenda a falar com o texto e, através dele, estabeleça diálogo com a vida. Que encontre na leitura de obras literárias oportunidade de prazer e de lazer [...] que sejam capazes professores e alunos leitores, de se encantar pelos livros, de traças metas, programar atividades, leituras em sala de aula. O indivíduo não gosta de fazer coisas que impliquem muitas dificuldades e em que falte o prazer. O comportamento mais comum é desinteressar-se, recorrendo a outras atividades que lhe proporcionem prazer. Há, no entanto, também atividades que não lhes dão prazer, mas precisam ser realizadas, em decorrência de outros fatores, com objetivos diversos. Essas situações também são encontradas na leitura. O ato de ler, por inúmeras razões, é uma atividade complexa. Assim, as dificuldades com a leitura e com a escrita são compreensíveis, tendo em vista exigirem habilidades que não são inerentes ao indivíduo. Para adquirir tais habilidades, deve-se recorrer a uma prática permanente e progressiva. Há que se pensar, igualmente, no risco de escolher leituras com vocabulário arcaico, as quais requerem atenção e esforço mental, aumentando as dificuldades tanto do professor como do aluno. A partir disso, este trabalho traz a proposta de analisar, identificar, através do levantamento de dados, as dificuldades de leitura do aluno e do professor, com vistas a solucionar tais dificuldades, propondo sugestões para o ensino da leitura. Primeiramente, esta pesquisa apresenta a leitura, como o sujeito a concebe. Em seguida, apresenta a leitura através dos tempos, sua evolução, estando associado à escrita, 11 com um subtítulo destinado a uma visão panorâmica do surgimento da leitura no Brasil, sua chegada e seu desenvolvimento até a contemporaneidade. O capítulo sobre o processamento da leitura vincula-se aos processos de memória e às estratégias usadas pelo leitor no ato de ler. Nesta pesquisa, destaca-se, também, o papel do professor, enquanto mediador e orientador do processo de compreensão da leitura. Finaliza-se trazendo o capítulo sobre o papel da família perante a leitura, como incentivadora na apreensão e na aprendizagem da leitura. Cabe ressaltar, por fim, quais objetivos a escola possui com relação à leitura e as dificuldades inerentes ao professor e ao aluno. Diante desse aspecto, é viável propor caminhos para os profissionais que lidam com a leitura, respeitando as particularidades e auxiliando no processo, de forma a obter o prazer e a leitura significativa. 12 2 PENSANDO EM LEITURA 2.1 Como o sujeito concebe a leitura A leitura é uma atividade realizada desde os primeiros anos de vida. Ao nascer, já se está condicionado à leitura de mundo. Cada leitura feita relaciona-se, na mente, a outras experiências reais pré-existentes, estabelecendo as condições para a atribuição de sentido a tudo que nos cerca. Isso é dito a partir das idéias já tão conhecidas de Freire (1995, p. 11), para quem “a leitura de mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquela”. Ou seja, a leitura de mundo e a leitura da palavra estão dinamicamente juntas. A leitura foi uma das primeiras formas de entretenimento para o homem. Segundo Freire (1995, p. 71), “desde muito pequenos, aprendemos a entender o mundo que nos rodeia. Por isso, antes mesmo de aprender a ler e a escrever palavras e frases, já estamos ‘lendo’, bem ou mal, o mundo que nos cerca”, fazendo dessa aprendizagem um divertimento. Segundo as experiências que dão respaldo à teoria de Paulo Freire, na infância, a leitura é algo prazeroso, realizada em lugar confortável, tendo como mediadora a figura materna que praticava, e ainda pratica essa atividade com a criança, que passa a reconhecer na leitura de histórias um universo de encantamento. Quando se adquire, então, as duas leituras, a de mundo e da palavra, em que ambas se completam, compreende-se a linguagem e a palavra em um determinado contexto. Ao se chegar à escola, porém, essa concepção de leitura é modificada por diversos fatores, tornando-se menos prazerosa e mais mecânica. 13 Segundo Leite (2006, p. 24), “[...] na escola, os alunos não escrevem livremente, fazem redações, segundo determinados moldes; por isso não leem livremente, mas resumem, ficham, classificam personagens, rotulam obras e buscam fixar a sua riqueza numa mensagem definida”. A leitura praticada nas escolas, segundo Geraldi (2006, p. 26-27) visa a ensinar normas para o aluno, fazendo dele um receptáculo de informações, em que o conceito de leitura enquanto processo interativo é raramente realizado na sala de aula. Muitas vezes, o ato de ler é esquecido, para dar vez, a conteúdos gramaticais, porém esses conteúdos são introduzidos em textos. É Coracini (1995, p. 18) quem afirma que “o texto é, na maioria das vezes, usado como pretexto para provocar efeitos de sentido no leitor-aluno, para ser apenas o reconhecimento de unidades e estruturas lingüísticas cuja funcionalidade parece prescindir dos sujeitos”. Já Kleiman (2000, p. 15) faz um alerta ao mediador da leitura: a leitura se baseia no desejo e no prazer, não em uma atividade desagradável visando à decifração de palavras, que leva o aluno a caracterizar o ato de ler como difícil demais, inacessível, não fazendo sentido para o mesmo. Afinal, o sujeito deve conceber a leitura como um objeto de aprendizagem, que faça sentido a ele. Por isso, segundo o PCN (1997, p. 54) essa significação se constitui de leitura de diversos textos e da combinação entre eles. Ainda o PCN (1997, p. 58) enfatiza que na escola: Para tornar os alunos bons leitores, para desenvolver, muito mais do que a capacidade de ler, o gosto ou o compromisso com a leitura, a escola terá de mobilizá-los internamente, pois aprender a ler requer esforço. Precisará fazê-los achar que a leitura é algo interessante e desafiador, algo que, conquistado plenamente, dará autonomia e independência. Precisará torná-los confiantes, condição para poderem se desafiar a “aprender fazendo”. Essa é concepção de leitura que se almeja nas escolas e em qualquer outro lugar, que oportuniza o conhecimento de modo prazeroso e desafiador, que faz compreender, construir uma percepção crítica e ampla do mundo, das pessoas e da vida. O processo de 14 leitura em si estabelece uma teia de conexões, interações significativas entre quem lê e quem escreveu, a que se acrescentam as idéias de uma ou de várias pessoas (autor, crítico, leitor) e o contexto em que todos se inserem. Além disso, resulta em conferência do conhecimento próprio, crítica e ou aceitação do que já foi dito. Após a leitura, independentemente do gênero, quando as perguntas sugeridas pelo texto são respondidas, acontece à compreensão. Só a prática da leitura desperta o interesse e desenvolve a interação entre texto e leitor, ou seja, possibilita a habilidade de compreensão. 2.2 Leitura através dos tempos Sabe-se que a escrita é uma atividade que já vem da Antiguidade e com ela está atrelada a leitura. No entanto, o conhecimento inerente à leitura era transmitido através da oralidade. Para Barbosa (1990, p. 97), “nessas leituras públicas, realizadas pelo autor ou por um profissional da leitura, o público tomava contato com as obras produzidas. A leitura em voz alta era a forma pela qual leitores e não-leitores se encontravam, para reconstituir o sentido do texto”, desenvolvendo a oratória. Segundo Barbosa (1990, p. 98) os mais antigos textos da humanidade foram escritos nos volumens, forma mais antiga de conversação do pensamento. No volumen, um rolo de papiro, o texto era escrito em precárias colunas, sem espaço em branco entre as palavras. Logo após, o códice, ou pergaminho, substituiu o papiro, possibilitando uma impressão mais prática, com formato de livro, usando as duas partes da folha. A concentração desses manuscritos pertencia à igreja, tornando-os instrumentos sagrados. A leitura era para aqueles que tinham a intenção de servir à igreja e a Deus. Só para estes fazia sentido o ato de ler. Assim, na Idade Média, pessoas religiosas se reuniam para produzir cópias de documentos e guardá-las, sendo do domínio da igreja. Naquela época, segundo Barbosa 15 (1990, p. 38) somente as pessoas nobres tinham acesso ao livro, por ter um elevado preço e isso se justifica porque eram escritos à mão. A produção de papel, porém, começou a se expandir pela Europa, modificando tal situação. Em 1444, Johannes Gutenberg cria uma máquina que poderia ser de madeira, pedra ou metal, para imprimir, pela primeira vez, um texto. Após a invenção, a cultura através da escrita tornou-se mais concreta, prática e passível de reprodução, de forma a expandir-se. Primeiro, se tinha a impressão manual, passando para a mecânica e criando logo após a máquina de escrever entre outros inventos para o aperfeiçoamento da leitura. Assim, a história da leitura está intimamente relacionada ao desenvolvimento da sociedade industrial. As palavras de Zilberman (1988, p. 36) asseguram tal relação: Por último, dar acesso à leitura significou estimular uma indústria nascente – a da impressão, que deu margem ao aparecimento de gráficas e editoras – em desenvolvimento acelerado no período, graças à descoberta de formas especificas de expressão, como, além do livro, o jornal, o folhetim, o cartaz ou o almanaque. Todavia, para Barbosa (1990, p. 39) na Antiguidade, as informações encontradas no livro poderiam ser uma ameaça, pois continham ideologias de forma a influenciar seus leitores. Com isso, muitos livros no período da Segunda Guerra Mundial, entre outros acontecimentos, foram queimados, rasgados, para que a literatura não chegasse à população vigente. Nesse sentido, a leitura foi, durante muito tempo, privilégio de grupos, algo muito superficial, pois nem todos podiam ter acesso à impressão e/ou à leitura. Assim, na Idade Média, somente a classe alta, a nobreza, tinha acesso às informações e essa situação não sofreu grandes modificações na contemporaneidade. Tanto na Antiguidade quanto na Idade Média, concebia-se a leitura como uma atividade praticada em voz alta. Conforme Barbosa (1990, p. 100-101) durante os séculos IX e XI desponta a leitura silenciosa entre monges e religiosos, fazendo da leitura algo particular, 16 saindo do domínio da igreja. A partir daí, surgem às cidades e, com elas, o crescimento de artesanatos, comércios, escolas expandindo-se a leitura no século XVIII entre os universitários, tomando proporções mundiais. Assim, o livro vai obtendo mais espaço na vida dos indivíduos, sendo estes, editores de seus livros. Para o mesmo autor (1990, p. 102) “o desenvolvimento econômico-social, o crescimento demográfico e a concentração urbana aparecem sempre entrelaçados com a necessidade de educação”. Essa necessidade envolveu o analfabetismo, situação negativa presente em grande parte da população rural que, de alguma maneira, queria ter acesso ao saber. Para Zilberman (1988, p. 09) “a elevada taxa de analfabetismo, o reduzido poder aquisitivo, a ausência de uma política cultural contínua e eficiente, a influência cada vez maior dos meios de comunicação de massa, eis alguns dos fatores relacionados ao problema [...]”. No século XVI, a reforma luterana leva a sociedade a romper laços com a igreja que convivia harmoniosamente com a sociedade analfabeta. Para a igreja, era uma ameaça o ato de ler. Para a sociedade, o domínio da leitura significava liberdade de expressão. Tal reforma visava a expandir a leitura dos manuscritos sagrados, tendo como objetivo a proliferação da palavra de Deus de forma impressa, para um número muito amplo de fiéis, com mais rapidez e eficiência. No século seguinte, a leitura passa a ser outra. O mercado lança inúmeras obras profanas, tendo êxito entre as classes mais pobres. De acordo com Barbosa (1990, p. 103) já no século XVIII, com a Revolução Francesa, o Iluminismo aparece formando um público leitor de leituras literárias e, com isso, reivindicando mais escolas. Os iluministas acreditavam que o livro é o instrumento de apreensão da realidade. Por isso, Zilberman (1988, p. 17) afirma que: A prática da leitura foi ostensivamente promovida pela pedagogia do século XVIII, pois facultava a propagação dos ideais iluministas que a burguesia ascendente desejava impor a sociedade, dominada ainda pela ideologia aristocrática herdada dos séculos anteriores. Valorizando o livro enquanto instrumento de cultura e usando-o como arma contra a nobreza feudal que justificava seus privilégios invocando a tradição que os consagrara, os pensadores iluministas procuraram solapar uma ordem de conceitos até então tida como inquestionável. 17 Com o poder, a burguesia passou a freqüentar por direito a escola, de modo a ser gratuita e universal. A partir disso, a cultura também ficou ao alcance de todos. Nessa perspectiva, segundo Zilberman (1986, p. 13), ocorre a democratização do saber e a proliferação da literatura popular, “[...] a literatura descobre novas vias de propagação entre seu público, gerando a chamada “leituromania”, que levou pedagogos da época a campanhas de esclarecimento e alerta contra os perigos da leitura em excesso”. Assim, os romances passam a existir na leitura dos indivíduos, em especial, das mulheres que mudam seu comportamento após essas leituras. Pode-se dizer segundo Barbosa (1990, p. 96), que “os livros eram muito diferentes do que são hoje”. Os indivíduos se aproximavam da obra para admirá-la, apreciando seu aspecto, sua estrutura, as folhas, as páginas, as imagens e qualidade do material, só após esse contato mágico, é que a busca pelo texto era realizada. O prazer do leitor não se restringia apenas ao conteúdo escrito, mas ao conjunto da obra, era o fascínio pelo livro visando a um prazer estético. O mesmo autor enfatiza que, Os livros eram feitos artesanalmente e, através do aspecto gráfico, cada artesão exprimia sua arte; cada exemplar tinha características próprias, cada folha era produzida individualmente. Com procedimentos esmerados, o tipógrafo compunha tipos de letras, trabalhando habilidosamente cada palavra, cada linha, cada página. Letras góticas, páginas com iluminuras, xilogravuras para as ilustrações. Era esse o objeto que o leitor prendia em suas mãos: um objeto de arte. (BARBOSA, 1990, p. 96). O desenvolvimento acelerado do mundo contemporâneo faz com que o livro deixe de ser um objeto de arte, como salienta Barbosa e passe a ser um produto de consumo de massa, em que as informações, a leitura em si, precisam ser efêmeras e de fácil acesso. 2.3 Leitura no Brasil Segundo Zilberman (1988, p. 09), no Brasil sempre foi baixo o nível de consumo do material impresso, ou da leitura. Os primeiros a enfatizá-la foram os jesuítas, com seus 18 grupos religiosos, durante o período colonial. Cabia a eles levar a educação à América, sobretudo, catequizar os índios. Com isso, Zilberman (1988, p. 38-39) diz que nas escolas, e nas demais localidades, obteve-se uma orientação religiosa e cristã, pois não havia outras oportunidades de escolarização na época. O panorama não se modificou muito, visto que a taxa de analfabetismo ainda era muito elevada, mesmo após a independência do país. A dificuldade frente à leitura era explícita até mesmo entre a classe dominante, que não aprendia a ler e os escravos nem cogitavam essa possibilidade, mesmo porque não havia livros. Assim, a responsabilidade de divulgar e ensinar a ler ficou ao encargo das escolas, não só a ensinar a ler, mas a compreender o que lê, assim como se vê no século XXI. Tem-se então, os fatores externos, referente à economia que, aos poucos, modificou a situação educacional. Segundo Zilberman (1988, p. 39) com a exportação do café, o país foi se urbanizando, crescendo cidades, se desenvolvendo também a produção agrícola e pecuária. As campanhas de alfabetização foram promovidas por escritores e intelectuais como Olavo Bilac, Coelho Neto e Monteiro Lobato, almejando que todos tivessem acesso a suas obras e que elas circulassem de forma a garantir o sustento dos seus autores. Segundo Zilberman (1988, p. 42-43), é na República Velha, na década de 20, que os escritores se envolvem com a formação do público leitor, principalmente com o urbano. Com relação à escola, apesar dos problemas sociais enfrentados e todos os impasses educacionais, ela vai se democratizando e a literatura brasileira vai se adequando às necessidades mais imediatas do público. Com isso, a literatura vai se tornando acessível e popular, nos centros urbanos. O desenvolvimento da educação em 1822, de acordo com Zilberman (1988, p. 49), precisava de um apoio oficial que não foi oferecido, pois os livros estavam mais escassos, as editoras não lançavam mais, assim somente as escolas particulares se desenvolveram, visto 19 que o objetivo dessas escolas era apenas financeiro e não educacional. Após a Revolução de 30, foi que os livros se expandiram e a leitura começou a ser praticada pelas escolas públicas, também a escola particular se modificou e se expandiu, de modo a tornar-se uma educação concretamente de boa qualidade. A concepção de leitura em vigor reforçou-o e deu-lhe instrumentos no plano de metodologia de trabalho em sala de aula. Num primeiro momento, confinou leitura à alfabetização, isto é, aprendizagem e emprego do código escrito segundo a norma urbana culta. Esta, previamente dominada pela elite, é compreendida como uma segunda língua pelos que não a utilizam coloquialmente vale dizer, os alunos originários do meio rural ou de camadas socialmente inferiorizadas. A seguir associou leitura com o conhecimento da tradição literária, valorizando o passado da literatura nacional e os escritores que então pontificaram. (ZILBERMAN, 1988, p. 50). A leitura na escola brasileira passou por cartilhas, apostilas e foi aos poucos sendo introduzida pelo livro didático, tendo este êxito total no meio escolar. De outro lado, Zilberman (1988, p. 50) descreve que a leitura de livros clássicos passou a ser a mais freqüente entre o público, pois os escritores tinham nomes consagrados pela crítica e pela História da Literatura, sendo considerados formadores de bom gosto. Percebe-se, ainda, que a questão que percorre a situação atual da leitura tem algo do passado, pois as bibliotecas já eram pobres e o livro caro. É ainda Regina Zilberman (1998, p. 50) quem diz que, apesar disso, nos anos 70, criaram-se programas para reduzir o analfabetismo apresentado no país. Um desses programas era o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) que, infelizmente não alcançou os objetivos do projeto. Assim, programas são realizados para que esse índice de analfabetismo diminua, muito embora o livro continue com um preço elevado, poucos leitores o consomem, mantendo-se acessível apenas à classe dominante, ao público de elite. Assim, nessa situação, pode-se dizer que a distância entre o leitor e o livro literário é imensa, fator decisivo à entrada do livro didático, apresentando-se mais acessível e barato para seus consumidores. Diz Zilberman (1988, p. 55) que, para que a educação esteja a alcance de todos, faz-se necessário que, 20 Num país em que a cultura duvida de sua nacionalidade e permanece pesquisando sua identidade, uma política de leitura que torne o livro popular sem que este abdique de seu compromisso com o saber e a arte é fundamental, porque consiste na possibilidade de ruptura com a dependência. No entanto, é preciso que seja igualmente democrática e pública, sob pena de, a pretexto de favorecer nossa pobre escola e seus freqüentadores carentes, aprofundar a divisão social e promover o poder econômico vigente. 2.4 Os processos da leitura na memória Para que o processo da leitura seja entendido, mencionam-se os processos de memória, sendo que as dificuldades e facilidades do leitor na compreensão do texto estão diretamente relacionados a esses processos mentais. Assim, Sternberg (2000, p. 228) elenca três operações comuns no processo de memória: a codificação, o armazenamento e a recuperação, vistos que são estágios seqüenciais. Para Sternberg (2000, p. 228), A codificação refere-se ao modo como você transforma um input físico e sensorial em uma espécie de representação que pode ser colocada na memória. O armazenamento refere-se à maneira como você mantém a informação codificada na memória. A recuperação refere-se ao modo como você obtém acesso à informação armazenada na memória. Primeiramente, faz-se a entrada da informação, que é mantida por um tempo. Se a manutenção for realizada, essa informação passa para a memória de longo prazo. Caso isso não ocorra, a informação é esquecida e retirada da memória. Mas, por que se esquece à informação na memória de trabalho? Sternberg (2000, p. 230) diz que há duas teorias para o esquecimento da informação: a teoria da deterioração e a teoria da interferência. Aquela ocorre simplesmente com passar do tempo que nos leva a esquecer e esta ocorre quando informações competem à atenção, ou seja, a informação nova interfere na informação antiga, deslocando-a da memória de curto prazo. Para Liberato (2007, p. 21) uma pessoa que tem uma leitura lenta, não consegue compreender e integrar as informações visuais. Dessa forma, o material percebido sai da memória de curto prazo e é esquecido antes mesmo de ser organizado no cérebro. No decorrer 21 da leitura, as primeiras unidades (informação velha), vão sendo esquecidas, lembrando-se apenas das informações novas. Uma vez codificada e armazenada na memória de curto prazo, para que haja recuperação da informação, faz-se necessário checar todos os conteúdos presentes na memória de trabalho. No entanto, Sternberg (2000, p. 233-234) ressalta que, “a transferência da informação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo depende da atenção à informação, da repetição, da organização da informação, entre outras estratégias, dependendo do nível de dificuldade do leitor perante a leitura”. Sabe-se que, no início, esse processo é muito difícil para o leitor que, por isso, limita-se à decodificação. Desse modo, o ato de ler, como salienta Kleiman (2001, p. 13) é um processo complexo, requer atenção, compreensão, reflexão. “Tarefas cognitivas, como revolver problemas, trazer à mente uma informação necessária, aplicar algum conhecimento a uma situação nova, o engajamento de muitos fatores (percepção, atenção, memória)”, são fundamentais se queremos que o texto faça sentido. Sobre a percepção, um desses fatores mencionados Kleiman (2000, p. 14) informa que se dá de forma individual, em manifestações observáveis, realizadas pelos olhos, responsáveis pelo início do processo. Primeiramente, lê-se com os olhos, que dispõem de uma mecânica específica, O movimento dos olhos durante a leitura não é contínuo, mas é sacádico, isto é, o olho se fixa num lugar do texto e logo faz um pulo, ou sacada, até se fixar novamente mais adiante. No momento em que o olho faz uma fixação ou pausa, há uma área de visão clara e uma área de visão periférica, sendo que aparentemente a visão periférica ajudaria a decidir onde fazer a fixação seguinte. A duração da pausa é variável, dependendo, novamente, da dificuldade do material. O movimento dos olhos, por outro lado, não é apenas progressivo, mas também regressivo. (KLEIMAN, 2001, p. 14). Durante a leitura, os olhos fazem movimentos regressivos ou movimentos progressivos, visto que isso ocorre, dependendo do grau de dificuldade ou facilidade do material para o leitor. Ao lado dessa leitura, tem-se a leitura em voz alta que, para o PCN (1997, p. 60), precisa ser realizada, embora o leitor deva fazer, primeiramente, uma leitura silenciosa, uma ou mais vezes, antecedendo a leitura referida. 22 Concluída a percepção do material, este precisa ser processado, de alguma forma, para que seus traços sejam convertidos em significados, ou seja, letra, sílaba, palavra transformamse em imagem acústica ou visual, que deve ficar armazenada em algum lugar do cérebro, enquanto outras sílabas ou palavras também sejam processadas. Para Kleiman (2001, p. 15) esse depósito para o armazenamento das unidades é chamado de memória de curto prazo, memória imediata ou ainda memória de trabalho, que se caracteriza por ter uma capacidade restrita. Segundo Kleiman (2001, p. 15) “ela pode guardar 5 a 9 elementos (5 a 9 letras, por exemplo), logo deve ser esvaziada para a entrada de outros elementos, caso contrário ficará sobrecarregada [...] toda sua capacidade já está voltada para a memorização dos noves primeiros dígitos”. A autora enfatiza ainda que esses elementos precisam ser significativos, unidades significativas, sejam elas, letras, sílabas ou palavras. Para Liberato (2007, p. 23), essas unidades podem ser guardadas na memória de trabalho e são organizadas em fatias, ou fatiamento. Assim, quanto mais elementos forem agrupados em unidades significativas, maior será a quantidade de material armazenado nessa memória. Pensando na leitura de um texto, em que o assunto abordado é sobre educação, mas em cujo decorrer encontra-se um enunciado que fala de política, seguramente, para Kleiman (2001, p. 17) esse fator inesperado faria o leitor parar e reler. Essa seqüência repentina mantém a informação em um estado de alerta, mais acessível, acionando um outro tipo de memória conhecida como intermediária ou rasa. O leitor, ao encontrar no texto uma expressão ou palavra que não conhece, vai em busca do significado no dicionário ou logo sua memória temporária fica à espera de uma interpretação adequada, que se dá pela inferência, segundo Kato (1999, p. 29). A partir disso, Kleiman (2000, p. 33) acredita que parte do “material lido é adivinhado, inferido, e não diretamente percebido”. 23 Os processos envolvidos na leitura exigem desde a percepção até a memória. Não se constitui, portanto, de um processo linear, mas de formulação de imagem do material, podendo estabelecer uma pausa ou fixação, determinada pelos enunciados expostos, pelo próprio texto, ou pelo conhecimento prévio do leitor. Entende-se, por isso, que a leitura não é uma atividade somente visual. Para Liberato (2007, p. 14) o acesso às informações são apreendidas pelos olhos, mas esse processo não é satisfatório. Assim, o cérebro não processa todas as informações visuais, recorrendo a outros mecanismos. A partir daí, é que o conhecimento prévio armazenado na memória é acionado na leitura do texto. Essa informação não-visual inclui tudo que sabemos, desde conhecimentos lingüísticos, como também conhecimentos extralingüísticos utilizados de alguma forma na compreensão da leitura, ficando armazenados na memória de longo prazo. Pode-se dizer que, no momento em que os dados textuais se relacionam com o conhecimento prévio, a compreensão da leitura se dá, em um processo de construção do sentido. Em outras palavras, a leitura é a conseqüência da interação entre o que o leitor sabe e o que ele apreende do texto. Kleiman (2000, p. 32) descreve todo procedimento realizado no processo da leitura, visto que cada mecanismo é fundamental, para que o processo tenha êxito. O processamento do objeto começa pelos olhos, que permitem a percepção do material escrito. Esse material passa então a uma memória de trabalho que o organiza em unidades significativas. A memória de trabalho seria ajudada nesse processo por uma memória intermediária que tornaria acessíveis, como num estado de alerta, aqueles conhecimentos relevantes para a compreensão do texto em questão, dentre todo o conhecimento que estaria organizado na nossa memória de longo prazo. Assim, conforme Liberato (2007, p. 14) para que a informação armazene-se na memória de longo prazo, precisa haver a interação entre a informação visual e o conhecimento prévio do leitor. Tem-se, então, a compreensão do texto. Para que haja este processamento interativo, recorre-se a estratégias de leitura, estudadas a seguir. 24 2.4.1 Estratégias no processamento da leitura O processo de leitura é um ato completamente individual, pois a interpretação tem um estilo único para cada leitor. Assim, cada leitor desenvolve estratégias e esquemas para compreender o texto. Para Kleiman (2000, p. 49) as estratégias de leitura “são inferidas a partir do comportamento verbal e não verbal do leitor”, suas resenhas, tipo de respostas que dá às perguntas relacionadas ao texto, se apenas folheia, se apenas lê artificialmente, se relê. Segundo Liberato (2007, p. 16-17), o leitor recorre aos “vários tipos de estratégias: ortográficas, morfossintáticas, semântico-pragmáticas e discursivas”. Dessa forma, no dizer da mesma autora (2007), a estratégia ortográfica, por exemplo, consiste em esperar que, após o encontro de uma consoante no início da palavra, a próxima letra seja uma vogal. Para Liberato (2007, p. 17) outra estratégia é a morfossintática em que o leitor prevê a seqüência do enunciado, como no exemplo: Marcos é ..., a partir daí, espera-se que venha um adjetivo. Na estratégia semântico-pragmática, o leitor usa o conhecimento prévio que tem e relaciona com o significado das palavras, sendo útil na interpretação do texto. Já na estratégia discursiva, o leitor faz predições com relação a aspectos organizacionais do texto, ou seja, seu conhecimento prévio contribui para o entendimento de gêneros textuais. O processamento da leitura constitui-se de estratégias do leitor que recebem os nomes de cognitivas e metacognitivas. Faz-se um paralelo entre duas estudiosas do processo da leitura, a respeito de tais estratégias. De acordo com Kato (1999, p. 124) “estratégias cognitivas em leitura designarão, portanto, os princípios que regem o comportamento automático e inconsciente, enquanto estratégias metacognitivas designarão os princípios que regulam a desautomatização consciente das estratégias cognitivas”. Essa estratégia é de natureza consciente, estabelece um objetivo à leitura e, quando o leitor sente alguma falha em sua compreensão, a partir daí funcionam como detectores de falhas. 25 Para Kleiman (2000, p. 50): As estratégias cognitivas da leitura seriam aquelas operações inconscientes do leitor, no sentido de não ter chegado ainda ao nível consciente, que ele realiza para atingir algum objetivo de leitura. [...] As estratégias metacognitivas seriam aquelas operações realizadas com algum objetivo em mente, sobre as quais temos controle consciente, no sentido de sermos capazes de dizer e explicar a nossa ação. Para a mesma autora (2000, p. 65) com relação às estratégias cognitivas, que não envolvem aspectos reflexivos, percebe-se que “as operações para o processamento do texto se apoiam, basicamente, no conhecimento das regras gramaticais e no conhecimento do vocabulário”. Elencam-se também os esquemas como tendo papel importante no raciocínio do sujeito leitor e que podem ser ativados de duas formas: no processamento top-down (do todo para as partes) e botton-up (das partes para o todo). Principalmente, no processamento topdown (descendente), o estímulo visual ativaria o que estudiosos como Kato (1999, p. 52), chamam de esquemas. Esses são pacotes de conhecimento organizados que visam a armazenar dados em nossa memória de longo prazo, podendo automodificar-se conforme aumenta ou altera o nosso conhecimento de mundo. Assim, a mesma autora (1999, p. 52) diz que esses esquemas, são ligados a subesquemas que podem predizer uma situação nova, desconhecida do leitor, capacitando-o a compreender tais enunciados nunca antes ouvidos, adivinhando aquilo que está subjacente, interagindo com os dados do texto. Conceituando tais formas, pode-se dizer que, O processamento ascendente (botton-up) faz uso linear e indutivo das informações visuais, lingüísticas, e sua abordagem é composicional isto é, constrói o significado através da analise e síntese do significado das partes. O processamento descendente (top-down) é uma abordagem não-linear, que faz uso intensivo e dedutivo de informações não-visuais e cuja direção é da macro para a microestrutura e da função para a forma. (KATO, 1999, p. 50). Quando Kato (1999, p. 50) descreve na citação acima o processamento, refere-se à macroestrutura e microestrutura. No entanto, é Kleiman (2001, p. 63-68) quem diz que “nas estratégias microestruturais, os alunos procuram reestabelecer a integridade do texto, em uma estrutura canônica. [...] nas estratégias macroestruturais sua função é depreender o tema”. 26 Tendo em vista o processamento descendente, Kato (1999, p. 53) ressalta que pode ocorrer em vários níveis. Entre eles, o nível da palavra, em que o leitor se utiliza de algumas pistas (letra inicial, por exemplo) como dados de entrada visual, fazendo uso do léxico mental e das regras fonotáticas, assim como regras de formação de palavras como dados de entrada não visuais. Um exemplo disso faz-se ao ler as palavras, plantar e cisalhamento, logo se consegue fazer uma leitura descendente daquela, porém esta recorre uma leitura ascendente, ativando o processo analítico-sintético, analisando letra por letra, silaba por silaba, a fim de descobrir do que se trata. O processamento descendente está diretamente relacionado à familiaridade da palavra, ou seja, se ela está presente ou não no nosso léxico mental. Ainda sobre o processamento descendente na leitura, pode-se perceber que ao se ler tal tema, logo, se deduz sobre o que será falado, fazendo ativar o esquema sobre determinado assunto do texto, ficando quase que previsível as frases expostas. Para Kato (1999, p. 54) ao se ler o último parágrafo, uma situação que não era o esperado, ou predito, o leitor diminui a velocidade da leitura, querendo compreender o inesperado, realizando, nesse momento, uma leitura ascendente. Através da representação mental consciente é que se consegue manter as informações (velhas) em interação com as novas informações obtidas no texto. No caso, do processamento ascendente, se faz necessário compreender aspectos anafóricos contidos em textos, pois o leitor interpreta muitos termos como tendo um possível antecedente no texto, como bem caracterizou Kato (1999, p. 55-56). Assim, o leitor precisa compreender o posicionamento das palavras; os anafóricos, fazendo uma representação mental, após um raciocínio anterior. De acordo com Kato (1999, p. 50-51) os processamentos, aqui esboçados, delinease três tipos de leitor. Tem-se, então, o leitor que privilegia o processamento descendente empregando muito pouco o processamento ascendente. O perfil desse leitor se constrói pelo fato 27 de que capta facilmente as idéias gerais e principais do texto, de forma rápida e fluente, mas no momento do processo faz muitas adivinhações, utilizando seu conhecimento prévio, sem procurar confirmar tais dados dedutivos com os dados efetivamente expostos no texto. Já o segundo tipo de leitor faz uso efetivo do processo ascendente, que constrói significados a partir das informações do texto, detectando erros gramaticais, uma vez que não tira conclusões antecipadas da leitura realizada. No entanto, seu processo se torna mais lento, tem dificuldades em analisar o que é importante na leitura, dessa forma, precisa definir o ilustrativo do redundante. Na terceira conceituação, têm-se a junção dos processamentos, constituindo o leitor maduro que usa de forma e momento adequados, os dois processos anteriores. Esse leitor já utiliza estratégias metacognitivas em suas leituras, tendo controle consciente e ativo de seu procedimento. Entretanto, para Liberato (2007, p. 14) “é possível que o leitor não consiga ler um texto que, embora escrito numa língua que ele domina, trate de um assunto sobre o qual ele não tem informações”. Além disso, se o leitor lê, sem ter definido seu objetivo prévio, obviamente a compreensão ficará escassa, pois os objetivos são os que norteiam a leitura. Assim, se o sujeito ler o texto, pensando apenas em achar respostas a perguntas que serão feitas posteriormente, certamente só se estará atendendo as expectativas da escola, conforme Kato (1999, p. 134-135). As estratégias que o leitor pode utilizar quando não compreender são diversas e flexíveis visto que, ao perceber que não está entendendo, ele poderá voltar para a leitura, ler novamente, fazer um resumo do que entendeu, a fim de solucionar o problema, conforme as idéias de Kleiman (2000, p. 50). No entanto, faz-se necessário que essa percepção do problema seja encontrada pelo próprio leitor, ciente de sua falha na compreensão. Com relação às habilidades lingüísticas, Kleiman (2000, p.66) diz vão desde a capacidade de usar o conhecimento gramatical para perceber relações entre as palavras, até a 28 capacidade de usar o vocabulário para perceber estruturas textuais, atitudes e intenções. Em outras palavras, quem tem essas habilidades, coincidentemente, é um bom leitor. Deste modo, acredita-se que a compreensão da leitura dá-se em uma atividade que envolve a conexão do velho com o novo. Para Kato (1999, p. 62) essa conexão se dá a fim de desenvolver no aluno-leitor a habilidade de deduzir complementarmente com a averiguação e confiabilidade das informações antecipadas, visando à apreensão dos processamentos de forma a constituir o leitor maduro. Após algumas conceituações sobre leitura, podemos dizer que, o leitor vai em busca de outras estratégias, conforme a complexidade do estímulo. Essa complexidade, segundo Kato (1999, p. 108-109) pode estar relacionada a problemas estruturais, gramaticais que dificultam o processo, sendo que o leitor pode recorrer, sim, em um único texto a várias estratégias, visto que o mesmo recua ao uso de estratégias, quando a leitura está difícil. Todas essas estratégias vistas até aqui dependerão exclusivamente dos propósitos do leitor perante a leitura. Propósitos, esses, conscientes que visam a apreender a leitura. 2.5 O papel do professor perante a leitura A leitura é uma condição para dar voz e vez ao indivíduo, além de prepará-lo para torná-lo sujeito do ato de ler. O ato de ler é um processo mental complexo, tenso e descontínuo. Os conteúdos acadêmicos, assim como também a leitura, surgem gradativamente na vida do estudante, na medida em que ele é inserido no contexto de símbolos que fazem parte de seu dia-a-dia. Assim, é na escola que esses conceitos devem ser reforçados, principalmente pelo educador, cuja competência é fazer com que a leitura seja um hábito na vida dos alunos, de forma a tornar-se uma atitude espontânea. 29 Faz-se, pois, segundo Geraldi (2006, p. 110) “necessário resgatar na escola e trazer para dentro dela o que dela se exclui por princípio: o prazer de ler sem ter que apresentar ao professor e à escola o resultado desse prazer, que a própria leitura”. O ato de ler é realizado para que sejam ampliados os limites do próprio conhecimento, de forma divertida e descontraída. Segundo a Proposta Curricular de Santa Catarina (1998, p. 47), por outro lado, “certamente o trabalho com o texto “sacralizado”, de verdades inquestionáveis, obras e autores também sacralizados, distanciados por listas exaustivas, por dizeres alheios, por fichas de leitura e tantas outras práticas, não poderá interessá-los”. A leitura não pode ser um martírio para o aluno, em que o professor avalia e estabelece um tipo de cobrança, pelo contrário, o educador deve estimular este processo, a fim de formar leitores. Geraldi (2006, p. 60-61) afirma que “o professor não deve visar à cobrança da leitura, dado que o que se busca é desenvolver o gosto pela leitura e não a capacidade de análise literária”. A avaliação do professor se dá em um aspecto quantitativo, ao mesmo tempo em que se analisa a qualidade da leitura. O papel do professor, no que tange a leitura, faz-se principalmente em forma de estímulo, deixando com o que o aluno tenha liberdade de escolha e se sinta capaz de ler o que gosta o que lhe dá prazer. Caso contrário, o desinteresse instala-se. Silva (2006, p. 84-85) diz que um dos motivos para tal desinteresse, pode estar na escolha realizada pelo professor, exigindo que todos da turma leiam o mesmo título, sem opção de escolha, geralmente clássicos da literatura. Nessa escolha unilateral, nem sempre (na maioria das vezes) o gosto do professor coincide com o do aluno. Para Silva (2006, p. 86) é de competência do educador, entretanto, analisar a adequabilidade, o interesse e a motivação para a leitura. Assim, com tais critérios, assegura-se 30 o sucesso do livro. Outras informações a respeito da obra ainda são relevantes; entre elas, o assunto abordado para a faixa etária prevista, visto que não se deve ficar apenas com informações exteriores contidas no livro, mas saber e conhecer a melhor obra para a turma e até mesmo para a escola. Para que o aprendizado da leitura forme leitores é preciso que a função do professor seja de mediador. Por isso, para Geraldi (2006, p. 26-27) não pode o professor usar a leitura para outros fins, como pretexto para desenvolver outra atividade: dramatizar uma narrativa, ilustrar uma estória, por exemplo. O tipo de leitura em que o intuito de ler por ler se faz gratuitamente, quebra tal paradigma tão alicerçado por professores no ambiente escolar. Nas palavras de Geraldi (2006, p. 107), “o professor é somente observador do diálogo do aluno com o texto”. Nesse processo do aluno-leitor com o texto/autor, o professor é o expectador, apenas vê realizar-se o processo de leitura em seu aluno, em alguns momentos entra em cena e torna-se interlocutor, que responde e pergunta questões ao longo do procedimento. Para que isso aconteça, de acordo com a Proposta Curricular de Santa Catarina (1998, p. 51) “é preciso, na verdade, garantir, acima de tudo, que nas aulas de literatura se tenha contato mesmo é com ela: com a literatura”. Assim, nessa perspectiva de apreender a leitura: É necessário que o professor tente compreender o que há por trás dos diferentes sentidos atribuídos pelos alunos aos textos: às vezes é porque o autor “jogou com as palavras” para provocar interpretações múltiplas; às vezes é porque o texto é difícil ou confuso e, a despeito do seu esforço, compreende mal. (PCN, 1997, p. 57). O aluno precisa e deve ver tanto o professor, quanto o livro, uma referência em que possa buscar o conhecimento e sanar dúvidas. Os livros, sob variadas opções, podem ajustar-se às experiências do leitor. A liberdade com que o aluno tem abordado os livros que lê decorre do não privilégio a um único sentido ao texto, mas aqueles sentidos que a experiência de mundo, de cada leitor, atribui ao livro que lê na produção de sua leitura. A qualidade (profundidade) do mergulho de um leitor num texto depende de seus mergulhos anteriores. (GERALDI, 2006, p. 112). 31 Nessa relação aluno/texto, o professor precisa destacar, e principalmente valorizar, diferentes leituras do aluno. O fracasso escolar, muitas vezes, está em querer impor uma única forma, um único método e assim por diante. Já no convívio entre professor e aluno, tem-se uma imagem desigual e preestabelecida. Aquele é o conhecedor da verdade, sua finalidade é ensinar e este está apenas para aprender o que o mestre tem a ensinar. A interação entre ambos não é focalizada nas escolas. Assim, dessa forma, a leitura para o aluno parece algo externo a ele, inacessível. Por isso, em uma situação de compreensão da leitura, o aluno-leitor se anula, ficando implícita nele somente a linguagem marcada pela voz do professor. Esse fator de artificialidade faz com que não se construa o sujeito pensante e ativo. Podemos perceber isso na citação a seguir, em que Coracini (1995, p. 28) elenca algumas afirmações a respeito do discurso pedagógico do educador em sala de aula: [...] 1) o professor enquanto sujeito “integral” tem a ilusão que é o “dono” do seu fazer pedagógico, de que o que diz às explicações que fornece, os conselhos que dá são originais; são coisas originais; 2) o professor que se acredita com total controle sobre o seu próprio dizer, tem a ilusão de que pode tornar suas palavras claras, monossêmicas, de modo a serem compreendidas por todos os alunos da mesma maneira, independentemente da turma e da escola [...]. Segundo a autora, infelizmente, o educador detém todo o poder e autonomia, não deixando o aluno posicionar-se diante dos assuntos expostos em sala de aula. Tem-se, por vezes, a impressão de que o conceito que o professor tem do aluno corresponde ao de alguém pouco capaz. No caso da leitura, não se trata exclusivamente da relação desigual entre professor e aluno, mas ainda entre leitor e texto, leitor e autor. Parece, portanto, importante rever tais concepções que sustentam a prática da leitura, pois para que haja a prática, precisa haver, a priori, o aprendizado. E, nesse processo constante, o educador necessita conhecer outros aspectos atrelados à aprendizagem, dentre eles, a realidade social do aluno. 32 Para isso, o educador precisa testar as mais variadas estratégias, revê-las constantemente, respeitando o ritmo do aluno e, principalmente, conhecer cada dia mais esse aluno. Deve assegurar leituras atraentes, atribuindo sentido, ao mesmo tempo, levando em conta a sua realidade (do educando), a fim de que, nas leituras, o aluno encontre motivação e torne-se um sujeito em potencial. Se o aluno não se interessar pela leitura, por “n” razões, cabe ao professor criar situações que o envolvam e o atraiam ao texto, pois a função do professor não é a de ensinar a ler, mas a de oportunizar e criar situações. Em sala de aula, o professor deve ser mediador incansável, preparado para o convencimento que deve exercer junto aos alunos, em seu papel de formador de opinião favorável à leitura. Para isso, a Proposta Curricular de Santa Catarina (1998, p. 43) diz que além de íntimo dos livros, deve conhecer História e Teoria Literária. A leitura escolar requer planejamento desprovido de autoritarismo e amparado nas necessidades, inquietações e desejos de alunos-leitores. Requer envolvimento significativo e democrático com os livros, oportunizado pela ação planejadora do professor. 2.6 O papel da família frente á leitura É incontestável a importância da leitura e da escrita para a formação do educando. Assim, o primeiro contato que o sujeito tem com a escrita e com a leitura vem do seio familiar. Pensando dessa forma, para Freire (1995, p. 12) a leitura inicia-se no próprio contexto sócio-cultural a partir de idéias que fazem do conhecimento de mundo e que vão se aprofundando de acordo com seu desenvolvimento. Antes mesmo, ao entrar no ambiente escolar, a criança já estabelece um contato com a escrita, através da percepção e da compreensão com seus rabiscos e letras. No entanto, 33 percebe-se que o país em que vivemos não tem o hábito da leitura, ou seja, pouco se lê. Muito se escuta sobre leitura e sua importância, mas a prática é bem diferente. E esse raro exercício é uma atitude que já vem dos próprios mediadores. Na verdade, não é tarefa fácil incluir o hábito da leitura na criança, principalmente sabendo dessa constatação, mas esse é o desafio de professores em conjunto com a família; motivar para que o processo ocorra de forma prazerosa. Cabe, portanto, para Freire (1995, p. 17-21), à escola e aos professores que são essenciais na influência sobre a leitura no aluno, orientar, mais precisamente, despertar o gosto para o ato de ler. Uma vez que, o aluno ao ver a família envolvida e comprometida com o hábito da leitura, certamente terá um grande estímulo. A família pode começar o incentivo partir de seu próprio hábito, visto que a criança, ao ver seus pais ou outra pessoa do convívio praticando o hábito da leitura, sentir-se-á estimulada a conhecer. Essa atitude de descobrir a magia do mundo transformará o sujeito, aos poucos, em um leitor. Por outro lado, o PCN (1997, p. 55) ressalta que “os alunos não têm contato sistemático com bons materiais de leitura e com adultos leitores [...]”. Dentre esses adultos, incluem-se o pai, a mãe, os irmãos, etc. Observa-se também que o hábito dependerá muito da situação socioeconômica e cultural que envolve a família. Para Geraldi (2006, p. 99), o leitor não se constitui apenas com um livro, mas com o desenvolvimento de habilidades anteriores. Não há leitura qualitativa no leitor de um livro só, preparar um aluno para se tornar um leitor competente vai depender de várias leituras significativas. Quanto mais o aluno ler, melhor será seu entendimento e, conseqüentemente, desenvolver-se-á como leitor crítico. 34 3 METODOLOGIA O presente trabalho investigativo é uma pesquisa de campo com uma abordagem qualitativa, pois se enfatizam dados referentes às dificuldades na leitura tanto do ponto de vista dos alunos, quanto do ponto de vista dos professores, através de coleta com obtenção de resultados. Para a realização dessa pesquisa, optou-se pela Escola de Educação Básica Castro Alves, localizada na Rua 15 de novembro, n° 1645, no Bairro centro, no município de Araranguá, escola esta da rede pública do Estado de Santa Catarina. Os dados foram elaborados por meio de questionários, com vinte perguntas objetivas para os alunos e quinze perguntas também objetivas para os professores. O questionário para os alunos foi aplicado a duas turmas de alunos das 6ª (sextas) séries do Ensino Fundamental. A escolha das turmas ocorreu de forma intencional, por ser conhecida da pesquisadora (que está vinculada profissionalmente a essa escola e as essas séries). Tratase de uma turma matutina e outra vespertina. A primeira encontra-se com 28 (vinte e oito) alunos e a segunda, com 32 (trinta e dois) alunos, envolvendo 60 (sessenta) alunos em sua totalidade. Com relação à escolha dos profissionais, optou-se por 06 (seis) professores graduados em Língua Portuguesa, que trabalham com a disciplina em sala de aula e também por serem os mais envolvidos com atividades de leitura de literatura na escola. Assim, nesta pesquisa, pretendeu-se apontar as dificuldades dos alunos e dos professores na aula de leitura, relacionando-as com o referencial teórico constituído no mesmo. 3.1 Levantamento de dados 35 3.1.1 Dados do questionário com os alunos Os participantes, conforme já se disse, são os 60 (sessenta) alunos da 6ª série, os quais, submetidos às perguntas do questionário a seguir apresentado, ofereceram as respostas abaixo relacionadas: Pergunta 1 - Você gosta de ler? Nº. de alunos 52 08 Respostas Sim Não Pergunta 2 - Você procura obter respostas para suas dúvidas por meio da leitura? Nº. de alunos 43 17 Respostas Sim Não Pergunta 3 - Que tipo de texto você lê com frequência? Nº. de alunos 10 14 08 08 12 08 Respostas Recados MSN Livros infanto-juvenis Textos dos livros didáticos Textos de revistas Outros (jornais, piadas, horóscopo, curiosidades,...). Pergunta 4 - Que tipo de texto você mais aprecia? Nº. de alunos 13 09 26 12 Respostas Histórias de amor Investigação e mistério Aventuras Terror Pergunta 5 - Qual critério usa para escolher o livro? Nº. de alunos 14 07 29 10 Respostas Os mais coloridos Com letras grandes e bastante desenho A capa do livro Os mais finos 36 Pergunta 6 - Quantos livros você já leu neste ano? Nº. de alunos 11 20 25 04 Respostas Um De um a três Mais de três Nenhum Pergunta 7 - Quantas vezes na semana você tem aula de leitura? Nº. de alunos 60 0 0 0 Respostas Uma vez Duas vezes Três vezes Nenhuma Pergunta 8 - Você vai à biblioteca por livre iniciativa? Nº. de alunos 28 32 Respostas Sim Não Pergunta 9 - Você costuma ir à biblioteca com qual frequência? Nº. de alunos 19 33 08 Respostas Raramente Quando necessário Sempre Pergunta 10 - A biblioteca da escola possui um ambiente agradável e amplo? Nº. de alunos 39 21 Respostas Sim Não Pergunta 11 - Em casa, seus familiares têm o hábito de ler? Nº. de alunos 44 16 Respostas Sim Não Pergunta 12 - Quem incentiva você a ler? Nº. de alunos 44 12 02 02 Respostas Os pais A professora A bibliotecária Os colegas 37 Pergunta 13 - Durante as férias escolares você costuma ler algum livro? Nº. de alunos 44 16 Respostas Sim Não Pergunta 14 - Durante a leitura, ao se deparar com palavras desconhecidas, o que você faz? Nº. de alunos 05 22 33 Respostas Finge que não vê Consulta o dicionário Continua lendo para ver se descobre o que significa mais adiante Pergunta 15 - Você pratica a leitura com qual objetivo? Nº. de alunos 16 22 22 Respostas Para passar de ano Para aumentar seu vocabulário e escrever melhor Pelo prazer de ler Pergunta 16 - Ao iniciar a leitura de um livro interessante, você costuma ler até o final para: Nº. de alunos 50 02 08 Respostas Saber o que vai acontecer? Conhecer os lugares desconhecidos? Conhecer o pensamento das personagens? Pergunta 17 - O que você prefere ler? Nº. de alunos 01 10 29 20 Respostas Jornal Revista Livro Internet Pergunta 18 - De acordo com a resposta anterior, qual a frequência dessa leitura? Nº. de alunos 22 22 16 Respostas Todos os dias De uma a três vezes durante a semana Nos finais de semana Pergunta 19 - Você acha que a leitura é importante para seu futuro? Nº. de alunos 57 03 Respostas Sim Não 38 Pergunta 20 - Quantos livros infanto-juvenis você tem em casa? Nº. de alunos 06 11 28 15 Respostas Um Dois a cinco Mais de cinco Nenhum 3.1.2 Dados do questionário com os professores Os participantes, conforme já foram citados, são 06 (seis) professores da área de Letras, que submetidos a perguntas do questionário a seguir, apresentaram as respostas abaixo relacionadas: Pergunta 1 - Você já é formada em Letras há quanto tempo? Nº. de professores 02 00 02 02 Respostas De um ano a cinco anos De cinco de dez anos Há mais de dez anos Há mais de vinte anos Pergunta 2 - Você gosta de ler? Nº. de professores 06 00 Respostas Sim Não Pergunta 3 - Ler bem é: Nº. de professores 02 04 Respostas Gostar de ler Compreender o sentido dos textos Pergunta 4 - Os alunos leem pouco por que: Nº. de professores 02 00 04 00 00 Respostas Não gostam de ler Não tem acesso aos livros Não são motivados a leitura Não há livros disponíveis na escola Não há livros disponíveis em casa 39 Pergunta 5 - Você considera a leitura na escola um processo mecânico? Nº. de professores 00 05 00 01 Respostas Sempre Muitas vezes Raramente Nunca Pergunta 6 - Você prefere ler: Nº. de professores 02 03 01 Respostas Livros Revistas Jornais Pergunta 7 - Quantos livros você lê por mês? Nº. de professores 05 01 00 00 Respostas Um Dois Mais de dois Nenhum Pergunta 8 - Qual o tipo de livros você lê? Nº. de professores 00 00 04 02 Respostas Livro didático Científico Auto-ajuda Outros. Quais? (contos, romances, poesia, literatura,...). Pergunta 9 - Você lê textos da internet? Nº. de professores 05 01 Respostas Sim Não Pergunta 10 - Você acha que a leitura é praticada em casa pelos alunos? Nº. de professores 00 01 05 00 Respostas Sempre Muitas vezes Raramente Nunca 40 Pergunta 11 - Você considera a leitura importante na formação do aluno? Nº. de professores 06 00 Respostas Sim Não Pergunta 12 - Você oportuniza a leitura em sala de aula? Nº. de professores 06 00 Respostas Sim Não Pergunta 13 - A leitura na escola está sendo realizada de modo a: Nº. de professores 03 01 02 Respostas Extrair informações Por prazer Para obter conhecimento Pergunta 14 - Você lê com frequência para os alunos: Nº. de professores 05 01 Respostas Sim Não Pergunta 15 - A sala de aula, em sua opinião, proporciona a aprendizagem da leitura e sua apreensão? Nº. de professores 00 02 03 01 Respostas Raramente Algumas vezes Muitas vezes Sempre 3.2 Análise e interpretação dos dados recolhidos Faz-se uma análise das respostas dos participantes, alunos e professores, sobre a leitura e suas dificuldades, com base na interpretação dos dados quantitativos, os quais serão comparados com os dados teóricos presentes nessa pesquisa. Assim, será possível tecer conclusões compatíveis com as metas estabelecidas para esta pesquisa. 41 3.2.1 Análise e interpretação dos dados recolhidos no questionário para os alunos Pergunta 1 - Você gosta de ler? De 60 alunos, 87% responderam que sim e 13% responderam que não. Segundo PCN (1997, p. 58) a leitura é algo interessante e desafiador que, se conquistado plenamente, dá autonomia e independência ao leitor. Por isso o leitor gosta de ler, sente-se livre, pode sonhar, amar, chorar, rir, conhecer pessoas, descobrir sentimentos e emoções através do mundo das palavras. Para a Proposta Curricular de Santa Catarina (1998, p. 49), toda essa relação é construída “em práticas que privilegiam a leitura de obras na sala de aula e em conversas informais sobre os assuntos dos livros, em pequenos ou grandes grupos, com espaço para se falar desinteressadamente sobre as leituras, tal qual se fala sobre um acontecimento que nos deu prazer”. Nessa atividade contínua, o gosto pela leitura e sua prática constitui o leitor. Pergunta 2 - Você procura obter respostas para suas dúvidas por meio da leitura? Dos 60 alunos participantes, 72% responderam que sim, e 28% responderam que não. De acordo com Kleiman (2000, p. 51) “o leitor proficiente faz escolhas baseando-se em predições quanto ao conteúdo do livro”. Essas predições estão apoiadas no conhecimento prévio que o leitor possui. Entretanto, o tipo de texto escolhido vai estabelecer restrições aos objetivos ou dúvidas propostos pelo leitor. Por isso, o PCN (1997, p. 46) ressalta que é na diversidade de textos, em seus diversos assuntos que as oscilações são sanadas. Ainda a Proposta Curricular de Santa Catarina (1998, p. 43) lembra que “nos dias de hoje, já não se pode mais trabalhar a literatura ou a leitura da mesma forma que há um século. [...] Buscava- 42 se a formação do leitor/decodificador, e agora, busca-se a o leitor/criador, recriador, crítico e contestador”. Assim, o índice elevadíssimo revela que a leitura não está sendo uma mera atividade decodificadora, mas está auxiliando na construção do sujeito leitor, de forma a solucionar dúvidas recorrentes nos alunos, a respeito de diversos assuntos. Pergunta 3 - Que tipo de texto você lê com frequência? A Proposta Curricular de Santa Catarina (1997, p. 42) enfatiza que a leitura está presente em diversas formas, seja através do cinema, da televisão, da música e dos meios de comunicação e talvez tão mais apreciados do que o livro. Assim, “já muito se disse do quanto à escola tem representado, para a maioria dos jovens, a única oportunidade de contato com obras literárias, uma vez que a história de leitura deles, dos alunos, revela quando muito, opção por outros textos que não são os literários”. Tal afirmação é constatada na presente pesquisa em que 17% responderam recados; 23,3% disseram que o MSN, 13,3% textos dos livros didáticos; 20% textos de revistas e 13,3% responderam outros. Houve empate entre textos didáticos, revistas e outros, sendo que, entre esses estão textos de jornais, piadas, horóscopo, futebol, por serem textos do cotidiano e também mais acessíveis. O MSN, com 23,3%, está entre o tipo de leitura mais presente, pela linguagem simples, texto informal, em forma de diálogo, que envolve tecnologia e aquisição de amigos virtuais. Pergunta 4 - Que tipo de livros você mais aprecia? Respostas objetivas mostram os seguintes resultados: opções histórias de amor com 22%, investigação e mistério com15%, aventuras com 43% e terror com 20%. A maior porcentagem citada cabe a livros de aventura, que são mais lidos por apresentarem 43 acontecimentos inéditos, emoção, de forma a distrair e, ao mesmo tempo, atrair o leitor para a história. (constatação feita em conversa informal com os alunos). Segundo a Proposta Curricular de Santa Catarina (1997, p. 80), “o texto aparece, então, como o centro do processo de interação locutor/interlocutor, autor/leitor. Podemos dizer que o sentido não está simplesmente no próprio texto, nem no locutor, nem no interlocutor. Está no espaço criado entre esses três domínios”. Assim, o tipo de leitura vai depender dos objetivos do leitor, dos propósitos e, principalmente, do prazer constituído da interação entre eles. E Geraldi (2006, p. 107) salienta que “o aluno-leitor não é passivo, mas agente de significações”, ou seja, ele constrói os significados, as situações, ele deve fazer escolhas, de forma a se identificar com os personagens, reconhecer situações e adentrar na leitura. Dessa forma, os livros de aventura estão entre os maiores incentivadores. Pergunta 5 - Qual critério usa para escolher o livro? Deram-se as seguintes respostas: os mais coloridos com 23%; com letras grandes e bastante desenho com 12%; a capa do livro com 48% e os mais finos, com quantidade menor de páginas com 17%. Dos 60 participantes, quase 50% optaram pela capa do livro, por ser o primeiro elemento a chamar a atenção, seja através do título interessante, ou do desenho contido juntamente com o título. Segundo Kleiman (2000, p. 51) “o leitor proficiente faz escolhas baseando-se em predições quanto ao conteúdo do livro. Essas predições estão apoiadas no conhecimento prévio, tanto sobre o assunto, sobre o autor, a época da obra, o gênero”. Assim, pode-se dizer que a escolha da capa é uma estratégia usada pelo leitor, pois a partir dela nela, pode fazer inferências sobre o assunto a ser tratado; informa-se sobre o autor da obra e relaciona a ilustração da capa com o título. Desse modo, a leitura iniciada pela capa desperta a imaginação do leitor, facilitando a leitura posterior, visto que o título está 44 diretamente vinculado ao conteúdo do texto a ser lido. Para Barbosa (1990, p. 96) a estratégia usada pelo leitor do século XVIII, visava a uma expectativa estética em que “o leitor se aproximava do livro: examinava a qualidade do papel, seu peso, transparência, a paginação, a qualidade da impressão”. O autor ainda ressalta que “o leitor olhava para as impressões no papel e não apenas através delas... Hoje quase não encontramos essa classe de leitor”. Pergunta 6 - Quantos livros você já leu neste ano? Elencam-se as alternativas: um livro com 18%; de um a três livros com 33%; mais de três com 42% e 7% respondeu nenhum. Os 7% que responderam nenhum, provavelmente pegaram o livro apenas para satisfazer a vontade do professor. Segundo Geraldi (2006, p. 61), no primeiro bimestre, os alunos devem ler 3 (três) livros, no segundo mais 2 (dois) livros, de forma a chegar ao final do ano letivo totalizando 10 (dez) livros lidos. Observando a porcentagem de alunos que leram mais de 3 (três) livros, constata-se que a aula de leitura está surtindo efeito. No entanto, Geraldi (2006, p. 60-61) ressalta que “em princípio, nenhuma cobrança deveria ser feita, dado que o que se busca é desenvolver o gosto pela leitura e não a capacidade de análise literária” e ainda diz como a quantidade é importante, mas a qualidade precisa estar atrelada a essa quantidade. Pergunta 7 - Quantas vezes na semana você tem aula de leitura? Nessa pergunta, destacam-se quatro opções: uma vez; duas vezes; três vezes e nenhuma. Todos os participantes, 100%, responderam que, uma vez na semana, uma aula é exclusiva para as aulas de leitura, isso se o conteúdo gramatical estiver no prazo correto. (comprovação realizada em conversa extraclasse com os alunos). Para Geraldi (2006, p. 60), 45 “para a prática da leitura de narrativas longas, sugere-se um período de aula por semana”. Segundo o autor um período de aula por semana é ideal, quando se tem cinco períodos ou aulas por semana. No caso, do cronograma da escola pesquisada, há quatro aulas de português, visando a uma aula para leitura. Pergunta 8 - Você vai à biblioteca por livre iniciativa? 53% responderam que não e 47% responderam que sim. Essa resposta permite constatar que um pouco mais de 50% freqüentam a biblioteca porque o professor ou o diretor solicita, em uma situação em que o aluno não tem o livro recomendado, não é uma atitude habitual e espontânea do mesmo. Os 47% já estão, aos poucos, adquirindo uma formação leitora. De acordo com Geraldi (2006, p. 62), “é importante que a biblioteca possibilite ao aluno a retirada do livro, pois ele iniciará a leitura em aula, mas o enredo o levará a querer saber o fim da história. Certamente ele lerá fora da aula, independentemente de solicitação do professor”. Se o objetivo da ida à biblioteca é ler e se os alunos, por algum motivo, adquirem hábitos e atitudes diferentes, nem sempre à biblioteca servirá para ler livros ou locar, sendo apenas um lugar para ser visitado e conhecer outras coisas. Pergunta 9 - Você costuma ir à biblioteca com qual frequência? 32% responderam raramente; 55% quando necessário; 13% sempre. Comprova-se que 55% vão à biblioteca quando realmente precisam pegar um livro, pois a leitura será cobrada pelo professor. Para Geraldi (2006, p. 61) “o que não se deve fazer é tornar o ato de ler um martírio para o aluno que, ao final da leitura, terá que preencher fichas, roteiros ou coisas parecidas”. A biblioteca não pode estar condicionada a práticas inadequadas realizadas 46 pelo professor. Além disso, segundo Kleiman (2000, p. 23) “também a leitura que é cobrada mediante resumos, relatórios e preenchimentos de fichas é uma redução da atividade a uma avaliação desmotivadora”. E à autora (2000, p. 23) considera ainda que “a insistência no controle diminui a semelhança entre a leitura espontânea do cotidiano e a leitura escolar, ajudando na construção de associações desta última com o dever e não com o prazer”. Pergunta 10 - A biblioteca da escola possui um ambiente agradável e amplo? 65% responderam que sim, e 35% disseram não. No entanto, percebe-se que a maioria dos alunos participantes não sabe ainda distinguir e dizer o que é um ambiente amplo e agradável. Em observação realizada pela pesquisadora, confirmada em leituras feitas durante esta pesquisa, à escola realmente não possui esse ambiente, sendo apenas um depósito de livros, não havendo um lugar reservada à leitura. Assim sendo, o PCN (1997, p. 58) descreve que “formar leitores é algo que requer, portanto, condições favoráveis para a prática de leitura, [...] para o desenvolvimento e o gosto pela leitura”. Entretanto, algumas dessas condições é “dispor de uma boa biblioteca na escola; com um acervo de classe com livros e outros materiais de leitura”. Pergunta 11 - Em casa, seus familiares têm o hábito de ler? 73% responderam sim e 27% responderam não. Tal constatação é explicada por ser uma escola bem localizada no município, em que a classe predominante é da média para alta, porém há famílias de classe baixa também, sendo estas, exceções. Para Geraldi (2006, p. 43), a variedade de alunos existentes na escola faz com que essa diversidade comprometa a leitura e não seja igualitária a todos. No entanto, se a leitura é valorizada no seio familiar, os 47 alunos encontram uma ambiente favorável para sua prática, e incentivo para realização de uma atividade continua. Em conversa informal, os alunos relataram que os pais leem jornal; os outros integrantes leem revistas, receitas culinárias, livros de auto-ajuda, bíblia. Pergunta 12 - Quem incentiva você a ler? 73% responderam que são os pais; 20% responderam que é a professora; 3,3% disseram que é a bibliotecária e 3,3%, os colegas. Ao analisar a porcentagem da resposta anterior, aparece o mesmo percentual, 73%. Constata-se que desses familiares, são os pais que incentivam a leitura. Isso se dá pela mesma explicação mencionada na pergunta 11. Outro fator relevante é o tempo que os pais permanecem com os filhos, justificando tal afirmação. No entanto, para Kleiman (2000, p. 27), os 20% se dá pelo fato que “na aula de leitura, [...] o professor serve de mediador entre o aluno e o autor. Nessa mediação, ele pode fornecer modelos para a atividade global, como pode, dependendo dos objetivos da aula, fornecer modelos de estratégias específicas de leitura, fazendo predições, perguntas, comentários”. Assim, nessa interação com o aluno, o educador estará atento para auxiliá-lo em sua compreensão e ao mesmo tempo motivando-o para a leitura. Ainda a respeito da percentagem do professor, Barbosa (1990, p. 20) ressalta que a escola desde muito tempo vem sendo o veículo responsável e propulsor no processo de leitura. No entanto, esta situação perpassou o ambiente escolar. E conclui o PCN (1997, p. 57) que se faz necessário que o “professor tente compreender o que há por trás dos diferentes sentidos atribuídos pelos alunos aos textos: às vezes é porque o autor jogou com as palavras para provocar interpretações múltiplas: às vezes é porque o texto é difícil ou confuso [...]”, somente através do contato com o aluno, valorizando seu conhecimento e conhecendo essas situações, que o professor despertará e cultivará o desejo de ler no aluno. 48 Pergunta 13 - Durante as férias escolares você costuma ler algum livro? 52% responderam que sim e 48% responderam que não. Devido ao tempo ocioso do aluno nas férias, 48% optam por esquecer os livros e a escola, gastando seu tempo com outras atividades, para eles mais atraentes e prazerosas. Para os 52%, a leitura já é uma atividade prazerosa em que se pode também conhecer outros lugares e viajar, porque o gosto pela leitura está intrínseco neles. Segundo o PCN (1997, p. 55) se “o objetivo é formar cidadãos capazes de compreender textos com os quais se defrontam, é preciso organizar o trabalho educativo para que experimentem e aprendam isso na escola”. Entretanto, o mesmo enfatiza que é, preciso, “oferecerlhes os textos do mundo: não se formam bons leitores solicitando aos alunos que leiam apenas durante as atividades na sala de aula, apenas livro didático, apenas porque o professor pede”. Todavia, pratiquem essa atividade em outros lugares, de forma espontânea. Para o PCN (1997, p. 48) “o diálogo espontâneo com o texto pode trazer descobertas, encontros, lembranças, reconhecimento de vivências, identificação de retalho de vida imobilizado no papel, através da palavra”. Pergunta 14 - Durante a leitura, ao se deparar com palavras desconhecidas, o que você faz? 8% fingem que não veem; 37% consultam o dicionário e 55% continuam lendo para ver se descobrem o que significa mais adiante. De acordo com as idéias de Kato (1999, p. 50), os 55% dos alunos em um processo de inferência, de adivinhação compreendem o material lido, de forma a utilizar o processo descendente (top-down) no momento da leitura. No entanto, a autora (1999, p. 50-51) faz uma alerta ao aluno que, no momento do processo, faz muitas adivinhações, utilizando seu conhecimento prévio, sem procurar confirmar tais dados dedutivos com os dados efetivamente expostos no texto. Os 37%, se utilizam mais do processo ascendente, em que Kato (1999, p. 51) conceitua como uma leitura mais lenta, parando muitas vezes e tendo dificuldades 49 em analisar o que é importante no texto. E os que fingem que não veem, estes não utilizam nenhum dos processos mencionados, apenas decodifica as palavras, de forma a ser mais cômodo a eles. Pode-se perceber que a grande maioria dos participantes está se formando como leitores maduros em que futuramente usarão os dois processos em uma estratégia metacognitiva. Pergunta 15 - Você pratica a leitura com qual objetivo? 25% responderam que leem para passar de ano; 37%, para aumentar seu vocabulário e escrever melhor e 37%, pelo prazer de ler. Os alunos entendem que é importante adquirir vocabulário para que se escreva melhor e também que essa leitura seja de forma prazerosa, havendo um empate entre essas duas opções de 37%. Segundo o PCN (1997, p. 53), “a leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção do significado do texto, a partir de seus objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a língua [...]”. Não apenas ler para aprender ou escrever e melhorar vocabulário, mas ler para saber o que acontece, por prazer. O gosto pela leitura naturalmente expandirá seu conhecimento e seu vocabulário. No entanto, 25% leem apenas porque será uma leitura avaliativa, assim o objetivo é passar de ano e não adquirir as outras duas alternativas citadas acima. Pergunta 16 - Ao iniciar a leitura de um livro interessante, você continua até o final para: 83% querem saber o que vai acontecer; 3,3%, conhecer os lugares desconhecidos e 13,3%, conhecer o pensamento das personagens. As respostas nos mostram que 83%, a maioria, lê porque está interessada no enredo. Segundo o PCN (1997, p. 58), “para tornar os alunos bons leitores para desenvolver, muito mais do que a capacidade de ler, o gosto e o compromisso com a leitura [...] precisará fazê-los achar que a leitura é algo fascinante e 50 desafiador [...]”. Deste modo, a leitura atrai o leitor e respectivamente sua concentração e, ao mesmo tempo, distrai, aguçando o prazer e a curiosidade, sendo este um dos principais elementos incentivadores no ato de ler. Pergunta 17 - O que você prefere ler? 2% dos participantes leem jornal; 17%, revista; 48%, livro e 33%, internet. Com as respostas, vê-se que os índices mais elevados estão entre a Internet e o livro. A Internet está presente no cotidiano dos alunos, mas eles não entendem como sendo uma leitura. Assim, ao observar a pergunta 03 e as respostas, vê-se que o MSN é o tipo de texto mais freqüente entre eles, no entanto, para ler, eles preferem o livro. A Proposta Curricular de Santa Catarina (1998, p. 49) descreve que tal preferência pode estar na variedade de textos lidos, encorajando leituras outras, contendo “um espaço que não exclui linguagens, que convida à transformação, ao exercício do sonho, do encantamento, porque desafia arquitetar a palavra, propositadamente, colocada ou deslocada. Liberdade e direito de expressar-se”. Assim, 48% preferem o livro, índice justificado pela citação exposta e também por várias respostas dadas anteriormente nesse questionário, quais sejam o incentivo da família, da escola e do professor que reserva um espaço para a leitura. Visto que para o leitor, o livro é o responsável por diversos momentos mágicos, eclodindo emoções, permitindo sonhar, rir, chorar, pensar, viver. (constatação realizada em sala de aula através de conversa com os alunos). Pergunta 18 - De acordo com a resposta anterior, qual a frequência dessa leitura? 36% leem todos os dias; 37% leem de uma a três vezes durante a semana e 27% nos finais de semana. Com relação às respostas, fica explícita a aproximação das frequências 51 das leituras, 36% e 37%. Kleiman (2001, p. 08) é quem diz “todos sabemos hoje que o bom leitor é aquele que lê muito e gosta de ler, e concordaríamos em que o caminho para chegar a ser um bom leitor consiste em ler muito”. Provavelmente a leitura do livro, para a grande maioria dos participantes, está sendo realizada de uma a três vezes na semana e para outros, todos os dias. Esse índice mostra que a leitura, pelo menos nessa série não está esquecida, ficando em um nível regular a sua presença de forma ativa no cotidiano dos alunos. Pergunta 19 - Você acha que a leitura é importante para seu futuro? 95% dos entrevistados responderam sim, e 5%, não. Considerando o índice de livros lidos pelos participantes, o objetivo pelo qual as leituras são feitas e por meio das respostas dadas às perguntas, entre elas, a pergunta 02, em que, 72% dos participantes procuram obter respostas para suas dúvidas por meio da leitura. Isso quer dizer, que a leitura também é um meio de educar, de sanar dúvidas, responder perguntas, mostrando a relação de intimidade e valorização com que a grande maioria obteve e obtém com a leitura ou com o livro. Outra pergunta relacionada a esta questão levantada é a pergunta 13 - Durante as férias escolares, você costuma ler algum livro? 52% responderam que sim. Pode-se dizer, com esse percentual obtido, que o aluno está desenvolvendo a consciência sobre a função de ler e sua importância, sendo também uma atividade que desenvolve o intelecto, a personalidade do leitor. Na pergunta 17 - em que 48% dos alunos que responderam preferir ler livros, foi essencial para a comprovação da resposta da presente questão. O livro está muito presente no cotidiano dos participantes, e as funções que o mesmo tem estão sendo captadas por seus leitores, entre elas, construir o próprio saber, desenvolver habilidades, além disso, formam sujeitos críticos e ativos. Conforme a Proposta Curricular de Santa Catarina (1998, p. 42), salienta que a importância se dá na “literatura como um conhecimento produzido pelo homem 52 como ser histórico e que, por essa razão, serve-se dela para compreender, interpretar e transformar ou perpetuar as relações sociais”. Esta (1997, p. 46) ainda mostra que “as relações sociais são dinâmicas e conflitantes e lidam com implicações de caráter político, social, econômico e ideológico. Visto que a leitura está em todo lugar, não se pode viver sem ela. A literatura mostra-se como uma oportunidade de explicitação dessas relações e desses conflitos”. Assim, a literatura aborda vários assuntos, gêneros, autores, épocas, por isso a finalidade se faz em identificar as dificuldades inerentes nos leitores perante essas leituras, tendo estes, o leitor e o texto uma relação dialógica, sendo essencial na evolução do ato de ler. Por isso a literatura interage, pensa, investiga, diz, contesta e supera seu próprio dizer, sendo de extrema relevância na interação e na comunicação entre os homens. E para finalizar, a pergunta 20. Pergunta 20 - Quantos livros infanto-juvenis você tem em casa? Por issso10% dos alunos responderam um; 18%, dois a cinco; 47%, mais de cinco e 25% responderam nenhum. Com as porcentagens citadas, percebe-se que 47% têm livros infanto-juvenis em casa. Por esse motivo, praticam a leitura, salvo exceções, pois possuem livros ao seu alcance e ainda adequados à faixa etária. Essa acessibilidade está relacionada aos hábitos da família. Já os 25% são aqueles que, por algum motivo, não têm contato com literatura infanto-juvenil em casa, recorrendo a revistas, jornais, outros tipos de livros. Para esses, o acesso a essa literatura se dá através da escola. Por isso, a Proposta Curricular de Santa Catarina (1997, p. 43) descreve que para a maioria dos jovens, “a única oportunidade de contato com obras literárias, uma vez que a história de leitura deles, dos alunos, revela, quando muito, opção por outros textos que não os literários”. Salienta ainda (1997, p. 49), que “a literatura na vida escolar [...] deve criar entre alunos e obras literárias uma atitude de 53 intimidade, de curiosidade pelos livros, de interesse pela descoberta, de valorização e de encantamento como leitor e como produtor de textos”, visto que, havendo todos esses elementos inseridos no aluno, a leitura não ficará somente nas salas de aula. Segundo Geraldi (2006, p. 62), “ele iniciará a leitura em aula, mas o enredo o levará a querer saber o fim da história. Certamente ele lerá fora da aula”. E essa relação com o livro ficará mais intensa, se o aluno dispuser de livros no ambiente familiar. Assim, os 25% incluídos nesse percentual, muitas vezes, têm também acesso a outras leituras em casa, mas primam por outras atividades. 3.2.2 Análise e interpretação dos dados recolhidos em questionário com professores Fez-se uma análise dos resultados do questionário, composto de 15 perguntas objetivas dirigidas a 06 (seis) profissionais da área de Língua Portuguesa desta série em estudo. Questão 1 - Você já é formada em Letras há quanto tempo? Dois (02) professores são formados em Letras entre um ano e cinco anos; dois (02) professores são formados há mais de dez anos e dois (02) professores são formados há mais de vinte anos. Tal pergunta foi feita para se identificar a experiência e também a faixa etária dos profissionais que trabalham com a leitura em sala de aula. Pode-se dizer que a formação dos professores está bem equilibrada. Os quatro (04) professores, por lecionarem há mais tempo, conhecem a realidade da leitura e da escola. Segundo Kleiman (2000, p. 17), o professor novo (recém-chegado ou formado), muitas vezes, chega “na escola com uma proposta inovadora. Porém desiste, em parte pelo fato de ele se encontrar dentro de uma estrutura de poder na escola, no degrau mais baixo, e também, pelo fato de sua proposta estar baseada apenas numa convicção de necessidade de mudança, mas sem a formação necessária 54 para essa mudança”. No entanto, sabe-se que tal situação ocorre também com profissionais experientes, pois a mudança é um processo difícil. Dessa forma, a autora diz que independente de sua atuação como professor e da experiência que possui, deve-se ter uma formação teórica na área de leitura, para que os mesmos possam ensinar leitura. Questão 2 - Você gosta de ler? Essa resposta foi um sim unânime. Os seis (06) professores disseram sim. Esse é o primeiro passo para a formação de leitores. Esse gosto pela leitura deve transparecer para o aluno que, de alguma forma, se espelha nas atitudes do professor. Segundo PCN (1997, p. 65), “uma prática intensa de leitura na escola é, sobretudo, necessária, porque ler ensina a ler e a escrever”, principalmente quando é realizada em sala de aula. Entretanto, nas palavras de Geraldi (2006, p. 45), “a maior parte do tempo e do esforço gastos por professores e alunos durante o processo escolar” não com a leitura, e o seu incentivo, “mas para aprender a metalinguagem de análise da língua, com alguns exercícios [...]”. Desse modo, as práticas sustentadas dentro da escola, acontecem também fora dela. Por isso, é Kleiman (2000, p. 16) quem diz que “os diversos concursos para cargos públicos e para cargos vagas em colégios e universidades, sejam estes a nível federal, estadual ou municipal, ou do setor privado exigem do candidato o conhecimento fragmentado e mecânico sobre a gramática da língua”. Acredita-se que o gosto pela leitura e sua compreensão, fluem naturalmente, quando o sujeito gosta de ler e quando sua prática é constante. Questão 3 - Ler bem é: Dois (02) professores responderam que ler bem é gostar de ler e quatro (04) professores responderam que é compreender o sentido dos textos. Em conversa informal com 55 esses professores, todos ficaram em dúvida quanto a suas respostas, pois pensam que a leitura se constitui desses dois elementos. Ler bem seria compreender o texto e também gostar de ler. Quatro deles optaram pela compreensão do sentido do texto, sendo que para responder as perguntas sobre o conteúdo da leitura, o aluno precisa compreender o que foi lido. Assim sendo, Liberato (2007, p. 13) diz que “a compreensão de textos é um processo complexo em que interagem diversos fatores como conhecimento geral a respeito do mundo, motivação e interesse na leitura, dentre outros”. E a autora (2007, p. 16) ainda ressalta, então, o que se tem “na compreensão de um texto, é uma espécie de colaboração ou de interação entre a informação visual e o nosso conhecimento anterior”. Segundo o PCN (2007, p. 54) “formar um leitor competente supõe formar alguém que compreenda o que lê; que possa aprender o que não está escrito, identificando elementos implícitos; que estabeleça relações entre o texto que lê e outros textos já lidos [...]”. E o mesmo (1997, p. 58) conclui “uma prática de leitura que não desperte e cultive o desejo de ler não é uma prática pedagógica eficiente”. Questão 4 - Os alunos leem pouco por que: Nessa questão foram oferecidas seis opções de respostas: a) não gostam de ler; b) não tem acesso aos livros; c) não são motivados a leitura; d) não há livros disponíveis na escola; e) não há livros disponíveis em sua casa. Dois (02) professores responderam que os alunos não gostam de ler e quatro (04) professores acham que os alunos leem pouco porque não são motivados à leitura. Pode-se dizer que tal resposta, responde, em certa medida, a problemática da pesquisa em questão. Os alunos têm dificuldades, segundo a maioria dos participantes devido à falta de incentivo. Quem incentiva ou deixa de incentivar, então? Segundo as respostas do questionário feito com os alunos, 73% responderam que gostam de ler e que são os pais que incentivam a 56 leitura. Logo, a responsabilidade da escola e dos professores em formar leitores e cidadãos está ficando em segundo plano. Segundo Kleiman (2000, p. 15), os alunos leem pouco devido “ao lugar cada vez menor que a leitura tem no cotidiano do brasileiro, a pobreza no seu ambiente de letramento [...] ou ainda, a própria formação precária de um grande número de profissionais da escrita que não são leitores, tendo, no entanto, que ensinar a ler e a gostar de ler”. Para o PCN (1997, p. 56) “para aprender a ler, portanto é preciso interagir com a diversidade de textos escritos, testemunhar a utilização que os já leitores fazem deles e participar de atos de leitura de fato [...] recebendo incentivo e ajuda de leitores experientes”. Já a Proposta Curricular de Santa Catarina (1998, p. 44) diz que “o espaço para a leitura de obras será encontrado por professores e alunos cuja motivação e interesse pela Literatura tiver sido cultivado”. Além do incentivo de leitores experientes, como destacou o PCN, o próprio leitor precisa estar motivado para realizar o ato de ler. Questão 5 - Você considera a leitura na escola um processo mecânico? Cinco (05) professores responderam muitas vezes e um (01) respondeu nunca. A partir disso, o PCN (1997, p. 52) explica que “a relação que se estabelece entre leitura e escrita, entre o papel de leitor e de escritor, no entanto, não é mecânica: alguém que lê muito não é, automaticamente, alguém que escreve bem”. Entretanto, a leitura na escola, como aborda Geraldi (2006, p. 18) “às vezes, pretendendo tornar a aula de gramática mais interessante (e duplamente útil, ilustrando os seus alunos) o professor trazia (ou traz) um texto literário para nele exercitar a busca de orações subordinadas ou de substantivos abstratos”. No entanto, para Geraldi (2006, p. 15) o processo mecânico ainda existe nas escolas, como comprova a presente pesquisa. “À maioria é permitido ouvir, não falar”. O professor é comparado com a televisão que fala a todo o momento, de forma autoritária, e o aluno é o 57 espectador que ouve tudo e, conformado, passivo não opina, concordando com o que ouve. Para concluir, Zilberman (1986, p. 16) diz que “a entidade que recebe a incumbência de ensinar a ler, a escola, tem interpretado esta tarefa de um modo mecânico e estático”. Questão 6 - Você prefere ler: Dois (02) professores preferem livros; três (03) preferem revistas e um (01) professor prefere jornal. As respostas ficaram bem diversificadas. No entanto, as revistas é a preferência de três participantes. Para o PCN (1997, p. 55) “ler é indispensável, a escola deve oferecer materiais de qualidade, modelos de leitores proficientes e práticas de leitura eficazes”. Nessa visão, são os professores, os leitores proficientes citados anteriormente. Sendo estes, modelos a serem seguidos, de forma a promover a leitura de literatura na sala de aula. Para que isso aconteça, de acordo com a Proposta Curricular de Santa Catarina (1998, p. 51) “é preciso, na verdade, garantir, acima de tudo, que nas aulas de literatura se tenha contato mesmo é com ela: com a literatura”. De acordo com dados da pesquisa, os livros são a segunda opção na preferência dos professores, a partir disso, ainda a Proposta Curricular de Santa Catarina (1998, p. 81) descreve que “se a leitura não se desenvolve, talvez o aluno não esteja sendo desafiado e/ou não esteja encontrando as condições necessárias no meio social, incluindo aí o trabalho do professor, que é o mediador imediato nesse ambiente”. E para que a leitura insira-se no aluno, o PCN (1997, p. 64) adverte que se faz necessária a leitura de livros realizada pelo professor “que possibilita aos alunos o acesso a textos bastante longos, por sua qualidade e beleza, podem vir a encantá-los”, embora “nem sempre sejam capazes de lê-los sozinhos”. Já Kleiman (2000, p. 17) diz que a formação teórica do professor na área da leitura precisa ser aperfeiçoada, para que assim, segundo a Proposta Curricular de Santa Catarina (1998, p. 43), “oportunize essa convivência com os livros, esse desvendamento do mundo literário”, que é um dos objetivos da escola. 58 Questão 7 - Quantos livros você lê por mês? Cinco (05) responderam um livro e um (01) respondeu dois livros. A quantidade de livros é importante, esse hábito da leitura é que faz com que a aula seja prazerosa e atrativa. Segundo Geraldi (2006, p. 99) “a qualidade (profundidade?) do mergulho de um leitor num texto depende e muito de seus mergulhos anteriores”. Dessa forma, à bagagem do educador, seus mergulhos e intimidades com a literatura, transformam-o em um leitor proficiente e consciente de seu papel perante a leitura. Questão 8 - Qual o tipo de livros você lê? Quatro (04) professores responderam que leem livros de auto-ajuda e dois (02) professores responderam que leem outros livros como contos, romances, poesias. Para que a leitura esteja presente na escola, faz-se necessário que seja de qualidade e essa qualidade é o reflexo da leitura realizada pelos seus mediadores, os professores. Segundo a Proposta Curricular de Santa Catarina (1998, p. 46), a literatura deve estar presente nas aulas de literatura, assim como a diversidade de textos, e ainda enfatiza (1998, p. 43) que se faz necessário que os professores sejam capazes “[...] de se encantar pelos livros, [...] produções literárias,” de forma a oportunizar aos jovens alunos a leitura de livros infanto-juvenis na sua totalidade. Questão 9 - Você lê textos da Internet? Cinco (05) professores responderam sim e um (01) respondeu não. Segundo o PCN (1997, p. 54) “um leitor competente só pode constituir-se mediante uma prática constante de leitura de textos de fato, a partir de um trabalho que deve se organizar em torno 59 da diversidade de textos que circulam socialmente”. Assim, a diversidade de textos, sejam eles impressos ou não, colaboram na formação do sujeito leitor. Questão 10 - Você acha que a leitura é praticada em casa pelos alunos? Os cinco (05) professores responderam que raramente a leitura é praticada em casa pelos alunos e um (01) respondeu que muitas vezes. A constatação dos professores decorre da observação de dificuldades com pronúncia de palavras, de falta de compreensão do texto. Assim, os processos envolvidos na leitura exigem desde a percepção até a memória do leitor. Segundo Kato (1999, p. 29) alguns leitores, ao encontrarem “um termo desconhecido em um texto, interrompem a leitura para consultar um dicionário”. Porém, não diminuí “o ritmo de leitura, esperando que o contexto possa esclarecer seu sentido. Em tais ocasiões, esse termo fica visualmente ou auditivamente retido na memória temporária a espera de uma interpretação apropriada, que se dá por inferência”. Para Liberato (2007, p. 24-25) “se a leitura é muito lenta e o leitor dá muita atenção a detalhes, não conseguindo processar mais do que poucas palavras ou conceitos individuais, o significado global do texto pode se perder definitivamente. A leitura deve ser, portanto, relativamente rápida, mas não indiscriminada”. A mesma autora salienta (2007, p. 14) que “é possível que o leitor não consiga ler um texto que, embora escrito numa língua que ele domina, trate de um assunto sobre o qual ele não tem informações”. Por isso, segundo Kleiman (2000, p. 50), as estratégias que o leitor pode utilizar, quando não compreende são diversas e flexíveis, visto que, ao perceber que não está entendendo, ele poderá voltar para a leitura, ler novamente, fazer um resumo do que entendeu, a fim de solucionar o problema. Dessa forma, se faz necessária a utilização de estratégias eficientes. A compreensão depende disso. O leitor recorre a esquemas de processamento ascendente e descendente que, para Kato (1999, p. 52), são ligados a subesquemas que podem predizer uma situação nova, 60 desconhecida do leitor, capacitando-o a compreender tais enunciados nunca antes ouvidos, adivinhando aquilo que está subjacente, interagindo com os dados do texto. Acredita-se, então, que a compreensão da leitura dá-se por meio de uma atividade que envolve a conexão do velho com o novo. Uma vez que, de acordo com Kleiman (2001, p. 17) “a leitura é considerada um processo interativo, no sentido de que os diversos conhecimentos do leitor interagem em todo momento com o que vem da página para chegar à compreensão”. Questão11 - Você considera a leitura importante na formação do aluno? Os seis (06) professores responderam que sim. A leitura está integrada a nossa vida. Desde pequeno, a leitura vem se constituindo e, a todo o momento, sua importância é lembrada. Assim, segundo Freire (1995, p. 11) “a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e a realidade se prendem dinamicamente”. Ou seja, a leitura da palavra é realizada em um texto, no entanto, para que a mesma seja significativa e faça sentido, precisa-se fazer um elo com a leitura de mundo, do conhecimento que o leitor possui, de suas relações e interações com o mundo. Para o mesmo autor (1995, p. 11) “a compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto”. A leitura precisa fazer sentido ao aluno, de modo que o mesmo, segundo o PCN (1998, p. 54) possa “resolver um problema prático, informar-se, divertir-se, estudar, escrever ou revisar o próprio texto [...]”. Além disso, a Proposta Curricular de Santa Catarina (1998, p. 49) ressalta que, para formar leitores, “deve, para isso, criar entre alunos e obras literárias uma atitude de intimidade, de curiosidade pelos livros, de interesse pela descoberta, de valorização e de encantamento como leitor [...]”. Dessa forma, o sujeito aluno se descobrirá como ser crítico e ativo que não apenas lê, mas se insere na leitura, desenvolvendo suas potencialidades, personalidade e o intelecto. 61 Questão12 - Você oportuniza a leitura em sala de aula? Os seis (06) professores responderam que sim. Segundo Geraldi (2006, p. 60) para a leitura de textos longos, de obras, o autor considera importante o enredo, “é o enredo que enreda o leitor. Daí a seleção de romances e novelas para esta atividade. Outro aspecto encontrado no ato de ler, conforme Soares (2006, p. 25) é como “a literatura se apresenta na escola sob a forma de fragmentos que devem ser lidos, compreendidos, interpretados. Certamente [...] é nesta instância que ela tem sido mais inadequada”. Geraldi (2006, p. 96-97) concorda que a leitura é oportunizada em sala de aula, todavia, em muitos casos, serve como pretexto para ilustrar história, dramatizar uma narrativa ou ensinar metalinguagens. No entanto, Geraldi (2006, p. 110) diz que uma das preocupações dos profissionais que trabalham com a leitura, se refere à avaliação. “Como vou saber se o aluno leu o livro, se não exijo resumos, fichas de leitura, etc.? Ou ainda: Como vou analisar a qualidade/profundidade da leitura do aluno?”. Dessa forma, Geraldi (2006, p. 111) aconselha “que notas, pontos, etc., são pouco representativos” lembra (2006, p. 61) que para o professor “a avaliação, portanto, deverá se ater apenas ao aspecto quantitativo (o aspecto qualitativo das leituras realizadas pelos alunos dependerá, logicamente, da seleção de obras feita pelo professor)”, o que importa é a compreensão, é o prazer inserido nessas leituras. Questão 13 - A leitura na escola está sendo realizada de modo a: a) extrair informações; b) por prazer e c) para obter conhecimento. Três (03) professores responderam que a leitura é realizada para extrair informações. Um (01) professor, que é feita por prazer e dois (02), para obter conhecimento. Segundo Geraldi (2006, p. 93-94) a leitura para extrair informações pode ter duas formas em 62 termos metodológicos, “a busca de informações com roteiro previamente elaborado (pelo próprio leitor ou por outro) e a busca de informações sem roteiro previamente elaborado. No primeiro caso, lê-se o texto para responder questões estabelecidas; no segundo caso, lê-se o texto para verificar que informações ele dá”. Para Kleiman (2000, p. 26), a suposição de que todo texto pode ser usado da mesma forma decorre “dos conceitos de texto como produto acabado que serve de repositório de informações, e da leitura como atividade para extração dessas informações, e de ambos, texto e leitura, com instrumentos para o ensino da norma, do código, da gramática”. Nessa perspectiva, o professor avalia as informações ou respostas que o aluno obtém do texto, em que o leitor não constrói um sentido para o texto. Assim, para o PCN (1997, p. 58), a leitura na escola deve proporcionar ao aluno o conhecimento, e desenvolver sua “capacidade de ler, o gosto e o compromisso com a leitura”. Questão 14 - Você lê com frequência para os alunos? Cinco (05) professores disseram “sim” e um (01) professor, “não”. Uma atividade constante de leitura em sala de aula faz com que alunos percebam a importância, a presença da leitura em tudo que nos cerca e que, por meio dessa habilidade, desenvolve-se o intelecto. Para o PCN (1997, p. 64) “além das atividades de leitura realizadas pelos alunos e coordenadas pelo professor há as que podem ser realizadas basicamente pelo professor”. Fazse necessário que essa leitura seja acessível, emocionante, que aborde assuntos pertinentes à faixa etária e aos interesses tanto do aluno como do professor, pois este, a cada leitura realizada na sala de aula, não só estimula seus ouvintes, como aprimora sua habilidade. “Em resumo, se a relação do professor com o texto não tiver um significado, se ele não for um bom leitor, são grandes as chances de que ele seja um mau professor”. E essa relação desfavorável transparecerá ao aluno que tem no professor um modelo a ser seguido. Por isso, se faz 63 necessário, segundo o PCN (1997, p. 58) “organizar momentos de leitura livre em que o professor também leia. Para os alunos não acostumados com a participação em atos de leitura, que não conhecem o valor que possui, é fundamental ver seu professor envolvido com a leitura e com o que conquista por meio dela”, estimulando-os a prática também. Questão 15 - A sala de aula, em sua opinião, proporciona a aprendizagem da leitura e a sua apreensão? Dois (02) professores responderam “algumas vezes”, três (03) optaram por “muitas vezes” e um (01) respondeu “sempre”. Em conversa informal, os professores relataram que é difícil trabalhar com leitura em sala de aula. Trata-se de atividade que requer silêncio, concentração, tempo e interesse. Nos processos de aprendizagem e apreensão praticados em sala de aula, algumas vezes, um desses elementos citados falta. Entretanto, a Proposta Curricular de Santa Catarina (1998, p. 44) destaca que “o espaço para leitura de obras será encontrado por professores e alunos cuja motivação e interesse pela literatura tiver sido cultivado”. As muitas vezes em que a sala de aula exerce essa função estão presentes nas idéias de Kleiman (2000, p. 09) em que “para orientar o processo de desenvolvimento de estratégias de leitura eficientes na criança, o professor precisa definir tarefas cada vez mais complexas, porém passíveis de resolução”, desde que ela tenha a orientação de leitores proficientes. “Aos poucos, o professor vai retirando os suportes, e a criança redefine as tarefas para si própria, constituindo-se aí a aprendizagem da leitura”. Mediante este processo, “a criança estará se formando como leitor, isto é, estará construindo seu próprio saber sobre o texto e leitura”. Ainda a autora (2000, p. 09) ressalta que é na interação com o professor, na troca de experiências, na retomada ao texto, que o aluno compreende e apreende a leitura. 64 3.3 Considerações sobre os dados recolhidos Conforme os dados recolhidos em questionário realizado com os alunos, observou-se que 87% dos alunos entrevistados gostam de ler. 72% vão em busca de respostas para sanar suas dúvidas. 55% só procuram à biblioteca quando necessário, ou seja, quando a leitura pressupõe uma nota e 23,3% leem com mais frequência textos do MSN, da Internet (o que se justifica pela faixa etária focalizada, de 11 a 13 anos). Constata-se, nessa coleta de dados, analisando as respostas dos entrevistados, que a grande maioria já possui o gosto pela leitura, tem consciência da sua importância. Com relação ao processo de leitura, 55%, continuam lendo ao se deparar com palavras desconhecidas, de forma que já sabem que a leitura precisa de concentração e também envolve conhecimentos prévios do leitor. No entanto, em conversa informal, a maioria, apesar de prosseguirem com a leitura, reclamam do vocabulário arcaico, de difícil compreensão e do barulho externo, que dificulta a atividade de leitura. Outro aspecto abordado foi à família, que exerce um papel fundamental no incentivo à leitura. De acordo com as respostas, 73% responderam que o incentivo vem dos pais, o que explica a aquisição, por exemplo, de mais de cinco livros infanto-juvenis em casa. Isso é decorrente do nível socioeconômico das famílias. De modo geral, conclui-se que dos 60 (sessenta) alunos participantes, a grande maioria, gosta de ler; têm o hábito da leitura; costumam ler nas férias escolares; preferem ler livros; têm o incentivo dos pais na formação leitora. Entretanto, gostam de ler, mas praticam a leitura visando a objetivos escolares, como se percebeu no percentual em que “escrever melhor” e “aumentar o vocabulário” igualam-se ao “prazer de ler”. Sabe-se, porém, que o “prazer” na leitura é essencial. É através desse prazer que descobrimos sentimentos e emoções. Para a Proposta Curricular de Santa Catarina (1998, p. 48), “o diálogo espontâneo com o texto pode trazer 65 descobertas, encontros, lembranças, reconhecimento de vivências, identificação de retalho de vida imobilizado no papel, através da palavra”, que relacionado à leitura de mundo nos proporciona além do prazer, a compreensão. Dos sessenta participantes desta pesquisa, 95% acham à leitura importante para seu futuro. Alunos que leem, tendo em vista o futuro, foram condicionados por seus mediadores a entenderem a leitura como algo que gera conhecimento. Segundo o PCN (1998, p. 54), “um leitor competente é alguém que, por iniciativa própria, é capaz de selecionar, dentre os trechos que circulam socialmente, aqueles que podem atender a uma necessidade sua”. O mesmo documento PCN (1997, p. 58) descreve que a importância da leitura e o compromisso da escola e do professor são “fazê-los achar que a leitura é algo interessante e desafiador, algo que, conquistado plenamente, dará autonomia e independência”. Outro aspecto relacionado diretamente com o prazer é o incentivo, a motivação para a leitura. Com os resultados obtidos, observou-se que uma das dificuldades dos alunos perante a leitura refere-se ao incentivo dos professores. Os alunos não estão sendo motivados na escola, mais especificamente em sala de aula. Há aulas de leitura uma vez na semana e essa aula não é valorizada pelos professores e nem pelos alunos. Assim, além da falta de incentivo dos professores e de alguns pais, há também o descompromisso com o incentivo ao prazer, acarretando dificuldades na leitura. Essas dificuldades, de acordo com os resultados obtidos, estão diretamente relacionadas à preferência por revistas; ao invés de livros. Quando questionados sobre o tipo de livro, a maioria optou por livros de auto-ajuda. Este fator é justificado pelas idéias de Kleiman (2000, p. 16-17) que aponta para práticas desmotivadoras e limitadoras. Entretanto para que haja mudança, se faz necessária a formação teórica do professor na área de leitura. Em dados recolhidos do questionário dos professores, observou-se que a maioria são profissionais que trabalham há mais de dez anos com a leitura e gostam de ler, visto que 66 somente dois informantes freqüentemente leem livros relacionados às atividades de leitura de literatura, como contos romances, poesias. Além disso, todos os participantes oportunizam a leitura em sala de aula, embora três dos seis professores responderam que essa leitura na escola está sendo com o objetivo de extrair informações. Tal resposta, analisada a partir dos critérios de Geraldi (2006, p. 93), leva a constatar uma atividade em que o estudante é convidado a fazer a pergunta: para que ler? E de imediato concluir que ler “é responder as questões formuladas a título de interpretação: eis a simulação de leitura”. A leitura, de acordo com os resultados da pesquisa, é oportunizada em sala de aula e, muitas vezes, transformada em procedimentos de avaliação. Torna-se, pois, compromisso escolar que dificilmente, nessas circunstâncias, atinge a dimensão prazerosa para os alunos. De acordo com as respostas, dos seis profissionais, um deles supõe que a leitura na escola está sendo realizada por prazer; os outros dois responderam que serve para obter conhecimento, visando aos objetivos da escola, o que confirma os dados coletados na pesquisa feita junto aos alunos. De concreto, a leitura não é priorizada na escola, mas os próprios professores consideram-na um processo mecânico; para estes raramente ocorre a prática da leitura em casa pelos alunos; contradizendo as respostas dos alunos. Segundo os professores, os alunos leem pouco porque não são motivados à leitura. Os próprios professores têm consciência da função que exercem na formação do sujeito leitor e das falhas neste processo. Dessa forma, o PCN (1997, p. 53) descreve que “a leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção do significado do texto, a partir de seus objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a língua [...]”. E ainda: segundo PCN (1997, p. 55), “é preciso oferecer aos alunos inúmeras oportunidades de aprenderem a ler, usando os procedimentos que os bons leitores utilizam. É preciso que antecipem, que façam inferências a partir do contexto ou do conhecimento prévio que possuem [...]”. 67 Uma prática constante de leituras fragmentadas, ou segundo a Proposta Curricular de Santa Catarina (1998, p. 47), “certamente o trabalho com o texto “sacralizado”, de verdades inquestionáveis, obras e autores também sacralizados, distanciados por listas exaustivas, por dizeres alheios, por fichas de leitura e tantas outras práticas, não poderá interessá-los”. Geraldi (2006, p. 110) diz que uma das preocupações dos profissionais que trabalham com a leitura, se refere à avaliação, como avaliar as leituras realizadas. Assim, uma atividade agradável, torna-se pretexto para fazer exercícios de metalinguagens. Por isso, para a Proposta Curricular de Santa Catarina (1998, p. 42) insiste em dizer: “faz-se necessário, ainda, refletir a que objetivos atende a literatura no currículo das escolas”. Nesse sentido “a compreensão do objetivo da Literatura na escola passa pelo entendimento de que sua razão de ser, no currículo, deve-se, fundamentalmente a formação de leitores”, sendo que essa formação será incitada pelo mediador, que precisa reconhecer a função ou valor social que a literatura possui. Diante disso, as dificuldades dos professores são evidentes. Os motivos são diversos, desde a formação, o planejamento das aulas, até, inclusive, o incentivo da escola para com os próprios professores, o que afeta, de alguma maneira, as opções metodológicas escolhidas para as aulas de leitura. Acrescenta-se a isso a alegação, por parte dos professores, da falta de tempo, devido à carga horária, devido a outras atividades extracurriculares e, em sala de aula, à falta de concentração e de silêncio, tanto em uma leitura praticada pelo professor quanto em leituras realizadas pelos alunos. 68 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS Por se tratar de questão de extrema importância para a formação do indivíduo como sujeito pensante, crítico e ativo na sociedade, é que a leitura inseriu-se na vida do homem. A leitura interage com o leitor, de forma a enriquecer seu crescimento pessoal, profissional e social. A leitura é uma atividade individual, que estabelece contato com o leitor através da compreensão do que foi lido. Assim o texto precisa do leitor para obter vida e o leitor faz isso, no momento em que compreende o que foi lido e o relaciona com a sua realidade, fazendo inferências. Dessa interação é que pode ser adquirido ou construído o gosto pela leitura. É por meio dos textos significativos, que os educandos e os educadores se conhecem e adquirem saberes, interagindo dinamicamente. É nesse processo de interação, que o aluno reflete, pensa, discute, diverte-se, ampliando informações e conhecimentos sobre o mundo. Para que esse resultado aconteça, é relevante e essencial que se ofereça a diversidade de materiais e, com eles, se estabeleça um processo permanente e contínuo de leitura, tornando-a um hábito. Pôde-se constatar através de dados coletados, que o aluno lê para aumentar seu vocabulário e escrever melhor. Não lê por prazer, pois, como afirma Soares (2006, p. 25), na sala de aula, os textos são fragmentos descontextualizados, em que a leitura é realizada de forma a ensinar metalinguagens, reconhecer vocabulário, sempre com uma finalidade avaliativa. Geraldi é quem diz (2006, p. 110) que uma das preocupações dos profissionais que trabalham com a leitura, se refere à avaliação, como avaliar as leituras realizadas. Kleiman (2000, p. 21) ressalta que a leitura em voz alta, “é uma prática que inibe ao invés de promover a formação de leitores”. Essa prática permite ao professor “perceber se o aluno está 69 entendendo ou não”, apesar de sabermos que é mais fácil perder o fio da estória quando estamos prestando atenção à forma, a pronúncia, a pontuação, aspectos que devem ser atendidos quando estamos lendo em voz alta. Outro aspecto que Kleiman (2000, p. 23) lembra: “a leitura que é medida mediante resumos, relatórios e preenchimentos de fichas é uma redução da atividade a uma avaliação desmotivadora”. E ainda constata que “a insistência no controle diminui a semelhança entre a leitura espontânea, do cotidiano, e a leitura escolar, ajudando na construção de associações desta última com o dever e não com o prazer”. Faz-se necessário um maior esforço da família, do professor, da escola e dos alunos, para que o incentivo à leitura seja uma atividade real e atraente. Por isso o PCN (1997, p. 62) sugere que se façam projetos de leitura. A característica básica do projeto é compartilhar a leitura e que todos se envolvam e trabalhem em parceria, ou seja, pais, professores, escola e alunos de forma a promover a leitura. “Os projetos são situações em que a linguagem oral, escrita, leitura e produção de textos se inter-relacionam de forma contextualizada, pois quase sempre envolvem tarefas que circulam esses diferentes conteúdos”. Para o PCN (1997, p. 62) “os projetos de leitura são excelentes situações para contextualizar a necessidade de ler e, em determinados casos, a própria leitura oral e suas convenções”. Nos projetos de leitura podem ser realizados “produção de fita cassete de contos ou poemas lidos para a biblioteca escolar ou para enviar a outras instituições; produção de vídeos de curiosidades sobre assuntos abordados ou de interesse; promoção de eventos de leitura numa feira cultural ou exposição de trabalhos”. De acordo com os dados dessa pesquisa, a classe social da família é um fator que favorece a que as dificuldades com a leitura sejam mais escassas, entretanto, a maioria dos participantes são alunos que têm acesso à leitura em casa e a recursos a fim de tal atividade se realize. 70 Em princípio, definir com clareza todas as dificuldades do aluno e do professor no processo de leitura é uma tarefa complicada. Porém, por meio da pesquisa bibliográfica e investigativa, observou-se que a maioria dos professores vê a dificuldade do aluno nas aulas de leitura como decorrente da falta de incentivo, e também se percebeu que as dificuldades do professor são conseqüências do mesmo mal. Essa atividade requer, pois, mais atenção dos professores e da escola como um todo. Se o objetivo da escola é formar cidadãos, professores precisam estar motivados e preparados para isso. Segundo o PCN (1997, p. 55) “se o objetivo é formar cidadãos capazes de compreender os diferentes textos com os quais se defrontam, é preciso organizar o trabalho educativo para que experimentem e aprendam isso na escola”. Por isso, os profissionais devem receber, em sua formação, as bases para tal comprometimento, preparando-se para que a atividade de leitura torne-se um ato prazeroso, significativo para o aluno dentro e fora das aulas de leitura e da sala de aula. Dessa forma, o PCN (1997, p. 59-61) oferece sugestões, propostas didáticas para trabalhar com os alunos na escola. A leitura diária, em que o trabalho deve ser diário, havendo possibilidades, entre elas, de realizá-la “de forma silenciosa, individualmente; em voz alta (individualmente ou em grupo) quando fizer sentido dentro da atividade; e pela escuta de alguém que lê”. Outra sugestão é a leitura colaborativa em que “o professor lê um texto com a classe e, durante a leitura, questiona os alunos sobre as pistas lingüísticas que possibilitam a atribuição de determinados sentidos”. Para o PCN (1997, p. 61) essas sugestões são “excelentes estratégias didáticas para o trabalho de formação de leitores” e mais, “a compreensão critica depende grande medida desses procedimentos”. Todas essas sugestões auxiliam a diminuir as dificuldades perante a leitura apresentadas por alunos e professores, pois estarão envolvidos em atividades agradáveis, em que ambos desenvolvem e privilegiam o hábito e o gosto pela leitura. Convém lembrar que 71 para a Proposta Curricular de Santa Catarina (1998, p. 44), “o espaço para leitura de obras será encontrado por professores e alunos cuja motivação e interesse pela Literatura tiver sido cultivado”. Urgente, se faz que a escola reavalie seus critérios e objetivos, com vistas a valorizar os profissionais que trabalham com a leitura, com a literatura. Tal valorização solicita a promoção de palestras, encontros, seminários, cursos de aperfeiçoamento, que incentive com os projetos de leitura dados como sugestão nesta pesquisa e também com materiais especializados que auxiliem o mediador no processo de aquisição da leitura consciente e dinâmica e prazerosa. Além das propostas didáticas como leituras diárias, leituras colaborativas e projetos de leitura, o PCN (1997, p. 63) ainda apresenta as atividades seqüenciadas de leitura que “são situações didáticas adequadas para promover o gosto de ler e privilegiadas para desenvolver o comportamento do leitor [...]” e seus procedimentos perante o livro como “formação de critérios para selecionar o material a ser lido, constituição de padrões de gosto pessoal, rastreamento da obra de escritores, etc.”. A escola em parceria com os professores, de forma coletiva, pode adotar práticas inovadoras. Entre elas, podem-se destacar também, de acordo com o PCN (1998, p. 63), as atividades permanentes de leitura. “Um exemplo desse tipo de atividade é a Hora de... (histórias, curiosidades cientificas, notícias, etc.). Os alunos escolhem o que desejam ler, levam o material para casa por um tempo e se revezam para fazer a leitura em voz alta, na classe”. Segundo o PCN (1997, p. 63) “outro exemplo é o que se pode chamar “Roda de leitores”: periodicamente os alunos tomam emprestado um livro para ler em casa. No dia combinado uma parte deles relata suas impressões, comenta o que gostou ou não, o que pensou”. Com toda esta contextualização e interação, o aluno faz propaganda do livro, de 72 forma a sugerir outros títulos do mesmo autor, podendo contar uma parte da história para entusiasmar os colegas e incentivá-los a ler a obra. Ainda o mesmo (1997, p. 64) propõe-se a leitura feita pelo professor, em que “a leitura é realizada em capítulos, que possibilita aos alunos o acesso a textos bastante longos (e às vezes difíceis) que, por sua qualidade e beleza, podem vir a encantá-los, ainda que nem sempre sejam capazes de lê-los sozinhos”. Porém percebe-se que nas séries mais avançadas, essa prática é incomum na sala de aula. Entretanto, criar espaços como Hora do conto, Grupos de leitura e as outras sugestões citadas, faz-se necessário para que a diversidade de textos se defronte com a realidade, trazendo expectativas e emoções ao leitor. Reconhece-se que os participantes dessa pesquisa estão construindo uma postura, com atitude consciente em relação à importância da leitura no desenvolvimento de suas personalidades e do intelecto, todavia, precisam firmar, com a literatura, laços de prazer e de interesse por meio das propostas didáticas ilustradas neste trabalho. Acredita-se que para apreender a leitura, não se tenha uma receita pronta. Sabe-se, também, que as dificuldades com a leitura são diversas, não recentes e seria pretensão, aqui, descrevê-las ou resolvê-las todas. Pretende-se, pois, limitar o enfoque desta pesquisa ao que foi proposto inicialmente, ou seja, identificar as dificuldades que perpassam os bancos escolares quanto à proposta de leitura. Nesse sentido, é possível afirmar que há por parte dos professores a insatisfação. Essa insatisfação dos profissionais decorre de atividades que são estabelecidas pela escola, em que o professor precisa cumprir com o currículo e com o planejamento escolar quando, em muitos casos, a leitura não é valorizada. Por isso, Zilberman (1986, p. 24) ressalta que “a atividade do professor deve, assim, orientar-se no sentido de promover a leitura entre os alunos. Como seu trabalho se movimenta dentro de um determinado currículo escolar, há necessidade de se verificar qual o espaço que cabe à leitura nesse currículo”. 73 Outra questão é a remuneração desses profissionais que, insatisfeitos com seus salários, precisam trabalhar com cargas horárias cheias, não valorizando e nem organizando atividades atrativas aos alunos. Instala-se, assim, entre alunos e professores, a falta de motivação. A falta de prazer também é um agravante encontrado nesta pesquisa, pois os próprios professores relatam que a leitura é muitas vezes um processo mecânico. Assim, para a Proposta Curricular de Santa Catarina (1998, p. 42), para que a literatura siga seu caminho é preciso que professores e alunos “aprendam a falar com o texto e, através dele, estabeleçam diálogo com a vida. Que encontrem na leitura de obras literárias oportunidade de prazer e de lazer, que sejam capazes de nela reconhecer valores estéticos e artísticos que se dão através da palavra”. De acordo com Kleiman (2000, p. 27) na aula de leitura “o professor serve de mediador entre o aluno e o autor”. Esse mediador precisa estar apto a orientar seus leitores e interagir com eles. Dessa forma na mediação, “ele pode fornecer modelos para a atividade global, como pode, dependendo dos objetivos da aula, fornecer modelos de estratégias especificas de leitura, fazendo predições, perguntas, comentários”. Conclui-se com a Proposta Curricular de Santa Catarina (1998, p. 48) “deixemos que os alunos falem, que digam, que se manifestem de diferentes formas, que visitem suas vidas ao se expressarem, até que se calem, mas que, ao se calarem, digam”. Assim, somente em uma prática espontânea e prazerosa, que desperte e cultive o desejo de ler, mediada pelo professor ou pela família, estabelece-se uma relação sólida, consciente e educativa resultando na formação de leitores proficientes. 74 REFERÊNCIAS ARROSA, Jorge. Pedagogia profana: danças, piruetas e mascaradas. 4. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. BARBOSA, José Juvêncio. Alfabetização e leitura. São Paulo: Cortez, 1990. BETTELHEIM, Bruno. A psicanálise dos contos de fada. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980. CAGNETI, Sueli de Souza; ZOTZ, Werner. Livro que te quero livre. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Letras Brasileiras, 2005. p. 119. CAVALCANTI, Joana. Caminhos da literatura infantil e juvenil: dinâmicas e vivências na ação pedagógica. São Paulo: Paulus, 2004. p. 87-119. CORACINI, Maria José Rodrigues Faria (Org.). O jogo discursivo na sala de leitura: língua materna e língua estrangeira. Campinas: Pontes, 1995. DEBUS, Eliane. Festaria de brincança: a leitura literária na educação infantil. São Paulo: Paulus, 2006. FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 30. ed. São Paulo: Cortez, 1995. GERALDI, João Wanderlei (Org.) et al. O texto na sala de aula. 4. ed. São Paulo: Ática, 2006. KATO, Mary A. O aprendizado da leitura. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. KLEIMAN, Ângela. Leitura: ensino e pesquisa. 2. ed. Campinas: Pontes, 2001. ______. Oficina de leitura: teoria e prática. 7. ed. Campinas: Pontes, 2000. 75 LIBERATO, Y.; FULGÊNCIO, L. Um modelo de descrição da leitura. In: É possível facilitar a leitura: um guia para escrever claro. São Paulo: Contexto, 2007. p. 13-29. MAGNANI, Maria do Rosário Mortatti. Leitura, literatura e escola. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. PCN. Secretaria de educação fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: língua portuguesa. Brasília, v.2, 144 p., 1997. SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Educação e do Desporto. Proposta Curricular de Santa Catarina: educação infantil, ensino fundamental e médio: formação docente para educação infantil e séries iniciais. Florianópolis: COGEN, 1998. SOARES, Magda. A escolarização da literatura infantil e juvenil. In: A escolarização da leitura literária. Belo horizonte: Autêntica, 2006. p. 17-48. STERNBERG, R. Processos de memória. In: Psicologia cognitiva. Tradução de Maria Regina Borges Osório. Porto Alegre: Aritmed, 2004. p. 227-249. ZILBERMAN, Regina (Org.) et al. Leitura em crise na escola: as alternativas do professor. 6. ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1986. ZILBERMAN, Regina. A literatura e o ensino da literatura. São Paulo: Contexto, 1988. ______. Leitura literária e outras leituras. Gragoatá: Niterói, n.2, 1997. 76 APÊNDICES 77 APÊNDICE A - Questionário para os alunos 1 - Você gosta de ler? ( ) sim ( ) não 2 - Você procurar obter respostas para suas dúvidas por meio da leitura? ( ) sim ( ) não 3 - Que tipo de texto você lê com frequência? ( ) recados ( ) MSN ( ) livros infanto-juvenis ( ) textos dos livros didáticos ( ) textos de revistas ( ) outros. Quais? _________. 4 - Que tipos de livros você mais aprecia? ( ) histórias de amor ( ) investigação e mistério ( ) aventuras ( ) terror 5 - Qual critério usa para escolher o livro? ( ) os mais coloridos ( ) com letras grandes e bastante desenho ( ) a capa do livro ( ) os mais finos 6 - Quantos livros você já leu neste ano? ( ) um ( ) de um a três ( ) mais de três ( ) nenhum 7 - Quantas vezes na semana você tem aula de leitura? ( ) uma vez ( ) duas vezes ( ) três vezes ( ) nenhuma 8 - Você vai à Biblioteca por livre iniciativa? ( ) sim ( ) não 78 9 - Você costuma ir à biblioteca com qual frequência? ( ) raramente ( ) quando necessário ( ) sempre 10 - A biblioteca da escola possui um ambiente agradável e amplo? ( ) sim ( ) não 11 - Em casa, seus familiares (pai, mãe, irmão,...) têm o hábito de ler? ( ) sim ( ) não 12 - Quem incentiva você a ler? ( ) os pais ( ) a professora ( ) a bibliotecária ( ) os colegas 13 - Durante as férias escolares você costuma ler algum livro? ( ) sim ( ) não 14 - Durante a leitura, ao se deparar com palavras desconhecidas, o que você faz: ( ) finge que não vê ( ) consulta o dicionário ( ) continua lendo para ver se descobre o que significa mais adiante 15 - Você pratica a leitura com qual objetivo? ( ) para passar de ano ( ) para aumentar seu vocabulário e escrever melhor ( ) pelo prazer de ler 16 - Ao iniciar a leitura de um livro interessante, você continua até o final para: ( ) saber o que vai acontecer? ( ) conhecer os lugares desconhecidos? ( ) conhecer o pensamento das personagens? 17 - O que você prefere ler? ( ) jornal ( ) revista ( ) livro ( ) internet 18 - De acordo com a resposta anterior, qual a frequência dessa leitura? ( ) todos os dias ( ) de uma a três vezes durante a semana ( ) nos finais de semana 79 19 - Quantos livros infanto-juvenis você tem em casa? ( ) um ( ) dois a cinco ( ) mais de cinco ( ) nenhum 20 - Você acha que a leitura é importante para seu futuro? ( ) sim ( ) não 80 APÊNDICE B - Resposta do questionário aplicado aos alunos 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 APÊNDICE C - Questionário para os professores 1 - Você já é formada em Letras há quanto tempo? ( ) de um ano a cinco anos. ( ) de cinco a dez anos. ( ) a mais de dez anos. ( ) a mais de vinte anos. 2 - Você gosta de ler? ( ) sim ( ) não 3 - Ler bem é: ( ) Gostar de ler. ( ) Compreender o sentido dos textos. 4 - Os alunos leem pouco por que: ( ) não gostam de ler. ( ) não têm acesso aos livros. ( ) não são motivados à leitura. ( ) não há livros disponíveis na escola. ( ) não há livros disponíveis em sua casa. 5 - Você considera a leitura na escola um processo mecânico? ( ) sempre ( ) muitas vezes ( ) raramente ( ) nunca 6 - Você prefere ler: ( ) livros ( ) revistas ( ) jornais 7 - Quantos livros você lê por mês? ( ) um ( ) dois ( ) mais de dois ( ) nenhum 8 - Qual o tipo de livros que você lê? ( ) livro didático ( ) cientifico ( ) auto-ajuda ( ) outros. Quais? ___________. 193 9 - Você lê textos da internet? ( ) sim ( ) não 10 - Você acha que a leitura é praticada em casa pelos alunos? ( ) sempre ( ) muitas vezes ( ) raramente ( ) nunca 11 - Você considera a leitura importante na formação do aluno? ( ) sim ( ) não 12 - Você oportuniza a leitura em sala de aula? ( ) sim ( ) não 13 - A leitura na escola está sendo realizada de modo a: ( ) extrair informações ( ) por prazer ( ) para obter conhecimento 14 - Você lê com frequência para os alunos? ( ) sim ( ) não 15 - A sala de aula, na sua opinião, proporciona a aprendizagem da leitura e sua apreensão? ( ) raramente ( ) algumas vezes ( ) muitas vezes ( ) sempre 194 APÊNDICE D - Resposta do questionário aplicado aos professores 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205
Download