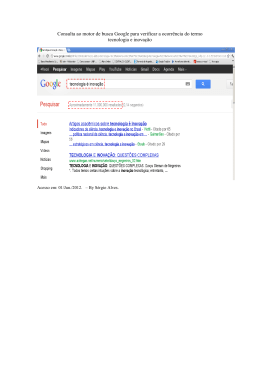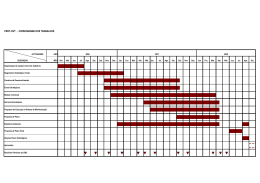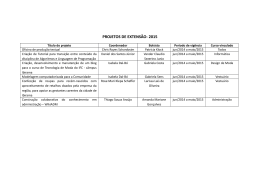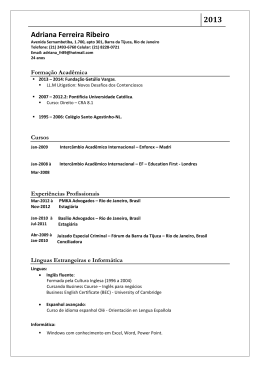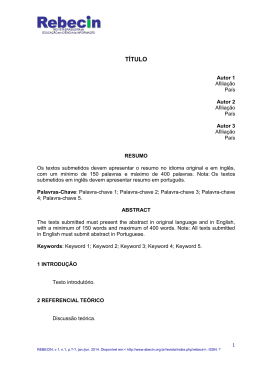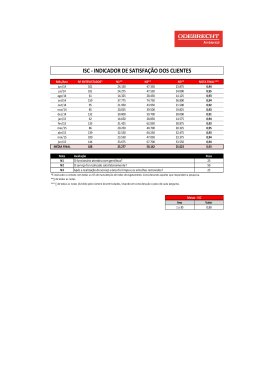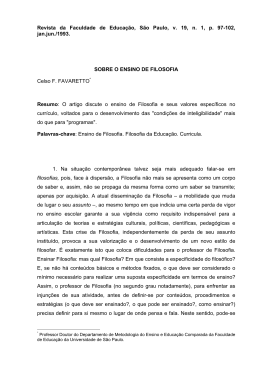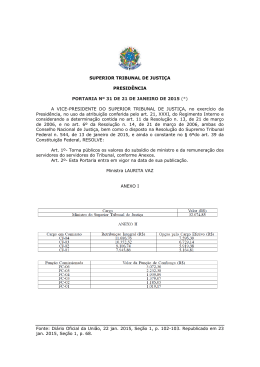Universidade Federal do Rio de Janeiro Reitor: Carlos Antônio Levi da Conceição Instituto de História Diretor: Fábio de Souza Lessa Programa de Pós-graduação em História Social Coordenadora: Monica Grin Vice-coordenador: Marcos Bretas Topoi. Revista de História ISSN 2237-101X Revista semestral do Programa de Pós-graduação em História Social da UFRJ Comitê Editorial Lise Fernanda Sedrez (Editora chefe) — Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Instituto de História (IH), Rio de Janeiro (RJ), Brasil. Antonio Carlos Jucá de Sampaio (Editor executivo) — Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Instituto de História (IH), Rio de Janeiro (RJ), Brasil. João Luís Fragoso — Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Instituto de História (IH), Rio de Janeiro (RJ), Brasil. José Murilo de Carvalho — Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Instituto de História (IH), Rio de Janeiro (RJ), Brasil. Luiza Larangeira da Silva Mello — Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Instituto de História (IH), Rio de Janeiro (RJ), Brasil. Editor de Resenhas Felipe Charbel — Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Instituto de História (IH), Rio de Janeiro (RJ), Brasil. Murilo Sebe Bon Meihy — Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Instituto de História (IH), Rio de Janeiro (RJ), Brasil. Secretária de Redação Isabel Cristina Leite Preparação: Ronald Polito Revisão: Marco Antonio Corrêa Revisão em inglês: Leda Beck Paginação: Luciana Inhan Conselho Editorial Alberto da Costa e Silva — Academia Brasileira de Letras (ABL); Ministério das Relações Exteriores/ Itamaraty, Rio de Janeiro (RJ), Brasil. Andrea Daher — Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Instituto de História (IH), Rio de Janeiro (RJ), Brasil. Caio Boschi — Pontifícia Universidade Católica (PUC-Minas), Departamento de História, Belo Horizonte (MG), Brasil. Ciro Flamarion Cardoso — Universidade Federal Fluminense (UFF), Departamento de História, Niterói (RJ), Brasil. (in memoriam) Eduardo Viveiros de Castro — Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Programa de Pósgraduação em Antropologia Social (PPGAS), Rio de Janeiro (RJ), Brasil. Evaldo Cabral de Mello — Ministério das Relações Exteriores/Itamaraty, Rio de Janeiro (RJ), Brasil. Francisco Bethencourt — King’s College London, Department of History, Londres, Inglaterra. Francisco José Calazans Falcon — Universidade Salgado de Oliveira (Universo), Programa de Pósgraduação em História, São Gonçalo (RJ), Brasil. Ilmar Rohloff de Mattos — Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio), Departamento de História, Rio de Janeiro (RJ), Brasil. Jacques Revel — École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)/Centre de Recherches Historiques (CRH), Paris, França. João Adolfo Hansen — Universidade de São Paulo (USP), Departamento de Letras, São Paulo (SP), Brasil. João José Reis — Universidade Federal da Bahia (UFBA), Departamento de História, Salvador (BA), Brasil. José Carlos Chiaramonte — Universidad de Buenos Aires (UBA)/Instituto Ravignani, Buenos Aires, Argentina. Maria Helena Pereira Toledo Machado — Universidade de São Paulo (USP), Departamento de História, São Paulo (SP), Brasil. Maria Stella Martins Bresciani — Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Departamento de História, Campinas (SP), Brasil. Peter Burke — University of Cambridge, Emmanuel College, Cambridge, Inglaterra. Renato Janine Ribeiro — Universidade de São Paulo (USP), Departamento de Filosofia, São Paulo (SP), Brasil. Ronaldo Vainfas — Universidade Federal Fluminense (UFF), Departamento de História, Niterói (RJ), Brasil. Silvia Hunold Lara — Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Departamento de História, Campinas (SP), Brasil. Silvia Regina Ferraz Petersen — Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Departamento de História, Porto Alegre (RS), Brasil. Stuart B. Schwartz — Yale University, Department of History, New Haven, Connecticut, Estados Unidos da América. Topoi. Revista de História agradece aos membros do Conselho Editorial, aos nossos pareceristas ad hoc que colaboraram com o presente número e, em especial, à professora Andrea Daher (UFRJ) e ao professor Diego Galeano (PUC-RJ). Topoi. Revista de História Volume 15, Número 28 | Janeiro – Junho 2014 Documento 8 Lembranças do golpe – 1964 Remembering the Coup – 1964 Recuerdos de golpe – 1964 Maria Paula Nascimento Araujo Artigos 22 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: Em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Jihad in West Africa during the “Age of Revolutions” – Towards a Dialogue with Eric Hobsbawm and Eugene Genovese La Jihad en el África Occidental durante la “Era de las Revoluciones”: rumbo a un diálogo con Eric Hobsbawm y Eugente Genovese Paul E. Lovejoy 68 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia Two Hundred Years Ago: The 1814 Slave Rebellion in Bahia Hace doscientos años: la revuelta esclava de 1814 en Bahía João José Reis 116 Baleias e ecologistas na Paraíba: uma história do fortalecimento do movimento ambientalista e o debate sobre a crise da economia baleeira (1970-1980) Whales and Environmentalists in Paraíba: A History of Strengthening the Environmental Movement, and the Debate about the Crisis of the Whaling Economy (1970-1980) Ballenas y ecologistas en Paraíba: una historia del fortalecimiento del movimiento ambientalista y el debate sobre la crisis de la economía ballenera (1970-1980) José Otávio Aguiar Francisco Henrique Duarte Filho 143 “E o conhecimento da viveza (…) o habilitou para aquele lugar”: Duarte Ribeiro de Machado de secretário de Embaixada a enviado extraordinário na Restauração Portuguesa “And the knowledge of vividness (...) enabled him to that place”: Duarte Ribeiro de Machado from Secretary of the Embassy to Envoy Extraordinary in the Portuguese Restoration “Y el conocimiento de la vivacidad (…) lo habilitó para aquel lugar”: Duarte Ribeiro de Machado, de secretario de la Embajada a enviado extraordinario en la Restauración Portuguesa Ana Luiza de Castro Pereira 159 “Eu quero uma casa no campo”: a busca do verde em Belo Horizonte, 1966-1976 “I Wish a Country House”: Searching for Green in Belo Horizonte, 1966-1976 “Yo quiero una casa en el campo”: la búsqueda de verde en Belo Horizonte, 1966-1976 Regina Horta Duarte 187 Roberto Farias e a lógica do duplo-pensar no caso da censura ao filme Pra frente, Brasil Roberto Farias and the Double-Thinking Logic in the Case of the Censorship to the Film “Pra Frente, Brasil” Roberto Farias y la lógica del doble pensamiento en el caso de la censura del filme “Pra frente, Brasil” Wallace Andrioli Guedes 209 O sentido do teatro: contribuições para uma história cultural de programas teatrais contemporâneos The Meaning of the Theater: Contributions for a Cultural History of Contemporary Theatre Programs El significado del teatro: Contribuiciones para una Historia Cultural de programas de teatro contemporáneo Henrique Buarque de Gusmão 223 O despertar de Orfeu: prazer e lazer dos trabalhadores de Macapá (1944-1964) Awakening of Orfeu: Pleasure and Leisure of the Macapá’s workers (1944-1964) El despertar de Orfeo: placer y ocio de los trabajadores de Macapá (1944-1964) Sidney Lobato 242 Associativismo e política no Rio de Janeiro do Segundo Império: o Clube Ginástico Português e o Congresso Ginástico Português Associativism and Politics in the Second Empire Rio de Janeiro: the Clube Ginástico Português and the Congresso Ginástico Português Asociativismo y política en Río de Janeiro durante el Segundo Imperio: el Club Gimnástico Portugués y el Congreso Gimnástico Portugués Victor Andrade de Melo Fabio de Faria Peres 266 Histórias de um lugar onde “preconceitos raciais nunca houve”: os negros nas matas do Rio Grande do Sul (1889-1930) Stories of a Place Where “There Has Never Been Racial Prejudice”: Black People in the Forests of Rio Grande do Sul (1889-1930) Historias de un lugar donde “nunca hubo preconceptos raciales”: los negros en la selva de Río Grande do Sul (1889-1930) Marcio Antônio Both da Silva Tradução 287 Os lugares do crime: topografia criminal e imaginário social em Paris no século XIX Crime Scenes: Criminal Topography and Social Imaginary in Nineteenth-Century Paris Los lugares del crimen: topografía criminal e imaginario social en la París del siglo XIX Dominique Kalifa Entrevista 306 A história social atlântica de Stuart Schwartz Stuart Schwartz’s Atlantic Social History La historia social atlántica de Stuart Schwartz Resenha 325 Os (des)caminhos de Clio em terras norte-americanas: episódios de uma história da história nos Estados Unidos The (Mis)paths of Clio in North-American Lands: Episodes of a History of the History in the United States Los (des)caminos de Clío en las tierras norteamericanas: episodios de una historia de la historia en los Estados Unidos. Arthur Lima de Avila Resenha de KLEIN, Kerwin Lee. From History to Theory. Berkeley: University of California Press, 2011. 332 Em busca de uma “poética diplomática” In Search of a “Diplomatic Poetics” En búsqueda de una “poética diplomática” João de Azevedo e Dias Duarte Resenha de HAMPTON, Timothy. Fictions of Embassy: Literature and Diplomacy in Early Modern Europe. Ithaca: Cornell University Press, 2012. 338 O legado antigo entre transferências e migrações The Ancient Legacy between Transferences and Migrations El antiguo legado entre transferencias y migraciones Cassio Fernandes Resenha de WARBURG, Aby. A Renovação da Antiguidade Pagã. Contribuições científico-culturais para a história do Renascimento europeu. Tradução: Markus Hediger. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013. 347 Histórias de fantasmas para gente grande Ghost Stories for Grown-Ups Historias de fantasmas para gente grande Julia Ruiz Di Giovanni Resenha de DIDI-HUBERMAN, Georges. A imagem sobrevivente: história da arte e tempo dos fantasmas segundo Aby Warburg. Tradução: Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto/Museu de Arte do Rio, 2013. 354 Um combate em dois fronts A Two-front Battle Un combate en dos frentes Raul Amaro de Oliveira Lanari Resenha de CHOAY, FRANÇOISE. O Patrimônio em Questão – antologia para um combate. Belo Horizonte: Fino Traço, 2011. 360 Santuários e romarias na Argentina: dinâmicas sociais, políticas e culturais Shrines and Pilgrimages in Argentina: Social, Political and Cultural Dynamics Santuarios y romerías en la Argentina: dinámicas sociales, políticas y culturales William de Souza Martins FOGELMAN, Patricia; CEVA, Mariela; TOURIS, Claudia (Eds.). El culto mariano em Luján y San Nicolás: religiosidad e historia regional. Buenos Aires: Biblos, 2013. 366 As marcas da história na guerra civil síria History’s Signs in the Syrian Civil War Las marcas de la Historia en la guerra civil siria Muna Omran Resenha de HALL, Clement M. The History of Syria: 1900-2012. Boston: Charles River Editors. 2013. Opinião e Comentário 372 O avesso do avesso: as mazelas da endogamia João Cezar de Castro Rocha 380 8½ Lidiane S. Rodrigues Lembranças do golpe — 1964 Maria Paula Nascimento Araujo* Neste artigo apresentaremos, em forma escrita, trechos de depoimentos de um acervo áudiovisual. Acompanha o artigo um vídeo feito a partir da edição das imagens referentes a esses trechos. Dessa forma, o leitor poderá ler os trechos dos depoimentos e/ou assistir ao vídeo com esses mesmos trechos. No vídeo, as falas dos depoentes foram traduzidas para legendas em inglês.1 Os pequenos trechos de depoimentos apresentados aqui foram retirados do acervo “Marcas da memória: história oral da anistia no Brasil”, que reúne entrevistas de pessoas que tiveram suas vidas marcadas, de alguma forma, pela ditadura militar brasileira: ex-presos políticos, ex-banidos e exilados, familiares de mortos e desaparecidos, militantes de organizações de esquerda e de movimentos de direitos humanos, padres, advogados de presos políticos, entre outros. As entrevistas foram gravadas, filmadas, editadas e transcritas e constituem um importante acervo audiovisual para a pesquisa sobre a história e a memória da ditadura militar e do processo de redemocratização e justiça de transição no Brasil. A construção desse acervo audiovisual foi o resultado de um convênio estabelecido entre a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça e três universidades federais — a de Pernambuco (UFPE), a do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a do Rio de Janeiro (UFRJ). A equipe do Rio de Janeiro, coordenada a partir da UFRJ, realizou 60 entrevistas na região Sudeste — Belo Horizonte, Juiz de Fora, São Paulo, Volta Redonda e, principalmente, Rio de Janeiro. As entrevistas realizadas pela equipe da UFRJ estão disponíveis no Laboratório de Estudos do Tempo Presente do Instituto de História da UFRJ. Esse acervo tem servido de fonte para a pesquisa da história política recente do país e também para a elaboração de material paradidático para subsidiar professores do ensino fundamental e médio no debate sobre esse período. A história oral é uma importante ferramenta para o historiador do tempo presente. Os depoimentos são fundamentais para o entendimento das representações subjetivas de uma época, do significado de vivências e experiências e das disputas entre as diferentes memórias. Doutora em ciência política pelo Iuperj, professora associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro e bolsista de produtividade CNPq, nível 2. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: [email protected]. 1 A equipe do projeto Marcas da Memória, formada por estudantes de graduação do Instituto de História da UFRJ, colaborou na seleção, transcrição e edição dos depoimentos deste artigo: Ana Caroline Alencar, Gabriela Machado, Isadora Gomes e Renato Dias. * Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 8-21, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 8 Lembranças do golpe — 1964 Maria Paula Nascimento Araujo Eles permitem ao historiador analisar o que move, para além das relações sociais estabelecidas, o cotidiano, as experiências banais e ordinárias de vida, os investimentos de sentido nas escolhas existenciais, as relações de amor, parceria, cumplicidade ou, ao contrário, de rejeição, desafeto, competição. Ou seja, as relações entre os projetos individuais e o horizonte histórico de real possibilidade de concretização desses projetos. Nosso acervo foi constituído a partir da diretriz de Maurice Halbwacks. Selecionamos nossos depoentes a partir do pertencimento a “comunidades afetivas”. Como apontou Halbwacks,2 a construção da memória é um processo social, coletivo, que envolve pessoas pertencentes a um determinado grupo — a uma comunidade afetiva — como a família, um grupo de trabalhadores ligados a um sindicato, uma turma universitária, militantes de um mesmo partido, ou seja, um grupo de referência, no qual foram vividas determinadas experiências e no interior do qual foram construídas determinadas lembranças. Halbwacks afirma que “lembramos melhor” em grupo do que quando estamos sozinhos, porque o processo de construção de memória é, eminentemente, coletivo. É o grupo, num processo coletivo de seleção, que escolhe o que lembrar e o que esquecer. Por isso tivemos a preocupação de selecionar nossos depoentes procurando grupos e referências mais gerais: entrevistamos várias pessoas que poderiam ter suas “comunidades de pertencimento” classificadas como diferentes partidos políticos, movimentos sociais, segmentos profissionais, grupos artísticos, entre outras classificações. E procuramos, em cada uma dessas “comunidades”, realizar certo número de entrevistas para que se pudessem ter elementos para perceber o processo social de construção de memória daquele grupo em questão. Construído dessa forma, o acervo nos evidenciou alguns eixos de análise importantes. O primeiro deles refere-se às disputas pelo enquadramento da memória do passado. Michael Pollak nos mostrou que, além da dimensão coletiva da memória, sua construção social é permeada de disputas e conflitos resultando em “memórias dominantes” e em “memórias subterrâneas” — memórias dominadas, envergonhadas, temas tabus e interditos que pemanecem ocultos durante longo tempo, até que novas questões e demandas do presente permitam a sua emersão.3 A análise de nosso acervo permite detectar essas disputas de memória e de versões sobre o passado. Talvez uma das mais evidentes seja justamente a memória do próprio golpe e do movimento político do pré-64. Para uns, o momento áureo da democracia brasileira, para outros, o período do “populismo” e de uma tática política ilusória tendente ao fracasso. Essa disputa de memória corresponde a disputas de visões de grupos políticos atuantes na época e subsiste na memória atual do período. No entanto, para análise dessas disputas de memória, é importante também ter em mente a questão estratégica do esquecimento tal como apontada por Andreas Huyssen.4 Huyssen enfatizou que a relação HALBWACKS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Vértice, 1990. POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, p. 3-15, 1989. 4 HUYSEN, Andreas. Resistência à memória: usos e abusos do esquecimento público. Porto Alegre, 2004. Mimeografado. 2 3 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 8-21, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 9 Lembranças do golpe — 1964 Maria Paula Nascimento Araujo entre memória e esquecimento é complexa e estratégica. O que se “escolhe” para lembrar ou esquecer depende das demandas do presente. Memória e esquecimento não se opõem de forma simplista e maniqueísta (onde a memória representa sempre o lado “positivo” e o esquecimento o “negativo”). Para Huyssen, o esquecimento é, muitas vezes, resultado de opções e estratégias mais ou menos conscientes de pessoas e grupos da sociedade e que mudam em função das demandas e possibilidades do presente. Outro eixo de análise importante propiciado pelo acervo é dado pela perspectiva de explorar as histórias de vida narradas pelos depoentes. Esses relatos de “histórias de vida” permitem ao historiador compreender “a história a partir de múltiplas histórias de vida”. Num livro que foi pioneiro nos estudos biográficos, intitulado História e histórias de vida: o método biográfico nas ciências sociais,5 Ferrarotti chamou a atenção para a relação entre a história e as múltiplas histórias individuais e a possibilidade que daí decorre de ler uma sociedade através de uma ou muitas biografias. O ato de narrar a vida, compartilhando suas lembranças e experiências, principalmente quando elas estão relacionadas a um passado de violência política, como bem apontou Elizabeth Jelin, constitui um “trabalho de memória”.6 Esse trabalho implica não apenas uma rememoração e repetição do vivido, mas também uma relação com o presente e uma projeção para o futuro. Dessa forma, um acervo de depoimentos como o nosso permite também perceber e analisar como questões do presente, relativas à política e à justiça, aparecem nas falas de nossos depoentes. A história oral tem sido utilizada como ferramenta para enfrentar a questão do trauma político. Nas últimas décadas, têm-se produzido inúmeros estudos a partir da história oral, sobre o trauma político provocado por regimes violentos e autoritários, dando voz às vítimas de violências perpetradas pelo Estado e também pela sociedade, e produzindo testemunhos sobre o passado autoritário, contribuindo, muitas vezes, para procedimentos de memória e justiça em países que procuram superar contextos de violência política. Em seu livro Writing history, writing trauma, Dominick LaCapra afirma que o depoimento traz para a história um conhecimento específico do passado: La importancia de los testimonios se hace más evidente cuando se piensa en que aportan algo que no es idéntico al conocimiento puramente documental. Los testimonios son importantes cuando se intenta comprender la experiencia y sus consecuencias, incluído el papel de la memoria y los olvidos en que se incurre a fin de acomodarse al pasado, negarlo o reprimirlo.7 FERRAROTTI, Franco. Histoire et histoires de vie: la méthode biographique dans les sciences sociales. Paris: Librairie des Meridiens, 1983. 6 JELIN, Elizabeth. Los trabajos de la memoria. Madri; Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2002. (Memorias de la represión). 7 Como o livro não foi traduzido no Brasil utilizamos a edição argentina: Escribir la historia, escribir el trauma, lançado pela editora Nueva Visión em 2005, Buenos Aires. 5 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 8-21, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 10 Lembranças do golpe — 1964 Maria Paula Nascimento Araujo Os trechos apresentados neste artigo são as respostas que alguns dos nossos depoentes deram à pergunta: “quais as lembranças que você tem do dia do golpe?”. As respostas são variadas, mas uma questão salta aos olhos na leitura de muitos depoimentos: quando o golpe ocorreu, ninguém tinha uma ideia clara da dimensão do que estava acontecendo; a esquerda e os vários setores do movimento sindical e popular, do movimento estudantil, assim como intelectuais e artistas envolvidos na campanha pelas reformas de base conduzida pelo governo de João Goulart não esperavam o golpe. O único depoimento divergente e contundente sobre esse tema é o de Clara Charf, viúva de Carlos Marighella, na época membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro (PCB). Em seu depoimento, Clara afirma que Marighella “sabia” que o golpe ia acontecer. Sua forte intuição teria sido responsável pela fuga do casal, que conseguiu, naquele momento, escapar da polícia. Três anos mais tarde, em 1967, Marighella rompeu com o PCB, acusando o partido de imobilismo em face da ditadura militar e no ano seguinte criou a organização de luta armada Ação Libertadora Nacional (ALN). Marighella foi morto por agentes do Dops em 1969. Mas essa certeza sobre a iminência do golpe aparece apenas no depoimento de Clara Charf. Os outros depoimentos evidenciam surpresa e perplexidade. A historiadora Dulce Pandolfi, na época estudante secundarista em Recife, dá a dimensão de como o golpe era inesperado, principalmente em Pernambuco, o estado governado por Miguel Arraes, que levava adiante o Movimento de Educação de Base, com a metodologia de Paulo Freire, voltada para a emancipação dos trabalhadores urbanos e rurais: “porque a esquerda tinha a grande ilusão de que as suas forças eram maiores do que eram de fato e de que nada barraria aquele avanço do progresso”.8 O depoimento de Clarice Herzog, viúva do jornalista Vladimir Herzog, expõe como essa subestimação em relação ao golpe e à ditadura pode ser trágica. Clarice e Vlado, como era conhecido o jornalista, saíram do país na ocasião do golpe; mas a violência, a força e a durabilidade da ditadura na estavam claras para o casal. Após alguns anos em Londres, o casal voltou com dois filhos. Em 1974, Vladimir Herzog foi preso e assassinado na cadeia. O governo apresentou a versão de um suicídio. Clarice passou anos tentando provar que havia sido assassinato. Recorreu ao sindicato dos jornalistas e a inúmeros advogados e, ao final, conseguiu provar que seu marido tinha sido assassinado no Dops. A viúva de Herzog tornou-se um símbolo da luta dos familiares de mortos e desaparecidos e foi imortalizada pelos versos da canção de João Bosco e Aldir Blanc (“choram Marias e Clarices no solo do Brasil”). Os testemunhos de Anita Prestes (filha de Luís Carlos Prestes do PCB e de Olga Benário, comunista alemã e judia que a ditadura de Getúlio Vargas enviou para a Gestapo) e de Ferreira Gullar (poeta, escritor e dramaturgo, diretor do Centro Popular de Cultura da 8 Depoimento de Dulce Pandolfi. Acervo “Marcas da memória”, UFRJ. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 8-21, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 11 Lembranças do golpe — 1964 Maria Paula Nascimento Araujo União Nacional dos Estudantes — o CPC da UNE) falam da interrupção de projetos de vida: projetos políticos, projetos individuais e geracionais. Mas no depoimento de Flavia Schilling, professora de Educação da Universidade de São Paulo (USP), aparece uma lembrança do golpe que a sociedade atual procura esquecer. Flavia era criança na época, filha de Paulo Schilling, político ligado a João Goulart. A família toda se exilou no Uruguai e nesse país Flavia se ligou à organização dos Tupamaros e foi presa. A lembrança de Flavia do dia do golpe é a imagem das velas acesas dos moradores do Leblon, orando pela “derrota dos comunistas e do governo Goulart”.9 O apoio de significativos setores da população é algo que hoje se procura apagar da memória social. Os depoimentos nos mostram como o golpe irrompeu no meio do cotidiano das pessoas, no meio de um projeto político de reformas sociais, no meio da vida universitária, no meio da vida das famílias. Poucos tinham a dimensão da mudança que ocorreria na vida do país e da durabilidade do regime golpista que estava sendo implantado. A história oral é uma metodologia que permite ao historiador conhecer a memória socialmente construída de episódios relevantes do passado. Essa construção não apenas é marcada por conflitos, disputas, contradições como filtrada pelas questões e demandas do presente. Além disso, os depoimentos nos abrem uma porta que permite encarar a subjetividade como um elemento da história — de uma época, de um grupo de pessoas, de uma geração e, dessa forma, ter acesso a experiências humanas em diferentes contextos sociais. A riqueza e a capacidade mobilizadora dos depoimentos coloca para o historiador um desafio: ser capaz de valorizar a riqueza da fonte oral mas manter, ao mesmo tempo, o distanciamento crítico. A história oral deve fugir do terreno da pura exaltação da subjetividade; procurando não se “colar” à fala do depoente, não ser subjugada pela força da fala na primeira pessoa. Deve ser capaz, por mais difícil que seja, principalmente nos depoimentos que se referem a momentos de grande violência política, de exercer a crítica e a reflexão. Dominick LaCapra se debruçou sobre esse problema. Para LaCapra o historiador que trabalha com testemunhos converte-se, ele próprio, numa testemunha secundária (testigo secundário), porque tem acesso, em primeira mão, a um relato/registro do passado, que só pode ser conhecido por meio daquele testemunho que, de certa forma, revive os acontecimentos traumáticos que relata.10 LaCapra enfatiza que a empatia do historiador com as testemunhas não pode se transformar em identificação. A postura ética do historiador seria, essencialmente, a de reconhecer a alteridade do outro, dar espaço para a singularidade de sua experiência traumática. Não se confundir com a fala do depoente seria, portanto, uma atitude de respeito ao próprio depoente e ao testemunho que ele dá. O trabalho com a história oral exige, portanto, do historiador uma atenção. Suas fontes são pessoas vivas, de carne e osso, que aceitam dar seus depoimentos e reviver lembranças muitas vezes dolorosas; que 9 Depoimento de Flavia Schilling. Acervo “Marcas da memória”, UFRJ. LACAPRA, Dominick. Escribir la historia, escribir el trauma, op. cit. p. 115. 10 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 8-21, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 12 Lembranças do golpe — 1964 Maria Paula Nascimento Araujo aceitam também inserir suas memórias e discursos em processos contemporâneos de disputas políticas. Ao mesmo tempo esses depoimentos trazem uma riqueza imensa decorrente justamente da narrativa do passado vivido. Colher estes depoimentos, organizá-los, divulgá-los e analisá-los é um desafio dos historiadores do tempo presente. Depoimentos Marcas da memória Trechos selecionados 1. Anita Leocádia Prestes Filha dos comunistas Olga Benário e Luíz Carlos Prestes. Olga foi executada em um campo de concentração pelo governo nazista e Prestes foi um importante líder comunista idealizador da Coluna Prestes. Anita, a entrevistada, nasceu no campo de concentração e foi salva da execução por uma campanha internacional promovida pela família de seu pai. Ela foi perseguida antes e durante a ditadura militar e só conseguiu se estabilizar no Brasil após a Anistia de 1979. Bom, falava-se muito em golpe e ninguém acreditava muito que realmente fosse haver um golpe. Havia muita boataria. Não vou fazer uma análise da situação, que seria longa e demorada, mas realmente foi um baque muito grande para todas as forças de esquerda. Começou logo uma perseguição muito grande e cortou a vida de todo mundo, quer dizer, os projetos que nós jovens tínhamos. Primeiro o partido foi posto fora da lei, os comunistas perseguidos, todo aquele movimento estudantil perseguido, a UNE [União Nacional dos Estudantes] foi incendiada, logo todas aquelas atividades foram por água abaixo, uma perseguição muito grande. Por outro lado, os projetos pessoais também: eu mesma estudava química nessa época e me formei nesse ano de 64, já tinha feito prática, estágio, na fábrica de borracha da Petrobras em Duque de Caxias, acho que ainda tem essa fábrica. Então já estava tudo encaminhado para assim que eu me formasse ir trabalhar lá, que era uma coisa que me parecia muito interessante, não só pelas possibilidades de pesquisa ligadas à indústria de borracha, no caso de petróleo, mas também o trabalho sindical, que era muito forte e interessante. Mas aí tudo isso foi por água abaixo porque inclusive todas as pessoas de esquerda que trabalhavam na Petrobras foram postas para fora, expulsas ou presas. Foi assim, uma reviravolta total na vida, não só minha como daquele pessoal que estava participando do movimento na época, foi assim muito impactante realmente. Nos primeiros meses a gente ainda tinha esperança de uma reação, depois ficou claro que não, que realmente a ditadura tinha vindo para ficar e ficou por vinte anos, não foi brincadeira. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 8-21, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 13 Lembranças do golpe — 1964 Maria Paula Nascimento Araujo 2. Clara Charf É viúva de Carlos Marighella. Militou no Partido Comunista Brasileiro (PCB) e na Ação Libertadora Nacional (ALN). Viveu na clandestinidade por longos anos. Foi exilada após a morte de Marighella e, posteriormente, anistiada. Teve grande participação política no PT, atuando, sobretudo, em questões como o direito das mulheres e os direitos humanos. Seu processo foi deferido pela Comissão de Anistia. A gente morava naquele tempo perto do palácio do Catete, na rua Correia Dutra; a gente morou muito tempo ali, muitos anos. O período em que a gente viveu com mais liberdade, que eu era Clara Charf e ele Carlos Marighella, foi naquela rua, na Correia Dutra, desde o tempo de Juscelino até quando veio o Golpe. A gente morou ali. A gente foi vivendo toda a situação, Carlos Lacerda, toda a perseguição já havia em função de conflitos, e o Marighella que tinha toda essa visão de que o Golpe estava sendo preparado, começou a discutir com outros companheiros de que o Partido precisava se preparar e a direção do Partido... O Prestes dizia que “Eles podem dar o Golpe mas, vão ter as cabeças cortadas”. Não foi nada disso, né? O Golpe veio, a polícia invadiu o apartamento onde a gente morava. Como o Marighella tinha essa sensação, essa ideia e essa compreensão de que o Golpe estava sendo preparado, ele conversou com os companheiros operários que moravam na periferia e disse: “Olha, qualquer coisa eu vou para a casa de vocês”. Isso era um esquema que ele já tinha montado. Veio o Golpe, parece que havia uma coisa dizendo: “Vocês saiam daí, porque o apartamento vai ser invadido”. Um dia, ele chegou em casa — já nessa situação tensa — e disse: “Clara, vamos embora. Vamos pegar umas coisas aqui, porque eu acho que o Golpe vai ser deflagrado já!”. Nós morávamos no sétimo andar da Correia Dutra. Não me lembro o número do prédio. A gente pegou algumas roupas, colocou na sacola, pegou alguns documentos, tirou umas coisas da gaveta — a gente tinha uma sala com uma estante cheia de livros — e nós descemos pela escada. E a polícia subiu pelo elevador. Nós não fomos presos naquela circunstância por causa disso: a visão que ele tinha de que o Golpe estava sendo preparado — como realmente foi — e que, ao contrário da direção do partido, que achava que não, que eles iam entrar e iam atrás dos dirigentes. A gente escapou por causa disso: a visão que ele tinha de que o Golpe estava sendo deflagrado. Nós saímos, fomos para o Méier, para a casa de uma família operária que nos alojou. Até quando ele recebeu o tiro no cinema. Esse é um episódio que também marcou muito aquela época. 3. Clarice Herzog Viúva de Vladimir Herzog, jornalista assassinado em 1975, no DOI-Codi de São Paulo. A versão oficial alegava que ele tinha se suicidado. O caso teve repercussão nacional e internacional. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 8-21, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 14 Lembranças do golpe — 1964 Maria Paula Nascimento Araujo Ah, eu tenho muitas lembranças, eu já era, estava na faculdade. Foi em 1964. Eu estava doente quando foi invadida a faculdade, e foi uma coisa que eu sofri muito, não ter presenciado aquilo, não ter vivido aquilo, o desespero de quem está lá na hora. E eu estava no [jornal] Última Hora, e a Última Hora foi invadida também, enfim, a gente viveu isso muito de perto, muito de perto. Nesse momento a gente começou a pensar seriamente em sair do país, porque o Vlado sempre foi de esquerda, não era de partido, mas nós sempre fomos de esquerda, não pertencíamos a nenhum partido, mas éramos de esquerda. E ele era muito... E começou a encontrar muito problema no Estadão, onde ele trabalhava. Aí, tentou ir embora. Primeiro tentou ir pro Chile, foi para o Chile, foi lá ver possibilidade de trabalho. Tinha brasileiro caindo por tudo quanto é canto, necessitando ficar lá muito mais do que a gente, porque nos tínhamos emprego aqui. Ele voltou e depois foi trabalhar para a BBC, a gente morou em Londres dois anos e meio, meus filhos nasceram lá. (...) E em 1968 a gente achou que estava havendo um respiro, uma possibilidade, os próprios estudantes estavam saindo em greves, passeatas, estava havendo um relaxamento aqui da ditadura, e a gente decidiu voltar. Eu voltei antes com os meus filhos. E resolvemos voltar em 1968 e sete anos depois ele é assassinado. Eu decidi que eu ia provar que o Vlado tinha sido assassinado, eu nunca tive dúvidas disso. E aí, eu comecei, procurei advogados, foi também uma coisa complicada, porque eu nunca tinha tido contato com um advogado, depois eu descobri que para um advogado virar seu advogado, você tem que passar uma procuração. Então, em advogados, eu fui várias vezes, eu achava que era meu advogado, e chegava uma hora ele caía fora, porque entrava eu e o sindicato. (...) O sindicato falava com o advogado que ia entrar com uma ação contra a União. Quando o sindicato caiu fora o advogado caiu também. O sindicato disse que não podia entrar, que tinha um recado de Brasília, se ele entrasse, o sindicato ia ser invadido. Aí, caiu esse advogado, então fui para outro, fui lá, falei com ele e ele disse: “Isso aí, só quando tiver o tribunal de Nuremberg”. Eu falei: “Eu não vou ficar esperando por um tribunal de Nuremberg”. Eu estava desesperada. (...) Foi ideia do Bermudes (advogado) entrar com uma ação não de indenização, mas de responsabilidade pela prisão ilegal, tortura e morte. E eu ganhei essa ação. Consegui provar! Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 8-21, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 15 Lembranças do golpe — 1964 Maria Paula Nascimento Araujo 4. Dom Waldyr Calheiros Dom Waldyr foi um bispo envolvido com a luta por direitos humanos durante a ditadura militar. Atuou na baixada fluminense e em Volta Redonda. A lembrança que eu tenho é o seguinte. A igreja de São Francisco Xavier era uma igreja tida pelos militares como a igreja deles. Porque Caxias, quando na guerra que teve com o Paraguai, Caxias volta e encontra a igreja em ruínas. O festejo que o Exército preparava pela vitória — vitória interrogação — a vitória do Brasil no Paraguai, as festas que foram preparadas, Caxias teria dito, estava escrito na frente da igreja em uma pedra que está gravado: “O soldado, quando a casa de Deus está em ruínas, não recebe festa”. Assim estava lá escrito isso que Caxias teria dito. E ali os militares faziam geralmente aqueles seus encontros. Quando chega a ditadura, aí o que eu me lembro é o seguinte. Vieram me comunicar. Aí eu digo: “É um desastre para o Brasil essa ditadura”. Porque eu, durante o tempo de vigário, eu tive contato com a Ação Católica, que era o braço direito da renovação da Igreja dentro de todo aquele contexto antigo, e ali o contato com os intelectuais, com os operários, com toda a juventude, havia sempre um movimento, JAC, JEC, JIC, JOC, JUC, e ali a reflexão sobre a realidade que nós estávamos vivendo me deixava um pouco situado dentro do tempo que nós estávamos passando. Então casualmente eu disse no dia da notícia, eu na missa disse: “Olhe, é lamentável que nós estamos dentro em uma ditadura”. E o pior é que havia vários militares dentro da missa, assistindo a missa, se afastaram imediatamente de dentro da igreja. Com a exceção de um... chegou a ser coronel, coronel César, esse não! Esse já trabalhava comigo, já sabia a minha maneira de pensar e sabia também que eu tinha simpatia pela transformação que Jango estava querendo tentar fazer, principalmente rural. 5. Dulce Pandolfi Historiadora e professora, ex-militante da Ação Libertadora Nacional (ALN) e ex-presa política. Olha, Recife era uma cidade muito politizada e eu acho que isto me marcou muito, antes da minha adolescência, inclusive. Porque eu era bastante jovem quando acontece o Golpe, eu estava de quatorze para quinze anos, portanto o pré-golpe em Recife era uma situação muito politizada porque o governador era Miguel Arraes e tivemos também Pelópidas Silveira, que era um progressista do Partido Socialista que foi prefeito de Recife, depois o vice-governador, e tínhamos todo o contexto das Ligas Camponesas. (...) eu estava falando que eu acho que o dia do golpe foi um dia muito especial, marcou muito também, porque eu lembro muito das tensões. A gente era vizinho de Pelópidas Silveira, Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 8-21, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 16 Lembranças do golpe — 1964 Maria Paula Nascimento Araujo então ficou aquele clima: “vai ter um golpe, os militares vão pegar o poder”, mas também não se acreditava, porque a esquerda tinha a grande ilusão de que as suas forças eram maiores do que eram de fato e de que nada barraria aquele avanço do progresso. A ideia era a de que estávamos do lado do bem e do progresso e de que tudo caminharia para uma solução que não fosse uma solução golpista de ditadura militar. A gente estava indo para o colégio no dia 31 e quando meu pai nos levava de carro para lá encontramos com o Pelópidas e ele disse “não, vocês podem ficar tranquilos que a situação aqui em Pernambuco está sob controle”. Tinha-se a ideia de que até o Exército tinha um lado progressista e que, portanto, estas forças iriam barrar qualquer atitude golpista que viesse, porque já tinha o bochicho de [que] um golpe havia sido preparado, mas que todo mundo poderia ficar tranquilo. Só que o golpe veio. E eu lembro de muitas pessoas próximas fugindo, de livros sendo queimados, enfim, foram uns dias muito tensos na minha vida. Eu lembro que voltar para o colégio foi muito sofrido para mim, porque eu não queria voltar para o colégio e enfrentar aquelas meninas reacionaríssimas que iam debochar de mim, eu que andava com aquele bóton do governo Arraes. Nesta altura Arraes já tinha sido preso, várias pessoas já tinham sito detidas e eu volto para o colégio e lembro que chegando lá encontro com uma colega de turma que vira para mim e diz assim: “Cadê o seu governador, aquele com cara de mamão?”. Porque Arraes tinha aquele rosto assim sisudo, nossa, eu parti para cima dela, cheia de si, e nós fomos apartadas pelas freiras, eu disse “eu falei que não queria voltar para o colégio!”. 6. Ferreira Gullar José Ribamar Ferreira (Ferreira Gullar) é poeta, jornalista, escritor, crítico de arte e dramaturgo. Na década de 1960, fez parte do Centro Popular de Cultura (CPC) da União Nacional dos Estudantes (UNE). Foi preso pelo Ato Institucional de número 5 e, nos anos 1970, viveu no exílio em inúmeros países. Bom, o golpe começou no dia anterior, no dia 31 de março. Nós estávamos no CPC, quando chegou a notícia de que as guarnições do Exército em Minas Gerais tinham se rebelado contra o governo do João Goulart. Então, se viu que ia começar aí um... Bom, então nós do CPC chamamos as pessoas, artistas e todas as pessoas ligadas a nós, de teatro, de cinema, para uma reunião, uma assembleia lá no CPC, na sede da UNE ali no Flamengo, para a gente discutir como resistir a esse golpe que estava se pronunciando aí. Então, nós ficamos em assembleia permanente ali. À noite, veio uma comissão de intelectuais nos informar que estava tudo bem, que o golpe tinha fracassado, que o Exército estava leal ao João Goulart e tal, mas mal eles saíram metralharam a porta da UNE, feriram companheiros nossos, que nós levamos para o hospital às carreiras. E aí a coisa continuou. Uma parte ficou na UNE Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 8-21, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 17 Lembranças do golpe — 1964 Maria Paula Nascimento Araujo de vigília e eu fui para casa dormir com a Teresa, que era minha companheira, para no dia seguinte voltar para a UNE e substituir os outros que iam ficar tomando conta da sede da UNE. Quando eu acordei de manhã, que eu liguei o rádio, o golpe estava em marcha, praticamente consumado. Tinham tomado o forte de Copacabana. Mesmo assim eu peguei o meu carro e, junto com a Teresa e mais um companheiro, nós fomos para a UNE, para a [centro da] cidade para ver o que estava acontecendo. Eu fui até a Cinelândia, praça Marechal Deodoro, e estava cheio de tanques lá; os tanques ocupando. Mas a gente não sabia direito de fato o que estava acontecendo, se aquilo ali era para resistir ao golpe ou se aquilo ali era o golpe. Não sabia direito. E voltamos de carro, eu voltei pela praia do Flamengo, e pela pista da direita perto dos prédios, perto da calçada. E quando nos aproximamos da UNE, havia um tumulto e o carro não andava mais, porque estava o trânsito engarrafado. E andando pouco a pouco a gente viu que estavam atacando a UNE. Então, terminou que meu carro ficou parado em frente à UNE praticamente, pelo engarrafamento, e os caras passavam junto, rente à janela do meu carro com coquetel Molotov jogando na UNE. E nessa altura eu era presidente do CPC da UNE. Se eles me descobrem ali, eles tinham jogado um Molotov dentro do carro, não só na UNE. E então, nós ficamos ali naquela situação sem saber o que iria acontecer, até que o tráfego aliviou um pouco e nós conseguimos sair daquele aperto. Mas, à medida que nós nos aproximávamos aqui de Copacabana, havia uma verdadeira festa na cidade. Bandeiras saudando o golpe. Era uma coisa que a classe média inteira tinha apoiado. Bom, eu morava em Ipanema nessa época, nós fomos inteiramente arrasados para Ipanema sabendo que a UNE estava pegando fogo. Antes de dobrar a esquina nós olhamos, começava o incêndio lá na UNE e de modo que foi isso. À noite desse dia, que era dia primeiro, o Vianninha me ligou dizendo que ia haver uma reunião na casa do Carlinhos Lyra, que nós íamos nos reunir todos lá. Estava juntando o pessoal, com gente do partido que dava assistência, que participava, que era o Marcos Jaimovich. Aí nós fomos para essa reunião e eu então já saí de casa com a decisão tomada de me engajar na luta e entrar para o partido para participar da resistência contra a ditadura, contra o golpe que estava se dando ali. 7. Flavia Schilling Filha de Paulo Schilling, político ligado ao presidente João Goulart, acompanhou o pai no exílio no Uruguai, onde integrou a organização guerrilheira Tupamaros. Foi presa nesse país onde permaneceu por oito anos, sendo libertada após intensa campanha do Comitê Brasileiro pela Anistia (CBA). E quando o Brizola se elege deputado federal pelo Rio de Janeiro, meu pai acompanha novamente o Brizola para o Rio de Janeiro e nós vamos para o Rio de Janeiro também. E em Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 8-21, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 18 Lembranças do golpe — 1964 Maria Paula Nascimento Araujo final de 63, então a gente vive o golpe de estado no Rio de Janeiro. E essa é uma lembrança interessante porque uma das lembranças mais fortes que eu tenho da situação do golpe é a noite do comício da Central do Brasil, imediatamente antes ao golpe. Porque a gente morava no Leblon, que não era o que é hoje, era um dos bairros mais afastados da zona sul e que começando, de alguma maneira, na época, Copacabana era a região mais nobre e depois começava Ipanema, Leblon era meio suburbano ainda, não? E a gente morava na rua Carlos Góis, no Leblon, na esquina com a rua Ataulfo de Paiva e ao final da rua havia uma favela. Era a favela do Pinto, se eu não me engano, que a polícia tinha removido. E essa noite do comício da Central do Brasil para mim é absurdamente marcante. Nessa época eu não tinha completado doze anos. As esquinas ficaram absolutamente repletas de velas acesas. E as pessoas orando de temor da chegada do comunismo no país. Então essa uma lembrança absurdamente marcante do Rio de Janeiro daquele momento do pré-golpe. E isso é muito marcante porque até hoje, imaginem, eu vou ao Rio daqui a dois dias. O Rio tem para mim uma coisa assim: não é de confiança porque as pessoas apoiaram o golpe de estado. Porque foi um apoio muito intenso. Não era uma ou duas pessoas, eram centenas de pessoas nas esquinas acendendo velas para afastar a ameaça do comunismo, estendendo panos brancos pela janela. Então foi um momento muito marcante, naquela sensação de pertencer a uma minoria, na verdade, que propunha outros rumos para o país, né? Então essa é uma lembrança pré-golpe. 8. Magda Neves Socióloga e professora universitária, foi militante estudantil e integrou o movimento pela anistia. (...) Meu pai foi um militar de carreira, mas o meu pai sempre foi um democrata e na época da revolução de 64 ele estava em Juiz de Fora servindo. Aí tinha o general Mourão Filho que saiu lá de Juiz de Fora com as tropas em direção ao Rio, mas papai foi contra o golpe. Ficou preso em casa, foi daqueles militares que não concordaram com o golpe de 64. A gente tinha dois soldados na porta da nossa casa e a gente, eu me lembro, eu e ele, escutando a rádio de Brizola, a rádio lá do Rio Grande do Sul, a gente ficava assistindo e procurando notícias e tal. Depois disso ele foi aposentado compulsoriamente, então em nenhum momento ele compartilhou com a ditadura militar. Ele sempre teve esse espírito muito democrata e ele nos educou assim, nesse espírito democrata, de participação. Ele sempre participou das atividades políticas lá de Juiz de Fora, ele gostava de ter encontros com políticos, de discutir os cenários da cidade, a vida da cidade e etc. E eu naquele momento, no chamado ensino secundário, evidentemente como muitos da minha geração estudei em colégio de freira, mas eu comecei a participar da Juventude Estudantil Católica, da JEC, e isso me abriu um horizonte de muitas questões, de muito Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 8-21, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 19 Lembranças do golpe — 1964 Maria Paula Nascimento Araujo debate. Tinha toda aquela discussão da justiça, a justiça na sociedade brasileira, e eu carreguei isso muito fortemente, essa coisa da justiça. Depois quando eu entrei na universidade eu fui pra Juventude Universitária Católica, a JUC. Fui pra JUC, mas isso foi um pequeno momento porque logo depois teve um fechamento de todas as ações católicas. Eu entrei na universidade em 1964, no ano do golpe, na [Universidade] Federal de Juiz de Fora. Eu fiz Serviço Social. Porque o curso de Ciências Sociais ainda não existia lá e eu queria algum curso que tivesse voltado pras questões sociais, isso pra mim era fundamental. Aí fui fazer Serviço Social e participei do DA [Diretório Acadêmico], fui presidente do DA da minha escola. Participava em todas as manifestações em Juiz de Fora, nas ruas, contra ditadura. Porque entre 64 e 68, que foi o período que eu estive na faculdade, ainda tinha manifestações de rua mesmo que controladas, mesmo que os guardas fossem atrás da gente, a polícia etc., a gente tinha ainda possibilidade de fazer manifestações. Em todas eu estava, como presidente do diretório do Serviço Social e depois eu fui pro DCE, participei da diretoria do DCE em Juiz de Fora e quase fui pra Ibiúna, eu só não fui para o congresso de Ibiúna em 68 porque eu estava formando e a gente discutiu no DCE que devia ir uma pessoa que teria continuidade no movimento estudantil, então eu fui trocada naquele momento e não fui pra Ibiúna. Senão teria sido presa ali naquele momento como muitos foram. O meu período em Juiz de Fora foi um período de muita participação política, minha época de faculdade mesmo no período da ditadura já foi uma época de muita participação. Foi antes do AI-5. 9. Maria José Nahas Ex-militante da organização Comando de Libertação Nacional (Colina), ex-presa política e ex-banida. Tenho, eu já estava aqui na época do golpe. Eu morava numa pensão que era ali na [avenida] João Pinheiro — você para sair da Afonso Penna e chegar no Palácio da Liberdade, você passa pela avenida João Pinheiro. Então, aquelas passeatas da TFP [Tradição, Família e Propriedade], as passeatas do terço, de não sei o quê, tudo passava por ali e eu era espectadora, achava tudo aquilo um negócio meio ridículo, mas eu só era observadora. Quando eu entro na Escola, não era só a questão do golpe, mas tudo o que estava acontecendo naquele final dos anos 1960: A questão da Guerra do Vietnã, a questão do assassinato do Kennedy, os direitos civis, os Panteras Negras e por aí vai! A Primavera de Praga depois, nouvelle vague, quer dizer, é todo um caldo que você está ali dentro, você querendo ou não. Eu entrei nesse caldo, por influência de alguns companheiros brilhantes, como o Ângelo Pezzuti, que morreu no exílio, era uma pessoa brilhante. Na escola, houve toda essa aproximação. E a Escola de Medicina nessa época teve muito militante da Colina [Comando de Libertação Nacional]. Eu era militante da Colina também. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 8-21, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 20 Lembranças do golpe — 1964 Maria Paula Nascimento Araujo 10. Victória Grabois Filha, irmã e viúva de desaparecidos políticos, integrante do Grupo Tortura Nunca Mais. (...) E aí, a minha mãe estava com o meu irmão André em casa, e foi para a casa de um outro amigo nosso, Afonsinho, que depois chegou a ser deputado pelo PDT, dormiu na casa dele. De manhã, ele teve que acordar minha mãe e o André e saíram porque ele ficou sabendo que a casa dele também ia ser invadida. A minha casa foi invadida no dia 2 de janeiro,11 eu morava com a minha tia, irmã do meu pai, em Botafogo, passava a semana e ia para casa sábado e domingo porque tinha que chegar na faculdade sete horas da manhã e tinha que atravessar de barca. Eu e minha tia, com esse sobrenome Grabois, ficamos com medo de chegar e o Exército estar lá, aí fui para casa de uma tia, irmã de minha mãe que morava na Tijuca. Meu pai tinha sumido e depois meu pai e minha mãe se encontraram na casa de outra tia minha em Niterói. Em julho nós fomos para São Paulo, a família se encontrou em julho em São Paulo, já na clandestinidade, e no dia 16 de abril os quinze que tinham sido suspensos por tempo indeterminado e mais quatro, o mais famoso deles é o Elio Gaspari, os dezenove, nós fomos expulsos pelo conselho universitário da Faculdade Nacional de Filosofia e não podíamos entrar em nenhuma faculdade pública. Se quisesse voltar a estudar, que fosse numa universidade particular. Foi instaurado um IPM que eu não fui responder, poucos foram, porque quem respondia saía de lá preso. Ou seja, ceifou a vida de dezenove estudantes que foram chamados “Os dezenove da filosofia” que eram quinze homens e quatro mulheres, as mulheres eram a Raquel Teixeira, que hoje é da Casa de Rui Barbosa, prima de Aloísio Teixeira, que foi reitor da UFRJ até junho, eu, a Ieda Sales e a Regina. 11 De fato, em 2 de abril de 1964. (N. E.) Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 8-21, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 21 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy* RESUMO Este artigo trata das relações entre movimentos sociais e políticos ocorridos na África Ocidental em fins do século XVIII e início do século XIX, em especial o jihad sudanês, e os processos de transformação global do Ocidente nesse mesmo período. Abre-se um diálogo com os trabalhos de Erick Hobsbawm e Eugene Genovese, analisando criticamente suas abordagens sobre a influência das sociedades do oeste africano nos eventos que têm lugar no mundo atlântico durante a chamada “era das revoluções”. O artigo discute, ainda, a perspectiva a partir da qual vêm sendo estudadas as rebeliões escravas nas Américas, que pouco considera o contexto africano e ressalta apenas as influências das mudanças revolucionárias na Europa Ocidental. Nesse sentido, também questiona a historiografia que analisa o surgimento do “Atlântico Negro”, a qual não atribui a devida importância aos determinantes originados no interior da África, fundamentais nesse processo. Palavras-chave: jihad; escravidão; resistência; África Ocidental; era das revoluções. ABSTRACT This paper investigates the relationship between West Africa social and political movements in late eighteenth- and early nineteenth centuries, especially the Sudanese jihad, and the processes of Western global transformation during the same period. It opens a dialogue with the work of Eric Hobsbawn and Eugene Genovese, critically analyzing their approach of the influence of Western Africa’s societies on the events taking place in the Atlantic world through the so-called “age of revolutions.” The article also questions the perspective adopted in studies of slave rebellions in the Americas, which barely consider the African context, and highlight only the influence of Western Europe’s revolutionary changes. In that sense, the paper also questions the historiography of the “Black Atlantic” emergence, which does not Artigo recebido em 20 de julho de 2013 e aceito em 30 de novembro de 2013. * Doutor em história pela University of Wisconsin, EUA, Distinguished Research Professor e Canada Re search Chair em African History na York University, Canadá. Toronto, Canadá. E-mail: [email protected]. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 22 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy attribute due importance to determining factors originating within Africa, crucial in that process. Keywords: jihad; slavery; resistance; Western Africa; age of revolutions. *** A questão da resistência está no cerne da história social e cultural da escravidão.1 Os historiadores, em particular, têm se preocupado em comparar as resistências escravas em diferentes colônias europeias nas Américas, com particular atenção em como a revolução em São Domingos e o estabelecimento do Estado independente do Haiti influenciaram outros eventos subsequentes. Este artigo dialoga com dois estudiosos cujos trabalhos influenciaram a historiografia. Em primeiro lugar, Eric Hobsbawm e a sua caracterização do período de 1789 à 1848 como a “era das revoluções”, que resultou na “transformação do mundo (...) devido ao que é aqui chamado de ‘revoluções duplas’ — a Revolução Francesa de 1789 e a contemporânea Revolução Industrial (inglesa)”.2 Em segundo, com Eugene Genovese, que propôs 1793 como um ano divisor de águas nas formas de resistência à escravidão. Os acontecimentos revolucionários em São Domingos e a independência do Haiti teriam sido marcos fundadores de novas formas de resistência.3 Embora os estudos de Hobsbawm se limitem Uma versão preliminar deste texto foi apresentada na conferência “Les résistances à l’esclavage dans le monde atlantique français à l’ère des Révolutions (1750-1850)”, na McGill University, em Montreal, de 3 a 4 de maio de 2013. Agradeço a Rina Cáceres Gomez pelas discussões que auxiliaram na conceitualização deste artigo. Myriam Cottias, Nielson Bezerra, Carlos da Silva Jr., Elaine Moreira, Mariana Cândido, Feisal Farah, Henry B. Lovejoy, Jennifer Lofkrantz, Suzanne Schwarz, Vanessa Oliveira, Katrina Keefer e Mônica Lima e Souza fizeram comentários e ofereceram assistência de diversas formas, desde a pesquisa à tradução. Também agradeço ao Conselho de Pesquisa de Ciências Sociais e Humanidades do Canadá e à Cátedra de Pesquisa em História da Diáspora Africana do Canadá, cujo apoio à minha pesquisa tem sido indispensável e é extremamente apreciado. O argumento aqui exposto não é novo; ele foi apresentado por mim na primeira edição do Transformations in slavery, em 1983 e, de fato, anteriormente em uma conferência organizada por Michael Craton em 1979. Ver: LOVEJOY, Paul E. Indigenous African slavery. In: CRATON, Michael (Ed.). Roots and branches: current directions in slave studies. Toronto: Pergamon Press, 1979, originalmente publicado em Historical Reflections/Reflexions Historiques, v. 6, n. 1, p. 19-61, 1979, com comentários de Igor Kopytoff e Frederick Cooper, p. 62-83. 2 HOBSBAWM, Eric. The age of revolution, 1789-1848 [1962]. Nova York: Vintage Books, 1996. p. ix. 3 GENOVESE, Eugene. From rebellion to revolution: Afro-American slave revolts in the making of the Modern World. Baton Rouge, LA: Louisiana State University Press, 1979. Claro, James chamou atenção para a origem europeia da revolução haitiana e consequentemente influenciou ambos, Hobsbawm e Genovese. James, C. L. R. The black jacobins: Toussaint l’Ouverture and the San Domingo Revolution. 2. ed. Nova York: Random House, 1963. Do mesmo modo, Herbert Aptheker (American Negro Slave Resistance. Nova York, 1944) documentou as dinâmicas da resistência escrava nos Estados Unidos e seu trabalho pioneiro, geralmente ignorado pela literatura, ajudou a chamar a atenção do conhecimento acadêmico para o assunto. Ver: OKIHIRO, Gary; APTHEKER, Herbert (Ed.). Resistance not acquiesence: studies in African, Afro-American and Caribbean history. Amherst, MA: University of Massachusetts Press, 1986. 1 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 23 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy às transformações no noroeste da Europa e, por extensão, aos impérios britânico e francês, assim como à América Latina independente, ele estava ciente que reflexos foram sentidos na África e em outros lugares. No entanto, Hobsbawm associa, em seus estudos, revoluções e transformações a espaços restritos à Europa ocidental, negligenciando a possibilidade de eventos como os movimentos do jihad na África Ocidental terem tido algum impacto na formação do mundo moderno ou ainda que esses eventos africanos fossem contemporâneos à era das revoluções ocidentais. Ao mesmo tempo, a análise de Genovese sobre a natureza da resistência escrava também não considera as intersecções das diferentes “eras de revolução” na África e no mundo atlântico. Este artigo procura demonstrar as formas pelas quais a África Ocidental participou ou não desses eventos globais propostos por Hobsbawm e Genovese. Apesar da importância da Revolução Industrial na Grã-Bretanha e da Revolução Francesa, Hobsbawm estava equivocado ao defender que “os estados islâmicos estavam tão agitados com crises; [que] a África estava exposta à conquista direta” durante o período 1789-1848.4 Hobsbawm podia estar correto com relação ao Estado otomano durante a era napoleônica e as reformas no Egito, assim como sobre a conquista britânica em partes islamizadas da Índia, porém suas observações não se estendem à África Ocidental. Ao contrário, a África não estava aberta à “conquista direta”, pelo menos não antes da conquista francesa da Argélia otomana em 1830-1847 e a contínua ocupação francesa de St. Louis e Goré. Vale lembrar que a exploração europeia do vale do rio Senegal só ocorreu após 1854. O bloqueio britânico da costa ocidental africana após 1808 pode ter abalado os estados localizados no litoral da África, porém o impacto no interior foi praticamente nulo. O bloqueio na verdade reforçou os objetivos do movimento do jihad islâmico, ou seja, isolar o interior da África do mundo atlântico, sem contudo afetar a continuidade da instituição da escravidão na África Ocidental. Na África Austral, a Grande Jornada dos Boers pós-1834 foi uma resposta às políticas abolicionistas britânicas e aos esforços imperiais para controlar uma população que não estava disposta a se tornar súdita do império britânico. Em outras palavras, não foi exatamente uma conquista colonial. Apesar de Genovese ter reconhecido a importância da resistência muçulmana à escravidão e da revolta dos malês na Bahia, ele foi incapaz de identificar revoltas semelhantes na colônia britânica de Serra Leoa, que ocorreram praticamente ao mesmo tempo, ou ainda as conexões entre a resistência iorubá em Cuba com os jihad na África Ocidental. Este artigo busca um diálogo com os estudos de Hobsbawm e Genovese. Os dois autores negligenciaram a importância dos movimentos do jihad do final do século XVIII e início do século XIX e as enormes contribuições de tais eventos para a compreensão da era das revoluções. E, visto que a produção intelectual desses dois autores tornou-se leitura obrigatória para historiadores, a negligência acabou por ofuscar uma rica produção intelectual realizada no continente africano sobre os eventos daquela época. Aspecto central para este artigo e 4 HOBSBAWM, Eric. The age of revolution, op. cit. p. 3. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 24 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy meu diálogo com Hobsbawm e Genovese é o reconhecimento da necessidade de ampliarmos nossa compreensão sobre a “era das revoluções”, o que exige a utilização de uma metodologia histórica que identifique fontes e interpretações abertas a novas hipóteses e conceitos.5 O principal problema reside em que tanto Hobsbawm como Genovese criaram um modelo para o mundo moderno que oferece uma visão eurocêntrica sobre a história do mundo ocidental. A questão a ser abordada diz respeito à possibilidade ou não de negligenciar a África – neste caso, a África Ocidental –, na reconstrução da história do mundo atlântico durante o período da “era das revoluções”. Perspectivas sobre a história Esse artigo resgata o lugar da África Ocidental islâmica no mundo atlântico durante a “era das revoluções”. Na África Ocidental, o Islã, e não a identificação como hausa, iorubá, manden, diula etc., prevalecia. A etnicidade era uma extensão da identidade política que, transferida à Bahia no contexto do movimento do jihad na África Ocidental, sofreu transformações. Ou seja, se o levante dos malês deve ser considerado dentro de uma perspectiva atlântica durante a “era das revoluções”, então ele também deve ser interpretado no contexto dos acontecimentos da África Ocidental. A ênfase na dimensão transatlântica acabou por diminuir a importância do Sudão Central. Meu diálogo com a produção acadêmica de Hobsbawm e Genovese inclui, inevitavelmente, um desafio para outros estudiosos. O papel dos muçulmanos na insurreição de 1835, na Bahia, é bem documentado. Do mesmo modo, a presença de muçulmanos escravizados nas Américas é reconhecida e está bem estabelecida na historiografia. Apesar disso, a possibilidade de conexão com os jihad parece ainda não ter sido reconhecida como importante no contexto da “era das revoluções” e das grandes transformações associadas à resistência escrava nas Américas. A historiografia prioriza as influências africanas na formação das sociedades escravistas nas Américas, embora esta não tenha sido necessariamente uma preocupação de Hobsbawm. A sua “era das revoluções” enfatizava as mudanças sociais e econômicas na Europa e nas Américas, dando pouca atenção para as influências originárias da África. Embora a Enquanto Genovese (From rebellion to revolution, op. cit. p. 28-32) discute a influência muçulmana na insurreição na Bahia, ele parece desconhecer a produção acadêmica acerca do jihad na África Ocidental. Clyde Ahmed Winters tenta entender essa influência, assim como Pierre Verger e Roger Bastide, mas novamente sem uma apreciação completa do que foi produzido na África Ocidental. WINTERS, Clyde Ahmed. The Afro-Brazilian concept of jihad and the 1835 Slave Revolt. Afrodiaspora: Journal of the African World, v. 2, p. 87-91, 1984. Para uma interpretação melhor e mais recente, ver GOMEZ, Michael. Black crescent: the experience and legacy of African Muslims in the Americas. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. p. 91-127. Também ver AUSTIN, Allan D. African Muslims in antebellum America: transatlantic struggles and spiritual struggles. Nova York: Routledge, 1997; AUSTIN, Allan D. African Muslims in antebellum America: a sourcebook. Nova York: Garland, 1984. 5 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 25 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy interpretação de Genovese enfatize a importância de São Domingos como forma de resistência escrava e como esse evento se encaixava perfeitamente no paradigma de Hobsbawm, o conhecimento dele sobre as influências africanas era limitado. Embora esses dois estudiosos sejam importantes em qualquer discussão sobre revoluções ou resistência escrava, a contribuição de ambos ignorou o papel da África no mundo atlântico.6 Apesar dessas limitações, tanto Hobsbawm quanto Genovese tiveram papel fundamental na inclusão das revoltas escravas como parte da “era das revoluções”. Contudo, minha intenção é enfatizar o papel do jihad na África Ocidental nesse contexto. Para isso, eu proponho uma nova abordagem. Estudos sobre resistência escrava e revoluções no mundo atlântico tendem a concentrar-se nas Américas e na Europa, sem buscar entender o que acontecia na África. Hobsbawm é o criador da “era das revoluções”, tanto como conceito como período cronológico. Os estudos sobre as mudanças históricas das últimas décadas do século XVIII até meados do século XIX tendem a vê-las como isoladas, como apenas uma fase na história da escravidão, e em particular o fim da escravidão é frequentemente associado às narrativas de mudanças revolucionárias na Europa Ocidental. O movimento abolicionista na Grã-Bretanha, a Revolução Francesa, a revolta em São Domingos, a independência do Haiti e a resistência dos escravos dos Estados Unidos ao Brasil figuram com destaque em nossa compreensão desse período da história e sua relação com a Revolução Industrial e as restrições constitucionais ou a eliminação pura e simples de regra monárquica na Europa Ocidental. Essa perspectiva sobre as revoluções do final do século XVIII e início do XIX, no entanto, tem seriamente subestimado e até mesmo ignorado o papel do jihad na África Ocidental. Por isso, o subtítulo deste trabalho é um “diálogo com Hobsbawm e Genovese”, e, por extensão, com a historiografia sobre a escravidão e a resistência escrava nas Américas assim como a produção acadêmica sobre o mundo atlântico e a história comparada. Entre as muitas contribuições para o estudo da resistência e revolução escravas nas Américas, o caso de São Domingos se destaca, não somente com James, Black Jacobins, mas também com trabalhos posteriores, como: FICK, Carolyn. The making of Haiti: the Saint Domingue Revolution from below. Knoxville: University of Tennessee Press, 1990; DUBOIS, Laurent; GARRIGUS, John D. Slave Revolution in the Caribbean, 17891804: a brief history with documents. Boston: Bedford; St Martin’s, 2006; GEGGUS, David Patrick. Haitian revolutionary studies. Bloomington, IN: Indiana University Press, 2002; GEGGUS, David Patrick. (Ed.). The impact of the Haitian Revolution in the Atlantic World. Columbia, SC: University of South Carolina Press, 2001; DUBOIS, Laurent. Avengers of the New World: the story of the Haitian Revolution. Cambridge: Cambridge University Press, 2004; HURBON, Laënnec (Ed.). L’ insurection des esclaves de Saint-Domingue (2223 août 1791). Paris: Karthala, 2000; BARTHÉLÉMY, Gérard. Dans la splendeur d’un après-midi d’ histoire. Port-au-Prince: Henri Deschamps, 1996, reeditado como Créoles — bossales: conflit en Haïti. Petit-Bourg, Guadeloupe: Ibis Rouge, 2000; BARTHÉLÉMY, Gérard. Le rôle des bossales dans l’émergence d’une culture du marronage en Haïti. Cahiers d’ études africaines, v. 148, 1997; CAUNA, Jacques de. Haïti, l’ éternelle révolution: histoire de sa décolonization (1789-1804). Port-au-Prince: Deschamps, 2009; CÉSAIRE, Aimé. Toussaint-Louverture. La Révolution Française et le problème colonial. Présence africaine, 1960; DORIGNY, Marcel Haiti, première république noire. Paris, 2003; e SCHMIDT, Nelly. L’engrenage de la liberté. Caraïbes-XIXé siècle. Aix-en-Provence: Université de Provence, 1995. Também ver CRATON, Michael. Testing the chains: resistance to slavery in the British West Indies. Ithaca: Cornell University Press, 1982. 6 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 26 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy Minha intervenção procura enfatizar os acontecimentos na África durante o período da “era das revoluções” e analisar como esses eventos influenciaram ou não os padrões de transformações nas Américas que, eventualmente, favoreceram a destruição da escravidão como instituição dominante. Como incorporar a história africana e os africanos nos eventos revolucionários das Américas? Na minha opinião, as influências africanas e, em particular, do movimento do jihad na África Ocidental tiveram um impacto profundo na formação de revoltas e diferentes manifestações de resistência escrava nas Américas. Os jihad influenciaram os eventos na Bahia e, especificamente, a revolta malê de 1835, assim como a consolidação da influência iorubá em Cuba. No âmbito da “era das revoluções” e da resistência das populações escravizadas nas Américas, estou desafiando os especialistas no mundo atlântico a ampliarem seus horizontes e incluirem eventos históricos que tiveram lugar na África Atlântica e em seu interior. O interesse de Hobsbawm na transformação da natureza da forma de governar na era das revoluções, com o questionamento da validade das monarquias despóticas e o surgimento de regimes mais democráticos, poderia ser comparado às transformações na África Ocidental nesse mesmo período — afinal, os jihad também transformaram as formas de governar na África Ocidental. Paralelo às várias formas de resistência escrava nas Américas e ao surgimento de uma “segunda escravidão” nas Américas no século XIX, uma série de jihad na África Ocidental resultou no aumento do número de escravos disponíveis concomitantemente ao fortalecimento da escravidão no Brasil, Cuba e Estados Unidos. O historiador João José Reis demonstrou a natureza complexa do levante malê, no que diz respeito à identificação dos participantes quanto ao status legal (escravos/livres), base étnica (iorubá, ou seja, nagô, hausa etc.), e de acordo com as divisões religiosas (islã, culto dos orixás etc.). Stuart Schwartz anteriormente havia chamado a atenção para as várias revoltas e conspirações hausas que tiveram lugar na Bahia a partir de 1807.7 Além desses estudiosos, o historiador Michael Gomez reconheceu a importância da influência islâmica nas Américas. Porém essas contribuições não inserem os eventos nas Américas no contexto dos jihad e, particularmente, nas transformações no Sudão Central. Sylviane Diouf examinou a resistência e revolução no contexto das influências africanas e, no entanto, nem Gomez nem Diouf deram atenção ao Califado de Sokoto e seu papel na África Ocidental, que é precisamente o foco de minha análise.8 Diouf chegou a afirmar que as condições para o jihad não estavam Na década de 1820, ocorreram dez insurreições na Bahia e cinco na vizinha Sergipe de El-Rey nas quais escravos iorubás e ex-escravos estavam envolvidos. Ver: SCHWARTZ, Stuart. Sugar plantations in the formation of Brazilian society: Bahia, 1550-1835. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. p. 486-487. Ver também SCHWARTZ, Stuart. Roceiros e rebeldes. Bauru: Edusc, 2001; SCHWARTZ, Stuart. Cantos e quilombos numa conspiração de escravos hausas. In: REIS, João José; GOMES, Flávio dos Santos (Ed.). Liberdade por um fio: história dos quilombos no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p. 373-406. 8 REIS, João José. Slave rebellion in Brazil: the Muslim uprising of 1835 in Bahia. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993; DIOUF, Sylviane. Servants of Allah: African Muslims enslaved in the Americas. Nova York: New York University Press, 1998; GOMEZ, Michael. Muslims in early America. The Journal of Southern History, v. 60, n. 4, p. 671-710, 1994; GOMEZ, Michael. Black crescent, op. cit. p. 91-127. Ambos, 7 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 27 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy presentes na Bahia na década de 1830, interpretação compartilhada por Reis.9 Da mesma forma, estudando Cuba, Manuel Barcia chamou a atenção para a presença de muçulmanos e destacou o papel dos jihad nos processos de captura e escravização.10 Henry B. Lovejoy demonstrou que os chamados “lucumis”, muitas vezes sinônimo de iorubá em Cuba da mesma forma como o termo “nagô” era empregado no Brasil, estavam intimamente associados com o movimento do jihad.11 H. B. Lovejoy indica que o número de muçulmanos em Cuba foi realmente muito pequeno em comparação com as pessoas que vieram de Oyó e suas dependências, indivíduos esses que não eram muçulmanos. O perfil em Cuba parece ser contrário à demografia da Bahia, onde os muçulmanos estavam concentrados em maior número.12 Enquanto Barcia destacou a presença de muçulmanos em Cuba, ele não reconheceu que o seu número era realmente muito pequeno.13 A implicação, explorada por H. B. Lovejoy, parece indicar decisões conscientes de comerciantes na África com o objetivo de dividir os muçulmanos escravizados e os não muçulmanos em direção a diferentes destinos nas Américas. Ao que parece, os muçulmanos foram enviados esmagadoramente para a Bahia, enquanto Roger Bastide (As religiões africanas no Brasil. Contribuição a uma sociologia das interpretações de civilizações. São Paulo: Livraria Pioneira, 1989. p. 106) e Pierre Verger sugerem que os eventos na Bahia foram uma extensão do jihad. Ver: VERGER, Pierre. Flux et reflux de la traite des nègres entre le Golfe de Bénin et Bahia de Todos os Santos du dix-septième au dix-neuvième siècle. Paris: Mouton, 1968; VERGER, Pierre. Trade relations between the Bight of Benin and Bahia, 17th-19th century. Ibadan: University of Ibadan Press, 1976; VERGER, Pierre. Fluxo e refluxo do tráfico de escravos entre o Golfo do Benin e a Bahia de Todos os Santos, dos séculos XVII a XIX. São Paulo: Corrupio, 1987. Ver também BRAZIL, Etienne Ignace. Os malês. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, v. 72, p. 69-126, 1909. 9 DIOUF, Sylviane. Servants of Allah, op. cit. p. 158-159. 10 BARCIA, Manuel. West African Islam in colonial Cuba. Slavery and Abolition, v. 35, n. 1, p. 1-14, 2014; e BARCIA, Manuel. An Islamic Atlantic revolution: Dan Fodio’s Jihad and slave rebellion in Bahia and Cuba, 1804-1844. Journal of African Diaspora, Archaeology, and Heritage, v. 2, n. 1, p. 6-18, 2013. 11 Para uma discussão acerca da terminologia, ver: LAW, Robin. Ethnicity and the slave trade: “Lucumi” and “Nago” as ethnonyms in West Africa. History in Africa, v. 24, p. 205-219, 1997; e LOVEJOY, Paul E. The Yoruba factor in the trans-Atlantic slave trade. In: FALOLA, Toyin; CHILDS, Matt D. (Ed.). The Yoruba diaspora in the Atlantic World. Bloomington: Indiana University Press, 2004. p. 40-55. 12 LOVEJOY, Henry B. Old Oyo influences on the transformation of Lucumí identity in colonial Cuba. Tese (Ph.D.) — Univerisdade da Califórnia em Los Angeles, Los Angeles, 2012. Ver também: LOVEJOY, Henry B. Drums of Ṣàngó: Bàtá drums and the symbolic reestablishment of Ọyọ in colonial Cuba, c. 1817-1867. In: TISHKEN, Joel; FALOLA, Toyin; AKINYEMI, Akintunde (Ed.). Ṣàngó in Africa and the African diaspora. Bloomington: Indiana University Press, 2009. p. 284-308; LOVEJOY, Henry B. The transculturation of Yoruba annual festivals: the Día de Reyes in Colonial Cuba in the nineteenth century. In: INNES, Christopher; RUTHERFORD, Annabel; BOGAR, Brigitte (Ed.). Carnival — theory and practice. Trenton, NJ: Africa World Press, 2013. p. 33-50. Ver ainda LOVEJOY, Henry B. Re-drawing historical maps of the Bight of Benin hinterland, c. 1780. Canadian Journal of African Historical Studies, v. 47, n. 3, 2013; e “Historical maps” no website Desk of H. B. Lovejoy: <http://hlovejoy.wordpress.com/>. 13 R. R. Madden, que esteve em Cuba entre 1834 e 1839, não faz referência a muçulmanos. Madden era um observador cuidadoso e experiente e claramente não encontrou nenhum muçulmano em Cuba. Madden falava árabe, viajou pelo Egito e pela África Ocidental e tinha amigos muçulmanos na Jamaica quando ele lá esteve em 1833-1834, antes de sua designação para Cuba. Ver MADDEN, R. R. The island of Cuba: its resources, progress, and prospects, considered in relation especially to the influence of its prosperity on the interests of the British West India colonies. Londres: C. Gilpin, 1849. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 28 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy os iorubás de Oyó, não islamizados, eram enviados a Cuba. H. B. Lovejoy afirma que houve uma tentativa consciente de reconstituir os elementos do Estado de Oyó, incluindo a promoção de Xangô e a identificação deste com Santa Bárbara, dentro de grandes comunidades rurais e urbanas em Cuba dominadas pelos iorubás de Oyó. A comparação de H. B. Lovejoy entre Cuba e Bahia no âmbito da história do Atlântico Negro mostra diferentes formas de mobilização política e religiosa na resistência escrava. Meu objetivo, portanto, é ampliar a discussão sobre a “era das revoluções” para além da identificação de Hobsbawm de uma dupla transformação industrial e política e do reconhecimento de Genovese do levante de São Domingos como ponto de virada da rebelião à revolução, para indagar como a África se ajusta a esses paradigmas. A consolidação de um campo de investigação que incide sobre o Atlântico negligenciou questões de como as regiões da África contribuíram para a formação e o desenvolvimento do Atlântico Negro. Embora reconheçamos o desenvolvimento das “nações” de base étnica nas Américas e façamos a distinção entre as populações nascidas na África e sociedades de crioulos/mulatos/mestiços que surgiram no Brasil, Caribe, América hispânica continental e América do Norte, há ainda uma negligência acerca de como os processos de mudança desencadeados pela expansão da escravidão nas Américas alteraram ou influenciaram o curso da história da África. Meu diálogo vai além de Hobsbawm e Genovese para incluir estudiosos do mundo atlântico. Minha intenção é discutir as contribuições de Paul Gilroy, Ira Berlin, Gwendolyn Midlo Hall, Jane Landers e outros para compreender como o surgimento de um “Atlântico Negro” foi moldado por influências do interior africano.14 Da mesma forma, uma perspectiva transnacional e global sugere modificações das abordagens de Bernard Bailyn e David Brion Davis para examinar o controle europeu do mundo atlântico.15 Embora os estudiosos da história atlântica reconheçam que o número esmagador de pessoas que atravessou o atlântico antes de meados do século XIX veio da África e não da Europa, mais atenção deve ser dada ao fato de esta preponderância demográfica africana ter tido impacto significativo, especialmente em aspectos relacionados a resistência escrava, formação de comunidades e interações comerciais. Novas pesquisas devem questionar por que partes da África, pelo menos áreas muçulmanas, foram capazes de manter certo grau de autonomia diante do Atlântico Negro. GILROY, Paul. The Black Atlantic: modernity and double consciousness. Cambridge: Harvard University Press, 1993; BERLIN, Ira. From Creole to African: Atlantic Creoles and the origins of African-American society in Mainland North America. William & Mary Quarterly, v. 53, n. 2, 1996; HALL, Gwendolyn Midlo. Slavery and African ethnicities in the Americas: restoring the links. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2005; LANDERS, Jane G. Atlantic Creoles in the age of revolutions. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010. 15 BAILYN, Bernard. Atlantic history: concept and contours. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2005; GREEN, Jack P.; MORGAN, Philip D. Atlantic history: a critical appraisal. Nova York: Oxford University Press, 2008. 14 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 29 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy Jihad e revolução na África Ocidental Os antecedentes do jihad na África Ocidental e o estabelecimento do Estado declaradamente muçulmano de Fuuta Bundu, perto dos campos de ouro de Bouré, no vale superior do rio Senegal, datam do final do século XVII. Posteriormente, rio abaixo, outro jihad resultou no estabelecimento de um segundo Estado muçulmano, que ficou conhecido como Fuuta Toro. Mais influente foi o estabelecimento de Fuuta Jallon, novamente através de jihad, e com a mesma conexão com os pastores fulbes, que também formavam a base dos jihad tanto em Fuuta Bundu e Fuuta Toro, conforme indicado no prefixo “Fuuta”. Por volta de 1780, o Sudão Ocidental foi dominado pelos estados Fuuta muçulmanos, lançando as bases para a propagação do jihad ao lado do Sudão Central e em outras partes do oeste posteriormente a 1800, especialmente com a fundação do Califado de Sokoto após 1804. Esse movimento do jihad era revolucionário, levando ao colapso estados estabelecidos e redesenhando o mapa político da África Ocidental. Como tal, foi uma resposta às injustiças e aos problemas do ancien régime dos senhores da guerra na África Ocidental e do comércio de escravos do mundo atlântico. A sobreposição na cronologia com a “era das revoluções” europeia requer uma reconsideração da natureza mutável da resistência escrava nas Américas como uma resposta aos desafios do ancien régime na Europa e à transformação das estruturas coloniais das Américas.16 Por exemplo, ver os seguintes estudos: USMAN, Yusuf Bala (Ed.). Studies in the history of the Sokoto Caliphate. The Sokoto seminar papers. Lagos: Third Press International, 1979; BOBBOYI, H.; YAKUBU, A. M. (Ed.). The Sokoto Caliphate: history and legacies, 1804-2004. Kaduna: Arewa House, 2006. 2 v.; KANI, Ahmed M.; GANDI, K. A. (Ed.). State and society in the Sokoto Caliphate: essays in honour of sultan Ibrahim Dasuki. Sokoto: Usmanu Danfodiyo University, 1990; CHAFE, Kabiru S. The State and economy in the Sokoto Caliphate: policies and practices in the metropolitan districts, c. 1804-1903. Zaria: Ahmadu Bello University Press, 1999; MOUMOUNI, Seyni. Vie et oeuvre du cheik Uthmân Dan Fodio (1754-1817). De l’Islam au soufisme. Paris: L’Harmattan, 2008; BALOGUN, I. A. B. The life and works of ‘Usman Dan Fodio. Lagos: Islamic Publications Bureau, 1975. Também ver o importante trabalho de Uthman Dan Fodio em BIVAR, A. D. H. The Wathiqat ahl al-Sudan: a manifest of the Fulani jihad. Journal of African History, v. 2, n. 2, 1967. O jihad também tinha como alvo a prática do bori, resultando na deportação de muitos praticantes; ver MONTANA, Ismael Musah. The trans-Saharan slave trade of Ottoman Tunisia, 1574 to 1782. The Maghreb Review, v. 33, n. 2, p. 132-150, 2008; MONTANA, Ismael Musah. The ordeal of slave flights in Tunis. In: BELLAGAMBA, Alice; GREENE, Sandra; BROWN, Carolyn; KLEIN, Martin (Ed.). African slavery/ African voices. Nova York: Cambridge University Press, 2013; MONTANA, Ismael Musah. The Stambali of Tunis: its origins and transculturation from a secret-possession cult to ethno-religious and national culture in Husaynid Tunisia. In: TOLEDANO, Ehud R. (Ed.). African communities in Asia and the Mediterranean: identities between integration and conflict. Trenton, NJ: Africa World Press, 2011; MONTANA, Ismael Musah. Bori colonies in Tunis. In: MIRZAI, Behnaz; MONTANA, Ismael M.; LOVEJOY, Paul E. (Ed.). Slavery, Islam and diaspora. Trenton, NJ: Africa World Press, 2009; e MONTANA, Ismael Musah. Ahmad Ibn al-Qadi al-Timbuktawi on the Bori ceremonies of Sudan-Tunis. In: LOVEJOY, Paul E. (Ed.). Slavery on the frontiers of Islam. Princeton, NJ: Marcus Weiner Publishers, 2004. p. 173-198. 16 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 30 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy Figura 1 Interior da enseada de Benin (c. 1785) Fonte: LOVEJOY, Henry B. African diaspora maps Ltd. Disponível em: <www.africandiasporamaps.com>. A origem do jihad na África Ocidental pode ser traçada a partir do colapso do império muçulmano de Songhai, em 1591-1592, e o período subsequente caraterizado pela decadência política e a consolidação de uma diáspora comercial e de centros de aprendizagem islâmica. A ideia de jihad e de mudanças políticas revolucionárias foi associada com a irmandade Qadiriyya, às famílias de clérigos kuntas, bem como com os fulbes, suas elites acadêmicas e religiosas. Estas haviam se espalhado por toda a savana e o Sahel da África Ocidental devido à migração de transumância, uma vez que eram pastores de gado. A liderança intelectual muçulmana era aliada aos chefes de clãs que detinham e geriam os rebanhos de gado que atravessavam a África Ocidental. Etnicamente relacionados, conhecidos como peul, ful, fulbe, fula, fulani, dependendo de sua localização na África Ocidental, esses grupos falam uma língua comum, o fula, além da elite intelectual também dominar o árabe graças aos estudos dos textos clássicos do Islã. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 31 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy As consequências dos jihad são de conhecimento dos especialistas em história da África Ocidental, embora sua relevância para o mundo atlântico requeira um exame mais aprofundado. Como Murray Last observou, o jihad transformou a história da África Ocidental. O movimento de reforma islâmica na África Ocidental deu origem ao maior Estado unitário africano no século XIX [ou seja, o Califado de Sokoto]. [O movimento] inspirou uma produção literária de grande quantidade e com maior aprendizagem do que qualquer outro movimento já visto ao sul do Saara. Ele [o movimento] estabeleceu as condições para a geração de uma das economias indígenas mais produtivas na África Ocidental no final do século XIX. Na verdade, o movimento é tão central para a história da África Ocidental como é, por exemplo, a Revolução Francesa para a Europa.17 Como Last sugeriu, o tempo e a direção do pensamento reformista da África Ocidental correram em paralelo com o crescimento do radicalismo no mundo muçulmano, e no mundo cristão o período de 1775-1850 testemunhou revoltas e novas ideias no Império Otomano, na Europa e nas Américas. Segundo o autor, não há necessidade de “examinar as causas dessas mudanças e as maneiras pelas quais elas podem ter afetado a África Ocidental”.18 Neste artigo, discuto como os acontecimentos da África Ocidental moldaram ou não os eventos na Europa e nas Américas. Definitivamente, a África deve ser incorporada nas interpretações sobre o mundo atlântico durante a “era das revoluções”. Assim como a Revolução Francesa, como Last sugeriu, o jihad em Sokoto teve repercussões no território que vai da Senegâmbia até o rio Nilo e o Mar Vermelho. A liderança de Sokoto forneceu inspiração intelectual e treinamento tático para os futuros jihadistas vinculados ao Estado de Sokoto. Umar al-Tall, originalmente de Fuuta Toro, estabeleceu-se em Sokoto depois de ter realizado a peregrinação a Meca e assumido o papel de líder espiritual e político dos membros da irmandade Tijaniyya. Casou-se com a filha de Muhammad Bello e tinha pretensões à liderança suprema do Califado de Sokoto. Contudo, quando ele não foi selecionado após a morte de Bello, em 1837, abandonou Sokoto, regressando ao Sudão ocidental e dando início a um jihad sob a bandeira da Tijaniyya.19 A importância de Umar demonstra ainda que o triunvirato de Sokoto era parte de uma forte tradição de erudição influenciada pelos filósofos, cientistas políticos e intelectuais muçulmanos. O movimento mahdista também deve sua inspiração e muitos de seus primeiros adeptos ao Califado de LAST, Murray. Reform in West Africa: the jihad movements of the nineteenth century. In: AJAYI, J. F. Ade; CROWDER, Michael (Ed.). History of West Africa. 3. ed. Londres: Longman, 1987. v. 2, p. 1. 18 Ibid. 19 JAH, Omar. The effect of pilgrimage on the jihad of Al-Hajj ‘Umar al-Futi 1794-1864. In: HASAN, Yusuf Fadl; DOORNBOS, Paul (Ed.). The central Bilad al Sudan: tradition and adaptation. Khartoum, 1977. p. 239. Também ver JAH, Omar. Al-Haj ‘Umar’s philosophy of jihad and its sufi basis. Tese (Ph.D.) — McGill University, Montreal, 1974. 17 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 32 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy Sokoto, de onde vários adeptos haviam migrado em direção ao leste, na expectativa de encontrar com o Mahdi e testemunhar o fim do mundo e seu renascimento. Na verdade, Dan Fodio negou que ele fosse o Mahdi, apesar da crença de muitos, pois esperavam que o Mahdi aparecesse no início do século XIII da hijra, ou seja, no ano de 1884, ano em que Muhammad Ahmad se autoproclamou o Mahdi e estabeleceu Omdurman, na margem oposta do rio Nilo, instituindo a cidade de Cartum como sua capital. Figura 2: Califado Sokoto e estados vizinhos (c. 1850) Fonte: LOVEJOY, Henry B. African diaspora maps Ltd. Disponível em: <www.africandiasporamaps.com>. Tal como aconteceu durante a “era das revoluções” no mundo Atlântico e na Europa, na África Ocidental também houve antecedentes aos acontecimentos que vieram a ser concretizados no século XIX. Antes de se tornar o imã, o líder do jihad de Sokoto, Uthman Dan Fodio havia sido discípulo de Jibril ibn Umar, que na década de 1790 tinha defendido o jihad seguindo o modelo do extremo oeste do Sudão, de onde muitos defensores do jihad no Sudão Central eram originários. Uthman Dan Fodio promoveu o jihad após 1804 e, com o apoio do seu irmão Abdullahi e de seu filho Muhammad Bello, tornou-se líder de um movimento revolucionário que atingiu os governos do Sudão Ocidental, da margem superior do rio Níger até o Lago Chade e o vale do Nilo. Jibril ibn Umar tinha sido um defensor Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 33 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy do jihad contra os estados hausas e os clãs nômades dos tuaregues. No contexto da África Ocidental, seus nomes são tão familiares para os estudiosos como os nomes de Karl Marx, Vladimir Lênin e León Trotsky são para a historiografia marxista, ou ainda os nomes de Eric Hobsbawm e Eugene Genovese para os estudos da era das revoluções e da resistência escrava. Juntos, o triunvirato de Sokoto escreveu mais de mil livros, panfletos e folhetos que incluíam poesia, textos jurídicos, exortações e manuais de governança, em sua maioria escritos em árabe, mas incluindo alguns textos ajami, ou seja, em línguas hausa e fula com grafia árabe.20 Essa rica produção intelectual foi uma revolução, merecendo ser comparada com a explosão literária do iluminismo. Como o mercado de livros do Sahel demonstra, estudiosos no oeste do Sudão liam e ainda leem obras do triunvirato de Sokoto, assim como a família Dan Fodio lia textos argelinos e do Songhai.21 O nível e a profundidade teórica com que esse movimento buscava inspiração em textos islâmicos estão bem documentados e já foram submetidos à análise considerável, como refletido nas referências bibliográficas em árabe que foram compiladas por John Hunwick e seus colaboradores, com um vasto número de documentos em árabe assim como em outros idiomas utilizando os caracteres árabes (ajami). A maior prova dessa vasta coleção de documentos é a existência de várias bibliotecas em Timbuktu, que sobreviveram às ações revolucionárias de muçulmanos radicais no norte do Mali em 2012. O comércio de livros no Saara e no Sahel indica claramente o caráter intelectual do movimento jihadista, que, entre outros aspectos, envolvia um debate escrito assim De fato deve ser condiderada uma liderança de quatro, incluindo a única filha de Uthman Dan Fodio, Nana Asma’u (1793-1864), que escreveu extensivamente. Nana foi casada com Gidado Junaidu al-Bukhari, que tinha o título de Waziri, subordinado a Shehu. Conjuntamente com Muhammad Bello e ‘Abdullahi, formavam a câmara interna da liderança governativa e militar, planejando a consolidação do Estado islâmico e a perpetuação do estado permanente do jihad, que foi dirigido por cerca de 33 emirados e numerosos subemirados que constituíam o Califado. Gidaldo também escreveu extensivamente e sua biblioteca forneceu a documentação para estudo inicial do Califado de Sokoto realizado por LAST, Murray. The Sokoto Caliphate. Londres: Humanities Press, 1967. Ver ainda MACK, Beverly B.; BOYD, Jean. One woman’s jihad: Nana Asma’u, scholar and scribe. Bloomington, IN: Indiana University Press, 2000; BOYD, Jean. Collected works of Nana Asma’u. Daughter of Usman ‘dan Fodiyo (1793-1864). East Lansing, MI: Michigan State University Press, 2012; LAST, Murray. Reform movements in West Africa: the jihad movements of the nineteenth century. In: AJAYI, J. F. Ade; CROWDER, Michael (Ed.). History of West Africa. 3. ed. Londres: Longman, 1987. v. 2, p. 1-46; LAST, Murray. The Sokoto Caliphate and Borno. In: AJAYI, J. F. Ade. Unesco general history of Africa. v. 6, p. 555-599. Ver também BATRAN, A. The nineteenth-century Islamic revolutions in West Africa. In: AJAYI, J. F. Ade. Unesco general history of Africa. v. 6, p. 537-554; e HISKETT, Mervyn. The nineteenth-century jihads in West Africa. In: FAGE, J. D.; OLIVER, Roland (Ed.). The Cambridge history of Africa. Cambridge: Cambridge University Press, 1976. v. 5; ABUBAKAR, Sa’ad. The established caliphate: Sokoto, the emirates and their neighbors. In: IKIME, Obaro (Ed.). Groundwork of Nigerian history. Ibadan: Heinemann, 1980. p. 305-326; ABUBAKAR, Sa’ad. Borno in the nineteenth century. In: IKIME, Obaro (Ed.). Groundwork of Nigerian history. Ibadan: Heinemann, 1980. p. 327-346; ROBINSON, David. Revolutions in the Western Sudan. In: LEVTZION, Nehemia; POUWELS, Randall L. (Ed.). The history of Islam in West Africa. Athens, OH: Ohio University Press, 2000. p. 131-168. 21 KRATLI, Graziano; LYDON, Gyslaine (Ed.). The trans-Saharan book trade: Arabic literacy, manuscript culture, and intellectual history in Islamic Africa. Leiden: Brill, 2011; e REESE, Scott (Ed.). The transmission of learning in Islamic Africa. Leiden: Brill, 2004. 20 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 34 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy como na “era da revoluções” da Europa e das Américas. Os paralelos e contrastes entre os movimentos são muitos e já é tempo de incorporar o jihad como parte das “revoluções” que abalaram o mundo no último quartel do século XVIII e meados do século XIX. Talvez não seja estranho que Hobsbawm e Genovese tenham ignorado acontecimentos de grande importância na África Ocidental. No entanto, não deveria ser assim, pois os intelectuais na década de 1960 estavam cientes desses acontecimentos e as transformações que surgiram poderiam facilmente ter sido incorporadas em interpretações mais amplas.22 O estabelecimento de uma federação islâmica no começo do século XIX, que se estendia do moderno Burkina Fasso até a República Centro-Africana, era em si revolucionário. O Califado consistia de 33 emirados com duplas capitais em Sokoto e Gwandu e com a adição de mais de vinte subemirados sob a liderança de Adamawa, também conhecido como Fombina, cuja capital estava em Yola, no rio Benue. Assim, o Califado se tornou o maior Estado da África desde o colapso de Songhai em 1591-1592. O modelo de governo islâmico foi inicialmente inspirado na irmandade sufi ou tariqa, chamada Qadiriyya. Em meados do século XIX, a inspiração veio da Tijaniyya, e no final do mesmo século, da irmandade da Mahdiyya. Esse modelo de estado e de revolução contrasta nitidamente com o republicanismo que caracterizou a “era das revoluções” estudada por Hobsbawm e outros. O surgimento do Califado de Sokoto A centralidade de Sokoto no movimento do jihad é indiscutível. No processo de criação de um Estado islâmico, todos os governos hausas foram derrubados, o império de Oyó entrou em colapso e Borno perdeu metade de seu território. Como é evidente a partir de mapas da África Ocidental datados de 1780 e 1850, a transformação foi verdadeiramente revolucionária (figura 1 e figura 2). O jihad foi baseado na fidelidade à etnia fulbe conhecida em haussa como fulani e, portanto, estendeu o seu apelo aos estados Fuuta no oeste do Sudão. O clã do Shehu era sulleibawa, associado a uma tradição intelectual, estilo de vida sedentário e ambiente multilinguístico. Os Dan Fodio, por exemplo, falavam hausa, fula, árabe e, provavelmente, kanuri e tamachek, embora aparentemente não falassem o iorubá. Mesmo em lugares tão distantes como o centro do vale do rio Níger havia uma identificação inicial com Sokoto, principalmente após a fundação de Hamdullahi, localizado ao sul de Timbuktu, na região de Macina. Ahmad Muhammad Lobbo al-Masini iniciou uma jihad na região do Níger em 1816 e se aliou a Uthman Dan Fodio, aliança à qual ele renunciou Tão cedo quanto HODGKIN, Thomas (Ed.). Nigerian perspectives: an historical anthology. Londres: Oxford University Press, 1960; e especialmente SMITH, H. F. C. [Abdullahi]. A neglected theme of West African history: the Islamic revolutions of the 19th century. Journal of the Historical Society of Nigeria, v. 2, n. 2, 1961. Posteriormente, houve uma expansão do conhecimento acerca do jihad e sua liderança, que em parte aparece nas notas deste trabalho. 22 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 35 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy com a morte de Uthman em 1817. Posteriormente, Hamdullahi passou a ser um Estado jihadista independente até quando foi derrubado por al-Hajj ‘Umar. Tivesse Hamdullahi permanecido parte de Sokoto, o Califado teria se estendido de Bamako ao lago Chade, ou mesmo a uma área maior, visto que Sokoto reivindicou a costa da baía de Benin. Ainda assim, as conquistas militares subsequentes dos estados Bambara de Segu e Kaarta empreendidas por al-Hajj ‘Umar só foram possíveis com o auxílio de tropas recrutadas no Califado de Sokoto e em outros Estados jihadistas. A conquista de Hamdullahi resultou na criação do Califado de Tijaniyya. A resistência à ocupação francesa liderada por Samori Ture em 1879 e a revolta Mahadista no Sudão nilótico em 1884 devem ser interpretadas como reflexos que, de certa forma, se estendem aos tempos contemporâneos com o movimento jihadista do Boco Haram no norte da Nigéria. O movimento do jihad fornece o contexto para analisar como a mudança política na África Ocidental refletiu no mundo atlântico. Acusações de que as autoridades políticas estavam envolvidas no que foi considerado escravização ilegal eram uma das reivindicações de legitimação para a necessidade do jihad. As queixas chegaram a um ápice em 1804, quando o governo de Gobir ordenou a apreensão de seguidores de ‘Abd al-Salam, um dos discípulos mais fervorosos do Uthman Dan Fodio, desafiando diretamente a liberdade dos seguidores de Uthman. Alegou-se que muitos dos que foram apreendidos eram escravos fugidos dos seus proprietários. Porém, a partir da perspectiva dos jihadistas, os seguidores de al-Salam eram muçulmanos, portanto livres, embora seja impossível verificar o status e origem de cada indivíduo. A linha tênue entre as reivindicações de liberdade com base na adesão ao Islã e os livres por nascimento foi interpretada em benefício do requerente; ou seja, era da responsabilidade de senhores de escravos apresentar provas de que seus escravos não eram muçulmanos. Como a literatura acadêmica sobre o movimento do jihad deixa claro, a escravidão era um fator constante em discussões sobre religião e ideologia, e que permeou os padrões de resistência e de reformas políticas. Quando o jihad foi declarado em 1804, Uthman Dan Fodio certamente não estava ciente de eventos específicos no Caribe e provavelmente desconhecia que o Haiti havia se tornado um Estado independente naquele mesmo ano. No entanto, houve grande preocupação no interior da liderança política e intelectual muçulmana com o fato de que muçulmanos escravizados estavam sendo vendidos aos europeus através de Oyó. Devido ao comércio francês em Porto Novo, alguns desses muçulmanos escravizados podem ter sido enviados a São Domingos. A escravização de muçulmanos livres e sua venda aos cristãos envolvidos no comércio atlântico foram de particular interesse para Muhammad Bello. Bello condenou a venda de escravos para Oyó, claramente articulado em seu manifesto Infaq al-Maysur, concluído em 1812.23 A preocupação com a escravização ilegal de muçulmanos foi claramente expressa BELLO, Muhammad. Infāq al-Maysūr fī tārīkh bilād at-Takrūr [1812]. Edição de Bahija Chadli. Rabat: Institute of African Studies, 1996. p. 69-72, conforme tradução de Yacine Daddi Addoun. Também ver 23 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 36 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy no debate entre Muhammad Bello e Shehu Muhammad al-Kanemi de Borno, como apresentado na Infaq al-Maysur, e continuou em uma correspondência contínua entre os dois governantes por mais uma década, resultando em guerra entre os estados de Sokoto e Borno em 1826-1827. O debate sobre o aspecto legal da escravização de muçulmanos não se estendeu para um debate sobre a natureza da instituição da escravização em si. As questões que Bello e al-Kanemi abordaram estavam relacionadas com a lei islâmica e a regulamentação da instituição da escravidão. Muito diferente das questões por trás da resistência à escravidão nas Américas que contestavam a instituição escravista, a preocupação no Califado de Sokoto estava voltada para a natureza do Estado muçulmano e o papel do mesmo na proteção de muçulmanos livres. O jihad rapidamente derrubou os principais governantes hausas de Gobir, Kebbi, Kano, Katsina, Zaria e, por volta de 1808, se espalhou em direção ao leste para Borno e em 1810 para o sul, em direção a Nupe. A partir do Sudão Central, o movimento jihadista se expandiu em ondas e, após 1817, para o sul em Oyó e na Iorubalândia, ganhando força com a formação do emirado de Ilorin no Califado de Sokoto em 1823.24 A questão do escravo/status livre preocupou o jihad uma vez que a campanha foi estendida para Borno após 1808, Nupe em 1810 e Oyó depois da revolta em Ilorin em 1817, que levou ao colapso de Oyó entre 1823 e 1836 e o crescimento da diáspora iorubá no Brasil, Cuba e Serra Leoa. BELLO, Muhammad. Infaq al-Maisur [1812]. In: ARNETT, E. J. The rise of the Sokoto Fulani. Kano, 1929. Também ver QUADRI, Y. A. An appraisal of Muhammad Bello’s Infaqul-maysur ft tarikhi bilad t-Takrur. Journal of Arabic and Religious Studies, n. 3, p. 53-62, 1986. 24 Acerca de Borno, ver ALKALI, Muhammad N. El-Kanemi’s Response to the Extension of Shaykh cUthman Dan Fodio’s Jihad Against Borno. In: BOBBOYI, H.; YAKUBU, A. M. (Ed.). The Sokoto Caliphate, op. cit. v. 1, p. 231-239; e BRENNER, Louis. The Jihad debate between Sokoto and Borno: an historical analysis of Islamic political discourse in Nigeria. In: AJAYI, J. F. Ade; PEEL, J. D. Y. (Ed.). People and empires in African history: essays in memory of Michael Crowder. Londres: Longman, 1992. p. 21-43; BRENNER, Louis. The Shehus of Kukawa: a history of the Al-Kanemi dynasty of Bornu. Oxford: Clarendon Press, 1973. Para informações sobre Nupe, ver KOLAPO, Femi James. Military turbulence, population displacement and commerce on a slaving frontier of the Sokoto Caliphate: Nupe c. 1810-1857. Tese (Ph.D.) — York University, Toronto, 1999; KOLAPO, Femi James. Ethnicity and identity at the Niger-Benue during the 19th-century Nupe jihad. In: OJO, Olatunji; HUNT, Nadine (Ed.). Slavery in Africa and the Caribbean: a history of enslavement and identity since the 18th century. Nova York: I. B. Tauris, 2012. p. 9-37; KOLAPO, Femi James. Niger river trade and the interregnum at Aboh, 1844-1862. In: BROWN, Caroline A.; LOVEJOY, Paul E. (Ed.). Repercussions of the Atlantic slave trade: the interior of the Bight of Biafra and the African diaspora. Trenton, NJ: Africa World Press, 2011. p. 205-220; KOLAPO, Femi James. The dynamics of early 19th century Nupe wars. Scientia Militaria. South Africa African Journal of Military Studies, v. 31, n. 2, p. 1-35, 2003; MASON, Michael. The Nupe Kingdom in the nineteenth century: a political history. Tese (Ph.D.) — University of Birmingham, Birmingham, 1970; MASON, Michael. The foundations of the Bida Kingdom. Zaria: Ahmadu Bello University Press, 1979. MASON, Michael. The Jihad in the South: an outline of nineteenth century Nupe hegemony in North-eastern Yorubaland and Afenmai. Journal of the Historical Society of Nigeria, v. 5, n. 2, 1970; MASON, Michael. Population and “slave raiding” — the case of the middle belt of Nigeria. Journal of African History, v. 10, n. 4, p. 551-564, 1969; MOHAMMED, A. R. The Sokoto jihad and its impact on the confluence area and Afenmai. In: USMAN, Y. B. (Ed.). Studies in the history of the Sokoto Caliphate, op. cit.; e OBAYEMI, Ade. The Sokoto jihad and the O-kun Yoruba: a review. Journal of the Historical Society of Nigeria, v. 9, n. 2, p. 61-87, 1978. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 37 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy A morte de Uthman Dan Fodio em 1817 desencadeou tensões dentro do movimento do jihad relacionado à etnia, interpretações da tradição jurídica e questões de confiança na liderança, desencadeando uma crise de sucessão que foi resolvida mediante o estabelecimento de um Califado sob a liderança dual do irmão de Uthman, Abdullahi, centrado em Gwandu, e seu filho, Muhammad Bello, centrado em Sokoto. A decisão da liderança do emirado de Hamdullahi de distanciar-se politicamente de Gwandu e de Sokoto reflete a insatisfação com esse compromisso político. A revolta e execução de Abd es-Salaam em Zamfara ia de encontro à percepção pública de que o jihad era especificamente um movimento muçulmano não associado à etnia, pois a execução de Abd es-Salaam foi vista como motivada pela sua etnia hausa, enquanto o restante da liderança dos principais emirados e do próprio Sokoto era etnicamente fulbe ou em língua hausa fulani.25 Abd es-Salaam era originário de ZamfaA produção acadêmica acerca do Califado de Sokoto é extensiva. Além de LAST, Murray. The Sokoto Caliphate, op. cit.; LAST, Murray. Reform movements in West Africa, op. cit. p. 1-46; LAST, Murray. The Sokoto Caliphate and Borno, op. cit. v. 6, p. 555-599; e BATRAN, A. The nineteenth-century Islamic revolutions in West Africa, op. cit. v. 6, p. 537-554, ver especialmente USMAN, Y. B. ed. Studies in the history of the Sokoto Caliphate, op. cit., principalmente ABBA, Yusufu. The 1804 jihad in Hausaland as a revolution. p. 20-33; USMAN, Y. B. The transformation of political communities: some notes on a significant dimension of the Sokoto jihad. p. 34-58; LAVERS, John E. The diplomatic relations of the Sokoto Caliphate: some thoughts and a plea. p. 379-391; HAMANI, Djibo. Adar, the Toureg and Sokoto: relations of Sokoto with the Hausawa and Toureg during the nineteenth century. p. 392-407; MUHAMMAD AL-BUKHARI, Junaidu b. A contribution to the Biography of the Shaykh Usman mentioning the various places where he lived. p. 463-472; BALOGUN, I. A. B. Uthman Dan Fodio: the mujaddid of West Africa. p. 473-492. Também ver BOBBOYI, H.; YAKUBU, A. M. (Ed.). The Sokoto Caliphate, op. cit., especialmente BUGAJE, Usman M. Scholarship and revolution: the impact of a tradition of Tajdid on the Sokoto Caliphal leaders. v. 2, p. 11-21; GWANDU, Abubakar. The vision and mission of Shaykh Abdullahi Fodio. In: BOBBOYI, H.; YAKUBU, A. M. (Ed.). The Sokoto Caliphate, op. cit. v. 2, p. 23-39; ABU-MANGA, Al-Amin. The role of the “pen” in the establishment and consolidation of the Sokoto Caliphate. v. 2, p. 40-52; TUKUR, Mahmud M. The teachings of the Sokoto Caliphate. v. 2, p. 53-80; ADO-KURAWA, Ibrahim. The jihad and the consolidation of Sudanic intellectual tradition. v. 2, p. 81-99; ABDULKADIR, Mohammed S. The effects of the extension of the Sokoto Caliphate on the Igala Kingdom. v. 1, p. 53-65; LAST, Murray. Innovation in the Sokoto Caliphate. v. 2, p. 328-347. Ver também KANI, Ahmed M.; GANDI, K. A. (Ed.). State and society in the Sokoto Caliphate, op. cit., incluindo BALOGUN, I. A. B. Shaikh Uthman Danfodiyo: founder of the Sokoto heritage. p. 207-222; MOHAMMED, A. R. The Sokoto jihad and its impact on the confluence area and Afenmai. p. 142-157; SULAIMAN, Ibrahim. Towards a vision of the Future: a letter from sultan Muhammad Bello to the muslim Ummah in Nigeria. v. 2, p. 396-408. Ver ainda ABBA, A. The establishment of Gombe Emirate, 1804-1882. v. 1, p. 11-30. A bibliografia é bem mais ampla; ver KANI, Ahmed M. The intellectual origin of the Sokoto Caliphate. Ibadan, 1984; BUGAJE, U. M. The tradition of Tajdid in Western Bilad al-Sudan: a study of the genesis, development and patterns of Islamic revivalism in the region, 9901900 AD. Tese (Ph.D.) — Universidade de Cartum, Cartum, 1991; ZAHRADEEN, M.S. Abdullahi Ibn Fodio’s contribution to the Fulani jihad in the 19th century hausaland. Tese (Ph.D.) — McGill University, Montreal, 1976; BELLO, O. The political thought of Muhammad Bello (1781-1837) as revealed in his Arabic writings, more especially al-Ghayth al-wabl fi sirat al-imam al-adl. Tese (Ph.D.) — University of London, Londres, 1983; omoiya, S.Y. Diplomacy as veritable instrument of war: a study of Ilorin wars of survival as an emirate. Ilorin Journal of History, v. 1. n. 2, p. 73-85, 2006; MOUMOUNI, Seyni. Vie et oeuvre du cheik Uthmân Dan Fodio, op. cit.; HUNWICK, John (Ed.). The writings of Central Sudanic Africa. Leiden: E. J. Brill, 1995; BARKINDO, B. M. (Ed.). Studies in the history of Kano. Ibadan: Heinemman, 1983; MINNA, M. T. M. Sultan Muhammad Bello and his intellectual contribution to the Sokoto Caliphate. Dissertação 25 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 38 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy ra e foi atacado por Yunfa, rei de Gobir, que iniciou a jihad em 1804. Ele era essencialmente o único clérigo não fulbe (fulani) subordinado a Utman Dan Fodio, se rebelando com sua morte em 1817. A revolta simultânea de muçulmanos dentro das forças armadas em Ilorin introduziu um novo fator, exacerbando o fato de que o jihad combinava elementos de identidade étnica e religiosa. A instabilidade política associada a questões de sucessão levou à independência de Macima, o emirado localizado mais a oeste, e o eventual estabelecimento do Califado de Hamdullahi.26 A crise de 1817 foi resolvida por meio de uma estratégia de governo dualista e da expansão do jihad sob a bandeira da irmandade da Qadiriyya com a liderança étnica dos fulani. A chegada ao poder de Alimi Saleh em Ilorin facilitou o reconhecimento desse Estado como um emirado em 1823. Alimi Saleh era um clérigo fulani de Ilorin responsável pela formação de uma coalisão muçulmana que derrubou Kakamfo Afonjá do poder. Abd es-Salaam de Zamfara, executado em 1817, não tinha conexão com o filho de Saleh, também chamado Abd es-Salaam, que era clérigo em Oyó e era de origem fulbe ou fulani, não hausa. Esse último se tornou o primeiro emir de Ilorin em 1823, quando Ilorin foi reconhecido como um emirado do Califado de Sokoto; seu pai morreu no mesmo ano. Ele era subordinado a Abdullahi Dan Fodio em Gwandu, não a Muhammad Bello em Sokoto. Foi o auxílio militar de Gwandu que o ajudou a se manter no poder em Ilorin. A tentativa de identificação de muçulmanos de acordo com sua filiação étnica é confusa. Muçulmanos de origem iorubá, hausa e kanuri estavam forjando alianças que resultariam na supremacia muçulmana no interior do Estado de Oyó, enquanto o Daomé consolidava sua independência dando início ao colapso final de Oyó e a emigração em massa de refugiados para o sul — Ibadan, Abeokuta e em outros lugares, com o objetivo de distanciarem-se do Islã.27 Quando da morte de Muhammad Bello, em 1837, Ilorin controlava com êxito o nordeste do território iorubá sob a liderança fulani, enquanto Nupe tinha sido dividido em vários emirados novamente sob a liderança fulani. Emirados adicionais foram criados no sudeste do território hausa do jihad em Bauchi, Gombe e Adamawa, que também tiveram liderança fulani. (Ph.D.) — University of London, Londres, 1982; SA’ID, Halil Ibrahim. Revolution and reaction: The Fulani jihad in Kano and its aftermath 1807-1919. Dissertação (Ph.D.) — University of Michigan, Ann Arbor, 1978; e Balogun, The life and works of ‘Usman Dan Fodio, op. cit. 26 BROWN, William O. The Caliphate of Hamdullahi, c. 1818-1864. Tese (Ph.D.) — University of Wisconsin, Madison, 1969; STEWART, Charles C. Diplomatic relations in early 19th century West Africa: Sokoto-Masina-Azaouad correspondence. In: USMAN, Yusuf Bala (Ed.). Studies in the history of the Sokoto Caliphate, op. cit. p. 408-429. 27 LAW, Robin. The Oyo-Dahomey wars, 1726-1823: a military analysis. In: FALOLA, Toyin; LAW, Robin (Ed.). Warfare and diplomacy in precolonial Nigeria. Madison, WI: African Studies Program, 1992. p. 9-25. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 39 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy O impacto do jihad resultou no completo abandono dos bairros ao redor de Katunga, capital de Oyó, devido à fuga e à expansão da escravidão. A região, anteriormente densamente povoada, foi abandonada, situação que permanece até os dias atuais. Muitas vezes referidos como guerras iorubás na historiografia, e às vezes caracterizadas como guerra civil, os conflitos que levaram à incorporação de Ilorin ao Califado de Sokoto foram mais do que um distúrbio civil. Esses conflitos foram responsáveis pelo colapso do Estado de Oyó e a subsequente guerra que provocou escravização em massa, cujas vítimas foram enviadas a Cuba, Brasil, Trinidade e Serra Leoa e passaram a fazer parte da diáspora iorubá. Assim, a presença e as ações dos iorubás na diáspora têm de ser consideradas como consequência dos jihad na África Ocidental. O envolvimento em eventos nas Américas foi mais do que uma extensão da resistência escrava associada à “era das revoluções”, como descrito por estudiosos influenciados pela tradição inaugurada por Hobsbawm e Genovese, a exemplo dos historiadores Jane Landers, Matt Childs e João Reis.28 Como podemos compreender como os africanos na diáspora pensavam sobre seu envolvimento nesses eventos se não levarmos em consideração suas experiências prévias? As complexidades inerentes à identidade étnica e aos conflitos religiosos influenciam como nós interpretamos o levante malê na Bahia, assim como a resistência iorubá em Cuba e a agitação muçulmana em Serra Leoa, particularmente na década de 1830. A revolta em Ilorin em 1817 teve um significado especial ao conectar o movimento do jihad com a “era das revoluções”. O levante em Ilorin teve início uma década após a turbulência revolucionária que resultou no estabelecimento do Califado de Sokoto, inicialmente como uma revolta de escravos muçulmanos alistados no serviço militar do Estado de Oyó. A transição desse levante inicial de escravos com um caráter militar em jihad, assim como a incorporação de Ilorin ao Califado de Sokoto em 1823 precipitaram o colapso de Oyó, o principal governo no interior do golfo de Benin. Oyó controlava uma parte extensa da Iorubalândia, que ia do litoral, incluindo Porto Novo e Badagri, o território do Daomé, e o porto de Ouidah, chegando às terras do território Mahi e regiões do Borgu. Porém seu território foi constantemente reduzido até o abandono do distrito nas proximidades da capital Katunga, em 1836. O jihad alterou o mapa político do interior da África Ocidental, não só a região da Iorubalândia, como também a região ao longo do rio Níger, na década de 1820, até a região ao redor do lago Chade. Em última análise, os jihad transformaram o interior da África Ocidental até o Sudão moderno e o vale do rio Nilo. Em termos geográficos e demográficos, o movimento do jihad associado à fraternidade Qadiriyya pode ser comparado às mudanças revolucionárias do mundo atlântico. Apesar de sua importância, esse movimento foi praticamente ignorado pelos estudiosos da “era das revoluções” e, de fato, é Ver, por exemplo: LANDERS, Jane G. Atlantic Creoles in the age of revolutions, op. cit.; CHILDS, Matt D. The 1812 aponte rebellion in Cuba and the struggle against Atlantic slavery. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 2009; REIS, João José. Slave rebellion in Brazil e a edição revista e ampliada, Rebelião escrava no Brasil. 28 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 40 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy completamente desconhecido para muitos especialistas que lidam com a resistência escrava e a escravidão e mesmo aqueles que estudam a diáspora iorubá nas Américas.29 A cronologia dos jihad coincide com os eventos da “era das revoluções”. O movimento jihadista teve início com a fundação dos Estados de Fuuta Bundu e Fuuta Toro na Senegâmbia e ganhou impulso após a consolidação dos Fuuta Jallon, c. 1780 e, posteriormente, com o jihad em Sokoto. Em Sokoto, o movimento teve início em 1804 e continuou até o colapso de Oyó em 1836 e a morte de Muhammad Bello, em 1837. A figura de al-Hajj ‘Umar e suas ações no oeste do Sudão ajudaram a estender geograficamente os jihad, agora sob a banA literatura sobre o jihad e especificamente acerca da queda de Oyó apresenta uma imagem controversa. A centralidade do jihad nos eventos das décadas de 1810, 1820 e 1830 tem sido demonstrada por especialistas de Ilorin, tais como I. O. Akinjogbin, Peter Morton-Williams, J. A. Atanda e Hakeem Danmole. Especialistas na história iorubá, tais como Jacob Ajayi, Robert Smith, Toyin Falola, Robin Law e John Peel, também reconhecem o fator islâmico. Ver AKINJOGBIN, I. A. Prelude to the Yoruba Civil Wars of the nineteenth century. Odu, v. 1, n. 2, p. 34-46, 1965; AKINJOGBIN, I. A. A chronology of Yoruba history, 1789-1840. Odu, v. 2, n. 2, p. 81-86, 1966; LAW, Robin. The chronology of Yoruba wars of the early nineteenth century: a reconstruction. Journal of the Historical Society of Nigeria, v. 5, p. 211-222, 1970; MORTON-WILLIAMS, Peter. The Fulani penetration into Nupe and Yorubaland in the nineteenth century. In: LEWIS, I. M. (Ed.). History and social anthropology. Londres, 1968. p. 1-24; GBADAMOSI, T. G. O. The growth of Islam among the Yoruba 1841-1908. Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press, 1978. cap. 1; FALOLA, Toyin. The impact of the nineteenth-century Sokoto jihad on Yorubaland. In: KANI, Ahmed M.; GANDI, K. A. (Ed.). State and society in the Sokoto Caliphate, op. cit. p. 126-141; ATANDA, J. A. The fall of the old Oyo Empire: a reconsideration of its cause. Journal of the Historical Society of Nigeria, v. 5, p. 477-490, 1971; ATANDA, J. A. The Yoruba wars and the collapse of the old Oyo Empire. In: FALOLA, Toyin (Ed.). Yoruba historiography. Madison, WI: African Studies Program, 1991. p. 105-121; DANMOLE, Hakeem Olumide Akanni. The frontier emirate: a history of Islam in Ilorin. Tese (Ph.D.) — University of Birmingham, Birmingham, 1980); DANMOLE, Hakeem Olumide Akanni. Samuel Johnson and the history of Ilorin. In: FALOLA, Toyin (Ed.). Pioneer, patriot and patriarch. Samuel Johnson and the Yoruba people. Madison: African Studies Program, 1993. p. 139-49; DANMOLE, Hakeem Olumide Akanni. Emirate of the ‘Yarba’: Ilorin in the nineteenth century. In: BOBBOYI, H.; YAKUBU, A. M. (Ed.). The Sokoto Caliphate, op. cit. v. 1, p. 31-52; O’HEAR, Ann. Samuel Johnson and the Dramatis personae of early nineteenth-century Ilorin. In: FALOLA, Toyin (Ed.). Pioneer, patriot and patriarch, op. cit. p. 151-161. Ver tambêm O’HEAR, Ann. Power relations in Nigeria: Ilorin slaves and their successors. Rochester, NY: University of Rochester Press, 1997. Ver ainda LOCKHART, Jamie Bruce; LOVEJOY, Paul E. (Ed.). Hugh Clapperton into the interior of Africa: records of the second expedition 1825-1827. Leiden: Brill, 2005. Enquanto o jihad é um fator importante no trabalho seminal de LAW, Robin. The Oyo Empire, c. 1600 — c. 1836: a West African imperialism in the era of the Atlantic slave trade. Oxford: Clarendon, 1977; ele não argumenta em favor de uma influência dominante durante esse período. Ver: LAW, Robin. The chronology of the Yoruba wars of the early nineteenth century: a reconsideration, op. cit. p. 211-222; LAW, Robin. The Owu war in Yoruba history. Journal of the Historical Society of Nigeria, v. 7, n. 1, p. 141-147, 1973; LAW, Robin. Making sense of a traditional narrative: political disintegration in the Kingdom of Oyo. Cahiers d’Études Africaines, v. 22, p. 387-401, 1982. De modo semelhante, J. D. Y. Peel defende a centralidade do Islã na construção da identidade iorubá no século XIX, mas não explora o movimento do jihad como um fenômeno decisivo naquele desenvolvimento. Ver: PEEL, J. D. Y. Religious encounter and the making of the Yoruba. Bloomington: Indiana University Press, 2000. Em contrapartida, o jihad é visto como um fator central em minha análise na coleção editada por Falola e Childs, Yoruba diaspora in the Atlantic World. Ver também FALOLA, Toyin (Ed.). Yoruba historiography, op. cit.; OBAYEMI, Ade. History, culture, Yoruba and northern factors. In: OLUSANYA, G. O. (Ed.). Studies in Yoruba history and culture. Ibadan: University of Ibadan Press, 1983. p. 72-87. 29 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 41 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy deira da irmandade da Tijaniyya, ao invés do controle da Qadiriyya que carateriza os jihad anteriores. Ou seja, o movimento do jihad e a “era das revoluções” foram contemporâneos, apesar de alguns autores ressaltarem períodos distintos. O quadro cronológico da “era das revoluções” muda de estudioso para estudioso; Hobsbawm, por exemplo, enfatizou os anos 1789-1848; Wim Klooster usa a independência dos Estados Unidos como o momento fundador das chamadas “guerras civis” no império britânico. Para David Brion Davis, a era das revoluções começa na década de 1770 e termina em 1823. Jane Landers associa a “era das revoluções” aos movimentos de resistência à escravidão que tiveram lugar a partir da segunda metade do século XVIII até meados do século XIX.30 Logo, as datas limites da “era das revoluções” dependem do foco de análise, porém os autores concordam que o período afetou a bacia do Atlântico. Os jihad se encaixam nessa cronologia, tendo se iniciado na década de 1770 e concluído em 1860. Durante essa era, praticamente todo o interior da África Ocidental, da Senegâmbia ao Lago Chade, caiu sob domínio de estados jihadistas, que eliminaram as estruturas políticas anteriores com resultados bastante significativos, apesar de diferentes, e que ajudam a expandir o conceito de mundo atlântico de modo a incluir a África Ocidental. África Ocidental islâmica e o tráfico de escravos no Atlântico As relações entre as populações muçulmanas e o mundo atlântico podem ser divididas em duas fases marcadas por rupturas nos padrões comerciais e sociais. O primeiro período cobre o século XVIII enquanto o segundo corresponde à consolidação do Califado de Sokoto, após 1804. Jihad ocorreram em ambos os períodos, mas, durante o século XVIII, sua influência esteve confinada ao território a oeste do Sudão. Durante o segundo período, a fundação de Sokoto como capital de um Estado islâmico no Sudão Central marcou uma mudança no comércio, principalmente com relação à política de deportação de escravos para as Américas. Os estágios de envolvimento no tráfico de escravos afetaram tanto os setores transatlânticos como transaarianos, reforçando simultaneamente o comércio dentro do mundo muçulmano. Apesar disso, a presença muçulmana nas Américas é reconhecida tanto no período anterior como posterior a 1804. O segundo período é caracterizado pela expansão e consolidação do jihad no interior e pela campanha britânica para abolir o comércio de escravos. A pressão naval britânica, inicialmente concentrada no comércio ao longo da costa ocidental africana, reforçou os objetivos políticos dos estados muçulmanos do interior, ou seja, limitar o envolvimento no tráfico transatlântico de escravos. Os jihad aliados KLOOSTER, Wim. Revolutions in the Atlantic world: a comparative history (Nova York: New York University Press, 2009); DAVIS, David Brion. The problem of slavery in the age of revolution, 1770-1823. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1975; LANDERS, Jane G. Atlantic Creoles in the age of revolutions, op. cit. 30 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 42 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy à abolição britânica favoreceram a expansão do comércio de escravos na região da África Centro-Ocidental, a região Congo-Angola, de maioria falante de línguas bantus. Metade de todos os africanos deportados para as Américas era originária dessa região. Principalmente após 1807, dois terços de todos os africanos deportados embarcaram nessa região, enquanto 12% embarcaram em navios no golfo do Benin, dos quais nem todos teriam sido iorubás ou muçulmanos. A origem da população escravizada na África deve ser contextualizada, assim como o destino dos escravos determinou as sociedades escravistas formadas nas Américas. Contextos específicos moldaram o movimento de africanos escravizados, apesar da influência de forças globais. Teoricamente, em termos demográficos, eu argumento que a África Ocidental poderia ter fornecido todos os escravos que foram enviados para as Américas durante a “era das revoluções”. Apesar da possibilidade, isso não aconteceu. Designações utilizadas no banco de dados Slave voyages fazem pouco sentido para a geografia política da África durante os séculos XVIII e XIX.31 No período que nos interessa, eu dividiria a África Ocidental entre áreas dominadas pelos Estados jihadistas, por um lado, e os vários estados costeiros, localizados entre a costa da Guiné até a baía de Biafra, por outro. A Senegâmbia a que se refere o banco de dados Slave voyages corresponde aos estados de Fuuta Toro, Fuuta Bundu e Kaarta. “Serra Leoa” refere-se não apenas ao rio do mesmo nome, mas também à região sob controle do Fuuta Jallon e das redes comerciais muçulmano-diulas. A Costa do Ouro refere-se ao território ocupado pelo Estado de Ashante, a região Akan e suas conexões internas com uma população predominantemente muçulmana. O termo “golfo de Benin” corresponde aos estados do Daomé, Oyó e a área iorubá, estendendo-se até o Sudão Central. Finalmente, a designação baía de Biafra refere-se ao território ocupado pelos Igbos e Ibibios e a região de savana que chega até Camarões. A principal distinção no interior da África Ocidental se dava entre as regiões muçulmanas do Sudão ocidental, onde variações do mandinga eram faladas, e partes do Sudão Central, onde o hausa era a língua franca. Essas classificações reconhecem designações regionais e internas relacionadas com a evolução política e histórica da África Ocidental e não com as “regiões” artificiais criadas pelo banco de dados Slave voyages, que correspondem mais a uma perspectiva europeia vinculada ao comércio de escravos. O que eu proponho é o uso de termos regionais relevantes para a população africana. O significado da origem das pessoas escravizadas é fator importante para o comércio de escravos, mas a análise até o momento não avalia os motivos pelos quais as regiões muçulmanas eram marginais, apesar de sua relativa importância na Bahia, na América do Norte e seu impacto limitado na Jamaica, em Trinidade e em São Domingos. Na época de formação do Califado de Sokoto, a África Centro-Ocidental já era a principal fonte de escravos ELTIS, David; BEHRENDT, Stephen; RICHARDSON, David; FLORENTINO, Manolo. Voyages: The Transatlantic Slave Trade Database (Slave voyages). Disponível em: <www.slavevoyages.org/tast/database/search.faces>. 31 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 43 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy para as Américas. A África Ocidental islâmica tinha participação restrita no mundo atlântico, apesar dos incentivos de preços no seu interior. Resistência de escravos nos portos da Senegâmbia durante o século XVIII pode ter influenciado a relutância dos capitães de navios negreiros europeus em visitar a área.32 Durante a “era das revoluções”, as regiões da África Centro-Ocidental e Oriental tornaram-se ainda mais importantes no comércio de escravos para as Américas. A África Ocidental, entretanto, perdeu importância devido às mudanças internas associadas à consolidação de governos de caráter islâmico que condenavam a venda de muçulmanos, o que acabou por efetivamente diminuir a participação da região no mundo atlântico. Quando comparada com as estimativas totais para a migração transatlântica de africanos no período 1808-1850, é evidente que a influência iorubá e muçulmana foi desproporcional em relação ao número de pessoas exportadas da região chamada “golfo do Benim”, isto é, a região que vai desde o rio Volta até o delta do rio Níger, incluindo aqui os Estados do interior, como Oyó e Alada, antes de 1727 e, posteriormente, Daomé como tributário de Oyó até 1823. O número de africanos deportados entre 1776 e 1867 demonstra a participação relativamente baixa das regiões muçulmanas no comércio de escravos, tanto no período anterior como posterior à abolição britânica em 1807. Aproximadamente 5,9 milhões de pessoas deixaram a África no período (tabela 1), dos quais 2,7 milhões foram deportados entre 1776 e 1807; após 1807, esse número aumentou para cerca de 3,2 milhões, provavelmente associado ao sucesso do jihad que levou ao colapso dos estados hausas na primeira fase do movimento em Sokoto. Os eventos da abolição britânica e do jihad em Sokoto separaram os dois períodos, apesar de em ambos os momentos o número de africanos escravizados procedentes de áreas afetadas pelo movimento do jihad ter sido relativamente pequeno. Realmente, poucos muçulmanos foram enviados para as Américas e, portanto, é importante determinar em que regiões eles estavam concentrados. RICHARDSON, David. Shipboard revolts, African authority, and the Atlantic slave trade. William and Mary Quarterly, v. 58, n. 1, p. 69-92, 2001. 32 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 44 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy Tabela 1 Partidas da África para as Américas (1771-1850) Ano Senegâmbia Serra Leoa 177684.920 94.694 1800 180191.225 89.326 1825 182617.717 84.416 1850 18510 4.795 1867 Totais 193.861 273.231 Costa a Costa Sotavento do Ouro Golfo do Benin Golfo de Biafra África África CentroOriental Ocidental Totais 73.938 285.643 261.137 336.008 822.056 822.056 2.008.670 37.322 80.895 201.054 264.834 929.999 929.999 1.876.992 6.131 5.219 209.742 230.328 989.908 989.908 1.770.979 0 0 33.867 156.779 156.779 225.609 117.392 2 371.757 705.799 831.172 2.898.741 2.898.741 5.882.250 Fonte: ELTIS, David; BEHRENDT, Stephen; RICHARDSON, David; FLORENTINO, Manolo. Voyages: The Transatlantic Slave Trade Database (Slave voyages). Disponível em: <www.slavevoyages.org/tast/database/ search.faces>. De acordo com David Eltis, 672 mil africanos identificáveis como iorubás deixaram o golfo do Benin entre 1776 e 1867. Na verdade, esta estimativa é provavelmente muito alta, uma vez que o número total de escravos saindo do golfo do Benim foi calculado em 706 mil, incluindo aqui os falantes de línguas gbes (como os fons, mahis, aladas, ewes etc.), que formaram a comunidade jeje na Bahia. Havia também muitas pessoas que se identificaram como hausas, nupes, bornos e baribas. Desses, Eltis identifica como iorubás 390 mil pessoas, (ou 55% do total) que foram enviados para o Brasil, a maioria tendo como destino final a Bahia (371 mil) (tabela 2). Outros 99 mil (ou 14% do total) foram para as ex-colônias espanholas — principalmente Cuba — e outros 42 mil (6%) tiveram como destino Serra Leoa, como parte dos navios apreendidos pela marinha britânica. Aproximadamente 57 mil pessoas (8%) foram enviadas ao Caribe britânico antes do fim do comércio de escravos em 1807, e 59 mil (8.3%) para o Caribe francês, em particular a ilha de São Domingos no período anterior à revolução na década de 1790. Após essa data, a maioria dos iorubás foi enviada esmagadoramente para Cuba e a Bahia. O número de pessoas exportadas oriundas da região iorubá e da área do jihad de Sokoto foi desproporcionalmente pequeno, apesar de sua importância no Brasil, especialmente na Bahia, assim como em Cuba e Serra Leoa. A maioria dos escravos africanos era proveniente da África Centro-Ocidental e de Moçambique, não da África Ocidental; grande parte foi transportada para o Brasil. Houve um cruzamento no movimento do comércio de escravos entre Cuba e Brasil que foi importante, de modo que os navios brasileiros e cubanos, muitas vezes sob a bandeira dos Estados Unidos e até mesmo de propriedade de norte-americanos, estavam envolvidos no comércio.33 O percentual de iorubás e muçulmanos enviados às AméVer: HORNE, Gerald. The deepest South: the United States, Brazil, and the African slave trade. Nova York: New York University Press, 2007. 33 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 45 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy Tabela 2 Partidas de iorubás do golfo do Benin (1776-1867) Sudeste do África Brasil América Caribe Caribe Caribe Anos do Norte Britânico Francês Espanhol Brasil Bahia 17761800 18011825 18261850 18511867 79.300 Totais 0 33.000 57.100 2.900 79.300 1.400 19.500 1.000 5.600 180.000 175.200 0 4.700 1.200 65.600 128.300 116.200 28.400 32.400 257.400 0 0 0 25.000 1.400 57.200 59.300 99.100 2.200 0 0 1.000 2.200 0 Totais 172.900 7.800 211.400 1.800 30.700 389.800 370.700 31.600 42.000 672.400 Fonte: ELTIS, David. The Yoruba diaspora in the Atlantic world: methodology and research. In: FALOLA, Toyin; CHILDS, Matt D. (Org.). The Yoruba diaspora in the Atlantic world, op. cit. p. 30-31. Tabela 3 Partidas da África (1776-1867) Anos Caribe América Carbe Caribe Caribe Dinamardo Norte Britânico Francês Holandês quês 177636.277 1800 180193.000 1825 1826105 1850 1851475 1867 Total 129.858 Cuba Brasil África Totais 670.655 1.967 2.008.642 39.034 1.876.992 661.330 455.797 59.294 43.501 64.373 206.310 73.261 28.654 19.597 254.869 1.130.752 12.165 26.288 0 5.858 360.113 1.236.577 111.771 1.770.979 0 0 0 0 879.805 555.346 87.948 68.956 195.989 8.812 20.332 225.609 875.344 3.046.796 173.105 5.882.222 Fonte: ELTIS, David; BEHRENDT, Stephen; RICHARDSON, David; FLORENTINO, Manolo. Voyages: The Transatlantic Slave Trade Database (Slave voyages). Disponível em: <www.slavevoyages.org/tast/database/ search.faces>. ricas foi relativamente pequeno quando comparado com outros grupos. Como pode ser visto na tabela 1, pelo menos 2.493.000 escravos, ou seja, mais de 42,4% de todos os africanos escravizados e deportados, eram oriundos da África Ocidental, incluindo aqui os embarcados na baía do Benin. Enquanto 831 mil, ou seja, 14,1% dos escravos vieram do golfo de Biafra, de onde poucos iorubás e muçulmanos partiram. As pessoas capturadas nas áreas a oeste do delta do Níger que, possivelmente, foram afetadas pelo movimento do jihad não poderiam representar mais de 28,3% do total do número de escravos exportados — e nós sabemos que uma proporção considerável desse total veio de áreas perto da costa que não foram afetadas pelo jihad. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 46 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy Daí os africanos escravizados afetados pelo jihad terem sido provavelmente 10% ou menos em relação ao número total de africanos enviados para as Américas, que varia entre 550 mil e 600 mil. Estima-se que o número de escravos enviados através do deserto do Saara pode ter chegado a 700 mil indivíduos no século XVIII e 1,2 milhão no século XIX. Isso daria uma cifra de possivelmente um milhão de pessoas para o período entre 1776-1867.34 Não há como estimar o comércio interno de escravos na África Ocidental ou ainda a transferência de escravos como tributo, mas imagina-se que ambos tenham sido substanciais, repercutindo em migração interna.35 Esses números e a provável escala do tráfico interno sugerem a existência de escravos disponíveis para o mercado, embora poucos tenham sido enviados ao litoral atlântico. Ao que parece, muçulmanos escravizados foram enviados a lugares como Ibadan, Lagos e Ashante em vez de serem vendidos para o comércio atlântico. As estimativas do tráfico de escravos devem ser comparadas com o tamanho das populações escravizadas nos estados muçulmanos da África Ocidental, principalmente os Estados jihadistas de Fuuta Jallon, Fuuta Toro, Fuuta Bundu, o Califado de Sokoto, Hambullahi, ‘Umarian Bamako e inúmeras cidades muçulmanas que estavam ao longo das rotas comerciais que ligavam essas entidades políticas a lugares como Ibadan, Lagos e Ashante. Não há estimativas exatas até o final do século XIX, com exceção daquelas deixadas pelos viajantes europeus que geralmente exageravam os números. Com as conquistas francesas, britânicas e alemãs, centenas de milhares de escravos fugiram, o que fez com que os governos coloniais tivessem de estimar o tamanho das populações escravas em seus domínios para controlar o problema.36 Apesar da limitação das fontes primárias, é possível concluir que todos os estados que passaram por jihad e todos os centros urbanos na região da savana e do Sahel continham populações escravas em número substancial, concentradas ao longo das principais rotas comerciais.37 Ou seja, havia tantos escravos na África Ocidental que todos os Para estimativas do comércio de escravos saariano, ver: LOVEJOY, Paul E. Transformations in slavery: a history of slavery in Africa. 3. ed. Cambridge, 2011. p. 62, 142. 35 Para o comércio interno de escravos africanos, ver ibid., p. 91-111, 139-164. Ver também LOFKRANTZ, Jennifer; LOVEJOY, Paul E. Crossing network boundaries: Islamic law and commerce from Sahara to Guinea shores. No prelo. 36 Para uma discussão acerca da fuga de escravos no final do século XIX e primeiros anos do século XX, ver: KLEIN, Martin A. Slavery and colonial rule in French West Africa. Cambridge: Cambridge University Press, 1998; LOVEJOY, Paul E. Transformations in slavery, op. cit. p. 272-275; e LOVEJOY, Paul E.; HOGENDORN, Jan S. Slow death for slavery: the course of abolition in northern Nigeria, 1897-1936. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. p. 31-63. 37 Para uma discussão acerca do contingente da população escrava na África Ocidental islâmica, ver: LOVEJOY, Paul E. Transformations in slavery, op. cit. p. 191-220; LOVEJOY, Paul E. Slavery, commerce and production in West Africa: slave society in the Sokoto Caliphate. Trenton, NJ: Africa World Press, 2005; LOVEJOY, Paul E. The urban background of enslaved Muslims in the Americas. Slavery and Abolition, v. 26, n. 3, p. 347-372, 2005. Veja também, por exemplo, SALAU, Mohammed Bashir. The West African slave plantation: a case study. Nova York: Palgrave Macmillan, 2011; SALAU, Mohammed Bashir. Ribats and the development of plantations in the Sokoto Caliphate: a case study of Fanisau. Africa Economic History, v. 34, p. 23-43, 2006; SALAU, Mohammed Bashir. Slavery in Kano Emirate of Sokoto Caliphate as recounted: 34 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 47 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy cativos exportados para as Américas poderiam ter sido enviados dessa região. Porém isso não aconteceu. Visto que havia disponibilidade de escravos, a questão é saber por que eles foram utilizados localmente, não sendo vendidos aos comerciantes transatlânticos. Estimativas da população para a África Ocidental no final do século XVIII e primeira metade do século XIX são naturalmente problemáticas. No entanto, o tamanho da população escrava no final do século XIX pode ser estimado a partir de relatos coloniais, especialmente em relação ao número de escravos que fugiram em direção ao território ocupado pelos franceses ou para o norte da Nigéria sob domínio britânico. O número de escravos na África Ocidental era expressivo. Para uma comparação, quando a Guerra Civil Americana irrompeu na década de 1860, havia cerca de 4 milhões de escravos nos Estados Unidos. A população escrava dos Estados Unidos era tão grande quanto a que existia no Califado de Sokoto na década de 1850. Vale lembrar que Sokoto era a região que estava no centro do movimento revolucionário que estou identificando como tendo sido ignorado, esquecido ou mal interpretado em grande parte da produção acadêmica sobre a “era de revoluções”.38 A consolidação do Islã, talvez ironicamente — considerando a importância da questão da escravidão aos olhos dos juristas na época —, favoreceu o aumento do número de africanos escravizados, muitos dos quais estavam concentrados na África Ocidental. Um número considerável foi enviado às Américas, principalmente para Bahia e Cuba, como demonstra o historiador João Reis na terceira edição ampliada de sua análise do levante dos malês de 1835. Como Reis observou, um jihad “fulani” abasteceu a Bahia de africanos escravizados adeptos do Islã. O autor destacou ainda que a Bahia recebeu grande número de escravos da Iorubalândia em consequência do colapso do império de Oyó. A influência desses africanos foi desproporcional ao seu número em várias regiões da diáspora. No Brasil, a presença muçulmana foi em maior número, seguido em importância numérica por Cuba, onde a maioria dos escravizados em jihad era de Oyó, mas não eram muçulmanos, e, por fim, por Serra Leoa, devido à imigração forçada dos africanos “emancipados” pela marinha britânica. Muitos deles trabalhavam em casas de ingleses ou para as empresas britânicas, sugerindo interseção entre os movimentos no interior da África Ocidental e a atuação da marinha britânica. Informações devem ter sido trocadas no que diz respeito aos eventos em Serra Leoa, o fator iorubá e a revolta muçulmana. Essas ligações indicam que a história da diáspora deve testimonies of Isyaku and Idrisu. In: BELLAGAMBA, Alice; GREENE, Sandra E.; KLEIN, Martin A. (Ed.). African voices on slavery and the slave trade, vol. 1. Cambridge, Cambridge University Press, 2013. p. 88-116; SALAU, Mohammed Bashir. Slave trading in Kano Emirate. In: OJO, Olatunji; HUNT, Nadine (Ed.). Slavery in Africa and the Caribbean: a history of enslavement and identity since the eighteenth century. Londres: I. B. Tauris, 2012. p. 38-64; SALAU, Mohammed Bashir. Voices of those who testified on slavery in Kano Emirate. In: ARUAJO, Ana L.; CANDIDO, Mariana P.; LOVEJOY, Paul E. (Ed.). Crossing memories: slavery and African diaspora. Nova Jersey: African World Press, 2011. p. 129-145; e SALAU, Mohammed Bashir. Slaves in a Muslim city: a survey of slavery in nineteenth century Kano. In: LOVEJOY, Paul E. et al. (Ed.). Islam, slavery and the diaspora. Nova Jersey: African World Press, 2009. p. 91-101. 38 Ver LOVEJOY, Paul E. Slavery, commerce and production in West Africa, op. cit. p. 9. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 48 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy incorporar eventos na África e evitar concentrar-se apenas nas Américas, principalmente no que diz respeito às formas de resistência e às manifestações sociais, religiosas e culturais reconstituídas na diáspora. O Islã era um fator que desencorajava a venda de escravos para as Américas. Ou seja, os muçulmanos no interior da África Ocidental influenciavam o mercado negreiro no litoral, em grande parte para evitar o comércio de escravos com os europeus. Líderes muçulmanos fizeram a opção de não participar no mercado atlântico. Assim, durante a “era das revoluções” na Europa e nas Américas, as revoluções de cunho religioso e militar na África Ocidental, os jihad, tiveram um impacto profundo na formação do mundo atlântico. Fatores religiosos e ideológicos impediam que os muçulmanos vendessem escravos para os europeus ou para comerciantes associados aos mercados transatlânticos.39 Houve exceções, exemplificadas pela presença de muçulmanos escravizados na Bahia, Jamaica e América do Norte, porém esses casos demonstram que, apesar dos esforços, os governantes muçulmanos da África Ocidental nem sempre eram bem-sucedidos em suas tentativas de boicote ao mercado transatlântico de africanos. Os esforços para evitar a participação da África Ocidental no tráfico de escravos no mundo atlântico coincidiram com a “era das revoluções” e o Islã era a motivação por trás desse boicote.40 Havia, eu defendo, uma tentativa consciente por parte dos governantes da África Ocidental para fazer valer a autonomia e evitar o envio de muçulmanos às Américas. A produção literária de Ahmad Baba e seus colaboradores no final do século XVI e início do século XVII demonstra que os intelectuais e clérigos muçulmanos da África Ocidental estavam conscientes da existência da escravidão transatlântica e elaboraram uma resposta ao que, para alguns, parecia ser um meio atraente de obter lucros.41 As restrições impostas por esses líderes limitou o envolvimento de muçulmanos no comércio com os europeus, isto é, cristãos. Embora a participação não tenha sido totalmente eliminada, poucos foram os muçulmanos enviados às Américas em comparação ao número total de africanos deportados. Proporcionalmente, os números eram reduzidos e houve forte resistência a um envolvimento mais sério, o que foi efetivamente cumprido. LOFKRANTZ, Jennifer; LOVEJOY, Paul E. Maintaining network boundaries, op. cit. LOVEJOY, Paul E. Islam, slavery, and political transformation in West Africa: constraints on the trans-Atlantic slave trade. Outre-Mers: Revue d’Histoire, v. 89, p. 247-282, 2002. Ver também Lovejoy, Paul E. (Ed.). Slavery on the frontiers of Islam, op. cit.; e MIRZAI, Behnaz; MONTANA, Ismael M.; LOVEJOY, Paul E. (Ed.). Islam, slavery and diaspora, op. cit. Uma exceção é o trabalho de SILVA, Alberto da Costa e. Sobre a rebelião de 1835 na Bahia. Revista Brasileira, v. 31, p. 9-33, 2002, e reimpresso em SILVA, Alberto da Costa e. Um rio chamado Atlântico: a África no Brasil e o Brasil na África. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2003. p. 189-214. Ver ainda LOVEJOY, Henry B. Old Oyo influences on the transformation of Lucumí identity in colonial Cuba, op. cit. 41 LOVEJOY, Paul E. The context of enslavement in West Africa: Ahmad Bābā and the ethics of slavery. In: LANDERS, Jane (Ed.). Slaves, subjects, and subversives: Blacks in colonial Latin America. Albuquerque: University of New Mexico Press, 2006. p. 9-38; e HUNWICK, John; HARRAK, Fatima. Mi‘raj al-su‘ud: Ahmad Baba’s replies on slavery. Rabat: Institut des Etudes Africanes; Université Mohamed V, 2000. 39 40 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 49 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy A escravidão era um fator de debate no movimento do jihad, particularmente as queixas de que muçulmanos nascidos livres estavam sendo escravizados, apesar de ser ilegal sob a lei islâmica e uma violação de seus direitos. A medida tinha a intenção de proteger os muçulmanos e não deve ser entendida como uma oposição à instituição da escravidão, que continuava a ser central para a manutenção da sociedade e da economia do Califado de Sokoto ao longo da primeira metade do século XIX. Por isso, o movimento revolucionário do jihad que varreu a África Ocidental no período da “era das revoluções”, teve um impacto muito diferente sobre o curso da escravidão, mas ainda assim as dimensões revolucionárias do jihad foram profundas e exigem análise como um movimento paralelo às forças que Hobsbawm e Genovese estavam interessados. As preocupações com os direitos dos muçulmanos nascidos livres e a insistência no estado de direito foram dirigidas a governos aleatórios. É importante ressaltar que uma das decisões a ser tomada, nesses casos, dizia respeito à legalidade da escravização. A venda de muçulmanos nascidos livres para os cristãos atuantes no comércio transatlântico de escravos era inevitavelmente ilegal. O movimento do jihad, nesse sentido, deve ser interpretado como uma reação aos excessos do ancien régime na Europa, ainda que de forma indireta. O movimento do jihad favoreceu a autonomia da África Ocidental ao mesmo tempo que a escravidão na região se expandiu de forma expressiva, principalmente na região do Sudão Central estendendo-se para Oyó, de onde vieram muitos dos escravizados que foram transportados para Cuba e Brasil. A interconectividade e as contradições que surgiram exigem tratamento mais completo do que tem sido dedicado à resistência escrava durante a “era das revoluções”. Uma das grandes transformações do período, o debate sobre a legitimidade da escravização, tem recebido pouca atenção por parte de historiadores. Esse debate se revela na troca de correspondência entre Muhammad Bello e Muhammad al-Kanemi, respectivamente, os chefes de estado do Califado de Sokoto e Borno, assim como a guerra entre esses estados em consequência da impossibilidade de chegar a um acordo aceitável sobre a implementação da reforma religiosa e o curso do jihad.42 Ou ainda as negociações diplomáticas entre Grã-Bretanha e Sokoto sobre o comércio de escravos. O califa Muhammad Bello, governante supremo do Califado de Sokoto, e o capitão Hugh Clapperton, representante oficial do governo britânico, formalmente concordaram com a abolição do tráfico de Sobre Borno, consultar: ALKALI, Muhammad N. El-Kanemi’s response to the extension of Shaykh ‘Uthman Dan Fodio’s Jihad against Borno. In: BOBBOYI, H.; YAKUBU, A. M. (Ed.). The Sokoto C aliphate, op. cit. v. 1, p. 231-239; BRENNER, Louis. The Jihad debate between Sokoto and Borno, op. cit. p. 21-43; e BRENNER, Louis. The Shehus of Kukawa, op. cit. Ao menos vinte cartas foram trocadas entre a liderança do jihad e al-Kanemi entre 1808-1812. Muitas das cartas estão em BELLO, Muhammad. Infāq al-Maysūr fī tārīkh bilād at-Takrūr, op. cit.; outra carta de el-Kanemi para Goni Mukhtar, o líder das forças do jihad em Borno, datada de 17 Rabi’ al-Awwil 1223 (13 de maio de 1808), está disponível na Biblioteca da Universidade de Ibadan (Mss 82/237). Ver LAST, D. M.; AL-HAJJ, M. A. Attempts at defining a Muslim in 19th century Hausaland and Bornu. Journal of the Historical Society of Nigeria, v. 3, n. 2, p. 239, 1965; e BRENNER, Louis. The Shehus of Kukawa, op. cit. p. 39-43. 42 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 50 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy escravos em 1824, o que traz para o foco as contradições da “era das revoluções”.43 Esses são temas que merecem mais atenção por parte dos historiadores porque afetam diretamente a organização do comércio de escravos. Além disso, assim como eventos nas Américas revelam uma disputa entre a resistência à escravidão e os esforços para sustentar o que alguns pensavam ser uma instituição moribunda, os acontecimentos na África revelam a expansão da escravidão e não a sua morte. O foco na mudança revolucionária em relação à resistência à escravidão precisa levar em conta o destino da população escrava, seja daqueles que permaneceram na África ou dos que foram enviados para as Américas. A experiência do Oeste africano levanta outro debate importante. O sociólogo e historiador Dale Tomich cunhou o conceito de “segunda escravidão” para descrever o aumento da escravidão no início do século XIX, graças a uma nova ordem política imposta pelos britânicos após a queda de Napoleão.44 Essa situação era paralela à grande expansão da escravidão com o jihad na África Ocidental. É preciso entender o grau de influência do movimento do jihad, sua extensão e o modo pelo qual tal expansão ocorreu. Por que o movimento do jihad não foi ainda mais influente em seu impacto nas Américas, já que era tão extenso na África Ocidental? A análise demográfica sugere uma relativa insignificância no número de muçulmanos escravizados a partir de meados do século XVIII até o fim do comércio na década de 1850, o que suscita questões adicionais. Como alguns muçulmanos foram escravizados? De onde exatamente eles vieram? Quando e como foram capturados? Essas questões são importantes para a melhor compreensão da demografia da escravidão na África Ocidental bem como para um melhor entendimento da escala da escravidão e da relação estabelecida entre os estados muçulmanos fundados no contexto de jihad com outros centros urbanos e regiões. Ignorar o movimento do jihad afeta a compreensão da escravidão nas Américas durante o século XIX. Em primeiro lugar, as regiões muçulmanas da África Ocidental mantiveram uma autonomia de relativo sucesso com relação ao tráfico transatlântico de escravos, com Minha discussão acerca das negociações entre Bello e Clapperton foi inicialmente apresentada em “Rethinking the African diaspora: the making of a Black Atlantic World in the bight of Benin and Brazil”, Emory University, de 17 a 18 de abril de 1998, e foi posteriormente publicada como: The Clapperton-Bello exchange: the Sokoto Jihad and the trans-Atlantic slave trade, 1804-1837. In: WISE, Christopher (Ed.). The desert shore: literatures of the African Sahel. Boulder: Lynne Rienner, 2000. p. 201-228. Os argumentos apresentados foram expandidos em: Diplomacy of abolition: negotiations between Muhammad Bello and Hugh Clapperton over the abolition of the Atlantic slave trade. In: COTTIAS, Myriam; ROSSIGNOL, Marie-Jeanne (Ed.). Distant ripples of the British abolitionist wave in Africa, the Americas and Asia. Trenton, NJ: Africa World Press, no prelo. 44 TOMICH, Dale. Through the prism of slavery: labor, capital and world economy. Lantham: Bowman & Littlefield, 2004; KAYE, Anthony E. The second slavery: modernity in the nineteenth-century South and the Atlantic world. Journal of Southern History, v. 75, n. 3, p. 627, 2009. Ver também ELTIS, David; RICHARDSON, David. Atlas of the transatlantic slave trade. New Haven; Londres: Yale University Press, 2010. p. 189, map. 131, para informações acerca das revoltas em navios negreiros e porcentagem por regiões africanas dos escravos que embarcaram entre 1566-1865. 43 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 51 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy poucas exceções. Antes da abolição britânica em 1807, praticamente todos os escravos que vieram de áreas muçulmanas da África Ocidental foram para as Américas a partir do interior do Sudão Ocidental, em particular capturados na região da Senegâmbia e da costa da Guiné superior até a península de Cabo Monte, no norte da Libéria. Após a abolição britânica, os escravos das áreas muçulmanas vieram em grande parte do interior do golfo de Benin e do Sudão Central, apesar de alguns continuarem a vir do oeste do Sudão, seguindo as rotas comerciais que operavam desde o século XVIII e, possivelmente, períodos anteriores. Em segundo lugar, a autonomia das regiões muçulmanas é particularmente notável quando se considera a importância relativa de escravos de áreas muçulmanas nas Américas em comparação com as origens dos escravos de regiões não muçulmanas. Para a migração transatlântica como um todo, menos de 10% da população escravizada veio de áreas onde os muçulmanos eram política ou economicamente dominantes. Por outro lado, cerca de metade de todos os escravos veio de regiões de língua bantu, onde o Islã não era conhecido e onde não havia muçulmanos. Muitos outros africanos que foram enviados às Américas eram oriundos do interior da baía de Biafra, onde não havia influência islâmica, ou ainda de áreas ao longo da costa oriental africana onde o Islã era mais evidente em aspectos comerciais. Os escravos do litoral oriental da África foram capturados como consequência das tensões políticas e sociais entre os estados e sociedades costeiras e os territórios no interior. A influência do jihad nas Américas O problema que se coloca é como inserir a “era do jihad” na “era das revoluções”. A limitação maior é associar rebeliões escravas com etnicidades específicas quando, em alguns casos, a religião foi o fator dominante de organização e motivação. Aqueles que foram escravizados e enviados para o Brasil e Cuba foram muitas vezes referidos como nagô, lucumí ou aku, que correspondem a grupos de iorubás, ou ainda nomes semelhantes como hausa, nupe ou outros rótulos que muitas vezes só se referem à lingua falada, que não deve ser confundida com etnia ou lealdade ao Islã. O que é etnia? Como o uso da língua como um elemento de identificação afeta a análise histórica? Como eram as designações étnicas empregadas na África Ocidental e, particularlmente, na região de onde vieram as pessoas afetadas pelos jihad? Em textos anteriores, fiz uma tentativa de abordar essas questões utilizando o que chamei de “metodologia através da lente étnica”, que prioriza a identificação de etnias e línguas em contextos históricos específicos. Nela, os termos étnicos devem ser analisados criticamente para evitar confusões com outras identificações associadas aos campos políticos, religiosos, laborais, territoriais e de gênero.45 Refiro-me especificamente às minhas LOVEJOY, Paul E. Methodology through the ethnic lens. In: FALOLA, Toyin; JENNINGS, Christian (Ed.). Sources and methods in African history: spoken, written, unearthed. Rochester: University of Rochester Press, 2003. p. 105-117. 45 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 52 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy publicações sobre o comércio de noz-de-cola, a produção de sal, o intercâmbio comercial, escravidão e jihad.46 Ilorin foi particularmente importante por causa do papel que desempenhou na migração de iorubás para Cuba e o Brasil e ainda para Serra Leoa, Trinidade e outros países, indiretamente. Pessoas que se identificavam com Oyó estavam predominantemente em Cuba e na Bahia, com muitos escravos de origem Oyó associados com Xangô, os tambores batá e a transformação do Dia de Reis no festival bere (associado ao principal festival de Xangô em Oyó).47 Os muçulmanos escravizados que serviam no exército de Ilorin e que se rebelaram em 1817 costumam ser identificados como hausa, e o termo nagô é utilizado para os indivíduos vinculados à rebelião malê. Ao fazer uso da metodologia que usa a etnia como uma lente de aumento, nos perguntamos o significado dessas designações étnicas. Em ambos os casos, há um importante componente linguístico, porém o conhecimento de uma língua não necessariamente determina a origem étnica. Em Ilorin, ser hausa significava, independentemente das origens diversas, ser falante da língua hausa e ser muçulmano, de nascimento ou convertido — no caso daqueles que eram de Kano, Katsina ou ainda das terras distantes de Adamawa. Na Bahia, ser iorubá significava utilizar o iorubá como língua comum, embora muitos também falassem o hausa, nupe ou outras línguas. Qualquer tentativa de simplificar as transformações na identificação como um rótulo étnico essencialista — o “hausa” ou o “iorubá” — está fadada a criar confusão e essencializar as identidades africanas. É preciso considerar a complexidade e as imprecisões das designações étnicas para tentar determinar quem eram os iorubás e os hausas no momento do levante em Ilorin de 1817 ou na Bahia na época da revolta dos malês de 1835. Como o historiador Olatunji Ojo observou, a religião também desempenhou um papel unificador, incorporando socialmente os que vinham de regiões além do Sudão Central. Na verdade, não demorou muito para os membros das brigadas de origem iorubá serem identificados como “hausa”, o que criava uma série de oportunidades. Em iorubá, esses mesmos indivíduos eram chamados de “gambari” e, de fato, nem mesmo eram de origem hausa.48 LOVEJOY, Paul E. Ecology and ethnography of Muslim trade in West Africa. Trenton, NJ: Africa World Press, 2005; LOVEJOY, Paul E. Salt of the desert sun. A history of salt production and trade in the Central Sudan. Cambridge: Cambridge University Press, 1986; LOVEJOY, Paul E. Caravans of Kola. The Hausa Kola trade, 1700-1900. Zaria: Ahmadu Bello University Press, 1980; e LOVEJOY, Paul E. Slavery, commerce and production in West Africa, op. cit. 47 LOVEJOY, Henry B. Old Oyo influences on the transformation of Lucumí identity in colonial Cuba, op. cit.; LOVEJOY, Henry B. Drums of Ṣàngó, op. cit. p. 284-308; LOVEJOY, Henry B. Transculturation of Yoruba annual festivals, op. cit. p. 33-50. 48 OJO, Olatunji. Islam, ethnicity and slave agitation: Hausa ‘Mamluks’ in nineteenth century Yorubaland. In: MIRZAI, Behnaz A.; MONTANA, Ismael Musah; Lovejoy, Paul E. (Ed.). Slavery, Islam and diaspora, op. cit. p. 103-124. Em 1899, o prefeito Francis C. Fuller — segundo oficial britânico residente em Ibadan — descreveu “gambari” como “pertencendo a qualquer tribo para além do [rio] Níger”, mas que falava hausa independentemente de quaisquer outras línguas que eles soubessem. Ver Fuller, journal, 21 January 1899, IbaProf 3/6, Nigerian Archives, Ibadan. Agradeço a Olatunji Ojo por essa referência. 46 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 53 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy Samuel Ajayi Crowther, de origem Oyó, atribuiu a destruição de muitas cidades de Oyó na década de 1820 a muçulmanos de Oyó, a quem ele chamou de fulanis, embora muitos falassem iorubá.49 Da mesma forma, os diplomatas britânicos Hugh Clapperton e John Lander relataram a destruição de inúmeras cidades na década de 1820, associada às ações dos muçulmanos, a quem chamavam de fulanis. Esses relatos são baseados em suas observações pessoais durante a viagem de Badagri para Katunga, a capital de Oyó, em 1826-1827 e novamente por Lander em 1830. É difícil questionar os relatos de Clapperton e Lander, com vasta experiência de viagens na África Ocidental. Os autores observaram ainda o fato de que várias pessoas falavam mais de uma língua, bem como o papel do Islã como uma força revolucionária em Oyó. Samuel Crowther chegou a conhecer vários soldados “iorubás” em 1841 e em 1857, quando estavam a serviço dos emirados Nupe. Esses soldados falavam fluentemente o iorubá, assim como o hausa, o nupe e o fula, uma vez que viviam nos emirados muçulmanos onde estavam empregados, sendo identificados como fulanis, em si um termo hausa utilizado para designar os falantes de fulfulde.50 Clapperton e Lander descreveram um caminho de destruição que ia do centro de Oyó e da capital Katunga até a costa e particularmente envolvendo Owu.51 Outras fontes contemporâneas confirmam que a identificação étnica era complexa e a religião funcionava como um fator decisivo. Faz-se necessário o emprego de uma metodologia de análise de identificadores étnicos que relacione identidade com as línguas que as pessoas eram capazes de falar e sua filiação religiosa. Para mim, o reconhecimento de uma designação étnica é a primeira etapa no processo de entendimento da história e não uma explicação em si mesma. É por isso que defendo a utilização de uma “metodologia através da lente étnica”. Assim, no período de revoluções na Europa e no mundo atlântico, houve um movimento de contrabalanço no interior da África Ocidental que isolou a região da “era das revoluções”. Esse movimento teve diferentes consequências na história da escravidão e, portanto, em nosso entendimento da história desse período. Em meados do século XIX, havia mais escravos em áreas muçulmanas da África Ocidental do que nas Américas durante todo o período do comércio transatlântico. Apesar disso, a historiografia sobre a era das revoluções omite qualquer informação sobre os jihad e a preponderância da escravidão na África Ocidental, Crowther to Jowett, 22 February 1837 [1942]. In: SCHÖN, Frederick; CROWTHER, Samuel. Journals of the Rev. Frederick Schön and Mr. Samuel Crowther: expedition up the Niger in 1841. Londres: Frank Cass, 1970. appendix III; e CROWTHER, Samuel; TAYLOR, John C. The Gospel on the banks of the Niger: journals and notices of the native missionaries accompanying the Niger expedition of 1857-1859 [1859]. Londres: Frank Cass, 1968. p. 100, 126-127. 50 Crowther to Jowett, 22 February 1837. In: SCHÖN, Frederick; CROWTHER, Samuel. Journals of the Rev. Frederick Schön and Mr. Samuel Crowther, op. cit. appendix III; e CROWTHER, Samuel; TAYLOR, John C. The Gospel on the banks of the Niger, op. cit. p. 100, 126-127. 51 LOCKHART, Jamie Bruce; LOVEJOY, Paul E. (Ed.). Hugh Clapperton into the interior of Africa, op. cit. p. 36-37, 40-50, 55, 57; LANDER, Richard. Records of captain Clapperton’s last expedition to Africa. Londres: Colburn and Bentley, 1830. 2 v.; LANDER, Richard; LANDER, John. Journal of a narrative to explore the course and termination of the Niger. Nova York: J. & J. Harper, 1832. 2 v. 49 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 54 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy excluindo aqui os estados costeiros de Ashante, Daomé ou ainda o interior Igbo da baía de Biafra, onde a escravidão também foi amplamente disseminada sem nunca atingir os números encontrados nos califados. Embora a África Ocidental não tenha exportado grandes números de muçulmanos para o Atlântico Negro, uma quantidade expressiva de indivíduos permaneceu em cativeiro localmente. As razões para essa abstenção de envolvimento no comércio transatlântico de escravos eram de natureza política e religiosa e foram o resultado das decisões de lideranças políticas e comerciais. Quando encontramos muçulmanos concentrados nas Américas, o seu papel na resistência à escravidão muitas vezes é minimizado.52 Reis, por exemplo, destaca o papel dos muçulmanos na insurreição malê: “Não nego a hegemonia dos malês no bloco rebelde, nego sua solidão. [...] Como eles detinham a hegemonia política do movimento de 1835, podemos dizer que a rebelião foi malê e o levante foi africano”.53 Em outras palavras, para Reis o movimento foi multifacetado, concebido principalmente por pessoas escravizadas interessadas em lutar por sua liberdade e reunindo indivíduos de diferentes credos (Islã, Orixá, Vodum etc.). Enquanto Reis reconhece a presença de fatores islâmicos e étnicos, para ele o Islã não era a principal motivação na rebelião de 1835. É importante analisar as interações no mundo atlântico e como as pessoas mantiveram ligações religiosas e históricas com o Sudão Central no período do jihad. A questão não é se a jihad foi ou não um fator de identidade, mas como a jihad e a relação com Oyó influenciaram a identidade, a cosmologia e a resistência.54 Alguns estudiosos, notavelmente Michael Gomez, Sylviane Diouf e outros, têm se dedicado à compreensão da presença anômala dos muçulmanos escravizados nas Américas e têm tratado da revolta dos malês na Bahia bem como do impacto do Islã. Inquestionavelmente, João Reis apresentou a análise mais detalhada da revolta dos malês no contexto da influência muçulmana mas, como Alberto da Costa e Silva demonstrou, Reis posteriormente abandonou em grande parte sua apreciação inicial do fator islâmico. Costa e Silva explorou a literatura acadêmica acerca do fator islâmico no interior da baía do Benin. Ver SILVA, Alberto da Costa e. Sobre a rebelião de 1835 na Bahia, op. cit. p. 189-214. 53 REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês em 1835. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. p. 271. Reis faz referência aos documentos árabes escritos pelos malês, mas sua discussão acerca da literatura acadêmica sobre o jihad é limitada. Enquanto ele faz referência à “Background to rebellion” de Lovejoy e “Sobre a rebelião de 1835 na Bahia” de Costa e Silva, sua discussão das fontes e das implicações da tradição literária do Califado de Sokoto bem como de suas redes comerciais apresenta limitações. 54 Minha crítica é feita no contexto de uma produção acadêmica extensiva. Ver, por exemplo, REIS, João José. Slave Rebellion in Brazil e a versão revisada e expandida Rebelião escrava no Brasil, op. cit. p. 271. Também ver REIS, João José. Slave resistance in Brazil: Bahia, 1807-1835. Luso-Brazilian Review, v. 25, n. 1, p. 111144, 1988; e REIS, João José; FARIAS, Paulo F. de Moraes. Islam and slave resistance in Bahia, Brazil. Islam and Sociétés au Sud du Sahara, v. 3, p. 41-66, 1989; MOURA, Clóvis. Rebeliões da senzala. São Paulo, 1959; LUNA, Luis. O negro na luta contra a escravidão. Rio de Janeiro, 1967; KENT, Raymond. African revolt in Bahia. Journal of Social History, v. 3, p. 334-356, 1970; PRINCE, Howard. Slave rebellion in Brazil, 18071835. Tese (Ph.D.) Columbia University, Nova York, 1972; MATTOSO, Kátia M. de Queirós. Os escravos na Bahia no alvorecer do século XIX: estudo de um grupo social. Revista de História, São Paulo, v. 47, n. 97, p. 109-135, 1974; e VERGER, Pierre. Trade relations between the Bight of Benin and Bahia, op. cit. Ver também QUIRING-ZOCHE, Rosemarie. Glaubenskampf oder Machtkampf? Der Aufstand der Malé von Bahia nach einer islamischen Quelle. Sudanic Africa, v. 6, p. 115-124, 1995. Muitos dos registros judiciais foram 52 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 55 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy A tradição intelectual muçulmana precisa ser enfatizada, pois intelectuais contemporâneos ao movimento do jihad deixaram suas contribuições. A correspondência entre Muhammad Bello e Muhammad al- Kanemi revela um debate intenso sobre a definição de quem era ou não muçulmano, documentação que não deveria ser menosprezada pelos especialistas em resistência escrava nas Américas. Do mesmo modo, as negociações entre Muhammad Bello e Hugh Clapperton sobre a abolição do tráfico de escravos devem ser estudadas.55 Dados biográficos indicam como os jihad influenciaram a presença muçulmana, tanto na Bahia como em outros lugares.56 Essa extensa produção intelectual é útil para a análise do papel dos muçulmanos nas Américas.57 Priscilla Mello, José Cairus e Alberto da Costa e Silva anapublicados. Ver: Devassa do levante de escravos ocorrido em Salvador em 1835. Anais do Arquivo do Estado da Bahia, Salvador, v. 38, 1968; Peças processuais do levante dos malês. Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 40, 1971; Devassa do levante de escravos ocorrido em Salvador em 1835. Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 50, 1992; Devassa do levante de escravos ocorrido em Salvador em 1835. Anais do Arquivo do Estado da Bahia, v. 53, Salvador, 1996. Um volume final foi publicado em 1997. 55 LOVEJOY, Paul E. Diplomacy of abolition, op. cit. Para informações acerca do contexto político do debate Sokoto-Borno, Ver: BRENNER, Louis. The Jihad debate between Sokoto and Borno, op. cit. p. 21-43. 56 Apesar dos esforços para documentar o jihad e seu impacto em Oyó bem como a posterior diáspora iorubá nas Américas e na África Ocidental, as fontes disponíveis são geralmente negligenciadas. Por exemplo, a segunda expedição do diplomata britânico Hugh Clapperton, uma das poucas fontes primárias sobre o período 1817-1827, oferece um relato do declínio de Oyó como resultado do jihad. No entanto, a versão cuidadosamente editada desse relato é praticamente ignorada (LOCKHART, Jamie Bruce; LOVEJOY, Paul E. (Ed.). Hugh Clapperton into the interior of Africa, op. cit.). De modo semelhante, a produção sobre a escravidão no Califado de Sokoto tem sido ignorada. Porém, o Califado teve grande influência no comércio de escravos como fonte potencial de muito mais escravos do que aqueles que acabaram indo para as Américas no período. Transformations in slavery coloca o movimento do jihad no contexto da história africana dos séculos XVIII e XIX. A análise detalhada das fontes primárias que serviram de base para esses vários estudos é somente notada aqui. A riqueza da documentação oferece o contexto para o diálogo com Hobsbawm e Genovese e, implicitamente, com a produção dos estudos atlânticos e da história do Atlântico Negro. Ver: LOVEJOY, Paul E. Jihad e escravidão: as origens dos escravos muçulmanos da Bahia. Topoi, Rio de Janeiro, v. 1, p. 11-44, jan./dez. 2000, que é a revisão de LOVEJOY, Paul E. Background to rebellion: the origins of Muslim slaves in Bahia. Slavery and Abolition, v. 15, n. 2, p. 151-180, 1994. Ver também LOVEJOY, Paul E. Jihad and slavery: the origins of enslaved Muslims in Bahia. In: LOVEJOY, Paul E. Slavery, commerce and production in West Africa, op. cit. p. 55-80; e LOVEJOY, Paul E. Slavery on the frontiers of Islam, op. cit. 57 REIS, João José. Ethnic politics among Africans in nineteenth-century Bahia. In: LOVEJOY, Paul E. (Ed.). Identity in the shadow of slavery. Londres: Continuum, 2000. p. 240-264; REIS, João José. African Nations and cultural practices in nineteenth-century Salvador, Bahia. Conferência no “American Counterpoint: New Approaches to Slavery and Abolition in Brazil”, Yale University, 2010; REIS, João José. Resistência escrava na Bahia. “Poderemos brincar, folgar e cantar…”: o protesto escravo na América. Afro-Ásia, v. 14, 1983; REIS, João José. Um balanço dos estudos sobre as revoltas escravas da Bahia. In: REIS, João José (ed.). Escravidão e invenção da liberdade. Brasiliense: São Paulo, 1988; REIS, João José; SILVA, Eduardo. Negociação e conflito: resistência negra no Brasil escravista. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. Ver ainda FARIAS, P. F. de Moraes. “Yoruba origins” revisited by Muslims. In: FARIAS, P. F. de Moraes; BARBER, Karin (Ed.). Selfassertion and brokerage: early cultural nationalism in West Africa. Birmingham: Centre of West African Studies, 1990. p. 109-147; FARIAS, P. F. de Moraes. Enquanto isso, do outro lado do mar: os Arókin e a identidade iorubá. Afro-Ásia, v. 17, p. 139-155, 1996; e BARICKMAN, B. J. Reading the 1835 Parish censuses from Bahia: citizenship, kinship, slavery, and household in early nineteenth-century Brazil. The Americas, v. 59, n. 3, p. 287-324, 2003. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 56 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy lisaram a origem africana dos participantes do levante dos malês.58 A influência muçulmana requer a utilização de uma bibliografia extensa de fontes primárias sobre a história iorubá e o movimento do jihad associado a Sokoto e Gwandu e à liderança de Uthman Dan Fodio, Abdullahi Dan Fodio e Muhammad Bello. Esses fatores têm apontado para uma estreita ligação entre a migração iorubá, o jihad e a presença muçulmana nas Américas.59 Indivíduos no comércio de escravos A análise dos indivíduos escravizados durante a era do jihad enfatiza questões metodológicas e de identidade, o que inevitavelmente provoca um reexame do significado da etnicidade nas regiões muçulmanas da África Ocidental e na diáspora, inclusive na Bahia. Felizmente existem várias fontes primárias que lançam luz sobre essas questões, como o livro History of the Yorubas, de Samuel Johnson.60 Outros textos, como os escritos por Uthman Dan Fodio, Abdullahi Dan Fodio, Muhammad Bello, Nana Asma’u, Waziri Junaidu al-Bukhari, Muhammad al-Kanemi, al-Hajj ‘Umar também fornecem informações sobre as designações étnicas na África Ocidental.61 Existem relatos de europeus que viajaram pelo MELLO, Priscilla. Leitura, encantamento e rebelião: o Islã Negro no Brasil, século XIX. Tese (doutorado) — Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2009; CAIRUS, José. Jihad, captivity and redemption: slavery and resistance in the Path of Allah, Central Sudan and Bahia. Paper não publicado apresentado na conferência “Slavery and Religion in the Modern World”, Essaouira (Morrocos), 2001; CAIRUS, José. Instrumentum vocale, mallams e alufás: o paradoxo islâmico da erudição na diáspora africana no Atlântico. Topoi, Rio de Janeiro, v. 4, n. 6, p. 128-164, jan./jun. 2003; e CAIRUS, José. Jihad, cativeiro e redenção: escravidão, resistência e irmandade, Sudão Central e Bahia (1835). Dissertação (mestrado) — Programa de Pós-graduação em História, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2002. 59 LOVEJOY, Paul E. The Central Sudan and the Atlantic slave trade. In: HARMS, Robert W.; MILLER, Joseph C.; NEWBURY, David C.; WAGNER, Michelle D. (Ed.). Paths to the past: African historical essays in honor of Jan Vansina. Atlanta: African Studies Association, 1994. p. 345-370; e LOVEJOY, Paul E. The Yoruba factor in the trans-Atlantic slave trade, op. cit. p. 40-55. 60 JOHNSON, Samuel. The history of the Yoruba. Lagos: CMS Bookshop, 1937. Originalmente compilado na década de 1890. 61 Para textos árabes, ver: MARTIN, B. G. A new Arabic history of Ilorin. Research Bulletin, Centre of Arabic Documentation, University of Ibadan, v. 1, n. 2, p. 20-27, 1965; e SMITH, Abdullahi. A little new light on the collapse of the Alafinate of Yoruba. In: SMITH, Abdullahi. A little new light: selected historical writings of Abdullahi Smith. Zaria: Centre for Historical Research, 1987. p. 149-91, especialmente Ahmad b. Abu Bakr Ikokoro, Ta’ līf akhbar al-qurūn min ‘umarā’ bilad Ilurin (1912), e Waziri Junaidu al-Bukhari, Ta’nīs al-ahibba’ fī dhikr umarā’ Gwandu māwā al-asfiyā’. A importante contribuição de Smith foi também publicada em OLUSANYA, G. O. (ed.). Studies in Yoruba history and culture. Ibadan: University of Ibadan Press, 1983. p. 42-71. Ver também ‘ABDULLAH, Muhammad b., emir of Gwandu. Risalā Ila Amīr Yoruba ‘Abd al-Salam. In: DANMOLE, Hakeem Olumide Akanni. The frontier emirate, op. cit. appendix II. Para outra documentação, ver: LAW, Robin (Ed.). Contemporary source material for the history of the old Oyo Empire, 1627-1824. Ibadan: Institute of African Studies, 1993. Uma versão revisada (2001) está acessível on-line no site do Shadd (<www.harriettubman.ca>). O jihad é escassamente discutido em trabalhos clássicos da história iorubá, tais como SMITH, Robert S. Kingdoms of the Yoruba. Londres: Methuen, 1969; e AJAYI, J. F. Ade; SMITH, Robert S. Yoruba warfare in the 19th century. Cambridge: Cambridge University Press, 58 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 57 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy Califado de Sokoto no século XIX e mais relevante são as várias biografias disponíveis de indivíduos contemporâneos aos eventos. Samuel Ajayi Crowther, de origem Oyó, foi o primeiro bispo anglicano negro e escreveu extensamente sobre o período, assim como outros missionários da Church Missionary Society em Serra Leoa e na Nigéria.62 Ali Eisami Gazirmabe era originalmente de Gazir (daí seu sobrenome), onde foi capturado durante o jihad que atingiu o centro urbano em 18081810. Ele foi vendido como escravo em Katunga, a capital de Oyó, durante as conturbações associadas à revolta de Ilorin em 1817. Para evitar que ele contestasse a sua escravidão, seu proprietário o vendeu para comerciantes envolvidos no tráfico transatlântico. Gazirmabe foi liberado pela marinha britânica sendo enviado para Serra Leoa, onde se tornou conhecido como William Harding.63 Há outras narrativas, algumas coletadas por d’Andrada no Brasil e publicadas por Menezes de Drummond em 1819, e ainda aquelas compiladas por Francis de Castelnau em 1849.64 Há também os numerosos testemunhos dos envolvidos no levante dos malês de 1835 e de alguns muçulmanos que não fizeram parte nesse movimento.65 1964; e mais recentemente a extensa pesquisa de FALOLA, Toyin. Ibadan: foundation, growth and change 1830-1960. Ibadan: Bookcraft, 2012. 62 Para um relato oficial de Samuel Ajayi Crowther, ver: AJAYI, J. F. Ade. Samuel Ajayi Crowther of Oyo. In: CURTIN, Philip D. (Ed.). Africa remembered: narratives of West Africans from the era of the slave trade. Madison: University of Wisconsin Press, 1965. p. 289-316. Ver também PAGE, Jesse. The black bishop. Londres, 1910; KOPYTOFF, Jean Herskovits. A preface to modern Nigeria. The “Sierra Leonians”in Yoruba, 1830-1890. Madison: University of Wisconsin Press, 1965. p. 285; KOPYTOFF, Jean Herskovits. Bishop Crowther: his life and work. Church Missionary Gleaner, v. 5, p. 10-11, 1878; KOPYTOFF, Jean Herskovits. Letter of Mr. Samuel Crowther to the Rev. William Jowett, Feb. 22, 1837. Church Missionary Record, v. 8, p. 217-223, 1837; KOPYTOFF, Jean Herskovits. A liberated African’s account of his slavery, and subsequent course. Church Missionary Gleaner, v. 6, p. 16-18, 1846; e SCHÖN, James Frederick; CROWTHER, Samuel. Journals of the Rev. James Frederick Schon and Mr. Samuel Crowther, p. 371-385, Londres, 1854. 63 Ali Eisami Gazirmabe, em KOELLE, Sigismund Wilhelm [Londres, 1854]. African native literature. Graz, Áustria: Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, 1968. p. 248-256. Ver também SMITH, H. F. C. [Abdullahi]; LAST, D. M.; GUBIO, Gambo. Ali Eisami Gazirmabe of Bornu. In: CURTIN, Philip D. (Ed.). Africa remembered, op. cit. p. 199-216. Para outros relatos dos ex-escravos hausas e nupes em Serra Leoa, ver: FYFE, Christopher. A history of Sierra Leone. Londres, 1962. p. 66, 138, 170, 231, 234, 424 (hausa) e 170, 231, 289, 293, 320 (nupe). 64 DRUMMOND, Menezes de. Lettres sur l’Afrique ancienne et moderne. Journal des Voyages, v. 32, p. 290-324 [sic: 190-224], 1826; e CASTELNAU, François de. Renseignements sur l’Afrique centrale et sur une nation d’ hommes à queue qui s’y trouverait, d’après le rapport des nègres du Soudan, esclaves à Bahia. Paris, 1851. Ver também MISRAH, Muhammad. Narrative of a journey from Egypt to the western coast of Africa, by Mahomed Misrah. Communicated by an officer serving in Sierra Leone. The Quarterly Journal, v. 6, p. 15-16, out. 1822. 65 SMITH, Marcia. The male uprising in Bahia, 1835: mini-biographies of leaders and others accused. Dissertação (mestrado) — York University, Toronto, 1998; CAIRUS, José. Instrumentum vocale, mallams e alufás, op. cit. p. 128-164; CAIRUS, José. Jihad, cativeiro e redenção, op. cit.; e MELLO, Priscilla. Leitura, encantamento e rebelião, op. cit. Também consultei REICHERT, Rolf. L’insurrection d’esclaves de 1835 à la lumière des documents árabes des archives publiques de l’état de Bahia (Bresil). Bulletin de l’Institut Fondamental d’Afrique Noire, sér. B, v. 29, n. 1-2, p. 99-104, 1967; e REICHERT, Rolf. Os documentos Árabes do arquivo público do estado da Bahia. Salvador: Universidade Federal da Bahia, Centro de Estudos Afro-Orientais, 1979. As transcrições judiciais dos processos após a revolta de 1835 contêm referências a Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 58 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy Rufino José Maria, cujo nome africano, Abuncare, provavelmente indica Abu, abreviação de Abubakar, e “Ncare”, contração de Birnin Konni (N’care = N’Konni), uma cidade fortificada no norte de Sokoto, não estava envolvido na revolta na Bahia porque ele estava no sul do Brasil na época.66 Há também o relato de um imã de Bagdá que visitou o Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco no início da década de 1860 e descreveu a comunidade muçulmana no Brasil.67 Além disso, outros relatos sobre a escravidão no Sudão Central na primeira metade do século XIX fornecem informações essenciais para o entendimento de como os jihad afetaram a instituição da escravidão.68 Em suma, as fontes primárias são abundantes e muitas são de fácil acesso. Apesar das diferentes interpretações das fontes secundárias sobre as causas, a evolução e a repercussão do jihad, essas diferenças são fruto do processo e enriquecem a historiografia, não devendo, portanto, ser ignoradas. Metodologicamente, devemos seguir os trabalhos apresentados por Peter Linebaugh e Marcus Rediker, Jane Landers, James Sweet, Rebecca Scott e Jean M. Hébrard, Walter Hawthorne, e Paul Lovejoy e incluir mais bibliografias nas nossas análises.69 outros documentos. Ver, por exemplo: Anais do Arquivo do Estado da Bahia, v. 38, p. 61-63, 1968, e v. 40, p. 42-43, 1971; MONTEIL, Vincent. Analyse de 25 documents árabes desés de Bahia (1835). Bulletin de l’Institut Fondamental d’Afrique Noire, sér. B, v. 29, n. 1-2, p. 88-98, 1967. 66 REIS, João José; GOMES, Flávio dos Santos; CARVALHO, Marcus J. M. de. África e Brasil entre margens: aventuras e desventuras do africano Rufino José Maria, c. 1822-1853. Revista Estudos Afro-Asiáticos, v. 4, p. 257-302, 2005; REIS, João José; GOMES, Flávio dos Santos; CARVALHO, Marcus J. M. de. O alufá Rufino: tráfico, escravidão e liberdade no Atlântico Negro (c. 1823 — c. 1853). São Paulo: Companhia das Letras, 2010. Um problema similar é encontrado em REIS, João José. Domingos Pereira Sodré, un prêtre africain dans la Bahia du XIXe siècle. In: HEBRARD, Jean (Ed.). Brésil quatre siècles d’esclavage: nouvelles questions, nouvelles recherches. Paris: Karthala, 2012. p. 165-216. 67 Ver ADDOUN, Yacine Daddi; SOULODRE-LA France, Renée. The Amusement of the Foreigner. (Draft version). Toronto, Canadá: The Nigerian Hinterland Project/York University, 2001, disponível em <http://www. yorku.ca/nhp/shadd/baghdadi.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2014; ou ver FARAH, Paulo (org.). Deleite do estrangeiro em tudo o que é espantoso e maravilhoso: estudo de um relato de viagem Bagdali. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional; Argel: Bibliotèque Nationale d’Algérie; Caracas: Biblioteca Nacional de Caracas, 2009. 68 LOVEJOY, Paul E. Biographies of enslaved Muslims from the Central Sudan in the nineteenth century. In: BOBBOYI, H.; YAKUBU, A. M. (Ed.). The Sokoto Caliphate, op. cit. v. 1, p. 187-216. Sean Kelley e eu estamos construindo um banco de dados de biografias que vai ser base para um estudo da escravização na África Ocidental na primeira metade do século XIX. 69 LINEBAUGH, Peter; REDIKER, Marcus. The many-headed hydra: sailors, slaves, commoners, and the hidden history of the revolutionary Atlantic. Boston: Beacon Press, 2000; LANDERS, Jane G. Atlantic Creoles in the age of revolutions, op. cit.; SCOTT, Rebecca; HÉBRARD, Jean M. Freedom papers: an Atlantic odyssey in the age of emancipation. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012; HAWTHORNE, Walter. “Being now, as it were, one family”: shipmate bonding on the slave vessel Emilia, in Rio de Janeiro and throughout the Atlantic World. Luso-Brazilian Review, v. 45, n. 1, p. 53-77, 2008; HAWTHORNE, Walter. From Africa to Brazil: culture, identity, and an Atlantic slave trade, 1600-1830. Nova York: Cambridge University Press, 2010; SWEET, James H. Recreating Africa: culture, kinship, and religion in the African-Portuguese world, 1440-1770. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2003; SWEET, James H. Mistaken identities? Olaudah Equiano, Domingos Álvares, and the methodological challenges of studying the African diaspora. American Historical Review, v. 114, n. 2, p. 279-306, 2009; SWEET, James H. Domingos Alvares, African healing, and the intellectual history of the Atlantic World. Ver ainda LAW, Robin; MANN, Kristin. West Africa in the Atlantic community: the case of the slave coast. William and Mary Quarterly, v. 56, n. 2, p. 307Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 59 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy Em seu Kitāb al-Salāt, escrito na Jamaica por volta da década de 1820, Kaba Saghanughu exibiu um conhecimento específico da elite letrada da África Ocidental. Seu próprio nome indica conexão com uma das famílias mais eruditas no Sudão Ocidental.70 Quando um membro da elite era capturado, geralmente a família o resgatava, o que parece não ter sido seu caso. O pai de Kaba Saghanughu, chamado ‘Abd al-Qadiri, era “um proprietário de terras abastado, dono de 140 escravos, várias vacas e cavalos, produtor de grande quantidade de algodão, arroz e outros cereais para seu sustento”.71 Kaba era originário de Bouka, localizada a aproximadamente 20 km ao sul de Dingueraye, um dos afluentes do rio Níger. Ele foi instruído nos temas básicos da educação islâmica: o Alcorão, hadīth, fiqh, e referiu-se aos Ṣaḥīḥs dos muçulmanos e Bukhari, ambos livros sobre a tradição do profeta Maomé, o ḥadīth, bem como ao Kitāb al-Munabbihāt. Ele também citou a influência do sheik Bābā al-Fakiru, provavelmente um de seus professores, assim como seu tio, Mohammed Batoul.72 O estilo de erudição ao qual Kaba foi exposto seguia o modelo da irmandade da Qadiriyya, que incluía um currículo básico cobrindo a Muwatta’ de Mālik, o Shifā’ de Qāḍī ‘Iyaḍ b. Mūsā e o Tafsīr al-Jalālayn. O motivo pelo qual Kaba não foi resgatado é um mistério, afinal a lei e a prática islâmica defendiam tal direito, apesar de haver outros casos de membros de famílias abastadas que também permaneceram em cativeiro.73 Nicholas Sa’id é outro caso 334, 1999; e LOVEJOY, Paul E. Biographies of enslaved Muslims from the Central Sudan in the nineteenth century, op. cit. p. 187-216; REIS, João José. Domingos Sodré, um sacerdote africano. Escravidão, liberdade e Candomblé na Bahia do século XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 2008; REIS, João José; GOMES, Flávio dos Santos; CARVALHO, Marcus Joaquim. O alufá Rufino, op. cit.; FERREIRA, Roquinaldo, Crosscultural exchange in the Atlantic World: Angola and Brazil during the era of the slave trade. s.l.: Cambridge University Press, 2012; MOTT, Luiz R. B. Rosa Egipcíaca: uma santa africana no Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1993; CANDIDO, Mariana. Aguida Gonçalves da Silva, une dona à Benguela à fin du XVIIIe siècle, Brésil(s). Sciences Humaines et Sociales, v. 1, p. 33-54, 2012; CANDIDO, Mariana P. African freedom suits and Portuguese vassal status: legal mechanisms for fighting enslavement in Benguela, Angola, 1800-1830. Slavery & Abolition, v. 32, n. 3, p. 447-459, 2011. 70 WILKS, Ivor. The transmission of Islamic learning in the Western Sudan. In: GOODY, Jack (Ed.). Literacy in traditional societies. Cambridge: Cambridge University Press, 1968. p. 162-197; e WILKS, Igor. The Saghanughu and the spread of Maliki law: a provisional note. Research Review, Institute of African Studies, University of Ghana, v. 2, n. 3, 1966. 71 MADDEN, R. R. A twelvemonth’s residence in the West Indies, during the transition from slavery to apprenticeship [1835]. Westport, CN: Negro University Press, 1970. v. 2, p. 135. 72 ADDOUN, Yacine Daddi; LOVEJOY, Paul E. Muḥammad Kabā Saghanughu and the Muslim community of Jamaica. In: LOVEJOY, Paul E. Slavery on the frontiers of Islam, op. cit. p. 201-202. 73 Sobre resgate, ver: LOFKRANTZ, Jennifer. Intellectual discourse in the early Sokoto Caliphate: the triumvirate’s opinions on the issue of ransoming c. 1810. International Journal of African Historical Studies, v. 45, n. 3, p. 385-401, 2012; LOFKRANTZ, Jennifer; OJO, Olatunji. Slavery, freedom, and failed ransom negotiations in West Africa 1730-1900. Journal of African History, v. 53, n. 1, p. 25-44, 2012; LOFKRANTZ, Jennifer. Protecting freeborn Muslims: the Sokoto Caliphate’s attempts to prevent illegal enslavement and its acceptance of the strategy of ransoming. Slavery and Abolition, v. 32, n. 1, p. 109-127, 2011; LOFKRANTZ, Jennifer. Ransoming of captives in the Sokoto Caliphate in the nineteenth century. In: MONTANA, Ismael Musah; LOVEJOY, Paul E. (Ed.). Slavery, Islam and diaspora, op. cit. p. 125-137; e LOFKRANTZ, Jennifer. Ransoming policies and practices in the Western and Central Bilād al-Sūdān c1800-1910. Tese (Ph.D.) — York University, Toronto, 2008. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 60 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy de um muçulmano escravizado que não foi resgatado do cativeiro. Seu pai, Barca Gana, também era escravo e ocupava a posição de general no governo de Shehu al-Kanemi em Borno. Apesar do prestígio, o pai não comprou a liberdade do filho.74 O filho, de origem bagirmi devido à ascendência materna, recebeu boa educação, o que elevava seu valor como escravo, e chegou a trabalhar como agente de um comerciante no Egito e a acompanhar um diplomata russo em São Petersburgo, onde ele aparentemente foi liberto antes de viajar para a América do Norte e lutar na Guerra Civil Americana ao lado do governo dos Estados Unidos — ou seja, no exército que representava os interesses dos estados do norte. Outro caso de muçulmano não resgatado foi o de Richard Pierpoint, nascido em Fuuta Bundu em 1744. Pierpoint foi escravizado quando as forças de Segu invadiram Fuuta Bundu. Vendido como escravo, Pierpoint foi levado para a América do Norte, mas escapou da escravidão ao se alistar no exército britânico durante a revolução americana. Já em idade avançada, Pierpoint, que era fulbe, apresentou uma petição às autoridades britânicas em 1821 com o objetivo de regressar à sua terra natal. Sua petição, no entanto, foi recusada e ele morreu na província do Alto Canadá, correspondente à província de Ontário no mapa atual.75 A identidade étnica no Sudão Central, incluindo regiões de Oyó, era muito complexa. As pessoas falavam mais de uma língua e muitas vezes aprendiam novos idiomas. A origem dos indivíduos correspondia aos lugares de nascimento de seus pais ao mesmo tempo que se identificavam com as cidades próximas ao seu lugar de residência, entre elas as cidades fortificadas de Kano, Katsina, Bebeji, Kura e Zaria. No contexto muçulmano e nas identificações dos iorubás e dos hausas, o local de origem foi essencial no processo de afirmação de identidade, porém essa fazia referência tanto ao local de residência do indivíduo como à aldeia ou cidade de nascimento dos seus pais.76 Escarificações faciais e corporais eram praticadas como um meio de identificação, inclusive como proteção contra a escravidão, além de representarem rituais de solidariedade da comunidade.77 Os nomes utilizados, assim como os diferentes nomes que uma pessoa poderia assumir ao longa da vida, indicavam SA’ID, Nicholas. The autobiography of Nicholas Said; a native of Bornou, Eastern Soudan. Memphis: Shotwell & Co., 1873; e SA’ID, Nicholas. A native of Bornoo. Atlantic Monthly, p. 485-495, 1867. Para Barca Gana, BRENNER, Louis. The Shehus of Kukawa, op. cit. 75 MEYLER, David; MEYLER, Peter. A stolen life: searching for Richard Pierpoint. Toronto: Natural Heritage Books, 1999. 76 LOVEJOY, Paul E. The urban background of enslaved Muslims in the Americas, op. cit. p. 347-372. 77 LOVEJOY, Paul E. Scarification and the loss of history in the African diaspora. In: APTER, Andrew; DERRY, Lauren (Ed.). Activating the past historical memory in the Black Atlantic. Newcastle: Cambridge Scholarly Publishing, 2010. p. 99-138. Também ver: KEEFER, Katrina. Scarification and identity in the liberated Africans department registers 1814-1815. Canadian Journal of African Studies, no prelo; e LOVEJOY, Henry. Old Oyo influences on the transformation of Lucumí identity in colonial Cuba, op. cit. Atualmente estou envolvido em um projeto de pesquisa com Abubakar Babajo Sani, do Departmento de História da Universidade Musa Yar’Adua, em Katsina, dedicado ao registro de imagens visuais de escarificações e penteados nos emirados centrais do Califado de Sokoto. O projeto está sendo desenvolvido sob os auspícios da Cátedra de Pesquisa em História da Diáspora Africana do Canadá e da Universidade Usman Musa Yar’adua. 74 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 61 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy associações a certas linhagens assinalando a posição social e a crença religiosa.78 Quando falo sobre uma metodologia que prioriza uma compreensão étnica, meu objetivo é desvendar a sobreposição de identidades. Ainda que as pessoas se identificassem como muçulmanos, essa identidade religiosa também implicava uma associação a um lugar de origem, de preferência um Estado islâmico, muitas vezes evidente pelas escarificações espalhadas pelo corpo e pelos penteados. Ser muçulmano e livre de nascimento era visivelmente reconhecido por meio desses sinais que os distinguia da população escravizada. Os muçulmanos envolvidos na revolta na Bahia falavam pelo menos o iorubá e o hausa, e muitas vezes idiomas como o nupe, o kanuri, além de outros, tinham certo conhecimento de árabe, afinal deveriam rezar nesse idioma uma vez que as orações não poderiam ser feitas em qualquer outra língua. No caso dos homens muçulmanos, provavelmente sabiam ler e escrever em árabe. Ao chegar à Bahia, entretanto, podiam identificar-se ou ser identificados como iorubás, pois esse idioma era utilizado como língua franca. Para aqueles que falavam o iorubá, independentemente de seu lugar de origem, era fácil assumir uma nova identidade, sobreposta às outras. No caso de Ali Eisami que falava pelo menos kanuri, hausa e iorubá e escreveu sua biografia em inglês e em kanuri, é evidente que ele podia assumir várias identidades, dependendo do contexto. A habilidade de falar várias línguas e circular em várias comunidades dificulta qualquer tentativa simplista de associar a etnia exclusivamente com língua. Caso semelhante foi o de Dorogu, escravizado no Borno Ocidental, e falante do hausa como língua materna, mas também fluente em kanuri, além de ter aprendido o inglês e o alemão. Ele escreveu sua biografia em hausa e forneceu numerosos fragmentos históricos e poesias na mesma língua, posteriormente traduzidos para o inglês. Ali Eisami e Dorugu também estudaram árabe na escola corânica e sabiam o idioma o suficiente para rezar e manter uma conversa. O risco é confundir etnia com língua sem uma análise mais aprofundada sobre outros elementos que constituíam as identidades. O jihad influenciou a migração de africanos escravizados para as Américas de dois modos: temporalmente dividiu a população escravizada e deportada entre o século XVIII e o século XIX; e geograficamente diferenciou indivíduos oriundos do Sudão Ocidental e do Sudão Central, capturados em momentos e movimentos distintos. Os especialistas sobre os muçulmanos na América do Norte e no Caribe anglófono e francófono (com exceção de Trinidade), em grande parte se dedicam a histórias de vida de pessoas que vieram do Sudão Ocidental durante o século XVIII.79 Outro conjunto de narrativas corresponde a indivíduos ELTIS, David; HALBERT, Martin; MISEVICH, Philip (Ed.). The African origins project. Disponível em: <www.african-origins.org>. Ver também SCHWARZ, Suzanne. Extending the African names database: new evidence from Sierra Leone. African Economic History, v. 38, p. 137-163, 2010; e LOVEJOY, Henry B. Transformation of Lucumí identity in colonial Cuba, op. cit. p. 17-18, 27-33, 37-38. 79 Ver, por exemplo: DIOUF, Sylviane. Servants of Allah, op. cit.; GOMEZ, Michael. Muslims in early America, op. cit. p. 671-710; GOMEZ, Michael. Black crescent. Ver também o trabalho negligenciado sobre Richard Pierpoint, que veio de Fuuta Bundu e lutou ao lado dos britânicos na Guerra de Independência Americana, formando depois um regimento negro que ajudou a prevenir a conquista americana do Canadá 78 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 62 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy capturados no Sudão Central durante o século XIX, embora haja exceções para ambos os séculos e regiões. Essa divisão temporal reflete os padrões de mudança histórica na África Ocidental, a primeira ocorrendo no século XVIII e em grande parte confinada ao oeste do Sudão, enquanto a segunda fase centrou-se na região central do Sudão no início do século XIX, mas com repercussões em todo o Sudão Ocidental. Os estudos sobre a revolta dos malês na Bahia, a formação da cultura iorubá em Cuba no século XIX e as comunidades muçulmanas e iorubás em Trinidade e Serra Leoa têm suas origens no movimento do jihad do Sudão Central no início do século XIX. Em ambos os casos, a “era das revoluções” seguiu o mesmo padrão dos jihad, com algumas diferenças importantes. Não houve distinção clara entre “rebelião” e “revolução”, como proposto por Genovese, cuja análise negligenciou os eventos da história africana. Reações à escravidão nas Américas eram mais complexas do que a divisão binária entre “rebelião” e “revolução”, que ignora qualquer perspectiva de fundo religioso influenciada pelo Islã. O período entre o final do século XVIII e o início do século XIX foi um momento de intensificação do jihad na África Ocidental, apesar desse fato não ter sido levado em consideração por Genevese. A cronologia da “era das revoluções” no mundo atlântico e a do movimento do jihad na África Ocidental se sobrepõem. Enquanto a primeira fase da influência islâmica resultou, principalmente, no tráfico para a América do Norte e o Caribe anglófono e francófono, a segunda fase resultou na deportação de cativos para a Bahia e Cuba. Em determinados momentos, essas migrações e períodos se sobrepunham em relação a São Domingos. Da mesma forma que em São Domingos houve uma revolução, o mesmo podemos dizer dos acontecimentos no Sudão Central. Eram movimentos paralelos que passaram por vários momentos e resultaram em mudanças que nem sempre estavam de acordo com a “era das revoluções” em geral. O silêncio histórico surge, em grande parte, do fracasso em compreender um mundo atlântico que poderia incorporar acontecimentos na África como parte de uma experiência atlântica. O conceito da “era das revoluções” não incorporou um movimento revolucionário de cunho religioso como os jihad, apesar de sua importância e do significado que teve para o comércio transatlântico de escravos. O diálogo com a contribuição de Genovese e Hobsbawm requer uma revisão de conceitos, principalmente no que diz respeito à definição de “revolução” e de sua relevância como fator explicativo para os movimentos desse período. As conexões entre os diferentes mundos das revoluções têm de ser analisadas. A revolução em São Domingos eliminou, de maneira brusca, os contatos entre a colônia francesa com Porto Novo, de onde chegavam notícias e influências dos eventos ocorridos no Sudão Central. O principal negociante de Porto Novo, Pierre Tamata, é um agente-chave para entender as conexões entre essas duas localidades que, até então, estavam sob influência francesa. Tamata, muçulmano de origem hausa, tinha sido educado na França e atuava como na Guerra de 1812. Para maiores detalhes, ver MEYLER, David; MEYLER, Peter. Searching for Richard Pierpoint: a stolen life. Toronto: Natural Heritage Books, 1999. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 63 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy o principal fornecedor de escravos para os comerciantes franceses em Porto Novo, durante as décadas de 1780 e 1790. Poucos conhecem a importância de Tamata e de sua família no controle da comunidade muçulmana e no comércio em Porto Novo na virada do século XIX, porém ele mantinha uma ligação clara com o litoral e o interior da África Ocidental através de seus contatos no interior de Oyó no Sudão Central.80 E, de fato, a atuação de Tamata no comércio transatlântico enfatiza uma das denúncias graves que Uthman Dan Fodio fez sobre a venda de muçulmanos para os comerciantes cristãos no litoral através dos mercados de Oyó, uma das principais justificativas para o movimento do jihad.81 O papel dos muçulmanos na resistência à escravidão nas Américas deve ser reavaliado. As primeiras contribuições de estudiosos sobre o assunto têm sido largamente ignoradas ou mal interpretadas. Schwartz foi pioneiro em enfatizar a ligação entre as revoltas na Bahia e a migração hausa, porém trabalhos posteriores enfatizaram sua análise sobre os “iorubás” ou mais precisamente sobre os “nagôs”, sem desconstruir o significado desses termos em contextos históricos específicos. Só recentemente, com estudo de Manuel Barcia que analisa o significado de termos étnicos em Cuba, esse paradigma foi contestado. Como Barcia observa, o jihad teve um impacto dramático sobre Cuba e Bahia, embora o autor não documente esse impacto.82 Por outro lado, a análise de Henry B. Lovejoy dos registros de embarcações e da Comissão Mista anglo-cubana que operava em Havana revelou que os não muçulmanos de origem Oyó, incluindo os iorubás das dependências de Oyó, destruídas após a revolta de Para uma discussão acerca de Pierre Tamata, consultar: VERGER, Pierre. Trade relations between the Bight of Benin and Bahia, op. cit. p. 186-190; ADAMS, John. Remarks on the country extending from Cape Palmas to the river Congo. Londres, 1823. p. 82-87. Tamata é também discutido em LOFKRANTZ, Jennifer; LOVEJOY, Paul E. Crossing network boundaries: Islamic law and commerce from Sahara to Guinea shores. No prelo. 81 Para informações sobre o comércio de Oyó através de Porto Novo, ver: MORTON-WILLIAMS, Peter. The Oyo Yoruba and the Atlantic slave trade, 1670-1830. Journal of the Historical Society of Nigeria, v. 3, n. 1, p. 25-45, 1964. Badagry se tornou o principal rival para o comércio de Oyó e, consequentemente, para a ascendência de Tamata. Ver: SORENSEN, Caroline. Badagry 1784-1863. The political and commercial history of a pre-colonial lagoonside community in South West Nigeria. Tese (Ph.D.) — University of Stirling, Stirling, 1995; e SORENSEN-GILMOUR, C. Slave-trading along the lagoons of South-West Nigeria: the case of Badagry. In: LAW, Robin; STRICKRODT, Silke (Ed.). Ports of the slave trade (bights of Benin and Biafra). Stirling: Centre of Commonwealth Studies, 1999. p. 84-95. Ver também SILVA JR, Carlos da. Ports of the Bight of Benin and the legal slave trade to Bahia, Brazil, 1750-1815, trabalho não publicado apresentado no Encontro Anual da Associação Canadense de Estudos Africanos, na Carleton University, em Ottawa, de 1o a 3 de maio de 2013; ANDERSON, Richard; BORUCKI, Alex; SILVA, Daniel D. da; ELTIS, David; LACHANCE, Paul; MISEVICH, Philip; OJO, Olatunji. Using African names to identify the origins of captives in the transatlantic slave trade: the registers of liberated africans, 1808-1862. History in Africa, v. 40, p. 165-191, 2013; OJO, Olatunji. Child slaves in the “Nigerian” hinterland, 1725-1865. Slavery and Abolition, v. 33, p. 417-434, 2012. 82 BARCIA, Manuel. Un Islamic Atlantic revolution, op. cit. p. 6-18. Ver também BARCIA, Manuel. West African Islam in colonial Cuba, op. cit. Barcia se refere aos muçulmanos como “africanos islamizados” por motivos não explicados. Porém, ele não faz referência a “europeus cristianizados”. Havia africanos muçulmanos no Sudão Ocidental e Central desde pelo menos o século XI, ou seja, quatrocentos anos antes do início do comércio transatlântico e, portanto, contemporâneos do domínio muçulmano da península Ibérica. 80 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 64 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy 1817 em Ilorin e a expansão do jihad, foram enviados predominantemente a Cuba. Segundo H. B. Lovejoy, os muçulmanos iorubás, hausas e de outras etnias foram enviados para a Bahia.83 As implicações dessa divisão do comércio transatlântico desafiam uma perspectiva eurocêntrica, como as de Hobsbawm e Genovese, que negligenciaram a importância dos jihad na “era das revoluções”. A influência muçulmana se estende a outros locais e contextos, além de Cuba e Brasil, tais como as agitações da população muçulmana em Serra Leoa na década de 1830,84 as tentativas dos muçulmanos em Trinidade de retornar à África Ocidental durante as década de 1820 e 1830, ou ainda o papel dos muçulmanos na insurreição na Jamaica em 1831-1832.85 As grandes revoluções na Europa Ocidental e nas Américas foram de caráter republicano, como uma reação ao ancien régime e a monarquia despótica, exceto no caso da Grã-Bretanha, cuja monarquia constitucional sob a liderança do parlamento estava estabelecida. Na África Ocidental, o movimento de jihad que assolou a região foi uma resposta aos governos despóticos centralizados nas mãos de elites militares. A consolidação de governos islâmicos estava baseada no apoio das lideranças religiosas e de funcionários do Estado, alguns dos quais escravos.86 O Estado guiava-se pela lei islâmica e pelo precedente da liderança herdada. Devido a essas características, é essencial determinar se havia ou não um imã na Bahia durante a revolta malê. O imã é figura-chave no contexto do jihad e da organização da comunidade islâmica, afinal é ele quem determina se uma guerra é legítima ou não. No caso da Bahia, a melhor evidência vem de Nina Rodrigues, que, no final do século XIX, declarou ter aprendido sobre o levante malê com o então imã da Bahia que, por sua vez, havia obtido seus conhecimentos com aquele que era o imã no momento da insurreição de 1835.87 LOVEJOY, Henry. Old Oyo influences in colonial Cuba, op. cit. Para as ações de muçulmanos Aku em Serra Leoa, ver: PETERSON, John. Province of freedom: a history of Sierra Leone, 1787-1870. Londres, 1969. p. 93, 212-217; e FYFE, Christopher. A history of Sierra Leone. Londres, 1962. p. 170, 186-187, 204, 212, 215; FILE, C. Magbaily. A nationalist history of Sierra Leone. Freetown, 2011; JALLOH, Alusine; SKINNER, David E. (Ed.). Islam and trade in Sierra Leone. Trenton, NJ: Africa World Press, 1997; MCGOWAN, Winston. The development of European relations with Futa Jallon and the foundation of French colonial rule, 1794-1897. Tese (Ph.D.) — University of London, Londres, 1978. 85 Acerca de Trinidad, ver: LOVEJOY, Paul E.; TROTMAN, David. Community of believers: Trinidad Muslims and the return to Africa, c. 1810-1850. In: LOVEJOY, Paul E. Slavery on the frontiers of Islam, op. cit. p. 221-234. Para a Jamaica e a alegada existência do wathiqat de Kaba Saghanughu, que veio do Fuuta Jallon, ver: ADDOUN, Daddi; LOVEJOY, Paul E. Muhammad Kābā Saghanughu and the Muslim community of Jamaica, op. cit. p. 201-220; e ADDOUN, Daddi; LOVEJOY, Paul E. The Arabic manuscript of Muhammad Kaba Saghanughu of Jamaica, c. 1820. In: PAUL, Annie (Ed.). Creole concerns: essays in honour of Kamau Brathwaite. Kingston: University of the West Indies Press, 2007. p. 313-341. 86 STILWELL, Sean. Paradoxes of power: the Kano ‘Mamluks’ and male royal slavery in the Sokoto Caliphate, 1804-1903. Portsmouth, NH: Heinemann, 2004; STILWELL, Sean. Power, honour and shame: the ideology of royal slavery in the Sokoto Caliphate. Africa, v. 70, n. 3, p. 394-421, 2000; STILWELL, Sean. “Amana” and “Asiri”: royal slave culture and the colonial regime in Kano, 1903-1926. Slavery and Abolition, v. 19, n. 2, p. 167-188, 1998. 87 De acordo com o imã de Salvador na década de 1890, o imã ao tempo da revolta era Abubakar, que é um nome haussá. Ver RODRIGUES, Raymundo Nina. Os africanos no Brasil. São Paulo, 1932. p. 109-110. 83 84 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 65 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy Além do diálogo com Hobsbawm e Genovese Os debates intelectuais sobre a escravidão refletem as perspectivas de seus autores, situados em contextos históricos e culturais específicos. Na Europa Ocidental, o racionalismo ilustrado utilizou o discurso da raça e da ciência para legitimar a escravidão, definindo os africanos como “naturalmente” inferiores. Inevitavelmente, os defensores da abolição também utilizaram argumentos racializados, inicialmente proibindo a importação de africanos escravizados nas Américas e posteriormente libertando escravos negros, porém evitando qualquer possibilidade de migração de negros livres, a não ser em regimes de trabalho contratado, em condições similares à escravidão. No contexto islâmico, a escravidão era legitimada por meio de um discurso religioso e não racial, fazendo uso de categorias culturais e sociais e não de distinções biológicas ou fenotípicas. Tanto os debates islâmicos como europeus alegavam universalismo, embora cada um se apoiasse em conhecimentos culturalmente definidos. A abolição do tráfico de escravos, a luta para a emancipação, a explosão do sistema de trabalho forçado e a compensação financeira aos ex-proprietários pela perda da “propriedade” devem ser compreendidos como produtos do iluminismo europeu e da preocupação com os “direitos humanos”, articulada na Revolução Francesa e no movimento de reforma cristã baseada na Grã-Bretanha. Análises parciais ignoram debates intelectuais na África Ocidental acerca da legitimidade da escravidão e da liberdade dos muçulmanos desde o nascimento. No caso de muçulmanos escravizados em algum momento de sua vida, o ônus da prova recaía sobre aquele que reivindicava o direto de propriedade sob um indivíduo. O recrudescimento da escravidão nos Estados jihadistas, particularmente no século XIX, coincide com a expansão da demanda por escravos em Cuba, no Brasil e no sul dos Estados Unidos, a chamada “segunda escravidão”, de acordo com Tomich.88 Ao incluirmos o movimento do jihad na “era das revoluções” devemos considerar as especifidades do fim da escravidão, seja de forma radical e abrupta, como em São Domingos, ou de forma gradual, como nas colônias britânicas. Ao mesmo tempo, devemos contrabalançar o fim da escravidão em alguns territórios com a sua expansão em outros, tais como o sul dos Estados Unidos, Cuba, Brasil e os Estados do jihad da África Ocidental. Ainda não estão claros os motivos pelos quais a história atlântica continua sem incorporar a história africana no centro de sua análise. Historiadores como Walter Hawthorne, James Sweet, Roquinaldo Ferreira, Rebeca Scott, Paul Lovejoy, Mariana Candido colocam a África no centro de seus estudos e seguem biografias de indivíduos em contextos históricos específicos, da melhor forma que pode ser reconstruída. Em comum, esses autores enfatizam Nina Rodrigues baseou seu estudo em informações coletadas entre 1890 e sua morte, em 1906. Ver também V ERGER, Pierre. Trade Relations between the Bight of Benin and Bahia, 17th-19th century, op. cit. p. 300, 307. Reis discute outros clérigos que ele considera que pudessem ser o líder, mas não inclui Abubakar entre eles. Ver REIS, João José. Slave rebellion in Brazil, op. cit. p. 130. 88 TOMICH, Dale. Through the prism of slavery, op. cit. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 66 Jihad na África Ocidental durante a “Era das Revoluções”: em direção a um diálogo com Eric Hobsbawm e Eugene Genovese Paul E. Lovejoy o lugar da África, oferecendo uma perspectiva alternativa sobre o Atlântico, enfatizando o contexto africano de maneiras muito específicas.89 Esses esforços de reconstrução histórica exigem uma relação direta entre as etnias manifestadas na diáspora como “nação” ou “país de origem” com locais específicos na África e seus significados em circunstâncias históricas determinadas. Como as pessoas chegaram ao seu destino nas Américas? E em que contexto foram escravizadas e vendidas como escravos? Como a África Centro-Ocidental, a baía de Biafra e a África Oriental foram capazes de fornecer dois terços de todas as pessoas escravizadas enviadas às Américas no século XIX? As análises atlânticas devem estar bem informadas e reconhecer o contexto histórico da migração forçada de escravos e o impacto que resultou na África. É necessário compreender o contexto em que as pessoas foram capturadas, escravizadas e deportadas. Tal abordagem tem implicações profundas sobre como a África deve ser integrada nos estudos do mundo atlântico e, principalmente, a relação de diferentes partes do continente africano com a “era das revoluções”.90 LAW, Robin; LOVEJOY, Paul E. (Ed.). The biography of Mahommah Gardo Baquaqua: his passage from slavery to freedom in Africa and America. Princeton, NJ: Markus Wiener Publishers, 2001; Daddi Addoun and Lovejoy, “Muhammad Kābā Saghanughu,” 201-20; ADDOUN, Yacine Daddi; LOVEJOY, Paul E. Muḥammad Kabā Saghanughu and the Muslim community of Jamaica, op. cit. p. 313-341; LOVEJOY, Paul E. Les origines de Catherine Mulgrave Zimmermann: considérations méthodologiques. Cahiers des Anneaux de la Mémoire, v. 14, p. 247-263, 2011. 90 Em 1997, minha própria crítica foi publicada on-line, mas foi posteriormente removida da internet até ser recuperada pelo website do Tubman Institute. Todavia, a crítica ainda permanece. Ver “The African diaspora: revisionist interpretations of ethnicity, culture and religion under slavery”, originalmente publicado na revista on-line editada por Patrick Manning, Studies in the world history of slavery, abolition and emancipation, v. 2, n. 1, 1997, que misteriosamente desapareceu. O artigo pode ser encontrado em: <www.tubmaninstitute.ca>. 89 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 22-67, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 67 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia * João José Reis** RESUMO As rebeliões escravas que ocorreram na Bahia na primeira metade do século XIX tiveram significativa participação de africanos escravizados trazidos do Sudão Central, região que desde o começo do Oitocentos se tornara cenário de conflitos políticos de base religiosa, iniciados com o jihad de 1804 liderado por Usuman dan Fodio. Milhares de vítimas dessas guerras abasteceram embarcações negreiras que deixavam a Costa da Mina com destino à Bahia. Foram africanos trazidos dessa região, sobretudo haussás adeptos de vários tipos de devoção islâmica, os protagonistas de diversas conspirações e revoltas entre 1807 e 1816, a mais séria das quais aconteceu em fevereiro de 1814, e envolveu escravos de Salvador e subúrbios litorâneos. Esta revolta é aqui analisada com base no acórdão de sentença dos réus e outros documentos. O artigo discute o papel da religião (Islã), da identidade étnica (haussá) e de outras experiências africanas em ambos os lados do Atlântico, quanto a liderança, organização, mobilização, táticas e objetivos da revolta. Palavras-chave: revolta escrava; haussás; Bahia; 1814; Islã. ABSTRACT The slave rebellions that happened in the first half of nineteenth-century Bahia counted with a significant number of Africans brought from the Central Sudan, a region that had been the scenario of religion-based political conflicts since the 1804 Jihad led by Usuman dan Fodio. Thousands of victims of such wars supplied slave ships that left the Slave Coast bound to Bahia. Africans brought from this region, mainly Hausas adept to various forms Artigo recebido em 1o de fevereiro de 2014 e aceito em 1o de março de 2014. * Este texto é resultado parcial de pesquisa apoiada pelo CNPq e pelo Bahia16-19, projeto coletivo financiado pelo Programa Marie Curie, envolvendo a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Nova de Lisboa/ Cham e a École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. Agradeço aos membros do grupo de pesquisa Escravidão e invenção da liberdade, da UFBA, pelos valiosos comentários; a Paulo Fernandes de Moraes Farias, da Universidade de Birmingham, que me acudiu várias vezes em assuntos afro-islâmicos; e a Murray Last e Graham Furniss, ambos da Universidade de Londres, que esclareceram aspectos pontuais da história e da língua dos haussás. Mariângela Nogueira, Neuracy de A. Moreira e Urano Andrade me assistiram na coleta de muitos dos dados aqui usados. Carlos da Silva Jr. me enviou algumas importantes encomendas bibliográficas. ** Doutor em história pela University of Minnesota, EUA, professor titular da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e bolsista de produtividade científica do CNPq, nível 1A. Salvador, BA, Brasil. E-mail: [email protected]. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 68 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis of Islam, promoted several conspiracies and revolts between 1807 and 1816, the most serious of which occurred in February 1814, and involved slaves in Salvador and its coastal suburbs. Based on the final court decision and other documents, the article discusses the role of religion (particularly Islam), ethnicity (namely Hausa), and other African experiences on both sides of the Atlantic, in terms of leadership, organization, mobilization, tactics, and goals of the 1814 revolt. Keywords: slave rebellion; Hausa; Bahia, Brazil; 1814; Islam. *** A Bahia foi palco de um ciclo de revoltas e conspirações escravas durante a primeira metade do século XIX, a mais conhecida das quais seria a Revolta dos Malês, de 1835. A historiografia desses movimentos estabelece que, até a década de 1820, eles foram levados a cabo por escravos haussás, depois substituídos pelos nagôs, africanos falantes do iorubá entre os quais se incluíam os malês, ou seja, nagôs islamizados. Haussás e nagôs foram embarcados como cativos em portos situados ao longo da Costa da Mina — o litoral do golfo do Benim —, assim chamada pelos portugueses e brasileiros, mas conhecida por outros europeus como Costa dos Escravos, a significar que o comércio de gente representava sua principal atividade até meados do século XIX. Entre os portos do tráfico ali situados constam como os mais movimentados o Grande e o Pequeno Popo, Iaquim, Ajudá (ou Uidá), Porto Novo (ou Hogbonu, Adja), Badagri e Lagos (ou Onim, Èkó). Na maior parte do tempo que durou o tráfico, a maioria dos cativos foi embarcada em Ajudá, mas essa hegemonia passou para Lagos a partir da década de 1830.1 Os haussás, segundo dados disponíveis, prevaleceram entre os escravos rebeldes na Bahia até pelo menos o levante de 12 de fevereiro de 1816, acontecido no Recôncavo, região que concentrava os engenhos de açúcar, as plantações de fumo e onde residia o grosso da população escrava baiana nos períodos colonial e imperial.2 Mas se é justo dizer que os haussás foram os mais numerosos e principais protagonistas desses primeiros movimentos de rebeldia, em pelo menos um deles, exatamente o de 1814, não estiveram sozinhos. Seus aliados, no entanto, eram todos oriundos do Sudão Central, região localizada em grande parte — a parte que nos interessa — no norte da atual Nigéria. O território era, e ainda é, ocupado por LAW, Robin. Trade and politics behind the slave coast: the Lagoon traffic and the rise of Lagos, 1500-1800. Journal of African History, n 24, p. 321-348, 1983; e LAW, Robin; MANN, Kristin. West Africa in the Atlantic community: the case of the Slave Coast. The William and Mary Quarterly, v. 56, n. 2, p. 307-334, 1999. 2 Sobre a formação socioeconômica do Recôncavo, dois clássicos: SCHWARTZ, Stuart B. Sugar plantation in the formation of Brazilian society: Bahia, 1550-1835. Cambridge: Cambridge University Press, 1978; e BARICKMAN, B. J. A Bahian counterpoint: sugar, tobacco, cassava, and slavery in the Recôncavo, 17801860. Stanford: Stanford University Press, 1998. Sobre o ciclo de revoltas baianas, ver REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês em 1835. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 1 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 69 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis grupos étnicos que, no início do século XIX, já estavam significativamente penetrados pelo islamismo, embora não se encontrassem organizados em estados islâmicos stricto sensu, mas sob regimes legais diversos e às vezes mais duros do que a xária, a lei islâmica cuja desobediência pelos reis haussás teria sido um dos temas mais insistentes dos reformistas religiosos da época.3 De fato, grande parte dos habitantes da região, gente de praticamente todos os grupos étnicos, aderia a religiões locais, cultos de possessão espiritual, devoções a divindades que habitavam ou eram representadas por árvores, montanhas, grutas e rios, crenças e práticas rituais muita vez sincretizadas com o Islã, lançavam mão da adivinhação, dos amuletos e do apelo aos jinns, os espíritos muçulmanos. A heterodoxia era tolerada e praticada por amplos setores da sociedade, apesar de a classe dirigente ser veladamente muçulmana e viver cercada de clérigos muçulmanos, alguns mui piedosos. A África dos rebeldes Os haussás formaram na região diversos reinos, de dimensões e poder que se alternavam a depender do período, a exemplo de Gobir, Kano, Katsina, Gwandu, Zamfara, Kebbi, Zaria, entre outros. Vizinhos a eles estavam reinos conhecidos como Gurma e Borgu (Bussa, Ilo, Kerby), a oeste, Borno, a nordeste, e Nupe, ao sul da haussalândia. Acrescente-se, no século XVIII, o poderoso reino iorubá de Oyó, ainda mais ao sul, além de Nupe, que embora estivesse fora da zona mais impactada pelo Islã até o século XIX, tinha uma elite e contava entre seus habitantes com uma crescente minoria muçulmanas além de ter dentro de suas fronteiras numerosos escravos oriundos daqueles reinos islamizados do norte, na maioria haussás. Finalmente, habitavam a região tuaregues e fulanis, grupos dos mais aderentes à religião de Maomé, sobretudo o segundo, que contava com numerosos clérigos, estudiosos, eruditos, alguns deles místicos sufis, praticantes, enfim, de uma fé mais rigorosa do que aquela abraçada pela maioria dos habitantes da região. Ao contrário dos haussás, um grande número dos quais vivia em cidades e vilas amuradas (birane, sing. birni), sendo na maioria agricultores sedentários, os fulanis eram, sobretudo, pastores e clérigos nômades distribuídos por todo o Sudão Central, e não apenas lá, embora tivessem presença mais forte entre os haussás.4 Ao longo do século XVIII, como já disse, revezaram os reinos que lograram ter a hegemonia na região haussá, sem que fossem capazes de estabelecer um governo unificado ou formar uma federação consolidada e duradoura. As guerras, os raides, os sequestros eram WILLIS, John Ralph. Jihad fi Sabil Allah — its doctrinal basis in Islam and some aspects of its evolution in nineteenth-century West Africa. The Journal of African History, v. 8, n. 3, p. 409, 1967. 4 Ver LAST, Murray. The Sokoto Caliphate. Nova York: Humanities Press, 1967. p. lix-lxxxv; e HISKETT, Mervyn. The sword of truth: the life and times of the Shehu Usuman dan Fodio. Nova York: Oxford University Press, 1973. 3 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 70 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis endêmicos, suas vítimas viravam escravos que, além de usados pelo grupo vencedor ou predador, eram vendidos nos circuitos comerciais que abasteciam tanto o tráfico regional como o transaariano e o atlântico. Na última década do século XVIII, a Costa da Mina recebia, principalmente via Oyó, gente capturada no país haussá para mandar para as Américas, sobretudo o Brasil. Contudo, foi somente no início do século XIX, a partir do jihad declarado em território haussá por muçulmanos puristas filiados à etnia fulani, que os cativos procedentes daquela região abarrotariam os entrepostos do tráfico no litoral. A guerra santa, com epicentro no país haussá, teve uma dimensão expansionista, fustigando ou derrubando governos em toda a vizinhança citada no início deste parágrafo: Borno, Borgu, Nupe, Oyó.5 O jihad teve início em 1804, sob a liderança do xeque Usuman dan Fodio, pregador carismático, mui devoto e erudito, seguidor do misticismo Sufi, membro de um subgrupo fulani, os Torogbe, com longa experiência na formação de clérigos, escritores e estudiosos das tradições islâmicas. O próprio Dan Fodio escreveu dezenas de livros em árabe clássico, além de poesia religiosa em ajami — haussá ou fufulde (a língua dos fulanis) vertidos em árabe — amiúde destinada a difundir o movimento entre as classes populares, que desconheciam o árabe. Muitos seguidores seus, inclusive o filho Muhamad Bello, o tinham como mahdi, um enviado de Alá destinado a instaurar o Islã onde inexistisse, e purificar onde estivesse deturpado pelo paganismo, num movimento revivalista de preparação para o final dos tempos.6 O jihad foi inicialmente declarado contra Yunfa, Sarkin de Gobir, que, apesar de muçulmano ele próprio, por temer o crescimento de uma comunidade religiosa militante e fora do seu controle político, passou a perseguir crentes e clérigos reunidos em torno de Dan Fodio. Yunfa renovou proibições antigas de costumes típicos daquele grupo, como o uso em público de turbantes pelos homens e de véus pelas mulheres, além de coibir seus membros de portar armas e de pregar livremente.7 Yunfa não se considerava anti-islamita, era apenas contra aquele grupo religioso específico. ADELEYE, R. A. Hausaland and Borno, 1600-1800. In: AJAYI J. F. A.; CROWDER, Michael (Org.). History of West Africa. Bath: Longman, 1976. p. 556-601, esp. p. 586-601 para o século XVIII; e SILVA, Alberto da Costa e. A manilha e o libambo: a África e a escravidão, de 1500 a 1700. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011. cap. 13, para os séculos XVI e XVII. AUGI, A. R. The military factor in the history of Gobir. In: FALOLA, Toyin; LAW, Robin (Org.). Warfare and diplomacy in precolonial Nigeria. Madison: African Studies Program; University of Wisconsin, 1992. p. 132-138. Sobre o tráfico de escravos haussás via Oyó, ver LAW, Robin. The Oyo Empire, c. 1600-c. 1836: a West African imperialism in the era of the Atlantic slave trade. Oxford: Claredon Press, 1977. p. 227-228. 6 BOBBOYI, Hamid. Ajami literature and the study of the Sokoto Caliphate; LAST, Murray. The book in the Sokoto Caliphate. In: JEPPIE, Shamil; DIAGNA, Souleymane Bachir (Orgs.). The meanings of Timbuktu. Cidade do Cabo: HSRC; Dacar, Codesria, 2008. p. 123-124 e p. 139, respectivamente. Há quem conteste que os torogbes fossem etnicamente circunscritos aos fulanis, mas sim uma espécie de comunidade intelectual interétnica que esteve vinculada a jihads na África Ocidental desde o final do século XVII. Ver WILLIS, John Ralph. The Torogbe clerisy: a social view. The Journal of African History, v. 19, n. 2, p.195212, 1978. O mesmo autor enfatiza o aspecto revivalista do movimento de dan Fodio, inclusive o madismo. WILLIS, John Ralph. Jihād fi Sabil Allah, op. cit. p. 395-415. 7 Ver, por exemplo, LAST, Murray. The Sokoto Caliphate, op. cit. p. lxix. 5 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 71 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis A rebelião se caracterizou, inicialmente, como um conflito interno à comunidade muçulmana, feito com o objetivo de purificar o Islã, de expurgar costumes, práticas e comportamentos considerados desviantes, entre os quais o sincretismo com crenças pagãs locais, a fidelidade a governantes não piedosos, a escravização de muçulmanos. Em um poema intitulado “Males do país haussá”, escrito em ajami, Dan Fodio criticava o costume étnico de escarificar a face, de chorar sobre os mortos, de rezar sem ter feito as abluções, de as mulheres andarem sem véu, além da escravização de muçulmanos, um tema insistente em suas pregações; e no que seria o manifesto do jihad, esses princípios eram reiterados.8 Tratava-se todos de costumes dos muçulmanos locais contra os quais os guerreiros santos se levantavam. Sobre isso, diversos especialistas se pronunciaram. O historiador John Hunwick considera aquele conflito peculiar, “uma revolução no pensamento islâmico, na medida em que foi um apelo ao jihad contra outros muçulmanos, ou pelo menos contra outros que se consideravam eles próprios muçulmanos.”9 A guerra santa então cortou na própria carne do universo muçulmano em país haussá. Mas não é difícil imaginar por que seus líderes consideravam o movimento tão especial. O núcleo da rebelião, seu miolo militar inclusive, era formado por scholars-guerreiros que dedicavam suas vidas à causa religiosa. Para dar uma ideia, na batalha de Tsuntsuwa, perdida pelos mujahidun (militantes do jihad) no início da guerra, teriam morrido dois mil combatentes, duzentos dos quais saberiam todo o Corão de cor.10 Não precisamos crer piamente nessas cifras, mas sua citação em narrativas oficiais representa bem a qualidade ideal atribuída a esses combatentes, que se acreditavam os únicos muçulmanos de fato e de direito a existirem naquelas partes. Os genuinamente não muçulmanos — maguzawa em haussá, Dan Fodio os chamava “politeístas” — representavam, em teoria, alvo secundário nos primeiros anos do movimenBIVAR, A. D. H. The Wathiqat Ahl Al-Sudan: a manifesto of the Fulani Jihād. The Journal of African History, v. 2, n. 2, p. 235-243, 1961; BOBBOYI, Hamid. Ajami literature and the study of the Sokoto Caliphate, op. cit. p. 126. Num texto atribuído a ele, dan Fodio detalha a opressão do povo (e dos muçulmanos em particular) pelos governantes, a quem chama de “animais”, para começar. Ver HISKETT, Mervyn. Kitab Al-farq: A work on the Habe Kingdoms attributed to Usuman dan Fodio. Bulletin of Oriental and African Studies, University of London, v. 23, n. 3, p. 558-579, 1961. Sobre a discussão da escravização de muçulmanos na África Ocidental e a posição dos líderes de Sokoto, ver FISHER, Humphrey J. A Muslim William wilberforce? The Sokoto Jihād as anti-slavery crusade: an inquiry into historical causes. In: DAGET, Serge (Org.). De la traite de l’esclavage du Ve au XIX e siècle. Nantes: Centre de la Recherche sur l’Histoire du Monde Atlantique; Paris: Societé Française d’Histoire d’Outre-Mer, 1988) v. 2, p. 537-555; e LOVEJOY, Paul. Partial perspectives and abolition: the Sokoto Jihād and the trans-atlantic slave trade, 1807-37. In: Colóquio Rethinking the African diaspora: the making of a Black Atlantic world in the Bight of Benin and Brazil, 1998, Atlanta: Emory University. 9 HUNWICK, John. Sub-Saharan Africa and the wider world of Islam: historical and contemporary perspectives. In: ROSANDER, Eva E.; WESTERLUND, David (Orgs.). African Islam and Islam in Africa: encounters between Sufis and Islamists. Londres: Hurst & Co., 1997. p. 31. Ver também LAST, Murray. Reform in West Africa: the Jihād movements of the nineteenth century. In: AJAYI, J. F. A.; CROWDER, Michael (Orgs.). History of West Africa. Londres: Longman, 1974. v. 2, p. 1-29. 10 LAST, Murray. The Sokoto Caliphate, op. cit. p. 32; e JOHNSTON, H. A. S. The Fulani Empire of Sokoto. Londres: Oxford University Press, 1967. p. 99. 8 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 72 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis to, e muitos deles chegaram a se aliar aos militantes para se livrar de regimes opressivos. Nesse caso se incluía talvez a maioria dos haussás que inicialmente lutaram ao lado dos mujahidun.11 Na verdade, para os líderes do jihad, os haussás pertenceriam ao bilad al-sudan, a terra dos negros, e não ao bilad al-Islam, a terra do Islã — e neste sentido os haussás coletivamente, em princípio, “se incluíam entre os acusados de paganismo”, conforme sugere Murray Last. Os próprios mallamai (mestres muçulmanos, sing. mallam) haussás eram desprezados pelos militantes porque, além de serem em geral considerados pouco instruídos, faziam vista grossa aos desvios doutrinários do povo e dos chefes políticos, quando não eram eles próprios desviantes: dados à adivinhação, ao curandeirismo, à magia, feitiçaria e outros descaminhos. Aqueles mestres muçulmanos estavam acostumados aos arranjos tradicionais, que os favoreciam, e vários foram brutalmente punidos pela gente de Dan Fodio por não adotar sua causa.12 Mesmo os que a adotaram não são citados nas fontes oficiais jihadistas entre os “companheiros” de Dan Fodio.13 De toda sorte, em pouco tempo as hostes da guerra santa foram se ampliando e os novos aderentes ganhando lugar na definição de muçulmanos dos guerreiros santos. Abdullahi b. Muh ̣ammad Fodio, irmão do xeque Dan Fodio, assim se referiu e hierarquizou suas forças: “as diferentes raças entre nós Maomedanos eram, primeiro, os Toronkawa (Torongbe): eles são nossos iguais. Depois nossos Fulanis e nossos Haussás. Houve também alguns de outras raças que se reuniram e nos ajudaram no serviço a Deus.”14 O possessivo “nossos” indica que, além dos haussás, os fulanis também estavam divididos em suas lealdades — muitos no início apoiaram os poderes estabelecidos —, mas uma aliança intra e interétnica enfim se estabeleceria, sob o manto da religião e a pressão militar, que faria água com o fim dos tempos heroicos do jihad.15 O líder do jihad esclareceu num manual da guerra santa que haveria lugar para aliados pagãos que aderissem a seu movimento, mas que eles não deveriam ser convidados a participar. FUDI, Uthman Ibn [Usuman dan Fodio]. Bayān Wujub Al-Hijra ‘Ala ‘L-‘Ibad. Cartun: Khartoum University Press; Oxford: Oxford University Press, 1978. p. 88-89, 131. 12 Por exemplo, HISKETT, Mervyn. The sword of truth, op. cit. p. 95, sobre incidente na cidade de Yandoto, “um afamado centro de estudos, com uma grande comunidade de scholars”. 13 LAST, Murray. The Sokoto Caliphate, op. cit. p. lxxvi-lxxvii. Escravos entrevistados em meados do século XIX na Bahia por Francis de Castelnau repercutiam tais clivagens étnico-religiosas. Um muçulmano fulani, Mohamad Abdullah, falou dos haussás como homens inferiores, e um escravo haussá, Mehemmet, declarou serem seus compatriotas discriminados pelos fulanis como “negros”, talvez no sentido de pertencerem ao bilad al-sudan, mas com implicações étnicas, evidentemente. CASTELNAU, Francis de. Renseignements sur l’Afrique centrale et sur une nation d’ hommes à queue qui s’y trouverait, d’aprés Le rapport des nègres Du Soudan, esclaves à Bahia. Paris: P. Bertrand Librerie-Editeur, 1851. p. 11, 36, 46. 14 Apud SMITH, M. G. The Jihād of Shehu dan Fodio: some problems. In: LEWIS, I. M. (Org.). Islam in tropical Africa. Londres: Oxford University Press, 1966. p. 416. Ainda sobre clivagens étnicas entre esses muçulmanos, ver RISKETT, Mervyn. The sword of truth, op. cit. p. 103. 15 SMITH, M. G. The Jihād of Shehu dan Fodio, op. cit. p. 417; e HISKETT, Mervyn. The sword of truth, op. cit. p. 108. 11 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 73 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis A guerra santa teve sucesso espantoso e rápido. A conquista de Alkalawa, capital de Gobir, se deu em 1808, depois de a campanha militar ter circulado por um perímetro vastíssimo do território haussá, angariando apoio popular e de dirigentes locais, aliás, mais interessados na derrota de Gobir do que em defender ou expandir ideais muçulmanos. Com a divulgação da vitória sobre Gobir, se intensificaram as adesões dentro e fora do país haussá. No curso de cinco anos os rebeldes obtiveram o controle de praticamente toda a região. Em 1809, fundaram uma confederação de emirados organizados sob o Califado de Sokoto, a cidade que se tornaria capital de um dilatado império — medido em quatro meses de caminhada de leste a oeste, e dois meses de norte a sul —, o primeiro a lograr consolidar-se naquelas terras, embora com resistências internas e externas, às vezes virulentas, ao longo de algumas décadas. No final venceu, e até hoje pontifica na região, a classe dirigente fulani que então se instalou no poder. Além das fronteiras haussás, com graus variáveis de sucesso, o regime de Sokoto buscou anexar, subjugar ou influenciar estados vizinhos, com o concurso de fulanis locais e outros que se deslocaram levando o jihad a Borgu, Gurma, Nupe, Oyó e até ao mui islamisado reino de Borno. Neste último, o Islã estava enraizado havia bastante tempo, constituindo inclusive um governo em larga medida islâmico. Um dos títulos do sultão de Borno, por exemplo, era amir al-mu minin (comandante dos fiéis e administrador da xária), o mesmo adotado por Usuman dan Fodio além do de califa depois de 1809. O major Dixon Denham, que visitou Borno no início dos anos 1820, escreveu sobre sua gente: “são muçulmanos dos mais estritos [que encontrei] em todo o país dos negros”.16 É conhecido o debate entre os dirigentes de Borno e os de Sokoto, aqueles acusando a estes de incoerência doutrinária por fazerem a guerra santa contra um reino tão profundamente comprometido com o Islã.17 DENHAM, Major; CLAPPERTON, Cpt.; OUDNEY, Doctor. Narrative of travels and discoveries in Northern and Central Africa in the years 1822, 1823, and 1824. Boston: Cummings, Hilliard & Co.; Filadelfia: Carey and Lea, 1826. v. 1, p. 250 (ver também p. 242). 17 Sobre o andamento do jihad, além do livro de Last, ver HISKETT, Mervyn. The sword of truth, op. cit.; JOHNSTON, H. A. S. The Fulani Empire of Sokoto, op. cit.; e LAW, Robin. The Oyo Empire, op. cit. caps. 12 e 13. Sobre a enorme influência dos clérigos muçulmanos no reino de Borno antes do conflito com os jihadistas, ver BOBBOYI, Hamidu. Relations of the Borno Ulama with the Sayfawa Rulers: the role of the Mah ̣rams. Sudanic Africa: A Journal of Historical Sources, v. 4, p. 175-204, 1993; e sobre a polêmica entre Sokoto e Borno, Ver BRENNER, Louis. The Jihād debate between Sokoto and Borno: an historical analysis of Islamic political discourse in Nigeria. In: AJAYI, J. F.; PEEL, J. D. Y. (Orgs.). People and empire in African history: essays in memory of Michael Crowder. Londres; Nova York: Longman, 1992. p. 21-43; e LAST, Murray ‘Injustice’ and legimacy in the early Sokoto Caliphate. In: AJAYI, J. F.; PEEL, J. D. Y. (Orgs.). People and empire in African history, op. cit. 45-57. Ver ainda sobre o conflito de Sokoto com Borno o testemunho contemporâneo de CLAPPERTON, Hugh. Journal of a second expedition into the interior of Africa, from the Bight of Benin to Soccatoo [1829]. Londres: Frank Cass, 1966. cap. 6. Outro Estado que resistiu ao assédio de Sokoto foi Borgu, onde um Islã mais negociador existia e assim permaneceu até os dias de hoje. Ver FARIAS, Paulo Fernandes de Moraes. Borgu in the cultural map of the Muslim diaspora of West Africa. In: HUNWICK, John; LAWLER, Nancy (Orgs.). The cloth of many colored silks: papers on history and society Ghanaian and Islamic in honor of Ivor Wilks. Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 1996. p. 259-286. 16 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 74 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis Mas a incoerência não se restringia ao conflito entre Borno e Sokoto. Ela não teria escapado à percepção de comerciantes árabes sobre o regime do califado, onde, por sinal, iam comprar escravos feitos prisioneiros nas guerras locais. Pois bem, esses comerciantes aproveitavam sua autoridade de filhos das terras pisadas pelo Profeta para aborrecer os fulanis dizendo-lhes que “não eram muçulmanos e nunca veriam o paraíso, por conta do número de fiéis que tinham levado à morte na conquista do Sudão”, segundo relato do viajante inglês capitão Hugh Clapperton de sua primeira visita ao país haussá, em 1824.18 Em pouco tempo o jihad se viu desvirtuado em seus princípios mais solenes, muitos de seus líderes investindo suas energias em ambições políticas, prestígio social e acumulação de riqueza. Usuman dan Fodio, desinteressado do cotidiano da política, apesar de manter o título de califa, dividiu o governo do recém-criado império entre seu irmão Abdullahi dan Fodio e seu filho Muhammad Bello, e em seguida retirou-se, em c. 1810, para uma vida de contemplação espiritual, reflexão intelectual e produção literária, e retirado ficou até sua morte em 1817. Para contrariedade de Abdullahi, sucedeu o xeque à frente do Califado de Sokoto Muhammad Bello, mais pragmático, negociador e tolerante com o comportamento interesseiro de seus subordinados. Ele reinou vinte anos, até sua morte em 1837, e foi sucedido por outro filho do xeque, Abu Bakr Atiku, califa até morrer em 1859.19 Figura 1 Califado de Sokoto e seus vizinhos Fonte: REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 203. p. 166. DENHAM, Major; CLAPPERTON, Cpt.; OUDNEY, Doctor. Narrative of travels and discoveries in Northern and Central Africa in the years 1822, 1823, and 1824, op. cit., v. 2, p. 69. 19 LAST, Murray. The Sokoto Caliphate, op. cit. cap. 4; HISKETT, Mervyn. The sword of truth, op. cit. p. 110-113. 18 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 75 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis Em todas as frentes da guerra santa foram feitos prisioneiros de ambos os lados, mas, sobretudo, do lado perdedor, os adversários do jihad. A instabilidade na região também propiciou a ação de grupos armados independentes que se dedicavam a assaltar e sequestrar pessoas em casa e viajantes nas estradas para vendê-las mais adiante. Assim, fulanis, haussás, bornos, baribas (naturais de Borgu), tapas (de Nupe) e nagôs (de Oyó), apesar de já constarem entre as vítimas do tráfico transatlântico em período anterior, depois da guerra santa tiveram sua presença consideravelmente aumentada nos porões dos tumbeiros, sobretudo daqueles que da Costa da Mina se destinavam à Bahia, por ser esta o principal mercado e a base dos marchantes que controlavam a maior porção do tráfico naquele trecho do litoral africano no início do século XIX.20 A Bahia experimentava nessa altura um forte surto de prosperidade vinculado ao aumento da produção do açúcar, por sua vez decorrente, em grande medida, da Revolução Haitiana (1791-1804), que removera do mercado mundial o maior fornecedor daquele produto. O número de engenhos baianos cresceu de 221, em 1790-1795, para 260, em c. 1799, e 315, em 1818. A exportação do açúcar baiano subiu de 500 mil arrobas em 1789 para mais de 1 milhão em meados da década de 1790, e aí estacionou, com variações às vezes violentas, até atingir perto de 2 milhões nas vésperas da independência, em 1821. A economia escravista típica dos engenhos precisou reforçar o consumo de mão de obra, e com isso o tráfico transatlântico foi intensificado, coincidentemente no momento em que se verificavam os conflitos acima narrados na hinterlândia da Costa da Mina. Entre 1800 e 1814, estima-se que a Bahia importou em torno de 160 mil africanos, 65% dos quais embarcados nos portos daquele litoral africano. E mais: de todos os africanos exportados da Costa da Mina no período, que foram perto de 125 mil, 84% tiveram como destino a Bahia.21 Não é possível estabelecer com precisão de onde vinham esses escravos, mas uma grande parte decerto fora capturada no contexto do jihad. Isso explica por que a Bahia se tornou deste lado do Atlântico, nessa época, o sítio de maior concentração de escravos muçulmanos e o palco por excelência de revoltas haussás. Sobre a hegemonia baiana no tráfico da Costa da Mina, ver o clássico de VERGER, Pierre. Fluxo e refluxo do tráfico de escravos entre o golfo do Benin e a Bahia de Todos os Santos, dos séculos XVII a XIX [1968]. São Paulo: Corrupio, 1987. Três quartos (74%) dos escravos do Sudão Central despejados no tráfico transatlântico no século XIX eram prisioneiros de guerras, do jihad e de raides, segundo LOVEJOY, Paul. The Central Sudan and the Atlantic slave trade. In: HARMS, Robert et al. (Orgs.). Paths toward the past: African historical essays in honor of Jan Vansina. Atlanta: African Studies Association Press, 1994. p. 360. Outro autor sugere mais de 80% para Sokoto. TAMBO, David. The Sokoto slave trade in the nineteenth century. The International Journal of African Historical Studies, v. 9, n. 2, p. 198, 1976. Os dados de ambos os autores são, contudo, principalmente para um período posterior a 1814. Africanos haussás entrevistados na década de 1810 por José Bonifácio no Brasil descreveram como foram aprisionados, alguns sequestrados, e as rotas internas do tráfico do país haussá até o litoral que tiveram de percorrer. Ver SILVA, Alberto da Costa e. José Bonifácio e o curso do Níger. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, v. 174, n. 460, p. 253-280, 2013. 21 BARICKMAN, B. J. A Bahian counterpoint, op. cit. p. 35-36. Para os dados do tráfico, consultei o Transatlantic Slave Trade Data Base 2. Disponível em: <www.slavevoyages.org/tast/index.faces>. Acesso em: out. 2012. 20 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 76 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis Os rebeldes haussás na Bahia Nas páginas que seguem vou explorar um documento que já usei em outros trabalhos, mas desta vez destrinchando-o com maior cuidado e correção. Trata-se de uma cópia do Acórdão, a decisão final do julgamento a que foram submetidos os rebeldes de 1814 perante o Tribunal da Relação da Bahia. Infelizmente, a devassa completa conduzida pela Ouvidoria do Crime está por enquanto perdida, considerando que sobreviveu ao tempo. Busquei-a em vão em arquivos na Bahia, no Rio de Janeiro e em Lisboa.22 Contamos, porém, com o já mencionado Acórdão, que resume a contribuição de cada réu para a revolta, qualifica suas culpas e especifica penas.23 Antes de mergulhar no que esse documento pode esclarecer, traço um panorama dos movimentos escravos que antecederam ao de 1814. O levante de 1814 na Bahia aconteceu na esteira de dois movimentos anteriores. Em 1807, apenas três anos após a declaração do jihad em seu país, os haussás escravizados na Bahia tentaram uma revolta que foi sufocada no nascedouro pelo conde da Ponte, governador da capitania. Célebre pela severidade empregada no controle dos escravos, o conde agiu tão logo recebera denúncia de uma conspiração em curso, que tinha como epicentro a casa de um liberto na freguesia da Conceição da Praia, bairro portuário de Salvador. Descobriu-se na ocasião uma sofisticada rede conspirativa espalhada por toda a cidade, com ramificações no Recôncavo dos engenhos, para onde os rebeldes levariam o movimento após a ocupação da capital. Nesta, eles planejavam fazer jorrar o sangue dos brancos, destruir seus templos, queimar as imagens de seus santos e, há fortes indícios, instaurar um governo muçulmano ou pelo menos anticristão. A dimensão religiosa da conspirata é reforçada pela menção no inquérito à achada de escritos — que infelizmente não sobreviveram, ou ainda não foram encontrados —, decerto textos devocionais e amuletos protetores. Desse movimento não se tem notícia da participação de qualquer outra nação africana, senão a haussá.24 Em 1809, os haussás conseguiram materializar pelo menos parte de seus planos: promoveram uma fuga em massa de escravos de Salvador e do Recôncavo, e encetaram ataques esporádicos à vila de Nazaré, área de agricultura de mandioca. Mas o movimento exibiu Na Bahia, o Arquivo Municipal de Salvador e o Arquivo Público do Estado da Bahia (Apeba); no Rio de Janeiro, o Arquivo Nacional, a Biblioteca Nacional e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro; em Lisboa, o Arquivo Ultramarino e o Arquivo Nacional da Torre do Tombo. O desaparecimento é antigo, pois Nina Rodrigues também tentou encontrar a devassa de 1814 no Apeba, no final do Oitocentos. RODRIGUES, Nina. Os africanos no Brasil. 4. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1976. p. 48. 23 Copia do Acórdão proferido contra os Confederados Homens pretos naturaes da Costa da Mina, de Nação Usá, 13 de novembro de 1814. Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro (BNRJ), II, 33, 22, 72. Para não sufocar o leitor com uma avalanche de notas, todas as transcrições aqui feitas procedem desse documento, exceto quando indicado em nota. Salvo engano, o primeiro a usar essa fonte foi Décio Freitas (FREITAS, Décio. Insurreições escravas. Porto Alegre: Movimento, 1976. p. 39-48) e, posteriormente, eu mesmo em Rebelião escrava no Brasil (op. cit. p. 82-87), onde fiz resumo do levante de 1814, com base, em parte, no Acórdão. 24 Ver REIS, João José. La révolte haousa de Bahia en 1807: résistance et controle des esclaves au Brésil. Annales: Histoire, Sciences Sociales, v. 61, n. 2, p. 383-418, 2006. 22 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 77 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis pouca força, sendo depressa derrotado. Muitos rebeldes conseguiram escapar, adentraram as matas, alguns formaram bandos de salteadores de estrada, e aos poucos desapareceram do mapa político e policial da capitania da Bahia. Segundo uma lista de 56 escravos então capturados, desse movimento, como da conspiração anterior, somente haussás teriam participado — mas pelo menos um documento menciona também a presença minoritária de nagôs.25 Mais bem-sucedida foi a Revolta de 1814, objeto do presente estudo, que irrompeu na alvorada do dia 28 de fevereiro, uma segunda-feira. O dia anterior, um domingo, era bom para a mobilização dos escravos, dia de folga, quando estariam mais livres para circular, até para sumir durante algumas horas sem serem notados, se reunir para os últimos retoques do levante e em seguida agir. Naquela madrugada, então, uma força de cerca de duzentos rebeldes atacou armações de pesca de baleias a cerca de uma légua ao norte da capital, onde contavam com aliados.26 A pesca da baleia se concentrava entre os meses de junho e setembro. Quando esteve na Bahia em 1817, o negociante francês Louis-François de Tollenare escreveu algumas páginas de seu diário a respeito do assunto. Sobre armações de pesca de baleia, disse serem formadas por diversas chalupas de um mastro e cerca de dez metros de comprimento. Durante a pesca, o arpoador se posicionava na proa do barco, de onde lançava arpões contra o animal. Para fazer o arpão penetrar a camada grossa de gordura e matar a presa, era preciso ser certeiro e forte. A ocupação era perigosa, tanto para arpoadores como para marinheiros e remadores, pois, frequentemente, o animal ferido e enfurecido investia contra o barco, amiúde destruindo-o e fazendo vítimas. Agora morto, o cetáceo era arrastado à praia, a gordura extraída, derretida em caldeirões e o óleo resultante exportado ou vendido localmente para uso, sobretudo, como combustível na iluminação de casas e ruas, mas também na impermeabilização de paredes e alvenaria, na calafetagem de navios e tonéis, na lubrificação e fabricação de sabão, entre outros. O azeite representava o principal produto buscado pelo armador. A carne era moqueada e vendida barata por negras ganhadeiras a consumidores em geral também negros. A pesca acontecia com mais frequência na baía de Todos os Santos Relação dos pretos do levantamento, que resistiram e combateram com a tropa etc., 7 de janeiro de 1809. Arquivo Nacional (AN), Rio de Janeiro, IG1 — 122, Ano 1810 (Série Guerra); Carta do conde da Ponte para d. Fernando José de Portugal, 16 de janeiro de 1809, Apeba, Cartas ao governo, maço 145. 26 A data de 28 de fevereiro de 1813 é erroneamente estabelecida por SILVA, Ignacio Accioli de Cerqueira e. Memórias históricas e políticas da província da Bahia, anotadas por Braz do Amaral. Salvador: Imprensa Oficial do Estado, 1931. v. 3, p. 59. Erro depois repetido por diversos autores (a exemplo de RODRIGUES, Nina. Os africanos no Brasil, op. cit. p. 46), mas corrigido por um seu contemporâneo, BRITTO, Eduardo A. de Caldas. Levantes de pretos na Bahia. Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, v. 10, n. 29, p. 76 e ss, 1903. O mesmo Accioli (p. 59) afirmou ter sido “em número excedente a quinhentos” a força rebelde, enquanto Verger (Fluxo e refluxo, op. cit. p. 334) incrementa para “mais de seiscentos”, seguindo fielmente a Nina Rodrigues (p. 46). Preferi adotar o número de duzentos combatentes, estabelecido pelo Acórdão, acrescidos de mais algumas dezenas ao longo da luta. Duzentos é também a cifra sugerida por PRINCE, Howard. Slave rebellion in Bahia, 1807-1835. Tese (doutorado) — Universidade de Columbia, Nova York, 1971. p. 105. 25 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 78 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis e em sua maioria as armações existiam na ilha de Itaparica.27 As fontes sobre o levante de 1814 sugerem que se pescava muita baleia também no litoral mais ao norte de Salvador, já mar aberto. Ali numerosos cativos haussás serviam nas armações de Itapoã e praias vizinhas, talvez por se distinguirem como hábeis arpoadores devido a sua familiaridade com o uso de vários tipos de lanças e arpões nas guerras de que tinham participado recentemente em território africano.28 Contudo, ao contrário do que geralmente reza a historiografia, as propriedades atingidas pela revolta de 1814 não se limitavam à atividade pesqueira. A revolta apenas começou pelas armações, isto sim. Na primeira delas, propriedade de Manuel Ignácio da Cunha Menezes — futuro visconde do Rio Vermelho, figura proeminente da elite econômica e dirigente baiana —, os levantados mataram um feitor e membros de sua família, incendiaram casas e instrumentos de trabalho, como redes e cordas. Em seguida atacaram outras armações, fazendas e a vila de Itapoã, onde mataram moradores e incendiaram casas. Depois do ataque a Itapuã, marcharam rumo ao Recôncavo, margeando o rio de Joanes, caminho que percorreram a incendiar mais casas e plantações. Nunca alcançariam a região dos engenhos, onde contavam com adeptos e cujos escravos pretendiam sublevar. Nas margens do rio de Joanes, perto de Santo Amaro de Ipitanga — no atual município de Lauro de Freitas —, os rebeldes foram barrados por homens da milícia da Casa da Torre e moradores locais, vindos de Abrantes, a norte de Itapoã, sob o comando de Manoel Rocha Lima. Também participaram da refrega homens liderados pelo cabo de polícia de Itapoã, Domingos Gomes da Costa. Segundo o Acórdão, essas duas forças rapidamente mobilizadas foram responsáveis por dar combate aos revoltosos. Outras fontes registram que trinta homens da cavalaria e infantaria foram despachados de Salvador pelo conde dos Arcos, então governador da Bahia, comandados por seu ajudante de ordens, coronel José Thomaz Boccaciari, que não chegaram a combater, embora perseguissem de perto os revoltosos.29 Estes lutaram valorosamente, dando vivas a seu “rei” e “morra brancos e mulatos”. Várias escaramuças aconteceram nas imediações de Santo Amaro de Ipitanga. A batalha final, às margens do rio de Joanes, teria durado menos de uma hora. Cansados do corre-corre ao longo de quatro a seis léguas, lutando com armas brancas tão somente, os rebeldes não TOLENARE, Louis-François de. Notas dominicais tomadas durante uma viagem em Portugal e no Brasil em 1816, 1817 e 1818. Salvador: Progresso, 1956. p. 294-297. Ver também o livro de CASTELLUCCI JUNIOR, Wellington. Pescadores e roceiros: escravos e forros em Itaparica na segunda metade do século XIX. São Paulo: Annablume; Fapesp, 2008. cap. 4, onde descreve em detalhe a pesca da baleia na baía de Todos os Santos e seu desmanche nas armações de Itaparica. Dois visitantes da época apontam o perigo envolvido na atividade e a existência de armações em Itapoã: VON SPIX, Johan Baptist; VON MARTIUS, Karl Friedrich Phillip. Viagem pelo Brasil, 1817-1820. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1981. v. 1, p. 139 e 141, n. 1. 28 Sobre lanceiros haussás, SMALDONE, Joseph P. Warfare in the Sokoto Caliphate: historical and perspectives. Cambridge: Cambridge University Press, 1977. p. 14, 26, 27. 29 Conde dos Arcos para o marquês de Aguiar, Bahia, 2 de março de 1814. AN, IJJ9, 322 (1813-1814). BRITTO, Eduardo A. de Caldas. Levantes de pretos na Bahia, op. cit. p. 76-78, se baseia nessa correspondência de Arcos para descrever os embates. 27 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 79 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis aguentaram a fuzilaria de seus opositores e acabaram derrotados no meio da tarde. Sobre a duração do levante, o Acórdão concluiu ter sido um “curto espaço de tempo que correu da madrugada daquele dia até as duas horas da tarde do mesmo”. Por essas contas, a revolta durara entre oito e nove horas, tempo que eu não definiria como “curto”. Segundo o conde dos Arcos, escrevendo sobre a batalha do Joanes, “os negros (pela maior parte Aussás), furiosos contra os Brancos, atacavam tão desesperados e cegos que só cediam com a morte”.30 Segundo o Acórdão, paisanos e milicianos, manejando mosquetes e outras armas, mataram muitos dos rebeldes, e foram presos outros, dispersando-se os mais, que em grande número morreram afogados no Rio, por não saberem nadar e aonde outros se lançaram de propósito a esse mesmo fim, enforcando-se alguns em árvores, do que se não pode fazer corpo de delito, e cálculo perfeito, por levar a corrente os cadáveres, e por se dilacerarem e desorganizarem muitos [cadáveres] pelas aves e animais carnívoros. O conde dos Arcos contabilizou cinquenta negros ali mortos, que considerou “grande carnagem”, e repreendeu o major Manoel da Rocha Lima pelo excesso de força usada “contra uns miseráveis.” 31 A baía de Todos-os-Santos no tempo da revolta Detalhe: Itapoã e arredores, área deflagrada em 1814. Conde dos Arcos para o marquês de Aguiar, Bahia, 2 de março de 1814. Marquês de Aguiar para o conde dos Arcos, 22 de março de 1814. Apeba, Ordens régias, vol. 116, doc. 89; SILVA, Ignacio Accioli de Cerqueira e. Memórias históricas e políticas da província da Bahia, v. 3, op. cit. p. 59. 30 31 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 80 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis Fonte: Planta hidrographica da Bahia de Todos os Santos feita pelo Coronel Serras, 1823. Arquivo Público do Estado da Bahia. Numa representação a sua alteza real contra o que consideravam política perigosamente liberal estabelecida pelo conde dos Arcos para o controle escravo, negociantes “e mais cidadãos da Praça da Bahia” não se interessaram em contar os negros mortos, mas tentaram uma explicação para o suicídio coletivo: “a superstição de que [depois de mortos] passam ao seu reino.”32 É possível que estivessem certos, porém, para muitos dos rebeldes, o reino em pauta não seria terreno, mas o de Alá. Não parece, contudo, ter havido um pacto de suicídio coletivo e o episódio carecia de inspiração africana específica, pois não há notícia de algo semelhante na experiência fulani-haussá de guerra, a santa ou a secular, que pudesse servir de antecedente a esse comportamento na Bahia de 1814. Por outro lado, o comentário acima sobre a transmigração das almas de volta à África talvez fizesse sentido na religiosidade tradicional, não ou pré-muçulmana, dos haussás.33 Quanto ao número de pessoas vitimadas pelos rebeldes, há diferentes relatos. O Acórdão, que é de novembro de 1814 (portanto, passado tempo suficiente para se fazerem todas as Representação a S. A. R. sobre as tentativas etc. BNRJ II, 34, 6, 57. Num trabalho anterior (Rebelião escrava no Brasil, op. cit. p. 83) aventei a hipótese de que o suicídio pudesse ter sido uma armação dos homens que reprimiram o levante e decidiram fazer justiça com as próprias mãos. Continuo achando ser essa uma possibilidade, embora hoje pense que a hipótese tem pontos fracos, por exemplo, o silêncio do governador conde dos Arcos, sempre atento aos desmandos contra escravos, ainda que rebeldes. Em correspondência pessoal (19 de fevereiro de 2014), Murray Last, especialista na história do jihad em terras haussás, desconhece ter havido suicídio individual ou coletivo no curso da guerra santa de Dan Fodio, que condenava o ato sob quaisquer circunstâncias por desviar da doutrina islâmica. Agradeço a Paulo Farias pelo contato com Last. 32 33 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 81 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis contas), menciona “quatorze pessoas de ambos os sexos” mortas pelos africanos, outras feridas, e que algumas dessas — o documento não especifica quantas — vieram posteriormente a falecer. Diversas pessoas foram queimadas nos incêndios de suas casas, ainda segundo o Acórdão. Já a petição de súditos baianos contra o governador, enviada à Corte do Rio de Janeiro em abril ou maio, talvez para impressionar sua alteza real, estabeleceu as baixas em “cinquenta e tantos”, entre as quais mulheres e crianças livres, além de escravos e escravas que teriam recusado a se rebelar. Entre os brancos, o negociante Luís Antônio dos Reis teria sido morto diante da mulher, que apesar de espancada conseguiria escapar com vida. Outra vítima chamava-se Joaquim Pinheiro de Requião, cujo nome aparece numa anotação do irmão apensa ao inventário do pai, falecido desde 1810, retirando-o (ao irmão) da partilha de bens por ter sido “desgraçadamente morto pelos negros levantados no sítio da Itapuan”.34 Os rebeldes também incendiaram muitas moradas de casas, a maioria de palha, e depósitos, mas de novo os dois documentos acima lançam estimativas discordantes. Para o Acórdão, foram oitenta as casas consumidas pelo fogo, bem como “cordoaria, massame, linhos e mais utensílios de tão importantes fábricas [as armações], sem calcular os móveis e recheios” (e por recheios entenda-se o que os móveis guardavam). Em seu cálculo mais vago, e provavelmente exagerado, os peticionários anti-Arcos contaram “cento e cinquenta e tantas casas”. Entre essas estava a do comerciante João Vaz de Carvalho, descrita no inventário em curso de sua mulher, falecida havia três anos, como “morada de casa de vivenda de sobrado”, ao lado do que seria anotado, “queimada pelos pretos em fevereiro de 1814”; e noutra passagem se dizia que a casa “fora devorada pelo incêndio que puseram os negros Ussás no levante de vinte e oito de fevereiro de 1814”. Só aí contabilizou-se prejuízo de dois contos e oitocentos mil-réis. Mais valioso seria o que estava dentro da casa: 154 fardos de linho cânhamo para fabricar cordas, avaliados em três contos e 232 mil-réis, além de móveis e quatro arrobas de caroá, de cujas fibras se fazia linha de pescar, no valor de 384.420 réis. Outra casa de Vaz de Carvalho foi parcialmente incendiada, gastando seu dono 82 mil-réis na sua reconstrução. Somem-se quatro escravos seus envolvidos no levante, dos quais dois morreram na cadeia e dois foram condenados, avaliados em 495 mil-réis.35 Segundo o Acórdão, o prejuízo de Vaz de Carvalho com o levante alcançaria a cifra de 60 mil cruzados (valor de 160 escravos!), de um total de noventa mil cruzados em propriedade destruída pelos rebeldes, aí incluídos negros mortos no levante, propriedade que eram. As fontes proveem muitos indícios para entendermos a organização, mobilização e amplitude da revolta. O Acórdão, em particular, lança luz sobre o desenrolar da conspiração e do próprio levante segundo experiências pessoais de alguns dos réus. Aliás, sobre isso, contamos com detalhes indisponíveis para qualquer outra revolta escrava do período, mesmo a de Inventário dos bens de Domingos Pinheiro Requião. Apeba, Judiciária, n. 4\1748\2218\2. Inventário de Josefa Constança Joaquina Carvalho, mulher de João Vaz de Carvalho. Apeba, Inventário n. 4\1710\21804. 34 35 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 82 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis 1835, a mais bem documentada delas. Ajudou nisso que, em 1814, a luta tivesse se desenrolado em plena luz do dia, ao contrário da Revolta dos Malês, acontecida sob a luz apenas da lua. Em 1814, segundo o Acórdão, foram ouvidas “testemunhas da Devassa, confissões dos Réus em suas perguntas, confrontações e acareações à existência de tão circunstanciados e pluralizados delitos”. Assim, e apesar do filtro da pena do escrivão da devassa, a revolta de 1814 ganha contornos vívidos e até dramáticos. A maioria dos réus, como se verá, foi presa nos estertores do movimento, durante a decisiva batalha do rio de Joanes. O que transpirou de suas ações, antes e depois desse evento, é aqui usado para narrar os acontecimentos sob um ângulo diferente, que muitas vezes converge com o que já se sabia, outras nem tanto. Os líderes O líder da revolta de 1814 foi João Malomi, e málàmi significa clérigo muçulmano em língua haussá. Málàmi e sua variante baiana malomi derivam do termo, também usado pelos haussás, mallām (do árabe mu’allim ou ‘allim), homem de saber, mestre religioso. No futuro o termo alufá — derivado do iorubá àlùfáà — seria adotado entre os negros na Bahia, quando os muçulmanos nagôs (falantes de iorubá), chamados malês, se tornaram maioria e mais ativos na comunidade islâmica local. Nestes primeiros anos do século, porém, em que os haussás islamizados, ou mussulmis, predominavam entre os filhos de Alá aqui desembarcados, málàmi/malomi decerto era o termo de uso corrente. O título religioso ostentado por João constitui a primeira evidência incontornável de liderança muçulmana numa revolta escrava baiana, e o Acórdão diz com todas as letras que João era “malomi ou sacerdote”. Talvez se encontre na devassa mais detalhes sobre se a organização do movimento foi alguma coisa inspirada em um grupo muçulmano semelhante àqueles que porventura João tivesse frequentado ou até dirigido em sua terra natal, típicos que eram no ambiente haussá do tempo do jihad.36 Não há dúvida sobre a ascendência desse homem sobre um grande número de combatentes em 1814. Talvez fosse inclusive uma espécie de imã. João Malomi brota em diversos momentos do Acórdão, fosse a recrutar diretamente africanos para a causa rebelde, fosse a fazer outros envolvidos recrutar. José, haussá, confessou ter “sido convidado, por ordem do Malomi ou Sacerdote, para esta atrevida empresa”. Também o escravo haussá Bernardo “se unira por indução do corréu Malomim”. Antonio igualmente declarou ter se reunido aos EL MASRI, F. H. Introduction. In: FUDI, Uthman Ibn [Usuman dan Fodio]. Bayān Wujub Al-Hijra ‘Ala ‘L-‘Ibad, op. cit. p. 2-3. Muitos foram os mestres muçulmanos que atravessaram o Atlântico nos porões dos tumbeiros brasileiros nesse período. Ver o caso de Francisco, “homem muito inteligente e sábio, que exercia as funções de sacerdote e de diretor de uma escola pública, [que] diz ser do reino de Kanoh [Kano]”, segundo provável anotação de José Bonifácio, que o entrevistou. SILVA, Alberto da Costa e. José Bonifácio e o curso do Níger, op. cit. p. 270. Outro exemplo é Mohamad Abdullah, citado na nota 13. 36 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 83 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis demais levantados na armação de Manuel Ignácio, “induzido pelo corréu João Malomi”. E como estes, outros réus bateram na mesma tecla. João Malomi — um sacerdote guerreiro como eram muitos em seu conflagrado país — teria morrido na batalha do Joanes e seu cadáver estaria entre aqueles ali desaparecidos. Em uma ou duas passagens do Acórdão, sobretudo na sua conclusão, menciona-se como um dos principais cabeças da revolta certo João Alasam, escravo de João Agostinho de Sales. A nação desse João não foi declarada, mas estava gravada no seu nome: Alasam seria Alhasan, nome muçulmano comum entre os haussás.37 Alasam/Alhasan foi acusado de ocupar posição de liderança no levante, porém suas ações não seriam diferentes das atribuídas a outros que não foram assim destacados. No Acórdão, de concreto, consta apenas ter ele convidado ao escravo Caetano para “ir unir-se com os mais corréus na armação de Manoel Ignácio...”; e outro acusado, Benedito, ainda teria levado em sua companhia para o levante “a amásia do mesmo Alasam”. E nada mais sobre Alasam, talvez porque não chegasse a ser preso e interrogado, tendo sido vendido às pressas para o Maranhão por seu senhor, José Agostinho de Sales, para evitar a perda de seu cativo para a Justiça régia. João Malomi encabeçou o movimento a partir de sua base num quilombo situado nas bordas de Salvador, mais especificamente nas matas do Sangradouro, no atual bairro de Matatu de Brotas, hoje plenamente integrado ao tecido urbano. Na cidade, seu principal agente seria um escravo que atendia pelo nome de Francisco Cidade, sobre quem são mais amiudadas as informações do Acórdão. Antes, cabe observar que sobrenome era coisa rara entre escravos, sendo mais comum depois de conquistada a alforria, quando em geral o liberto adotava o nome de família do ex-senhor. O sobrenome Cidade, de toda sorte, não pertencia ao atual senhor de Francisco, Euzébio Nunes, mas a um anterior, provavelmente. Francisco devia ser escravo de ganho, o que lhe permitia circular com relativa autonomia e manter contatos regulares com africanos no Recôncavo e nas ilhas da baía de Todos os Santos, de onde trazia notícias para o malomi e, reza o Acórdão, também coletava fundos para o movimento. Mas ele não combateu em 1814. Um de seus papéis seria recolher, além de dinheiro, provisões, que encaminhava ao quilombo do Sangradouro na fase final da conspiração. De acordo com um depoimento, ele “ficava na Cidade para fazer as disposições da guerra segundo a necessidade, êxito e notícia de Malomin, [e] que debaixo de suas ordens [do malomi], e instruções, conduzia aquela facção”. Ele também recrutava adeptos. Francisco Cidade “fora quem combinara, seduzira e persuadira [para] a rebelião” a muitos negros. E planejava. No domingo anterior ao rompimento da revolta, estivera na armação de Manoel Ignácio da Cunha, presume-se que para acertar com os escravos dali detalhes do iminente ataque. Seria um articulador e homem de autoridade no esquema rebelde. UNITED STATES. Central Intelligence Agency. Hausa personal names. Washington, DC: Central Intelligence Agency-CIA, 1965. p. 6, 18. Possivelmente o nome vem do árabe al-Ahsan, que significa o melhor, o superior, o esplêndido. Ver AHMED, Salahuddin. A dictionary of Muslim names. Nova York: New York University Press, 1999. p. 9-10. 37 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 84 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis A atuação de Francisco Cidade era peculiar em outros aspectos. Ele admitiu ser “o presidente das danças de sua Nação, protetor e agente delas”. E foi acusado de circular por “alguns lugares do Recôncavo da Cidade com sua amásia Francisca para conferir títulos e dignidades aos mais ardilosos de sua Nação, a fim de ter com eles comércio particular, conseguindo por este meio o ser por eles recebido com o maior respeito”.38 Em uma visita a Itaparica, outorgara o título de “Duque da Ilha” a um David, além de outros títulos a diferentes pretos. Consta, ademais, o seguinte sobre Lourenço, tapa, escravo de Joaquim Gomes, e Domingos, de Faustino Valentim: Sendo arguidos, um por se fazer suspeitoso o ornato com que muito diferentemente dos meios que a pobreza lhe subministrava, inculcava despesas de algum recebimento extraordinário que foram havidos por suspeitos na voz geral, e a outro por estabelecer naquele mesmo tempo que os Povos viviam aterrados, uma classe de nobreza de diversos postos, tomando para si o título de Duque. Intrigava, neste caso, como no de Francisco Cidade, que pretos africanos, na sua maioria escravos, pudessem acumular pecúlio suficiente para investir em roupas custosas para se fazerem nobres, e isso num momento em que os brancos estariam “aterrados” com a recente revolta e outras anteriores. A organização desses negros em hierarquias que evocavam uma nomenclatura de poder própria dos brancos não cheirava a boa coisa naquela altura. Nenhuma menção explícita foi feita de uma relação entre Francisco Cidade e esses dois africanos, mas eles atuavam na mesma frequência festiva, e talvez política, do homem acusado de ser um dos mais destacados quadros da revolta de 1814. Tentemos entender o significado dessa nobreza africana em terras baianas e sua relação com o levante. Seria ela inspirada no que se passava no Haiti de Henri Christophe? Naquele mesmo 1814, após quatro anos de controle do norte do Haiti — o sul era então governado por Alexandre Pétion —, Christophe se estabeleceu como rei e criou uma nobreza ao estilo europeu, distribuindo títulos de conde, duque e barão, que assumiriam diversas funções na burocracia de governo, na direção de freguesias e na administração de fazendas e engenhos estatais.39 Houve denúncia de que os escravos baianos soubessem do Haiti e tivessem nele se inspirado por ocasião da revolta de 1814. Aquela petição em protesto contra o conde dos Arcos comunicava ao príncipe regente d. João que os escravos baianos “falam e sabem do sucesso fatal da Ilha de São Domingos”, aportuguesando o nome da antiga colônia francesa de Saint-Domingue, conflagrada por uma revolução escrava em 1791, que depois de longo Não é claro se a expressão “comércio particular” aqui se refere a que Francisco Cidade fosse negociante, mas é bem possível que era essa sua ocupação enquanto negro de ganho. 39 DUBOIS, Laurent. Haiti: The aftershock of history. Nova York: Metropolitan Books, 2012. p. 62; F ISCHER, Sibylle. Modernity disavowed: Haiti and the cultures of slavery in the Age of Revolution. Durham: Duke University Press, 2004. p. 253-254. 38 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 85 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis e sanguinolento processo terminou por proclamar a independência em 1804, adotando o novo país o nome de Haiti.40 Seriam os duques haussás uma preparação para um modelo haitiano de levante escravo? Neste caso, em vez de uma inspiração africana no jihad, teríamos um movimento haitianista em 1814? Eu duvido, até porque 28 de fevereiro de 1814 seria data muito apertada para que as notícias da reforma de Christophe alcançassem a Bahia. Outra possibilidade é que “presidente das danças de sua Nação” significasse Sarkin Bori, ou sacerdote do Bori, um culto de possessão espiritual e curandeirismo que combina a religião tradicional haussá, anaan, com o Islã. Esse culto sincrético existia entre os haussás já no tempo do jihad, e se tornaria alvo dos reformistas islâmicos antes mesmo do início do conflito.41 O fato é que Francisco Cidade, até por sua alegada ligação ao malomi, estava, bem ou mal, na órbita do Islã. Com ele foram encontrados papéis escritos em árabe. No Acórdão se lê: “não sendo [Francisco Cidade] menos suspeitoso pela achada de papéis […], que posto por si não constituam perfeito conhecimento, contudo, como o mesmo Réu não pôs exceção [i.e., não contestou], ficam na concorrência das mais provas que contra ele resultam”, sugerindo, numa passagem algo confusa, que teria havido uma tradução incriminadora de seu conteúdo, não sendo “invenção dos tradutores”. Alegava-se ainda que manuscritos semelhantes existiam “em poder de outros Réus quando entraram em segredo”. Esses papéis, infelizmente, não sobreviveram, ou ainda não foram encontrados, talvez estejam apensos à devassa perdida. Deviam ser, se não escrita estritamente secular, cópias de versos corânicos e outros textos devocionais, produzidos a modo de amuletos e exercícios de fé. De toda forma, o Islã de Francisco Cidade não seria aquele dos puristas de Usuman dan Fodio, para quem a dança, a música, o sincretismo, o transe espiritual, típicos do bori, não representariam a genuína doutrina muçulmana.42 “Cidadãos da praça da Bahia” a sua alteza real, c. maio de 1814. In: OTT, Carlos. Formação étnica da cidade do Salvador. Salvador: Manú Editora, 1955. v. ii, p. 107. Esta representação se encontra também transcrita em SILVA, Maria Beatriz Nizza da. A primeira gazeta da Bahia: Idade d’Ouro do Brazil. São Paulo: Cultrix; MEC, 1978. p. 101-103. Sobre a Revolução do Haiti, ver, entre outros muitos títulos, JAMES, C. L. R. The Black Jacobins: Toussaint L’Ouverture and the San Domingo Revolution. 2. ed. Nova York: Vintage, 1963; DUBOIS, Laurent. Avengers of the New World: the story of the Haitian Revolution. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2004; POPKIN, Jeremy D. The Haitian Revolution and the abolition of slavery. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. Sobre as repercussões no Brasil, ver REIS, João José; GOMES, Flávio dos Santos. Repercussions of the Haitian Revolution in Brazil. In: GEGGUS, David; FIERING, Norman (Orgs.). The world of the Haitian Revolution. Bloomington: Indiana University Press, 2009. p. 284-313. 41 HUNWICK, John. The religious practice of Black slaves in the Mediterranean islamic world. In: LOVEJOY, Paul (Org.). Slavery on the frontiers of Islam. Princeton: Markus Wiener Publishers, 2004. p. 149171; e MONTANA, Ismael Musa Montana. Ahmad ibn al-Qadir al-Timbuktawi on the Bori ceremonies of Tunis. In: LOVEJOY, Paul (Org.). Slavery on the frontiers of Islam, op. cit. p. 173-198, que estudam, ambos, o bori no tempo do jihad no norte da África entre escravos sobretudo haussás ou seus descendentes. 42 Etnografias do bori: TREMEARNE, J. N. Hausa superstitions and customs. Londres: J. Bale, Sons & Danielson, 1913. p. 513-540; GREENBERG, Joseph. The influence of Islam on a Sudanese religion. Seattle: University of Washington Press, 1946; BESMER, Freemont E. Horses, musicians, and gods: the Hausa cult of possession trance. South Hadley, Mass.: Bergin & Garvey, 1983; e MONFOUGA-NICOLAS, Jacqueline. 40 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 86 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis A rigidez danfodiana, no entanto, parece ter sido vencida, pelo menos em parte, por costumes mais arraigados no país haussá. Por exemplo, em 1824, numa cidade próxima a Kano, o capitão Hugh Clapperton testemunhou uma celebração do final do Ramadã da qual participaram muçulmanos que dançavam animadamente ao som do toque de tambores.43 Essa tradição festiva haussá decerto atravessou o Atlântico a bordo dos tumbeiros, se estabeleceu na Bahia e sugere uma explicação mais prosaica para as danças e a distribuição de títulos de nobreza protagonizadas por Francisco Cidade e outros suspeitos de 1814. Francisco fora acusado de presidir as “danças de sua nação”, no sentido de chefiar grupos festivos organizados em torno das associações étnicas africanas, no caso dele em torno da nação haussá. Comuns em todo o Brasil, importante elemento de sociabilidade africana e particularmente fortes em Pernambuco, essas manifestações tinham em geral o aval dos governos coloniais e dos próprios senhores, que assim buscavam proporcionar uma válvula de escape para as pressões do cativeiro, ao mesmo tempo que incentivavam a divisão étnica entre os cativos.44 No mais das vezes, tinham o feitio de celebrações afro-católicas vinculadas a irmandades negras, geralmente aquelas de Nossa Senhora do Rosário, em que danças e batuques animavam e misturavam o sagrado com o profano. Semelhantemente a congadas e reisados, encenavam-se coroações de reis e rainhas negros, que se faziam acompanhar de seus nobres, os duques e outros titulares, não faltando patentes militares. Contudo, tais sociedades não precisavam ser, necessariamente, vinculadas a devoções e irmandades católicas, no que o Acórdão é esclarecedor. Independentemente da natureza delas, o conde da Ponte, que governou a Bahia entre 1805 e 1809, as proibiu. Na ocasião ele cientificou ao ministro português, visconde de Anadia, que mesmo no densamente escravista Recôncavo esses grupos de pretos festeiros eram tolerados, “nascendo destas doutrinas o convidarem-se escravos dos Engenhos a se armarem Coronéis e Tenentes-Coronéis com festejos, cantorias e uniformes, o que ouço contar os próprios senhores com indiferença”.45 O governador espantou-se com o que ouvia. Os senhores, já se vê, tinham estilo de controle dos escravos mais permissivo e negociador do que o estilo do conde. Contudo, com Ambivalence et culte de possession: contribution à l’étude du bori haoussa. Paris: Anthropos, 1972. Um dos objetivos religiosos do jihad de Usuman dan Fodio fora exatamente expurgar do Islã as crenças haussás tradicionais. Ver, entre outros, CLARKE, Peter. West Africa and Islam. Londres: Edward Arnold, 1982. p. 113 e ss.; MARTIN, B. G. Muslim brotherhoods in nineteenth-century Africa. Cambridge: Cambridge University Press, 1976. cap. 1, esp. p. 18-19, 24 e 28; e EL MASRI, F. H. Introduction, op. cit. p. 6 e ss, entre outros. 43 Major DENHAM; Cpt. CLAPPERTON e Doctor OUDNEY, Narrative of Travels and Discoveries in Northern and Central Africa in the Years 1822, 1823, and 1824, v. 2, p. 98. 44 Sobre Pernambuco, SILVA, Luiz Geraldo da. Da festa à sedição: sociabilidades, etnia e controle social na América portuguesa (1776-1814). In: JANCSÓ. Ístván; KANTOR, Íris (Orgs.). Festa: cultura e sociabilidade na América portuguesa. São Paulo: Hucitec; Edusp, 2001. p. 313-335; para um apanhado mais amplo dos reinados negros, SOUZA, Marina de Mello e. Reis negros no Brasil escravista: história da festa de coroação de Rei Congo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002. 45 Conde da Ponte para o visconde de Anadia, Bahia, 7 de abril de 1807. Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), Lisboa, Baía, cx 149, doc. 29815. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 87 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis o tempo, muitos senhores aderiram à doutrina do governador. Já seu sucessor, o conde dos Arcos, retornaria à tradição anterior. Após o levante de 1814, na já muitas vezes aqui citada petição a d. João, os senhores baianos assim se pronunciavam: “Desde que se lhes consentiram batuques [...] e andarem com vestimentas de rei, coroando-se com espetáculos, e aparatos, fazendo uns aos outros tais, e quais homenagens e ajuntamentos com caixas de guerra amotinando toda a Cidade é que se viu o maior dos atentados.”46 A festa seria a antessala da revolta e seu mestre-sala, Francisco Cidade. O Acórdão de 1814, além do malomi, menciona um “rei”, que seria — ou teria sido até havia pouco — o próprio Francisco Cidade, o “rei” da nação haussá. O documento, no entanto, cria confusão a respeito desse assunto. Ao mesmo tempo que afirmava que Francisco presidia as danças haussás e que fizera de David duque de Itaparica, acaba por concluir que o primeiro “coroara rei” ao segundo, “dando-lhe barrete e manto e recebendo certas ações de respeito dos negros daquela ilha.”47 Provavelmente os inquisidores não atinaram completamente para os ritos da nação haussá, ora afirmando que Francisco enobrecera David com o título de duque, ora que o entronara rei. Neste último caso é possível que se tratasse de uma transferência de cargo: seria a vez do reinado de David, e Francisco, terminado seu mandato, transferia-lhe o cargo, pois se tratava de monarquia eletiva, a implicar rodízio de poder. Não haveria nada especificamente perturbador nisso, um ato tantas vezes repetido Brasil afora sob as vistas, vigilantes bem verdade, de autoridades civis e eclesiásticas, além de senhores. Mas, em 1814, a nação haussá parecia destoar do figurino estabelecido, e abandonou a negociação política em favor da rebeldia social. Continuavam a fazer política, agora por outros meios.48 Os senhores que protestaram contra o governador Arcos talvez tivessem razão. O inquérito policial concluiu que Francisco Cidade fez de seu reisado haussá um instrumento de sedução rebelde. Teria sido entre seus “súditos” que recrutava militantes e levantava dinheiro e outros subsídios para a revolta, embora alegasse que buscava tão somente financiar as “despesas para os seus brinquedos”. Ao termo do julgamento, no entanto, os juízes decidiram que nem todos os festeiros teriam aderido ao movimento de Francisco Cidade, limitando-se apenas a participar de “seus brinquedos”. Diante da falta de provas materiais e testemunhais, chegaram inicialmente a considerar inocentes David e seus parceiros João e Ventura — também membros da folgazã turma de Francisco em Itaparica —, todos escravos do cirurgião João Dias. Mas terminaram por concluir que o duque David tinha culpa no cartório, por “Cidadãos da praça da Bahia” a sua alteza real, c. maio de 1814, p. 106. Cheguei a pensar que esses “barrete e manto” pudessem significar as vestes de um mestre muçulmano, caso em que estaríamos no núcleo de um grupo islâmico. Mas a preeminência de uma mulher (ver adiante) no grupo, as menções a “danças” e “brinquedos” e outros indícios me fizeram desistir dessa inicialmente promissora hipótese. 48 Sobre a nação africana como categoria política, ver SILVEIRA, Renato da. Nação africana no Brasil escravista: problemas teóricos e metodológicos. Afro-Ásia, n. 38, p. 245-301, 2008. 46 47 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 88 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis tentar se envenenar no ato de sua prisão, em mais um gesto suicida na conta dos rebeldes. Foram absolvidos Lourenço e Domingos, o outro duque. No rol dos inocentados por serem apenas brincantes sob as ordens do rei Francisco estava Manaçás, um nome haussá, dos poucos libertos suspeitos de rebeldia.49 Nada se pôde apurar contra ele. Tornara-se suspeito por figurar de “escudeiro de Francisco Cidade nas danças que [este] fazia e algumas vezes fosse visto em casa de Francisca, Ussá, intitulada Rainha, onde se guardavam as armas...”. Com a rainha Francisca se completava a corte presidida por Francisco. Como esperado, o Acórdão inseriu no núcleo dirigente da revolta a liberta Francisca, “amásia” de Francisco e “rainha” de suas danças, ambos termos usados no inquérito para identificá-la como figura de proa no esquema rebelde. Na casa dela se guardavam “instrumentos e armas”, e a mulher costumava acompanhar Francisco em suas viagens ao Recôncavo e ilhas, inclusive Itaparica, “para conferir títulos aos mais ardilosos da sua nação”. Enfim, sobre os líderes do movimento de 1814 àquela altura ainda vivos, o Acórdão de sentença conclui: “Prova-se que tanto o dito João Alasam, como a preta forra Francisca, eram os cabeças, sedutores e sócios do Réu Francisco Cidade, e reconhecido sobre eles todas as provas que resultam da Devassa, sumário, perguntas dos Réus e além do que provam da fuga imediata da Ré Francisca […]”. Não apenas de homens, então, foi feita a revolta de 1814. E há mais mulheres adiante. Duas senzalas rebeldes Duas senzalas se destacaram no levante, a dos escravos do capitão Manoel Ignácio da Cunha e Menezes e a dos pertencentes ao fazendeiro e comerciante João Vaz de Carvalho. Manoel Ignácio contou dezessete escravos seus “que se uniram aos que foram desta cidade sublevados”, mas sua conta não bate com a do Acórdão. Talvez porque tivessem sido mortos em combate, nove escravos de sua lista não figuram no Acordão, e neste apenas um que não consta no rol de Manoel Ignácio.50 Tratava-se de Antonio. Ferido e preso no Joanes, ele foi acusado de ser “um dos principais fatores da conspiração dos escravos de seu Senhor”, por receber de braços abertos os quilombolas que desceram do quilombo do Sangradouro, com outros seus parceiros de trabalho acompanhou os demais insurgentes ao povoado de Itapuã e em seguida ao Joanes. Outros escravos de Manoel Ignácio envolvidos no levante eram Duarte, Antão, Verissimo, Saul, Leandro, Vitorino, Sebastião e Abrahão, todos indiciados como autores dos incêndios de casas na armação onde trabalhavam, além de pelejarem até o final do levante, quando foram presos. Mais tarde, Duarte seria acusado de participar da morte do cabo de esquadra José Joaquim Viana, o que negaria. Manaçás. Trata-se provavelmente de Mainasara, um apelido masculino comum entre os haussás. Ver UNITED STATES. Central Intelligence Agency. Hausa personal names, op. cit. p. 27. 50 Relação dos escravos, pertencentes a armação de Manoel da Cunha Menezes, que se unirão aos que forão d´esta cidade sublevados, 2 de março de 1814. AN, IJJ9, 322, fl. 112. 49 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 89 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis Outro escravo de Manoel Ignácio, Vitorino — um dos poucos que não pertenciam à nação haussá, ele era nagô51 —, “foi visto subindo no telhado lançar de propósito e premeditadamente fogo na principal casa da dita armação em que pereceram as vítimas constantes do auto”; e na armação e fazenda de João Vaz de Carvalho, em Itapuã, foi acusado de matar a machadadas um homem que tentava escapar de uma casa tomada pelo fogo, episódio por ele negado. O nagô Vitorino não era rebelde novo: guerreou com um ferro preso ao pé, sinal de punição senhorial por delito cometido anteriormente, talvez uma tentativa de fuga. Sinal também de que seu feitor, que foi trucidado durante o levante, não era um tipo brando. Vitorino e Sebastião lutaram montados a cavalo, sendo este último visto “à testa dos incendiários” com o facho na mão com que pôs fogo às casas da armação de seu senhor. Abrahão, também guerreiro competente, conseguiu furar o cerco do Joanes, mas seria preso no dia seguinte. Antão tentou inocentar-se dizendo ter sido forçado por outros a se juntar aos levantados, mas não convenceu as autoridades. Sua defesa lembra a experiência de outros companheiros de senzala, pois, segundo seu senhor, “foram obrigados a acompanhá-los [aos rebeldes] mais 10 ou 12 [escravos seus], os quais voltaram logo que puderam escapar-se”.52 Não foi o caso de Antão, que decidiu seguir adiante. O episódio mais dramático acontecido na armação de Manoel Ignácio foi o assassinato da parda Marcelina e suas duas filhas ainda crianças, que aparentemente formavam a família do feitor, também ele morto. Participaram dessa ação dois insurgentes vindos de fora da propriedade, Fernando, escravo de Manoel José de Mello, e Benedito, escravo de João Vaz de Carvalho. Talvez os próprios escravos da armação de Manoel Ignácio tivessem hesitado em agir com tamanha violência, quer por receio de retaliação imediata — o feitor podia ser percebido como detentor de poder ilimitado e mesmo sobrenatural —, ou por respeitarem o preceito muçulmano de poupar mulheres e crianças numa guerra. 53 Tais escrúpulos não tiveram os escravos de outras senzalas. Outro grupo de escravos que se destacou em 1814 pertencia ao senhorio de João Vaz de Carvalho, rico negociante, dono de muitos imóveis em Salvador, talvez traficante de escravos (pois o eram outros membros da família) e proprietário de uma das armações de pesca de Catuçaba, na área então chamada Itapuã Grande, ao norte da povoação pesqueira, além de dois alambiques e uma fazenda onde criava gado vacum e cavalar. O haussá Benedito, descrito três anos antes no inventário da falecida mulher de Vaz de Carvalho como “moleque ladino” — portanto jovem e aclimatado aos costumes e língua locais —, foi um dos escravos Mas na “Relação dos escravos, pertencentes a armação de Manoel da Cunha Menezes etc.”, ele consta como haussá. Consideramo-lo nagô porque a informação do Acordão, retirada da devassa, se baseia no interrogatório feito a Vitorino, portanto autoidentificação. Além disso, ele consta como nagô ao ser batizado. Arquivo da Cúria de Salvador (ACS). Livro de registro de batismos da freguesia de N. Sa de Brotas, 1803-1821, registro de 29 de abril de 1810. 52 Relação dos escravos, pertencentes a armação de Manoel da Cunha Menezes etc. op. cit. 53 FUDI, Uthman Ibn [Usuman dan Fodio]. Bayān Wujub Al-Hijra ‘Ala ‘L-‘Ibad, op. cit. p. 86, por exemplo. 51 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 90 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis deste senhor envolvido no levante. Ele sabia de antemão dos planos rebeldes, sobre o que comunicara aos parceiros Ignácio, alambiqueiro de nação bariba (segundo o Acórdão) ou haussá (segundo o inventário da mulher de Vaz), a Antonio, haussá, e a Lourenço, tapa, os dois últimos do serviço da roça, avisando-os de que “nesse dia haviam de chegar os Ussás da Cidade de quem lhes tinha falado no Sábado antecedente para fazerem a guerra.” 54 Benedito decerto estava entrosadíssimo com os cativos de Manoel Ignácio da Cunha e também com os quilombolas do Sangradouro chefiados pelo malomi. Durante o levante, ele foi acusado de segurar o feitor, que escapara de uma das casas incendiadas dessa armação, enquanto seus parceiros o trucidavam, a ele e sua família. Foi também quem untou com azeite de baleia as portas da casa-grande para que ardessem mais facilmente ao fogo — era aquela casa descrita algumas páginas antes. Acabou destruindo apenas um símbolo do domínio senhorial, pois Vaz de Carvalho não se encontrava no local, mas em Salvador, onde aparentemente vivia a tocar seus negócios. Alguns de seus escravos rebeldes foram presos no Joanes, outros podem ter retornado ilesos a suas senzalas e não chegaram a ser presos. Mas além dos aqui já mencionados, entre os cativos desse senhor, foram presos Crispim, borno, doméstico, e Patrício, haussá ou bariba, do serviço da roça, ambos falecidos na cadeia da Relação alguns meses depois de terem sido ali recolhidos.55 Esta última informação eu colhi do inventário dos bens do casal Vaz de Carvalho, cuja mulher, tendo morrido em 1811, o inventário se arrastou para além de 1814. O inventário registra 47 escravos, distribuídos por diversas propriedades. Poucos trabalhavam como pescadores, apenas três, anotados como do “serviço de lancha”. Os demais eram dezoito do serviço de enxada e roça, inclusive o rebelde Patricio, três do serviço de alambique, inclusive o rebelde Ignácio. Ainda no setor rural, dois trabalhavam como vaqueiros e carreiros, e um que era somente carreiro. Seis viviam na cidade como carregadores de cadeira, provavelmente no sistema de ganho. Dois tinham ofício: um sapateiro e um “mau pedreiro”. Os moleques Lucas e Crispim, este um dos rebeldes, e a moça Maria eram do serviço de casa, Os naturais de Borgu (reinos de Bussa, Ilo, Nikki etc.), vizinhos dos haussás, eram pouco numerosos na Bahia, sendo conhecidos aqui e alguns outros portos do Atlântico por baribas (ou barbás), enquanto os do reino de Nupe eram conhecidos por tapas, ambos termos que lhes davam seus vizinhos de Oyó, principais intermediários do tráfico que descia do Sudão Central para o litoral do golfo do Benim. Sobre esse comércio, ver MORTON-WILLIAMS, Peter. The Oyo Yoruba and the Atlantic slave trade, 1670-1830. Journal of the Historical Society of Nigeria, v. 3, n. 1, p. 25-45, 1964; LAW, Robin. The Oyo Empire, op. cit. p. 227-228; ADAMU, Mahdi. The delivery of slaves from the Central Sudan to the Bight of Benin in the eighteenth and nineteenth centuries. In: GEMERY, Henry A.; HOGENDORN, Jan S. (Org.). The uncommon market: essays in the economic history of the Atlantic slave trade. Nova York: Academic Press, 1979. p. 163-180; LOVEJOY, Paul. The Central Sudan and the Atlantic slave trade, op. cit.; e LAW, Robin; LOVEJOY, Paul. Borgu in the Atlantic slave trade. African Economic History, n. 27, p. 69-92, 1999, que estudam a modesta participação de Borgu como entreposto interno e fornecedor de escravos para o tráfico transatlântico. 55 Além do Acórdão, foi consultado para este parágrafo o inventário da mulher de João Vaz Pereira, dona Josefa Constança Joaquina de Carvalho, no qual estão listados alguns dos escravos da família acusados de rebeldia. APEBA, Inventários, 4/1710/2180/4. 54 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 91 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis e mais três moças trabalhavam no mesmo setor e tinham “princípio de costureira” ou era, uma delas, “costureira ordinária”. Provavelmente, ao modo dos carregadores, elas viviam na cidade. Quanto ao gênero, apenas quatro mulheres, taxa de masculinidade altíssima de onze homens para cada uma delas. Vinte e oito dos escravos de Vaz de Carvalho, todos eles africanos, todos homens, serviam em seu alambique e fazenda de Itapoã, inclusive os mencionados rebeldes. Os escravos haussás estavam incluídos nesse grupo, e embora não formassem a maior parte da senzala, eram a nação mais numerosa entre aquelas ali representadas, 36%. Em números redondos, os haussás eram dez, que conviviam com seis angolas, quatro jejes, seis que representavam cada um as nações benguela, moçambique, borno, tapa, mina e nagô, além de dois mencionados como do “gentio da Costa”, naturalmente referindo-se à Costa da Mina, que podiam também ser haussás. Em resumo, as ocupações dos escravos desta senzala sugerem que se tratava de um grupo mais convencionalmente rural do que de trabalhadores apenas dedicados à pesca.56 Já a alta taxa de masculinidade — talvez de 100% na propriedade rural — constituía um obstáculo abismal à formação de famílias e descendência. Quanto à origem, se combinavam um grande número de haussás e outros grupos bem ou mal islamizados (borno, tapa, bariba). Aquele bando de homens jovens, sem mulher e com características étnicas e religiosas semelhantes, grande parte deles guerreiros feitos cativos — situação que provavelmente se repetia em outras propriedades do lugar —, favoreceu a formação de um ambiente particularmente explosivo.57 Some-se às características desses escravos, aquelas de seus senhores. Tanto Manoel Ignácio da Cunha e Menezes como João Vaz de Carvalho eram senhores ausentes, que viviam na capital deixando seus escravos à mercê de feitores provavelmente tiranos. Daí terem sido, durante o levante, um morto, o outro, por sorte, apenas ferido. Aliás, o conde dos Arcos resumiu a revolta da seguinte maneira: “na Bahia não houve nada senão a Erupção dos Escravos de Manoel Ignácio contra seu Feitor, com todas as tristes consequências que deste A mesma combinação entre pesca e agricultura foi encontrada por Castellucci, que assim resume a questão: “a pesca da baleia era parte de um conjunto complexo e diversificado de atividades produtivas executadas, paralelamente, nas fazendas de Itaparica que associavam trabalho escravo ao livre assalariado”. CASTELLUCCI JUNIOR, Wellington. Pescadores e roceiros, op. cit. p. 186. Não tenho dados sobre trabalhadores livres nas armações conflagradas. 57 A discussão sobre se a família escrava foi ou não fator de pacificação — e eu acredito que sim, embora não um sim absoluto — tem sido travada, principalmente, entre, de um lado, FLORENTINO, Manolo; GÓES, José Roberto. A paz na senzala: famílias escravas e tráfico atlântico, Rio de Janeiro, c. 1790-c.1850. São Paulo: Civilização Brasileira, 1997, e, do outro lado, SLENES, Robert. Na senzala uma flor: esperanças e recordações na formação da família escrava — Brasil Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. Analisando o caso da conspiração de Campinas, em 1832, Ricardo F. Pirola mostra que a formação de famílias entre alguns rebeldes não impediu a revolta, mas também não esclarece se serviu de incentivo a ela. PIROLA, Ricardo F. Senzala insurgente: malungos, parentes e rebeldes nas fazendas de Campinas (1832). Campinas, Editora da Unicamp, 2011. 56 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 92 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis Crime se originaram”.58 Claro que não foi só isso, mas há que contar esse fator como parte da trama. A ausência senhorial diminuía a possibilidade de que relações de mando paternalistas desabrochassem e algum espaço de negociação fosse criado. Mesmo isso, no entanto, não serviria de garantia absoluta de paz na senzala. Veja-se o caso de Francisco Cidade: escravo de ganho, ampla liberdade de circulação, sugerindo uma relação descomprimida com o senhor, e no entanto... Outros escravos urbanos deviam viver semelhantemente, ainda assim se rebelaram. Histórias de outros rebeldes Um dos presos deu o depoimento mais detalhado sobre o início do movimento. Benedito era escravo haussá de Joaquim José de Magalhães e pode ser considerado peça importante do segundo escalão rebelde. Ele relatou o seguinte, conforme o Acórdão: Convidado pelo corréu Francisco Cidade para que seduzisse aos mais Ussás para que fossem a um lugar do termo [de Salvador], lá se incorporassem e armassem para vir sobre esta Cidade e se fizessem senhores dela, que ele Réu recebera do mesmo Réu Cidade oito mil-réis para entregar ao Malomi para sustento dos corréus juntos no Sangradouro e que ele Réu era o condutor do sustento mandado [buscar] pelo Malomi. Que no domingo anterior aos delitos, fora ele Réu com outro Benedito, do Borges, unir-se a eles e que todos armados em grande número se encaminharam à fazenda de Manoel Ignácio dando o sinal “Munsoca”, que quer dizer nós já chegamos, e acudindo vários negros daquela armação vira as casas incendiadas sem que eles tivessem levado fogo [a elas], e todos juntos fizeram os delitos constantes do Auto até o Rio de Joanes, em cujo combate fugira e viera ter à casa do seu Senhor, confessando ao mesmo tempo que ele fora o que induzira uma grande parte dos corréus, a qual confissão, posto que não seja corroborada pelas testemunhas da Devassa, se faz acreditável pela concordância com que afirmam os acareados Benedito, do Borges, Zaqui e Francisco, escravo do Pessoa, e Domingos, escravo de João Manoel, que todos concordam que este fora um dos principais amotinadores. Depoimento rico, que introduz uma variável quanto ao projeto rebelde: o de assalto imediato a Salvador, que não adere ao que de fato aconteceu. É possível ter havido mudança de planos, ou que o escrivão do inquérito policial entendesse mal o depoimento de Benedito sobre as etapas de sua execução. Em contrapartida, dentro do possível, o escrivão transcreveu razoavelmente bem a senha usada para dar início ao levante. “Munsoca” seria a transcrição fonética de mun sauka que, segundo o africanista Graham Furniss, significa, em língua 58 Conde dos Arcos para o marquês de Aguiar, Bahia, 2 de maio de 1814. AN, IJJ9, 323, fl. 24v. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 93 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis haussá, “nós chegamos”, tal como o réu Benedito traduziu em bom português.59 O detalhe linguístico representa interessante presença do haussá na documentação baiana, faz companhia ao termo malomi e reforça ainda mais a impressão de hegemonia haussá no interior do movimento de 1814. Do ponto de vista do desenrolar da revolta, mun sauka confirma que a descida dos quilombolas até a praia representou o primeiro ato do levante, o “sinal ajustado” para seu início. E esse ato se daria precisamente com o encontro entre os quilombolas do Sangradouro e os escravos da armação de Manuel Ignácio — ou seja, a senha haussá funcionou como traço de união entre esses dois núcleos rebeldes, nem todo ele composto exclusivamente por negros haussás. Outro personagem que assumiu posição de proa durante os combates respondia pelo nome de Caio, escravo de Pedro Antonio de Torres. Parecia bem enfronhado com o esquema rebelde, como conspirador, quilombola e guerreiro. Ele fugira de casa três semanas antes do levante, se aquilombou nos matos do Sangradouro e de lá desceu com os demais sublevados para a armação de Manoel Ignácio. Aqui ajudaria a incendiar quatro casas e mais outra na vizinha armação de Francisco Lourenço da Costa Lima. Caio foi preso em flagrante no combate do Joanes, quando tentava fugir a nado. Era réu confesso e foi visto “comandando uma divisão dos sediciosos em todos os pontos onde foram cometidos os delitos”. Durante o inquérito, Caio foi “reconhecido por todos como um dos primeiros chefes deste malvado projeto”. Eu diria que pertenceu ao segundo escalão do movimento, destacando-se em sua etapa armada. O escravo Domingos, de João Manoel Vieira da Fonseca, também foi preso a lutar no Joanes. Fora recrutado por outro escravo, Benedito, e ele mesmo aliciou vários. Um desses chamava-se Manoel, cativo de Manoel José de Mello, que se juntou aos confederados, acompanhado de um seu parceiro, somente quando muito estrago já tinha sido feito na primeira armação atacada. Manoel seguiu para o rio de Joanes, onde participaria daquela última e decisiva ação, sendo em seguida preso. Outro Benedito, este escravo haussá de Manoel José de Araujo Borges, estava envolvido até a alma na conspiração. Apesar de ter sido recrutado para o levante, por outro negro haussá, havia apenas uma semana, apressou-se em se reunir aos quilombolas do Sangradouro. Ali se tornaria um dos responsáveis por prover o quilombo de mantimento e pontas de flechas (“ferrões”), e também operou como mensageiro entre o Sangradouro e a armação de Manoel Ignácio. Por isso foi acusado de ser “dos principais aliciadores dos negros rebelados”. Benedito deve ser realmente contado como peça importante da máquina rebelde, no mínimo um eficiente recrutador. Consta ter convidado, além de outros, pelo menos três escravos de José Vaz da Rocha: José, Afonso e Ventura, este último da nação tapa, os demais haussás. Eles Comunicação pessoal de Graham Furniss (14 de julho de 2009), professor de língua e literatura haussás da School of Oriental Studies, Universidade de Londres. Agradeço a intermediação de Paulo Farias, que também contribuiu para decifrar a expressão haussá. 59 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 94 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis confessaram terem, por Benedito, “sido convidados por ordem de Malomi ou Sacerdote”, e foram se recolher ao quilombo do Sangradouro na véspera do levante, domingo. Ali, disseram, encontrariam mais de vinte negros armados, com os quais seguiram para a armação de Manoel Ignácio na manhã seguinte. Foram todos presos no rio de Joanes. O réu haussá Bernardo, escravo de Maximiano de tal, foi convocado em nome do malomi, mas disse que não participara de incêndios e matança, pois pensou só ter sido “convidado para fugir, não para matar”. Foi, porém, preso na batalha do Joanes. Na mesma linha seguiu Antonio, escravo do cirurgião-mor do primeiro regimento da Infantaria, José Alvares Barata, que disse ter sido aliciado para o movimento pelo próprio malomi, mas que seu intento seria tão somente o de “fugir para sua terra”. Não devemos duvidar prima facie dos depoimentos desses rebeldes. É plausível que o ardente desejo de voltarem para casa fosse usado pelos líderes e recrutadores como isca para atraí-los ao partido insurgente. Esses casos, provavelmente, se somariam a outros em que um eventual ardor religioso não fosse o principal combustível para abraçar a causa — sem desconsiderar que, mesmo os mais militantes entre os muçulmanos, até o malomi, pudessem acalentar a esperança de retorno a sua bilad al-Islam. Já disse que os rebeldes foram acusados naquela petição a sua alteza real de eliminarem escravos que se recusaram a entrar na revolta, sobre o que nada é aludido no Acórdão, talvez porque não se considerasse culpa tão grave como a de matar brancos e mulatos livres, ou crime a ser sequer julgado, pelo menos naquela circunstância particular. O Acórdão, por outro lado, menciona diversos escravos que alegaram terem sido levados a se juntar ao levante à força, conforme já informado alguns parágrafos acima por Manoel Ignácio de Menezes. Francisco, haussá, do cirurgião-mor Pessoa, declarou ter sido aliciado a pancadas. No entanto, tê-lo-iam visto participar voluntariamente da morte de um cabo, de quem tomara a espada e com ela o acutilara, demonstrando habilidade no combate corpo a corpo, do qual por certo já tinha provado antes de atravessar o Atlântico. Como evidência acusatória mais contundente, Francisco fora preso no Joanes e, quando interrogado, tinha o corpo cheio de cicatrizes adquiridas em combate, mais um sinal de que era um valente. Também Caetano, jeje, escravo de Germano Mendes Barreto, disse não ter aceitado as armas a ele oferecidas para o levante, por isso fora espancado pelos rebeldes. Durante o interrogatório exibiu ferimentos que afirmou terem sido infligidos por estes, que o teriam amarrado para que não descesse do quilombo à cidade para denunciar a conspiração. Posteriormente, conseguiria fugir dos levantados, mas como foi preso em Itapuã no dia do levante, o juiz achou que sua história cheirava a enrolação. Mas eu acho que não, pelo menos em parte. Caetano era jeje, nação alheia aos levantes escravos da época e praticamente intocada pelo Islã. Deve ter sido convidado para a fuga de volta à sua terra, não para uma revolta, por seu parceiro de senzala Ventura, este haussá.60 O Acórdão silencia sobre a nação de Caetano, mas ele é dado por seu senhor como jeje na declaração mandada fazer aos senhores pelo conde dos Arcos de seus escravos fugidos naqueles dias. AN, IJJ9, 322, fl. 111. Sobre a 60 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 95 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis Alegações semelhantes avançaram os réus Luis, tapa, e Roberto, nação ignorada, escravos de João Antunes Guimarães. Eles estavam presos a um tronco pelo feitor, que assim procedera, por precaução, logo que vira arder o fogo causado pelos revoltosos nas propriedades vizinhas. Quando chegaram até Luis e Roberto, os rebeldes soltaram-nos e os teriam obrigado a segui-los. Tendo sido presos no combate do Joanes, declarou o juiz, se quisessem, “no caminho e matos que medeiam entre aquela Povoação [de Itapuã] e o dito Rio de Joanes achariam facilmente o meio de escapar se eles voluntariamente não queriam acompanhá-los”. Mas eles quiseram. Explicação análoga, de adesão forçada ao levante, foi desenvolvida diante dos interrogadores por Claudio, moleque de nação cotocori. Ao contrário de Luis e Roberto, ele conseguiu convencer os juízes, que concluíram ter ele sido “obrigado por violência do bando a acompanhá-los [...], pois que por sua idade se reconhece ser incapaz de dolo”. Não foi registrada a idade de Claudio, mas devia ser pouco mais que um menino. Ventura, nação borno, também alegou ter sido espancado e forçado a ir, chegando a se apresentar na batalha do Joanes, mas teve contra ele o depoimento de Benedito, escravo de Vaz de Carvalho, que o denunciaria como autor da morte do comerciante Luis Antônio dos Reis. Se algumas dessas histórias de recrutamento forçado eram verdadeiras, a maioria parece ter sido ladinamente criada com o intuito de salvar a pele. No sentido inverso a esses depoimentos, alguns réus confessaram abertamente participação no movimento. E nem sempre eram haussás. O escravo de nação tapa, Bernardo, do capitão Luis Portugal, também preso no Joanes, começou sua revolta no Sangradouro, como muitos outros, tendo sido convidado apenas no domingo anterior por um negro haussá cujo nome não quis revelar. Como Benedito, acima mencionado, durante a semana que precedeu o levante ele serviu de mensageiro entre o quilombo e a armação de Manoel Ignácio, negando-se também a declinar os nomes de seus contatos ali. Respondeu, altivo, a seus interrogadores “que se havia de morrer confessando, antes queria morrer calando e cativo”. Armas e táticas Os rebeldes de 1814 se mobilizaram como guerreiros que eram, na sua maioria. Conceberam a revolta segundo um plano militar e tentaram se formar para o combate organizadamente, de acordo com uma cadeia de comando. Usaram armas que estavam acostumados a manejar nas guerras de suas terras: arco e flecha, machado, lança, cutelo e espada, além de archote, foram mencionados como parte do arsenal deles. Tinham poucas armas de fogo, de baixa densidade islâmica nas terras jejes, ver LAW, Robin. Islam in Dahomey: a case study of the introduction and influence of Islam in a peripheral area of West Africa. The Scottish Journal of Religious Studies, v. 7, n. 2, p. 95-122, 1986. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 96 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis mais difícil acesso tanto aqui como do outro lado do Atlântico.61 Assim, ao chegar ao quilombo do Sangradouro, os escravos José, Ventura e Afonso encontraram mais de vinte negros munidos de arcos e lanças, “com os quais marcharam na manhã do dia” 28 de fevereiro. Joaquim, escravo de Manoel Antonio, um dos que se reuniram no Sangradouro, dali “partiu na marcha entrando em todas as ações até que foi preso no Rio de Joanes”, e ali fora visto “armado e no lote dos guerreiros com arco e flecha”. Dezoito flechas, além de uma “bengala de estocar”, seriam confiscadas como prova no campo de batalha do Joanes e trazidas para as cadeias da cidade onde estavam recolhidos os presos.62 A única notícia sobre fabricação de armamento vem da atuação de Benedito, e se refere a esse tipo de artefato. Provavelmente ferreiro, escravo haussá de Manoel José de Araujo Borges, ele fabricou pontas de flechas de ferro para os quilombolas. Benedito deve ter trazido essa habilidade de seu país, uma vez que arcos e flechas eram as armas mais empregadas pelos haussás, fossem soldados do Sarkin Gobir ou os mujahidun do xeque Dan Fodio. Este, aliás, escreveu palavras de louvor a essas armas, as prediletas do profeta Maomé, que segundo o xeque costumava repetir: “A verdadeira força está na arte de manejar o arco”.63 Como assim falara Maomé, essas armas ganhavam foro de sagradas nas palavras de Dan Fodio. A testemunhar sua relevância na cultura militar do país haussá, as flechas traziam os mais diversos formatos e denominações: kibyia, o nome genérico para flecha; gazara, a pequena flecha farpada, de difícil extração do alvo por ela perfurado; bakin maiki, uma flecha muito longa; adullu ou kunda, a flecha cega, sem ponta. Coletes acolchoados de algodão eram usados pelo exército de Gobir para proteger dessas armas tanto homens como cavalos. Entre os haussás na África, os arqueiros (yam baka ou masu baka) formavam o maior contingente da infantaria, tanto no período do jihad quanto no anterior. A intimidade dos haussás com arcos e flechas era tão grande que mesmo para ir ao mercado os homens carregavam essas armas, e os soldados faziam do arco desarmado uma espécie de bengala, “a walking stick”, conforme observou Hugh Clapperton em seu diário de viagem ao país haussá. Em 1814, na Bahia, não sabemos se os arqueiros tentaram usar as terríveis flechas envenenadas que costumavam lançar nas guerras haussás, mesmo os muçulmanos, apesar de proibidas por sua religião. O emprego dessas flechas era ali generalizado, e para defender-se delas existia amuleto específico, chamado laya, confeccionado com versos corânicos; e uma vez atingido, o ferido era tratado com katala ou kirni, antídotos para veneno de flecha. Um tipo mais genérico de amuleto, o maganin karfe, protegia contra armas em geral.64 Todas essas armas, inclusive as de fogo, e espadas, foram mencionadas como de uso corrente na época pelos haussás entrevistados no Brasil por José Bonifácio. Ver SILVA, Alberto da Costa e. José Bonifácio e o curso do Níger. op. cit. p. 269 62 Anexo ao ofício do conde dos Arcos para o marquês de Aguiar, Bahia, 2 de março de 1814. 63 Uthman Ibn [Usuman dan Fodio]. Bayān Wujub Al-Hijra ‘Ala ‘L-‘Ibad, op. cit. p. 98. 64 Ibid., p. 88 (proibição do uso de flecha envenenada pelos muçulmanos); HISKETT, Mervyn. The sword of 61 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 97 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis Se os rebeldes baianos usaram amuletos durante o levante, e provavelmente o fizeram, deve ter sido desse último tipo, quiçá feitos por João Malomi. Serviam para proteger contra tiros e ataques com armas brancas, como as lanças, presentes no levante de 1814, armas também muito difundidas na haussalândia, onde os guerreiros eram “mui destros no lançamento de lanças”, segundo um visitante marroquino que por lá esteve no final do século XVIII.65 As lanças, usadas pela cavalaria, podiam ser de modelos e tamanhos variados. Segundo o formato e o manejo, havia a lança de jogar, ou azagaia, a kuyi-kuyi; com nome parecido, a de múltiplas lâminas, kwiyi-kwiyi; à de cabo de metal denominava-se asigiri; à de lâmina larga, usada pela cavalaria, bugundu, o principal armamento da cavalaria, segundo Hiskett. Variavam, ademais, de acordo com a origem regional, a exemplo da bursu, tipo de lança de Sokoto; ou da kambari, característica de Kebbi. Tinha ainda uma espécie de mosquete que lançava um arpão ou dardo.66 Os rebeldes de 1814 fizeram uso de machado, outra arma bastante empregada em suas guerras africanas. Na Bahia, porém, seus machados não eram senão instrumentos de trabalho — para cortar lenha e desossar baleia — transformados em ferramentas de combate, mas igualmente letais. Domingos, escravo de João Manoel Vieira da Fonseca, levou para o Sangradouro um “machado de cortar lenha”, com o qual, na batalha do Joanes, “tirara barbaramente a vida ao cabo de esquadra José Joaquim Viana”, e perguntado sobre este feito, respondeu, pensando em Alá, “Deus sabe quem o matou”. Que o interrogador perguntasse a Alá, o Onisciente! Segundo uma testemunha, outro escravo, Antonio, de Manoel Ignácio, também armado de machado, seria coautor dos golpes. Mas não apenas haussás manejavam com destreza o machado. O nagô Vitorino, outro escravo de Manoel Ignácio, usou-o para eliminar um homem que tentava escapar de uma casa incendiada pelos rebeldes. Vitorino montava um cavalo da armação de seu senhor e marchava “na frente dos amotinados”.67 Cavalos foram montados por alguns rebeldes que se destacaram como líderes no confronto militar. O Acórdão os acusa de “furto de alguns cavalos em que dali [da armação de truth, op. cit. p. 86, entre outros; SMALDONE, Joseph P. Warfare in the Sokoto Caliphate, op. cit. passim; LAST, Murray. The Sokoto Caliphate, op. cit. p. 72-73; e depoimento de Clapperton em DENHAM, Major; CLAPPERTON, Cpt.; OUDNEY, Doctor. Narrative of travels and discoveries in Northern and Central Africa in the years 1822, 1823, and 1824, op. cit., v. 2, p. 27, 35. 65 JACKSON, James Grey. An account of Timbuctoo and Housa territorries in the interior of Africa by El Hage Abd Salam Shabeeny. Notas de James Grey Jackson [1820]. Londres: Frank Cass, 1967. p. 45. 66 SMALDONE, Joseph P. Warfare in the Sokoto Caliphate, op. cit. passim. Ver também HISKETT, Mervyn. The sword of truth, op. cit. cap. 6, esp. p. 82-87; e SILVA, Alberto da Costa e. José Bonifácio e o curso do Níger, op. cit. p. 269, 272. 67 Também entre os iorubás, as armas usadas nessa época eram espada, lança, arco e flecha, machado (inclusive um machado duplo similar ao oxé de Xangô), além de porretes de madeira. Ver SMITH, Robert. Yoruba armament. The Journal of African History, v. 8, n. 1, p. 87-106, 1967. Os iorubás eram reputados excelentes arqueiros e também usavam flechas envenenadas. Ver MORTON-WILLIAMS, Peter. The Oyo Yoruba and the Atlantic slave trade, op. cit. Um missionário batista ao país iorubá testemunhou, em meados do século XIX, o terrível estrago por flecha envenenada feito a um jovem. BOWEN, T. J. Adventures and missionary labours in several countries in the interior of Africa, from 1849 to 1856 [1857]. Londres: Frank Cass, 1968. p. 259. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 98 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis Manoel Ignácio] em diante marcharam montados [os] condutores” do levante. Além do nagô Vitorino, o haussá Sebastião, seu companheiro de senzala, “foi visto montado a cavalo e com um facho na mão à testa dos incendiários”; e também Caio, a quem diversas testemunhas viram “montado a cavalo comandando uma divisão dos sediciosos em todos os pontos onde foram cometidos os delitos”, inclusive no rio de Joanes. Na descrição dessa batalha, o Acórdão aponta: “Mostra-se mais que não só furiosamente se recusaram à voz de respeito que se intimava e particularmente ao Condutor, que os precedia montado a cavalo conclamando que morrer sim, entregar não, disparando logo sobre o corpo de defesa que se lhe opunha ferindo alguns com alarido e visagens imodestas de desprezo”. Essas palavras dão conta da destreza do cavaleiro e de sua eficiência na batalha, assim como de gestos de acinte e insultos com vistas a desmoralizar o adversário. Decerto os “condutores” dos levantados baianos não teriam aprendido a assim combater na Bahia, na condição de escravo que eram. Cavalos existiam por toda a parte e representavam importantes meios de transporte e instrumentos de guerra no Sudão Central, fosse nos diversos reinos haussás ou seus vizinhos Oyó (de onde devia vir o nagô Vitorino), Borgu, Nupe e Borno, todos representados no levante baiano. Oyó, Borno e os diversos estados haussás comandavam poderosas cavalarias.68 Entre os haussás a cavalaria era usada para dirimir revoltas internas, para a conquista e sujeição de uns sobre outros reinos da região, para a pilhagem de comunidades mais fracas, o aprisionamento e escravização de seus membros. Presente havia pelo menos quatro séculos no território haussá, a cavalaria foi ganhando importância cada vez maior. Ela permitia, segundo Joseph Smaldone, maior “alcance, rapidez, precisão e capacidade destrutiva das armas dos guerreiros.” 69 O cavalo de guerra figurava como um aspecto aristocrático dos exércitos, que não eram profissionais — exceto a guarda palaciana —, mas mobilizados nas comunidades por seus Sobre a importância, sobretudo militar, do cavalo nos diversos reinos da região, ver SMITH, Robert. Yoruba armament, op. cit. p. 87-106, esp. 87-91; LAW, Robin. A West African cavalry state: the Kingdom of Oyo. The Journal of African History, v. 16, n. 1, p. 1-15, 1975; DANMOLE, H. O. Crisis, warfare, and diplomacy in nineteenth-century Ilorin. In: FALOLA, Toyin; LAW, Robin (Orgs.). Warfare and diplomacy in precolonial Nigeria, op. cit. p. 44; NADEL, S. F. A Black Byzantium: the Kingdom of Nupe in Nigeria. Londres: Oxford University Press, 1941, p. 74; KUBA, Richard; AKINWUMI, Olayemi. Precolonial Borgu: its history and culture. In: OGUNDIRAN, Akinwumin (Org.). Precolonial Nigeria: essays in honor of Toyin Falola. Trenton, NJ: Africa World Press, 2005. p. 322, 324; e JOHNSTON, H. A. S.; MUFFETT, D. J. M. Denham in Bornu. Pittsburgh: Duquesne University Press, 1973, passim; FARIAS, P. F. de Moraes. A letter from Ki Toro Mahamman Gaani, King of Busa (Borgu, Northern Nigeria) about the ‘Kisra’ stories of origin (c. 1910). Sudanic Africa: A Journal of Historical Sources, v. 3, p. 131-132, 1992. 69 Ver SMALDONE, Joseph P. Warfare in the Sokoto Caliphate, p. 11 e passim. Para um relato do final do século XVIII sobre a importância da cavalaria haussá, ver JACKSON, James Grey. An account of Timbuctoo and Housa territorries in the interior of Africa, op. cit. p. 44-45. Ver também os depoimentos de haussás escravizados no Brasil em SILVA, Alberto da Costa e. José Bonifácio e o curso do Níger, op. cit. p. 269, 272, 273. E sobre o império de Sokoto e Borno, DENHAM, Major; CLAPPERTON, Cpt.; OUDNEY, Doctor. Narrative of travels and discoveries in Northern and Central Africa in the years 1822, 1823, and 1824, op. cit. v. 1 e 2, passim. 68 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 99 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis chefes políticos e senhores da guerra. Apenas a elite tinha poder aquisitivo suficiente para comprar montarias — um cavalo chegava a valer vinte escravos — e dispô-las numerosas em ação. Entretanto, a cavalaria de Gobir e as cáfilas de seus aliados tuaregues mais atrapalharam do que ajudaram no combate às forças de Usuman dan Fodio, que lançaram mão, com sucesso, de táticas de guerrilha associadas à destreza de seus arqueiros. Assim, até a consolidação do califado de Sokoto, a cavalaria não desempenharia papel relevante entre os seguidores do xeque, que formavam uma força democrática inclusive quanto ao tipo pedestre de tecnologia militar. “Neste primeiro ano [do jihad]”, escreve H. A. S. Johnston, “eles ainda tinham muito poucos cavaleiros e praticamente nenhuma armadura”. Com o tempo a tradição equestre foi plenamente resgatada, até a sua dimensão aristocrática, aliás, tanto militar quanto civil. Em relação a este último aspecto, o irmão do califa Dan Fodio, Abdulahi, versejou desgostoso, já em 1808, que a nova liderança ostentava concubinas, roupas finas e “cavalos que galopam nas cidades e não nos campos de batalha”.70 O mesmo traço sociológico tinha a cavalaria em outros reinos da região, fossem muçulmanos como Borno, ou pagãos como Oyó, cuja cavalaria era legendária, embora dependesse da importação de seus custosos animais, o que os tornavam fora do alcance do povo e do guerreiro comum: um bom cavalo podia valer até sete escravos. Assim, pode ter havido entre os escravos que na Bahia combateram montados em 1814 gente da nobreza militar africana, ou, por delegação, de seus dependentes e escravos. Em Oyó, por exemplo, além da guarda do Alafin, ou rei, boa parte da cavalaria era formada por escravos, e nesta muitos eram haussás, reputados bons veterinários; em Kano, reino haussá, Clapperton viu o escravo de um “governador” montado a cavalo e metido numa complexa armadura; e no reino de Borno tinham destaque os comandantes militares escravizados, os kachella.71 Citado por HISKETT, Mervyn. The sword of truth, op. cit. p. 105. Outros pontos deste parágrafo: LAST, Murray. The Sokoto Caliphate, op. cit. p. 26-27, 35; JOHNSTON, H. A. S. The Fulani Empire of Sokoto, op. cit. p. 49. No século XVI, por exemplo, no vizinho reino de Borno pagava-se entre quinze e vinte escravos por cavalo ali vendido por mercadores magrebinos. Ver SILVA, Alberto da Costa e. A manilha e o libambo, op. cit. p. 505. E no início do Oitocentos, Borno abastecia de cavalos aos haussás, segundo o viajante Dixon Denham (1823), apud JOHNSTON, H. A. S.; MUFFETT, D. J. M. Denham in Bornu, op. cit. p. 73. 71 SMALDONE, Joseph P. Warfare in the Sokoto Caliphate, op. cit. p. 29-32; LAW, Robin. A West African cavalry state, op. cit. p. 12-13; OROGE, E. Adeniyi. The institution of slavery in Yorubaland, with particular reference to the nineteenth century. Tese (doutorado) — Centre of West African Studies, University of Birmingham, 1971. p. 86-87, 93, 113, 115, 197; DENHAM, Major; CLAPPERTON, Cpt.; OUDNEY, Doctor. Narrative of travels and discoveries in Northern and Central Africa in the years 1822, 1823, and 1824, op. cit. v. 2, p. 36; COHEN, Ronald. Social stratification in Bornu. In: TUDEN, Arthur; PLOTNICOV, Leonard (Orgs.). Social stratification in Africa. Nova York: Collier-MacMillan, 1970. p. 36. 70 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 100 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis Cavaleiro de Borno, anos1820 Fonte: Body Guard of the Sheikh of Bornu from a Sketch by Major Dixon Denham, engraved by E. Finden. In: DENHAM, Major; CLAPPERTON, Cpt.; OUDNEY, Doctor. Narrative of travels and discoveries in Northern and Central Africa in the years 1822, 1823, and 1824. 2. ed. Londres: John Murray, 1826. v. i, p. 88. Outro aspecto da revolta que evoca formação militar inspirada na África dos rebeldes foi o uso de uma bandeira, talvez mais de uma. No preâmbulo do Acórdão pode-se ler que os levantados se puseram “a seguir a bandeira com que anunciavam a sedição, e rebelião, e poder dos seus condutores debaixo de denominações reputadas que faziam certa Ordem no mesmo tumulto, não tanto brutal, que não fosse disposto com sistema”. É a descrição de uma força organizada, treinada e bem disposta no teatro de guerra. E a bandeira emerge como elemento estruturador da formação dos rebeldes durante o levante, símbolo da causa e estandarte de seus líderes. Estes, por seu turno, eram conhecidos segundo nomenclatura — “denominações reputadas” — que, infelizmente, não chegou até nós, mas que decerto estabelecia cargos e funções na hierarquia do movimento e do levante, especificamente. Tudo isso lembra a África, embora adaptações devessem ter ocorrido de acordo com as circunstâncias particulares de uma revolta escrava no Brasil. As bandeiras constituíam elemento peculiar no andamento da guerra santa na haussalândia. Bandeiras brancas acompanhavam cada campanha militar feita em nome do jihad, sendo muitas delas benzidas e distribuídas pelo xeque Dan Fodio aos líderes locais que o Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 101 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis procuravam para apoiá-lo e eram por ele despachados como amir al-jaish, título usado por todo comandante militar que jurava levar a mensagem do “verdadeiro” Islã a suas comunidades. Cerca de dez anos após a morte do líder supremo do jihad, o capitão inglês Hugh Clapperton esteve em Sokoto, onde ouviu o seguinte relato: “Fellatas [fulanis] dos países os mais diferentes se reuniam em torno dele [Dan Fodio], ele os dividia sob diferentes chefes, dando a cada chefe uma bandeira branca, dizendo-lhes para ir conquistar em nome de Deus e o Profeta”.72 Dan Fodio tinha sua própria bandeira, cujo portador, certo Ibrahim, ocupou posição de enorme prestígio no movimento, tanto que, após a fundação do Califado de Sokoto, seria nomeado espécie de ministro das finanças, o coletor da zakat, a esmola que representa um dos cinco pilares do Islã, mas nesse contexto significava de fato o imposto cobrado pelo Estado muçulmano. A bandeira podia também ser adquirida dos sucessores de Dan Fodio, como o foi pelo Malam Dendo ao emir de Gwando — responsável pelo governo no sul do califado — para legitimar o jihad em Nupe, declarado em meio a uma guerra civil de sucessão no ano de 1810.73 A bandeira de 1814 emprestaria um significado de autoridade religiosa à figura de João Malomi, se ele buscava reproduzir na Bahia o sistema hierárquico e o modus operandi da guerra religiosa em seu país. Na distante Bahia o malomi pode ter inaugurado um novo expediente de legitimação de poder, se fazendo ele mesmo portador de uma bandeira, que teria ou não o mesmo significado da bandeira do jihad, lembrando que, apesar de malam, ele pudesse estar do lado oposto ao da guerra santa; ou pode ter sido agraciado — antes de ser aprisionado e traficado — com uma bandeira pelo próprio Dan Fodio, e teríamos um autêntico amir al-jaish atuando na Bahia em 1814. Num ou noutro caso, naturalmente, ele teria de ser reconhecido como liderança religiosa e política legítima pelos rebeldes baianos, e pelo que nos diz o Acórdão o foi, quiçá na qualidade de seu imã, e como tal declarasse um jihad contra a escravidão baiana. Mas encaremos outra possibilidade. A bandeira da revolta baiana podia ser criação local, emblema de uma cultura ladinizada, parte do aparato simbólico, um estandarte, por exemplo, usado pelos dançantes reunidos em torno de Francisco Cidade. O estandarte, peça comum nas festas de coroação de reis pretos, neste caso talvez imitasse bandeiras dos opositores haussás ao jihad, o pavilhão de Gobir, digamos, se este existisse conforme sugere Hiskett. Assim estaria estabelecido mais um elo entre a rebelião e “as danças de sua nação”, a nação haussá, presididas por Francisco.74 CLAPPERTON, Hugh. Journal of a second expedition into the interior of Africa from the bight of Benin to Soccatoo, op. cit. p. 203-204. 73 LAST, Murray. The Sokoto Caliphate, op. cit. p. 51, 53. As bandeiras eram geralmente brancas, mas podiam ser de outras cores. Last viu uma branca e uma azul, mas confeccionadas já em meados do século XIX (ibid., p. 53, n. 39). Sobre Nupe, NADEL, S. F. A Black Byzantium, op. cit. p. 77, e HISKETT, Mervyn. The sword of truth, op. cit. p. 99, entre outros. 74 RUGENDAS, Johan Moritz. Malerische Reise in Brasilien. Paris: Engelmann & Cie, 1835. p. 65 (estandartes em festa de coroação de reis pretos); HISKETT, Mervyn. The sword of truth, op. cit. p. 86 (bandeiras usadas pelas forças de Gobir). Mas Murray Last afirma desconhecer o uso de bandeiras pela gente de Gobir, em correspondência pessoal (19-2-2014). 72 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 102 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis Não obstante, fosse como símbolo religioso (ou de autoridade religiosa), símbolo político (emblema da nação haussá), ou ambos, vá lá, aquela bandeira representa um marco importante na floresta de símbolos que envolveu o levante de 1814. A movimentação dos rebeldes naquele dia, então, não parece ter sido comportamento de desesperados; havia um plano em larga medida assentado em lembranças africanas. Como já esclareci, a primeira fase da revolta consistiu na concentração de escravos fugidos de Salvador, de propriedades rurais vizinhas e, talvez, alguns do Recôncavo, porventura recrutados pelo presidente das danças haussás, Francisco Cidade. O Acórdão é explícito sobre o plano de sublevar a região dos engenhos: “ideia concebida [pelos rebeldes] de entranharem-se no recôncavo, para revolucionar outros e aumentar número com que pudessem descarregar o último golpe na Cidade”. Naturalmente, a essa etapa antecedera um momento de conspiração na capital e seus arredores. Uma vez estabelecido o núcleo do Sangradouro, sob o comando do malomi João, o esforço de recrutamento seria intensificado. Nesse ínterim eram também avivadas as combinações com escravos ainda assenzalados, sobretudo na zona das armações de baleia e outras propriedades litorâneas. A razão desse itinerário pode ter sido tática, por começar em Itapuã a estrada relativamente despovoada que, margeando o Joanes, os levaria ao Recôncavo, ou razão fortuita, pela existência naquela região de um núcleo haussá e provavelmente muçulmano mais numeroso, ativo e atirado. Nação e religião, homens e mulheres A revolta de 1814 entrou para os anais dos levantes baianos como obra dos negros haussás, e de fato eles constituíram seu cérebro, sua coluna vertebral e seu músculo mais possante. Portanto, nada contra dizê-la haussá. Contudo, não apenas os haussás se rebelaram, e nesse aspecto estariam corretos os proprietários que se queixaram do conde dos Arcos no sentido de que “outras nações” também tinham apresentado armas. Façamos as contas. Várias listas de escravos suspeitos foram feitas na época. No mesmo dia do levante, o conde dos Arcos mandou afixar nas ruas de Salvador um edital convocando ao palácio os senhores cujos escravos tivessem fugido naqueles dias para apresentarem uma declaração com seus nomes e nações. Nas listas submetidas os haussás compunham sistematicamente a maioria, embora sua proporção oscilasse de uma para outra. Na de Manoel Ignácio, entregue dois dias depois do levante, todos os seus dezessete escravos sumidos foram dados como haussás, o que não era verdade, mas confirma quão distante esse senhor estava da senzala de sua armação. No rol mais confiável de 25 cativos desaparecidos na própria capital, 22 (80%) eram haussás, os demais borno, jeje e mina, um de cada nação. Dos trinta escravos incluídos numa lista de presos suspeitos, mas não pronunciados, 25 (83%) eram haussás, dois angolas, um pardo e dois africanos cujas nações não foram declaradas. Os dois angolas Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 103 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis eram escravos de Manoel Ignácio — o que destoa da lista dele — e é provável que tivessem se unido aos rebeldes seus parceiros de trabalho no calor da hora, mesmo que não fizessem parte da conspiração que antecedera o levante. Como aconteceu a muitos outros, podem ter sido forçados a se levantar, pois os escravos da nação angola, como os jejes, via de regra não se envolveram nas rebeliões escravas na Bahia daquele tempo. Então, esses dois, se entraram na revolta de moto próprio, constituiriam rara exceção; como não foram pronunciados, a devassa concluiu que eram inocentes, e é no que acredito. Quanto ao pardo Antonio, escravo de Vicente Ferreira, não posso imaginar motivo para sua adesão ao movimento. Os rebeldes eram, em geral, inimigos figadais tanto dos brancos como dos pardos e mulatos, e estes não se sentiriam minimamente confortáveis compondo uma obra política construída por africanos. Antonio de fato só permaneceria duas semanas atrás das grades, tendo sido inocentado ainda na fase do inquérito. Na lista da cadeia da Relação se encontravam apenas suspeitos, mas o número alto de haussás entre eles indicava qual nação africana estava mais intimamente associada ao levante. Isto foi constatado, não apenas porque se sabia que os haussás já vinham atacando a sociedade escravista desde a conspiração de 1807, mas pelo que fora apurado, especificamente, durante as investigações feitas em 1814. No Acórdão, os dados sobre os réus foram retirados de seus próprios interrogatórios e de testemunhos tomados no decorrer da investigação, daí representar aquele documento um retrato mais fiel a respeito das nações africanas envolvidas no movimento. Dos 31 indivíduos ali elencados que tiveram suas nações positivamente identificadas, vinte eram haussás, quatro tapas, três nagôs, dois bornos, um bariba, um cotocori. Os réus haussás, representando mais de 63% — sendo eles apenas 25,6% dos escravos africanos batizados entre 1805 e 1814 em Brotas, a freguesia onde ficava Itapuã —, predominavam amplamente, mas outros grupos a eles se associaram em proporção considerável. O que há de comum nos etnônimos que acabo de declinar é que, à exceção dos três nagôs e quatro tapas, todos se referem a grupos à época algo islamizados do Sudão Central e, no caso dos cotocoris, no distante norte do atual Togo, já fora da zona de maior influência muçulmana, mas na rota do comércio de noz-de-cola feito por comerciantes haussás, muitos dos quais muçulmanos.75 Esse cotocori — cujo nome cristão era Claudio, escravo de Francisco Lourenço da Costa Lima, dono de uma das armações conflagradas — alegou, convincentemente, ter sido obrigado “por violência” a se juntar ao partido rebelde. Já falei dele, que terminou inocentado por ainda serem, ele e outro preso que não foi processado, No livro de batismos de Brotas, os 79 haussás, sete tapas e um borno representavam 28,1% dos africanos batizados; os jejes, que não se envolveram no levante, pesavam bem mais, 39,5%; e os nagôs bem menos, 14,9%. Nenhum bariba foi encontrado, mas podiam estar — como, aliás, indivíduos das nações antes mencionadas — entre 34 (11%) africanos listados vagamente como “minas”. Sobre o país Cotocori/Kotokoli, ver GAYIBOR, Nicoué Lodjou. Histoire des togolais. Lomé: Presses de l’Université de Lomé, 1997. v. 1, p. 22, 29, 31, 281-284. Agradeço a Luiz Nicolau Parés a indicação desta fonte. Sobre o comércio da noz-de-cola, ver LOVEJOY, Paul. Karavans of Kola: The Hausa Kola Trade, 1700-1900. Zaria: Ahmadu Bello University Press, 1980. 75 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 104 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis “molecotes novos”.76 Em suma, de acordo com as evidências disponíveis, cem por cento dos rebeldes eram oriundos do Sudão Central. Segundo a distribuição étnica dos réus, pode-se concluir que, além de sobretudo haussá, a rebelião de 1814 foi feita por negros que na sua maioria cultuavam algum tipo de islamismo desde a África, fossem versões sincréticas ou militantes, em associação com alguns talvez malmente convertidos na Bahia à religião do Profeta. Esta seria a facção muçulmana, digamos, do movimento. Mas também, suspeito, se rebelaram negros pagãos, como eram, pelo menos, muitos haussás, tapas, baribas e nagôs. Um dos nagôs, aliás, desempenhou papel relevante de liderança durante os combates, e talvez na fase da conspiração nas senzalas da armação de Manoel Ignácio, a quem pertencia. Vitorino, relembro, estava entre os guerreiros que lutaram montados a cavalo, o que não seria estranho a um nagô de Oyó, de onde deve ter vindo. Contudo, admito, Vitorino podia ser egresso da, na época, crescente comunidade muçulmana de Oyó, um reino pagão.77 A concentração dos rebeldes entre os escravos do Sudão Central pode ser também apurada pela ausência no movimento de africanos oriundos de locais na África afastados daquela região, apesar de estarem bem representados, e melhor do que os haussás, na população escrava baiana. Os jejes, por exemplo, formavam 20% e os angolas 22% dos escravos da Bahia listados em inventários de 1802 a 1815. Já os haussás não passavam de 10%. Na propriedade de João Vaz, de onde saíram vários rebeldes, havia seis angolas, quatro jejes, um benguela, um moçambique, mas, que se saiba, nenhum escravo dessas nações se envolveu no levante. E poderiam, lembrando que angolas e jejes e outros de fora do circuito do Sudão Central foram recrutados à força para o combate, o que significa que os rebeldes não estavam preocupados em circunscrever seu movimento a um círculo étnico ou religioso fechado, mas sim em mobilizar a escravaria baiana o mais amplamente possível. Não há dúvida sobre o predomínio haussá entre os rebeldes, mas, insisto em perguntar, seriam todos os haussás muçulmanos? E, em o sendo, seriam todos ex-militantes do jihad? Eu respondo pela negativa a ambas as perguntas, não tanto pela existência de Expressão usada pelo senhor de ambos numa lista que fez dos escravos de sua armação que teriam se juntado ao levante. Nessa lista Claudio aparece com o nome de Aquileu, e desconfio que seja o mesmo por indícios, como a juventude e a rara filiação étnica: cotocori. O outro “molecote” chamava-se David e era nagô. Lista de escravos fugidos da armação do Gregório feita por Francisco Lourenço da Costa Lima por ordem do Conde dos Arcos, 3 de março de 1814. AN, IJJ9, 322, fl. 110. 77 Nas décadas que antecederam 1814, e ainda depois, Oyó vivia conflitos internos agudos de sucessão, e Vitorino foi, provavelmente, uma vítima de guerra vendida para a Bahia. Sobre o assunto, ver LAW, Robin. The Oyó Empire, op. cit. cap. 12, e p. 75-76 sobre a comunidade muçulmana em Oyó. Sobre esta, ver também DANMOLE, Harkeem Olumide. The frontier emirate: a history of Islam in Ilorin. Tese (doutorado) — Centre of West African Studies, University of Birmingham, Birmingham, 1980. esp. p. 10-21; o clássico GABADAMOSI, T. G. O. The growth of Islam among the Yoruba, 1841-1908. Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press, 1978. p. 4-5; e REICHMUTH, Stefan A regional centre of Islamic learning in Nigeria: Ilorin and its influence on Yoruba Islam. In: GRANDIN, Nicole; GABORIEAU, Marc (Orgs.). Madrasa: la transmission du savoir dans le monde musulman. Paris: Editions Arguments, 1997. p. 229-245. 76 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 105 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis provas cabais sobre o assunto nos documentos de 1814, mas pelo que se sabe dos acontecimentos na África haussá daquele período e de suas conexões com o tráfico. Já disse que, nos conflitos iniciados em 1804 pelo partido de Usuman dan Fodio, se envolveram, de ambos os lados, muçulmanos de variadas tendências, além de numeroso contingente de grupos sincretistas e pagãos. O Islã estava mais bem assentado nas classes dominantes, não obstante a opinião de Dan Fodio, enquanto entre os pobres reinavam, segundo um testemunho de época, “muitas noções supersticiosas de espíritos, bons e maus, e estão alarmados por sonhos, particularmente, os escravos”.78 Só os muçulmanos mais ativistas e ortodoxos, os mujahidun propriamente, grande número dos quais clérigos, cerravam fileiras entre os guerreiros santos, mas o jihad, insisto, contou com o apoio de outra gente que tinha lá seus problemas, não precisamente religiosos, com os mesmos despóticos poderes combatidos pelos seguidores de Dan Fodio, e viram na aliança com estes uma chance de desforra. Na oposição ao jihad existiam muçulmanos bem formados, sobretudo entre a elite dirigente, particularmente em Borno. Mas a maioria dessa elite e a massa do povo seriam, na definição dos jihadistas, muçulmanos apenas no nome, uns porque toleravam o sincretismo e o paganismo, outros porque os praticavam, amiúde às claras. Dan Fodio de fato definia como estranho ao bilad al-Islam qualquer um que não abraçasse sua causa. Mas apesar da ortodoxia religiosa, a revolta do xeque foi encampada até por gente declaradamente não muçulmana, coisa que ele aceitou e até justificou com base na doutrina considerada a mais correta. Assim, pessoas de vária inserção no espectro da fé figuraram entre os prisioneiros de guerra e os capturados em raides sistemáticos dirigidos contra “infiéis” — entre eles, muitos que se consideravam muçulmanos —, os quais, uma vez capturados, terminaram vendidos como cativos e, passando de mão em mão, chegariam ao litoral e daí aos porões de tumbeiros baianos. A base do recrutamento para o levante baiano devia ser, portanto, heterogênea do ponto de vista religioso e, em alguma medida, étnico. A senha haussá escolhida para o início do levante, mun sauka, não foi de caráter religioso, como seria Allahu Akber (Deus é Grande), a palavra de ordem dos jihadistas no país haussá.79 Nem sabemos se João Malomi, além de liberdade do cativeiro baiano, teria prometido aos que tombassem lutando as benesses do paraíso muçulmano, inclusive suas lindas virgens. Os festeiros de Francisco Cidade, por exemplo, com suas danças e títulos da nobreza europeia, em nada se assemelhavam a uma comunidade muçulmana militante, um jamaa no modelo de Dan Fodio e seus acólitos. Já a presença de um malam à testa do movimento de 1814, no caso, João Malomi, reproduziu com alguma fidelidade um modelo amplamente difundido pelo território haussá, onde clérigos muçulmanos assumiram a liderança em vários locais, alguns deles na condição de JACKSON, James Grey. An account of Timbuctoo and Housa territorries in the interior of Africa, op. cit. p. 48. Segundo um observador contemporâneo: CLAPPERTON, Hugh. Journal of a second expedition into the interior of Africa, from the Bight of Benin to Soccatoo, op. cit. p. 187. 78 79 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 106 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis fervorosos guerreiros. Fosse João o imã dos haussás em 1814, pela doutrina de Dan Fodio seu rebanho teria o piedoso dever de segui-lo na guerra santa.80 Contudo, do mesmo jeito que o jihad na haussalândia, a revolta baiana não foi obra somente de santos guerreiros, nem de uma só nação africana, com a diferença de que aqui decerto se encontrava face a face e ombro a ombro, na lida escravista e na rebelião, gente que na África provavelmente haveria lutado em lados opostos. Alguns atos durante o levante, por exemplo, eram proibidos segundo a mais exata doutrina muçulmana, como matar mulheres e crianças, e queimar a casa do inimigo.81 Portanto, eis minha conclusão, nessa altura, sobre o assunto: o movimento de 1814 teve um centro muçulmano diretamente sob o comando de João Malomi e uma órbita de aliados com suas próprias lideranças, a exemplo do festeiro Francisco Cidade e provavelmente do nagô Vitorino. Uma órbita que talvez fosse maior, embora não brilhasse mais, do que o astro principal, representado pelo núcleo do Sangradouro sob o comando de João Malomi. Isso se refletiu na nenhuma discussão sobre religião no Acórdão e a menção, neste, quase fortuita de papéis escritos, sem detalhar implicações devocionais dos mesmos, embora fosse o melhor indicativo de protagonismo mussulmi no movimento. O uso daqueles escritos “quando entravam em segredo”, segundo palavras do Acórdão, referia-se, é provável, a rituais muçulmanos envolvendo exercícios para aprender a língua do Corão, rezas, recitação de textos sagrados, a indicar até, talvez, a existência na Bahia de algum tipo de madraçal, na qual, como parte do aprendizado, se semeava a fé para colher a revolta. O conteúdo dos papéis mencionados no Acórdão seriam exercícios para aprender o árabe, para decorar passagens do Corão, rezas fortes, figuras cabalísticas, muito disso amuletos semelhantes aos encontrados onze anos depois por ocasião da Revolta dos Malês.82 Não se descarta, naturalmente, que no meio deles se encontrassem apontamentos propriamente políticos, algum manifesto, plano de ação ou mensagens trocadas entre membros do grupo. Seja como for, a menção a papéis deve ser tomada como evidência de letramento entre os muçulmanos envolvidos no movimento, portanto de pessoas que haviam frequentado e talvez dirigido escolas corânicas no país haussá. Nada disso parece ter sido minimamente percebido pelas autoridades baianas da época, nem pelo sofisticado conde dos Arcos, que como outros seus contemporâneos ignorava a cultura dos escravos que o serviam. Não posso afirmar que os rebeldes de 1814 tivessem em seu conjunto visto o levante como parte de uma missão transatlântica de expansão do Islã, e que João Malomi fosse esFUDI, Uthman Ibn [Usuman dan Fodio]. Bayān Wujub Al-Hijra ‘Ala ‘L-‘Ibad, op. cit. p. 78; e Bivar, “The Wahtiqa Ahl Al-Sudan”, p. 240. 81 FUDI, Uthman Ibn [Usuman dan Fodio]. Bayān Wujub Al-Hijra ‘Ala ‘L-‘Ibad, op. cit. p. 86, 131. Há sempre, porém, o problema sobre como os opositores dos rebeldes de 1814 definiam seus adversários em termos religiosos, enquanto na obra de Dan Fodio várias são as categorias dos inimigos e o que é permitido que se faça contra eles. Em versos que descrevem a guerra em Gurma, Abdullahi dan Fodio diz ter feito prisioneiro mulheres e crianças e eliminado a machado os homens. HISKETT, Mervyn. The sword of truth, op. cit. p. 99. 82 REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil, op. cit. caps. 6, 7 e 8. 80 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 107 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis pécie de delegado de Usuman dan Fodio e seu porta-bandeira na Bahia. Não posso também negar absolutamente que o Malomi pretendesse, de algum modo, replicar certos protocolos e ideais do jihad que por ventura conhecera antes de ser capturado e vendido para a Bahia, pois afinal, para todos os efeitos, João era malam, clérigo muçulmano, e mesmo se resistira aos guerreiros santos na sua terra, poderia achar que, na Bahia, imitá-los seria boa aposta de sucesso. Ele assim desponta como o melhor sinal do desdobramento do jihad fulani em terras baianas. Além de sua liderança e dos manuscritos, a bandeira dos rebeldes serve como indício nessa direção. Mesmo que muitos rebeldes de 1814 não fossem muçulmanos segundo o figurino do jihad fulani, o idioma da religião serviu para reunir e mobilizar um grande número de haussás e alguns aliados de outras nações. Diante disso, considerem os leitores a seguinte ironia: alguns rebeldes terão sido batizados católicos, o que em tese era feito somente com consentimento, após alguma doutrinação básica, como a crença inegociável num só deus, aliás, um dos pilares do islamismo.83 Encontrei o registro de batismo de três deles, todos escravos de Manoel Ignácio da Cunha, que tiveram como padrinhos outros escravos do mesmo senhor. O líder nagô Vitorino devia ser o mesmo Vitorino nagô batizado em 29 de abril de 1810 na igreja matriz de Nossa Senhora de Brotas, tendo como seu padrinho Marcos, jeje, e como madrinha Tereza de São Benedito, provavelmente preta forra, moradora na freguesia da Sé, centro da Cidade da Bahia. Sebastião, haussá, foi batizado em 21 de abril de 1811, mesmo dia em que dois outros escravos não indiciados no levante também o foram, um haussá, outro nagô. O terceiro rebelde, Antonio, haussá, foi levado à pia batismal no dia 3 de junho de 1811. Considerando que o batismo desses três escravos acontecera pouco depois de desembarcarem na Bahia — o tempo necessário para uma rápida instrução que os habilitasse àquele sacramento —, três a quatro anos teriam se passado até que decidissem se rebelar. Para estes, a entrada no rol dos católicos talvez não passasse de uma formalidade, para eles e um bom número, senão a maioria de seus companheiros de insurreição. Não obstante, será que negros católicos não teriam se reunido aos revoltosos de 1814? Estes não os teriam rechaçado, como não estranharam lutar ao lado de angolas e jejes. E de mulheres… Foi um desvio do modelo de guerra santa pregada por Dan Fodio e implementado por seu grupo que mulheres houvessem participado do levante de 1814.84 Pois este não foi feito apenas por homens. Já foi dado o exemplo de Francisca, companheira e rainha de Francisco Cidade, nomeada inclusive como líder pelo Acórdão. Mas havia outras. Da lista de prisioneiros na cadeia da Relação constam seis mulheres, todas escravas haussás de diferentes Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia feitas, e ordenadas pelo Illustrissimo, e Reverendissimo Senhor D. Sebastião Monteiro da Vide etc. [1707]. São Paulo: Typographia 2 de Dezembro, 1853. p. 23 (“escravos [...] não podem ser batizados sem darem para isso seu consentimento, salvo quando forem tão boçais, que constem não terem entendimento”, e p. 219 (“Temos um só Deus ou muitos? Temos um só Deus”, trecho de um catecismo simplificado para pretos novos). 84 FUDI, Uthman Ibn [Usuman dan Fodio]. Bayān Wujub Al-Hijra ‘Ala ‘L-‘Ibad, op. cit. p. 82. 83 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 108 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis senhores. Seus nomes: Francisca, Maria, Vitória, Antonia, outra Maria e Delfina. Ali não se encontram, porém, os nomes de quatro escravas listadas no Acórdão, Germana e Felicidade, haussás, Ludovina, nagô, e Tereza, cuja nação foi ali omitida mas outra fonte a tem como haussá. Não é um número grande de mulheres, mesmo considerando que elas constituíssem uma porção menor do que os homens entre os cativos traficados, cerca de um terço, e as haussás eram ainda menos numerosas. De uma amostra de 317 escravos haussás listados em inventários post mortem de Salvador, entre 1802 e 1815, apenas 7% eram mulheres, enquanto entre os nagôs, por exemplo, elas representavam 31% e fração, e no conjunto dos escravos africanos chegavam a 32,3%. Mas a situação talvez não fosse tão desproporcional quanto indicam os inventários, pelo menos em Salvador. Um levantamento para os anos de 1805 a 1814 nos registros de batismos de escravos da freguesia de Nossa Senhora de Brotas, que incluía os moradores de algumas das áreas conflagradas, como as armações de Francisco Lourenço da Costa Lima e do capitão Manoel Ignácio da Cunha, entre os 79 haussás listados, 24% eram mulheres. As mulheres eram, porém, em maior número no seio de outras nações africanas: dos 46 nagôs, 32,6% eram mulheres; e entre os 122 jejes, o grupo mais numeroso, a proporção sobe para 38,5%. Contando todos os africanos de Brotas, 33% eram mulheres, magnitude comparável àquela encontrada nos inventários. Enfim, em Brotas, embora as mulheres haussás fossem proporcionalmente menos numerosas do que eram entre nagôs e jejes, e mesmo no conjunto das nações africanas, sua presença figura ser bem maior do que os minguados 7% encontrados nos inventários. Mas na sua maioria as rebeldes vieram de fora desta freguesia, vieram da cidade, onde eram mais numerosas, entre 29% e 45% dos escravos haussás batizados em 1813 e 1814.85 Sobre as escravas arroladas no Acórdão, somos informados da participação ativa de algumas na revolta: Encontrei nos registros de batismo de freguesias urbanas uma proporção de mulheres haussás maior do que a encontrada em Brotas. Numa amostra apenas para os anos 1813 e 1814, na freguesia do Paço, tipicamente residencial, foram 20 homens (55%) e 16 mulheres (45%) haussás; na freguesia do Pilar, tipicamente comercial, 46 homens (71%) e 19 mulheres (29%). Como em Brotas, outras grandes nações africanas tinham proporções mais altas de mulheres. No Paço, entre jejes, 16 homens (33,4%) e 32 mulheres (66,6%); entre nagôs, 8 homens (50%) e 8 mulheres (50%). No Pilar, entre jejes, 29 homens (41,6%) e 52 mulheres (58,4%); entre nagôs, 9 homens (47,4%) e 10 mulheres (56,6%). Para os numerosos escravos identificados vagamente como minas ou da Costa da Mina, a proporção de mulheres também é alta no Paço, 14 homens (46,7%) e 16 mulheres (52,6%), mas cai bastante no Pilar, 43 homens (74%) e 15 mulheres (26%). Contando todas as nações africanas, temos, no Paço, 71 homens (47,3%) e 79 mulheres (52,7%); no Pilar, 152 homens (59%) e 105 mulheres (41%), uma proporção mais próxima da que se encontra nos inventários. Nestes, para os anos 1802-1815, numa amostra de 3.259 africanos, somente 32,3% eram mulheres. Ver ACMS. Livro de registro de batismos da freguesia do Santissimo Sacramento do Paço, 1793-1817; id. Livro de registro de batismos da freguesia de Nossa Senhora do Pilar, 1811-1824. A diferença entre registros de batismos e inventários provavelmente reflete uma situação em que os escravos nestes últimos pertenciam, na sua maior parte, a médios e grandes proprietários, que tendiam a possuir mais homens do que os pequenos, cujos inventários teriam na sua maioria se perdido ou jamais foram feitos. De todo modo, o caso pede estudo mais aprofundado, sobretudo quanto aos haussás. 85 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 109 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis Quanto à Ré Germana, Ussá, escrava de D. Anna de Tal, moradora na Freguesia de São Miguel, Felicidade, Ussá, moradora no Terreiro [de Jesus], Tereza, escrava de um soldado morador no Gravatá, Ludovina, Nagô, escrava de Leonor de tal, se prova quanto à primeira pela sua resposta e acareação [...] ter fugido para o mato do Sangradouro, bem como a segunda e terceira, e a quarta Ré, segundo afirmam, voluntariamente, e com desejo de se subtraírem ao cativeiro pelo mau trato de seus senhores, confessando igualmente haverem acompanhado, e particularmente a Ré Ludovina, que pela testemunha da Devassa n. 28 e sua confissão, seguir com atenção ao Réu Lourenço, seu amásio, e que para esse fim se dispusera com o roubo de alguma roupa de sua Senhora, e que entre o tumulto levantou um lenço encarnado dizendo que a cabeça voltaria mas ela não, donde se conclui que umas e outras não fizeram outra coisa mais que seguirem o bando. Essas mulheres, então, se aquilombaram no Sangradouro, sob a liderança do Malomi, e seguiram “voluntariamente” o roteiro do levante de 1814, embora não se esclareça se alguma chegou a participar da batalha final no rio de Joanes. Mas acompanharam os homens até o litoral, onde a pugna propriamente dita teve início. E não só isso. Se o comportamento de Ludovina pode ser estendido às demais, se envolveram na briga, algo incomum naquelas partes da África de onde procediam. Essa escrava, especificamente, teve um papel, se não de liderar, pelo menos de encorajar e animar os guerreiros, levantando seu lenço encarnado — que não era bem a cor do Islã! — à guisa de bandeira rebelde, mais uma, e a gritar palavras fortes sobre pelejar até a morte. Ludovina, que era nagô, simboliza a aliança interétnica que caracterizou o movimento, pois seu amásio seria Lourenço, de nação tapa, também rebelde, escravo de João Vaz de Carvalho. Finalmente, os depoimentos dessas escravas tornam evidente, mais do que qualquer outro registrado no Acórdão, o mau cativeiro vivenciado pelos revoltosos na Bahia de 1814. Castigo O Acórdão, finalizado em 13 de novembro de 1814, é o documento até agora encontrado que melhor detalha a distribuição das penas sofridas pelos réus de 1814. Detalha e corrige autores que, aparentemente, não tiveram acesso a ele.86 Um resumo das sentenças foi dado por um escrivão da Ouvidoria do Crime do Tribunal da Relação, em 25 de novembro daquele ano: 39 réus foram condenados a diversas penas, dois dos quais ausentes, e treze Ver, por exemplo, VERGER, Pierre. Fluxo e refluxo do tráfico de escravos entre o golfo do Benin e a Bahia de Todos os Santos, op. cit. p. 336. Mesmo Décio Freitas, que examinou o Acórdão, negligenciou registrar a comutação de algumas penas, mas é o autor que chega mais perto dos resultados do julgamento. FREITAS, Décio. Insurreições escravas, op. cit. p. 43-45. 86 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 110 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis absolvidos.87 Ou seja, foram julgadas 52 pessoas, e se a estas somarmos as que morreram na prisão este número sobe para cerca de sessenta. Sete africanos que aqui conhecemos foram sentenciados à morte: João Alasam, Francisco Cidade, sua mulher Francisca, Caio, Antonio, Vitorino e Sebastião, os três últimos escravos do capitão Manoel Ignácio da Cunha, proprietário da primeira armação atacada. Cometeram os crimes de incêndio, roubo com violência, homicídio com armas e resistência armada às autoridades. João Alasam, Francisco Cidade e Francisca, além de protagonistas nesses crimes, foram enquadrados no de lesa-majestade, considerando que, segundo o Acórdão, “o escravo, o livre e os mesmos cidadãos temporários cometem” tal delito, que implica pôr o Estado “em perigo, por querer alterar a Constituição ou subtrair-se à massa geral sediciosamente e com ânimo hostil”. A pena para esses crimes consistia em serem os condenados levados à praça da Piedade — a mesma onde foram executados os rebeldes da Conspiração dos Alfaiates, em 1798 — e ali enforcados, suas cabeças em seguida cortadas e expostas nos “lugares onde principiaram e concluíram os delitos”, até “que o tempo as consuma.”88 Conforme já adiantei, João Alasam tinha sido vendido por seu senhor às pressas para o Maranhão, destino maldito por ter fama de ali vigorar escravidão severíssima, ou pelo menos era o que se dizia na Bahia. A Justiça mandou que o réu fosse localizado, trazido de volta e sua pena cumprida, mas no caso de não ser encontrado pelas autoridades, determinava que qualquer pessoa o pudesse executar desde que não constasse ser seu inimigo, um curioso protocolo legal. Quatro dias após a finalização do acórdão, em 17 de novembro de 1814, à vista de que faltavam provas contundentes e a confissão do réu, Alasam teve sua pena reformada para “que com baraço [a corda de enforcar], pregão e açoites seja levado ao lugar da Forca ao redor da qual dará três voltas, e vá degredado perpetuamente para as galés de Moçambique”. Não consegui apurar se as autoridades lograram trazer Alasam de volta à Bahia para fazê-lo cumprir sua sentença. Quanto a Francisco Cidade, sua pena capital foi substituída pela de açoites e degredo perpétuo no presídio de Benguela, retornando à África, tal como João Alasam, mas ambos para terras mui distantes das suas. Francisco Cidade se beneficiara de uma Carta Régia recomendando moderação na “efusão de sangue”, e assim o fora porque ele sequer combatera. A mesma Carta beneficiou Francisca, cuja pena agora seria a de açoites seguidos de degredo perpétuo em Angola, provavelmente Luanda. Quiçá ela pôde reunir-se algum dia a Francisco naquelas partes da África, pois Benguela não ficava tão distante de Luanda. Restaram, assim, para sofrer a pena capital, Caio, nação não declarada, Vitorino, nagô, Antonio e Sebastião, ambos haussás, todos, comprovadamente, autores de mortes durante o Relatório de Germano Ferreira Barreto, escrivão da Ouvidoria do Crime, Bahia, 25 de novembro de 1824. AN, IJJ9, 323, fls. 195-198. 88 Ver também SILVA, Ignacio Accioli de Cerqueira e. Memórias históricas e políticas da província da Bahia, op. cit. v. 3, p. 59. Sobre o ritual de execução dos réus de 1798, ver VALIM, Patricia. Da contestação à conversão: a punição exemplar dos réus da Conjuração Baiana de 1798. Topoi, v. 10, n. 18, p. 14-23, 2009. 87 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 111 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis levante. Caio pertencia a Pedro Antonio de Torres, os demais, a Manoel Ignácio da Cunha Meneses. A execução do castigo se deu na praça da Piedade no dia 21 de novembro de 1814, uma sexta-feira, três dias depois de proclamadas as sentenças. Assistiu à cerimônia macabra toda a tropa do Exército estacionada em Salvador. O governador não compareceu.89 As penas que envolviam açoite público seguiram procedimento semelhante. O condenado devia desfilar amarrado “com baraço” pelas ruas da cidade, da cadeia até a Piedade, onde daria três voltas em torno da forca. Ato contínuo seria levado ao pelourinho para sofrer a punição. Acompanhava-o durante o trajeto, além de escolta armada, um pregoeiro a anunciar em voz alta, e sob o rufar de um tambor, a natureza da culpa e a adequada sentença. Era um ritual de poder, de humilhação pública, castigo exemplar a ser testemunhado pelos habitantes da cidade, entre eles potenciais rebeldes escravos, que assim deviam aprender a se submeter conforme almejavam seus senhores e as autoridades coloniais. A lição de medo avultava pela presença do baraço a enlaçar o corpo do réu, pois mesmo quando este não tivesse sido destinado à forca, a corda da morte o fazia lembrar de que a vida estivera por um fio, sendo poupada apenas por gesto magnânimo da Justiça régia, o que, o ritual sugeria, podia não acontecer na reincidência. Sete réus foram condenados a quatrocentos açoites e enviados para as galés de Angola. Três escravos de Manoel Ignácio estavam aqui incluídos, Duarte, Leandro e Abrahão. Duarte fora acusado de coautor da morte do cabo Viana. Leandro e Abrahão foram presos na batalha do rio de Joanes. Nesse grupo de condenados encontrava-se também Fernando, escravo de Manoel José de Melo, acusado de ter assassinado a parda Marcelina e suas filhas na armação de Manoel Ignácio. E ainda Francisco, escravo do cirurgião-mor Pessoa, condenado por arrancar a espada a um soldado e com ela matá-lo na batalha do Joanes, ato que negaria, alegando ter sido forçado a participar do levante. Aparentemente seu senhor recorreu da sentença, que foi comutada para a de galés perpétuas a ser cumprida na Bahia mesmo. Seis escravos foram condenados a duzentos açoites e galés perpétuas em Moçambique, onde iriam se juntar a João Alasam. Entre eles estavam Benedito e Ignácio, cativos de João Vaz de Carvalho, ambos presos no Joanes, e o segundo, além disso, por incendiar a casa do senhor e ferir seu feitor. Também foram assim sentenciados Veríssimo e Saul, de Manoel Ignácio, capturados no Joanes, e Domingos, aquele que a machadadas matara, com a ajuda de Duarte, o cabo Viana. Acrescente-se Manoel, recrutador de Domingos para o levante. Antão, preso nas mesmas circunstâncias de seus companheiros de senzala, Veríssimo e Saul, não seria banido do país, inexplicavelmente, mas recebeu severa surra de quinhentos açoites e foi devolvido ao senhor. Dois escravos foram condenados a duzentos açoites e também devolvidos a seus donos, mas com ordem para que fossem vendidos para fora da Conde dos Arcos para o marquês de Aguiar, Bahia, 29 de novembro de 1814. AN, IJJ9, 323, fl. 191. SILVA, Ignacio Accioli de Cerqueira e. Memórias históricas e políticas da província da Bahia, op. cit. v. 3, p. 59, registrou erroneamente, em meados do Oitocentos, a data de 18 de novembro de 1814, mas nesta foi quando se divulgou a sentença. 89 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 112 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis Bahia. Nesse rol estava David, o duque (ou rei) haussá. Seis escravos foram sentenciados a quatrocentos açoites e em seguida vendidos — “a favor do real fisco” — para fora da capitania. Bernardo, que fez guerra no Joanes, mas disse que só pensava mesmo em fugir, recebeu trezentos açoites e serviria cinco anos como galé na Cidade da Bahia, depois do que, sobrevivendo, seria devolvido ao senhor. O Acórdão reservou um parágrafo para as mulheres rebeldes, que incluía a liberta Francisca, já constando sua nova pena. As demais — Ludovina, Felicidade e Tereza — foram condenadas a receber cem chicotadas, com a diferença de que o castigo, ao contrário do dos homens, seria cumprido no interior da cadeia, evitando, por pudor oficial, a exposição pública de seus corpos seminus, mas ainda sujeitas à humilhação e outros abusos que porventura pudessem acontecer, até mais livremente, por detrás das grades. A Justiça real absolveu treze réus. Desses, já conhecemos o menino Claudio, que teria sido forçado a aderir ao levante. Muitos eram brincantes nas danças chefiadas por Francisco Cidade: Manaçás, liberto haussá, se tornara suspeito por figurar de escudeiro nas tais danças, ou “moço de sua guarda”; João e Ventura, da mesma senzala de David; um outro liberto da lista de festeiros, Joaquim de Souza, preso por frequentar a casa da rainha Francisca, e Mamede Manoel, inocentado que tornara-se suspeito “pela amizade que se dizia ter com o Réu Francisco Cidade e sua amásia”, na casa de quem (esta última) tinha sido visto. Finalmente, é entre os absolvidos que pela única vez aparece na documentação o etnônimo fulani, colado ao nome de Joaquim Filanin, escravo de João de Souza. Esse Joaquim não foi mencionado em qualquer outro lugar do Acórdão, como se não tivessem encontrado absolutamente nada que servisse para indiciá-lo. Logo a um fulani, a nação de Usuman dan Fodio! Os rebeldes segundo o conde dos Arcos Assim o conde dos Arcos explicou, em carta à Corte, a revolta de 1814: Negros flagelados, e desesperados por fome em consequência da escassez da Pesca neste ano, por um excesso de trabalho que casualmente lhes recresceu, e pela habitual crueldade do Feitor, que se revoltaram e que convidaram alguns Parentes da Cidade para os ajudar na danada empresa, e mataram o Feitor, e outras pessoas de sua Família, e amizade, e fugiram, e brigaram com quem pretendeu impedir-lhes a fuga, de que resultaram algumas mortes, até que a seis léguas desta Cidade foram mortos, presos, e dispersos. E mais adiante, no mesmo documento, ainda insistia: “na Bahia não houve nada senão a Erupção dos Escravos de Manoel Ignácio contra seu Feitor, com todas as tristes conse quências que deste Crime se originaram”.90 90 Conde dos Arcos para o marquês de Aguiar, Bahia, 2 de maio de 1814. AN, IJJ9, 323, fls. 19v, 24v. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 113 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis O governador vivia naqueles dias sob pressão máxima de senhores que exigiam controle mais rígido dos escravos da Bahia, queixas que chegavam aos ouvidos reais no Rio de Janeiro, acusando Arcos de dar mole aos africanos. Já o governador comunicava ao rei que, apesar dos rumores de “muitos levantamentos d’escravos” nos quatro cantos do Recôncavo e na capital, a vida seguia tranquila, exceto pelos boatos, cujos disseminadores ele mandou investigar, identificar e devassar sem nenhum resultado.91 Homem da ilustração portuguesa, “déspota esclarecido” segundo um descendente seu, Arcos condenava a escravidão e execrava seus abusos.92 Por aí ele explicava as revoltas de seu tempo, como a de 1814. Para combatê-las, dever-se-ia usar, não a força, mas bom tratamento, inclusive lazer na forma de batuques, que além de válvula de escape serviam para dividi-los entre nações, cada uma batucando para um lado desunidas. Não considerava, contudo, diferenças fundamentais no modo de ser, pensar e agir das nações africanas. No fundo, o governador não entendeu bem com o que lidava em 1814. Não se interessou, por exemplo, em refletir sobre a óbvia dimensão religiosa do movimento. Nada comentou em suas numerosas cartas à Corte sobre a achada de escritos entre os rebeldes e sobre seu líder, tido por “sacerdote”. Arcos batia teimosamente, sempre, na mesma tecla: são escravos e como escravos se rebelam, reagem mecanicamente à violência senhorial e feitorial, à fome, ao excesso de trabalho, à desesperança. É uma pena que o governante colonial, homem politicamente requintado, fosse, neste aspecto, tão chão; mesmo considerando que agisse assim para combater junto à Coroa adversários que pediam sua cabeça por tratar bem os escravos — e ele respondia: não sou eu quem os trata bem, são eles que os tratam mal, daí a revolta. Pelo que vimos, a explicação não pode ser tão simples. A dureza da escravidão, decerto bem real, é um ponto de partida, não de chegada para a elucidação do episódio. A escravidão explica o escravo, mas é este que explica a revolta, que foi feita por quem pensou, elaborou criticamente suas circunstâncias, para isso mobilizou recursos intelectuais e simbólicos que o ajudaram a conceber a revolta. Além do mais, havia diferentes formatos de relações escravistas. Na cidade era uma coisa, no engenho, outra, na armação de pesca, mais uma. Francisco Cidade, por exemplo, figura de proa no movimento, vivia a circular entre Salvador e o Recôncavo, exibindo uma autonomia típica do escravo de ganho, o que lhe deixava tempo suficiente para se dedicar a seus afazeres como “presidente das danças” dos haussás. Muitos negros da cidade, empregados no ganho como ele, se envolveram na conspiração, fugiram para o quilombo do Sangradouro, atacaram as armações de pesca e lutaram a batalha do Conde dos Arcos para o ouvidor-geral do crime, 24 de abril de 1814, e ouvidor-geral do crime Antonio Garcez Pinto de Madureira, 28 de agosto de 1814, AN, IJJ9, 323, fls. 15, 135. Na sequência deste artigo, preparo um trabalho específico sobre o pensamento e as ações do conde dos Arcos a respeito do governo dos escravos. Sobre esse assunto, já escrevi antes, contrastando seus métodos com os do conde da Ponte, a quem Arcos sucedeu. Ver, por exemplo, REIS, João; SILVEIRA, Renato da. Violência repressiva e engenho político na Bahia do tempo dos escravos. Comunicações do Iser, v. 5, n. 21, p. 61-66, 1986. 92 COSTA, Marcus de Noronha da, dom. O 8o conde dos Arcos: um déspota esclarecido. Salvador: Autor, 2009. 91 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 114 Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia João José Reis Joanes. Segundo o Acórdão, o movimento fora planejado com antecedência, contava com um esquema organizacional sofisticado, no qual a liderança muçulmana ganhara relevo e a conspiração tivera seu palco principal na cidade e não na armação de Manoel Ignácio. Não convence o entendimento do conde de que tudo não passasse de um gesto de solidariedade dos “parentes da cidade” — parentes no sentido de pertença à mesma nação — com os escravos daquela armação. Os termos do Acórdão destoam desse enredo. Descartando que o levante de 1814 tivesse sido tão somente um protesto contra a fome e seu objetivo o justiçamento de um feitor malquisto, seguido de uma fuga desesperada e sem norte, falta-nos o projeto estratégico dos rebeldes. O que queriam eles? Pelo que fizeram em Salvador e nas propriedades litorâneas, teriam em mente a sublevação de toda a escravaria. Esse plano os levaria ao Recôncavo, por onde andara Francisco Cidade a pregar a revolta e para onde os rebeldes se dirigiam quando barrados nas margens do Joanes. Mas digamos que o projeto dos rebeldes tivesse dado certo e da revolta brotasse uma genuína revolução, que o Haiti se fizesse aqui: que tipo de regime político e de sociedade substituiria o mundo então varrido do mapa? Seria uma sociedade sem escravos? Seria um Estado islâmico escravista que imitasse aquele recém-criado no país haussá?93 Seria um emirado do “extremo ocidente” submetido à autoridade do Califado de Sokoto? Seria um Estado ao estilo haussá pré-jihad, com muçulmanos mais indulgentes no poder, onde, ao lado do Islã, outras formas de fé fossem toleradas, os vários paganismos e catolicismos inclusive, favorecendo uns a abraçarem ou pelo menos respeitarem as crenças dos demais? Ou não seria nada disso? São perguntas que ainda não podem ser respondidas satisfatoriamente. Sobre a escravidão no califado de Sokoto, que se expandiu enormemente sob o regime criado pelo jihad, ver alguns dos artigos publicados em LOVEJOY, Paul (Org.). Slavery on the frontiers of Islam, op. cit. 93 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 68-115, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 115 Baleias e ecologistas na Paraíba: uma história do fortalecimento do movimento ambientalista e o debate sobre a crise da economia baleeira (1970-1980) Francisco Henrique Duarte Filho* José Otávio Aguiar ** Resumo A atividade baleeira perdurou por quase quatro séculos no Brasil (1603-1987), tendo sido encerrada no país depois de 384 anos de vigência. O governo José Sarney (1985-1990), pressionado por organismos de proteção ambiental e pela opinião pública, proibiu definitivamente a caça por meio da Lei Federal no 7.643, em dezembro de 1987. A lei motivou questionamentos e debates em nível local e nacional em razão de eventuais prejuízos que o fim da atividade baleeira traria para a economia do município de Lucena e para o estado da Paraíba. Este artigo deseja lançar interrogações sobre a crise da atividade baleeira no Brasil, analisando os debates que ocorreram entre biólogos, políticos, ambientalistas e trabalhadores da indústria baleeira localizada no município de Lucena. Para tanto, recorrerá tanto à bibliografia disponível sobre o tema quanto aos jornais do período, principalmente os jornais paraibanos publicados na década de 1980. Palavras-chave: baleias; história ambiental; desenvolvimento; jornais. Abstract Whaling lasted for almost four centuries in Brazil (1603-1987). Pressed by environmental protection agencies and the public opinion, the José Sarney Administration (1985-1990) permanently banned whale hunting in December 1987, through the Federal Law 7,643. The law prompted a local and national debate on any losses the end of whaling would bring to the economy of the city of Lucena and the state of Paraíba. This article discusses the crisis of whaling in Brazil by analyzing the debates that occurred among biologists, politicians, environmentalists and the whaling industry workers in the municipality of Lucena. Both Artigo recebido em 3 de março de 2013 e aprovado em 22 de fevereiro de 2014. * Doutor em recursos naturais pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), professor do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE). Belo Jardim, PE, Brasil. E-mail: [email protected]. ** Doutor em história e culturas políticas pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), professor da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Campina Grande, PB, Brasil. E-mail: Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 116-142, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 116 Baleias e ecologistas na Paraíba: uma história do fortalecimento do movimento ambientalista e o debate sobre a crise da economia baleeira (1970-1980) Francisco Henrique Duarte Filho e José Otávio Aguiar the available academic literature on the subject and newspapers of the 1980s were used, especially Paraíba’s publications of the period. Keywords: whales; environmental history; development; newspapers. *** A caça à baleia no Brasil, o movimento ambientalista e os debates sobre o fim da atividade no litoral da Paraíba (1980-1990) Na década de 1980, em vários estados brasileiros, ocorreram mobilizações e abaixo-assinados para que o governo federal tomasse uma decisão sobre a questão da atividade baleeira no país. Movimentos de mobilização contra a “pesca da baleia” nas escolas, principalmente envolvendo crianças, foram noticiados pela imprensa.1 Em algumas escolas públicas, como ocorreu no estado de São Paulo, as lideranças organizaram milhares de pedidos, cartas assinadas por alunos que foram endereçadas ao presidente da República apelando para que o mesmo interviesse na luta pelo fim da matança das baleias. Igualmente, artistas do país já consagrados, como Roberto Carlos e Erasmo Carlos, compuseram música 2 no ano de 1981 abordando a questão da caça predatória imposta às baleias em mares e oceanos. A canção, claramente de apelo à causa preservacionista, foi tocada no país inteiro, um sucesso amplamente divulgado pelas emissoras de rádio e apresentada no show de final de ano da TV Globo. A luta sensibilizava e ganhava a simpatia da população brasileira. Mostrava ser uma questão de tempo o fim da atividade baleeira, realizada no país unicamente no município de Lucena, litoral norte da Paraíba, pela Companhia de Pesca Norte do Brasil (Copesbra). Na Paraíba — talvez o estado brasileiro onde mais se veiculou notícias relativas ao fim da “pesca da baleia” — o embate entre aqueles que defendiam a manutenção da atividade e aqueles contrários assumiu, em determinados momentos, contornos de drama. Os jornais de João Pessoa, capital do estado, foram os instrumentos de comunicação mais utilizados para se propagarem as principais ideias e concepções acerca desse acontecimento. A análise dos vários discursos que ajudaram a formar opiniões e percepções sobre a referida temática ajuda a entender como o problema foi tratado na época por segmentos da sociedade paraibana. A partir do início da década de 1980, com o fortalecimento do movimento ambientalista brasileiro e com o aumento da simpatia de boa parte da opinião pública, a continuidade da CRIANÇAS apelam a Sarney e conseguem a lei que proíbe a matança de baleias no Brasil. O Momento, João Pessoa, 22-28 dez. 1985. p. 9. 2 Lançada pela gravadora CBS Records, em 1981, a música As baleias foi a primeira canção de Roberto Carlos e Erasmo Carlos de cunho ecológico. 1 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 116-142, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 117 Baleias e ecologistas na Paraíba: uma história do fortalecimento do movimento ambientalista e o debate sobre a crise da economia baleeira (1970-1980) Francisco Henrique Duarte Filho e José Otávio Aguiar caça no litoral paraibano passou a ser objeto frequente de questionamentos éticos de grupos, entidades e cidadãos defensores das causas ecológicas em vários estados do país.3 O jornal O Estado de S. Paulo, por exemplo, se manifestou no início da década de 1980 com indignação a respeito da manutenção da atividade baleeira no país: É lamentável que o Brasil continue apoiando ou permitindo a caça às baleias em nossos mares. Quando se tem noção da influência direta desde animal dentro da cadeia ecológica marítima e consequentemente no equilíbrio ecológico mundial, seu valor econômico de caça desaparece. Não é concebível que interesses humanos manchem nossas praias e mares com sangue de mamíferos considerados com alto grau de inteligência. Aliás, por onde anda o espírito preservacionista que costumava fazer parte da inteligência humana? Existe atualmente uma cortina de interesses econômicos anestesiando o bom senso dos que tomam decisões, prejudicando a ecologia, a vida, a segurança e tranquilidade do mundo. (...) A extinção das baleias não teria somente repercussões regionais, como nos casos de poluição industrial, mas sim, teria consequências inevitáveis sobre a face da terra. Peço aos sensatos que pelo menos tentem evitar a extinção cruel das baleias, assim como, em longo prazo, de outras formas de vida terrestre, incluindo a humana. “S. O. S. — Salvemos as baleias”.4 Como constatado pela leitura em alguns documentos da época, organizações civis ligadas às questões ambientais deflagraram, principalmente através dos meios de comunicação, uma intensa campanha contra a atividade baleeira na Paraíba. Na vanguarda desse movimento, em nível regional, encontrava-se a Associação Paraibana dos Amigos da Natureza (Apan). Fundada em 1978 na cidade de Areia, no Brejo paraibano (em seguida começou a atuar também em João Pessoa), a entidade tinha como um dos seus objetivos sensibilizar a população paraibana e as autoridades do país à causa preservacionista.5 Dessa forma, seus membros iniciaram um processo de luta para pressionar o governo brasileiro a instituir uma legislação federal que proibisse definitivamente a atividade baleeira em mares do Brasil. Um Durante a pesquisa nos documentos da Associação Paraibana de Amigos da Natureza (Apan) e no Núcleo de Documentação Histórica e Regional (NDHIR), ambos em João Pessoa, foi possível encontrar matérias e reportagens que tratavam do fim da atividade baleeira na Paraíba na década de 1980 em jornais de diversos estados e do distrito federal, entre eles: Diário de Pernambuco (PE); Jornal do Brasil (RJ); Folha de S.Paulo e O Estado de S. Paulo (SP); Zero Hora (RS) e Correio Braziliense (BrB). 4 BLISKA, Antonella Cristina. Caça às baleias. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 jan. 1981. p. 2. 5 Embora enquadremos a luta contra a atividade baleeira na Paraíba na “causa preservacionista”, nos discursos da época não se tem muito claro a diferença entre preservação e conservação de recursos naturais. Os membros do movimento contra a atividade baleeira em Lucena, principalmente aqueles ligados à Apan, chegam, em determinados momentos do embate, a defender em seu discurso a interdição da caça para que se possam avaliar os estoques e explorá-los de maneira “sustentável”. Havia uma preocupação com o risco de extinção da espécie minke, uma vez que se achava que, se ela ocorresse realmente, comprometeria a exploração desse recurso pelas gerações futuras. Nesse sentido, o discurso se aproximava mais das tendências do conservacionismo. 3 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 116-142, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 118 Baleias e ecologistas na Paraíba: uma história do fortalecimento do movimento ambientalista e o debate sobre a crise da economia baleeira (1970-1980) Francisco Henrique Duarte Filho e José Otávio Aguiar árduo caminho que culminaria, anos mais tarde, na assinatura, pelo presidente José Sarney, da Lei Federal no 7.643 no ano de 1987. Além da Apan, que protagonizou a luta dos ambientalistas paraibanos contra a caça à baleia, documentos da época registraram igualmente o apoio declarado à causa das baleias por parte da Associação Pernambucana de Defesa da Natureza (Aspan — Recife), da União Nacional em Defesa das Baleias (Unde — São Paulo), do Greenpeace Brasil (sede em São Paulo), da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza (FBCN — Rio de Janeiro), da Associação Mineira de Defesa do Ambiente (Amda), da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (Agapan), entre outras entidades. Analisando os jornais da capital paraibana da década de 1980 (Correio da Paraíba, O Norte e A União, principalmente), se pode encontrar uma quantidade expressiva de matérias e artigos que discutem a questão da manutenção ou desativação da economia baleeira no Brasil quanto aos seus efeitos sociais e econômicos sobre o município de Lucena. Os conflitos discursivos são geralmente polarizados, de um lado, por grupos políticos e empresariais, que defendiam a manutenção da caça à baleia por questões econômicas e sociais. De outro, por ecologistas, professores universitários e simpatizantes da causa ambiental, contrários à exploração desse recurso natural com justificativas geralmente de cunho preservacionistas. Folheando os principais jornais da época, verifica-se que praticamente todas as reportagens e matérias que fazem referência, com algum grau de aprofundamento, à atividade baleeira em Lucena sugerem algum tipo de preocupação com dois aspectos: as condições de vida e de trabalho dos atores sociais (trabalhadores baleeiros, especialmente), que dependiam diretamente dessa atividade econômica para a sobrevivência; e a questão da preservação ambiental, colocada na perspectiva da defesa da vida dos mamíferos marinhos (baleias) que eram abatidos em escala comercial pela empresa japonesa. Quanto aos possíveis efeitos negativos que poderiam ser gerados em Lucena e em cidades circunvizinhas — caso viesse mesmo a se confirmar o fim da caça à baleia no país —, empresários, sindicalistas e ambientalistas locais, independentemente de estarem associados à luta pela manutenção ou desativação dessa atividade extrativista, mostraram preocupação com o fator desemprego e com eventuais perdas de arrecadação que acarretariam prejuízos ao município de Lucena e à Paraíba. Em meio à preocupação com o problema do desemprego iminente, outras possibilidades foram aventadas ao longo da década de 1980 para substituir a caça à baleia em Lucena por outra atividade que viabilizasse a economia local e absorvesse a mão de obra baleeira. Em evento da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), realizado em Belo Horizonte, o professor Ângelo Machado, presidente da Comissão de Meio Ambiente da entidade, ao participar dos debates realizados no campus da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), discorreu sobre uma possível alternativa à caça da baleia na Paraíba para suprir a mão de obra ociosa quando da paralisação da atividade baleeira. Segundo o professor, o Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 116-142, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 119 Baleias e ecologistas na Paraíba: uma história do fortalecimento do movimento ambientalista e o debate sobre a crise da economia baleeira (1970-1980) Francisco Henrique Duarte Filho e José Otávio Aguiar problema poderia ser resolvido a partir da substituição do óleo de baleia, muito utilizado no Brasil em siderurgia, cosméticos, tingimento de couro, indústria têxtil e química, “por óleo de jojoba, uma planta adaptada a climas semiáridos e cuja cultura poderia absorver a mão de obra utilizada na caça à baleia”.6 O jornal de João Pessoa que veiculou a declaração do professor Ângelo Machado no encontro da SBPC expôs também a posição do cientista sobre a decisão da Comissão Internacional de Baleeiros (CIB) de decretar uma moratória, a partir de 1986, permitindo apenas o abate de baleias para fins científicos. Quanto a essa questão, o pesquisador foi enfático ao denunciar uma tentativa de manobra de políticos paraibanos para que a atividade comercial continuasse na Paraíba protegida por este argumento: “Não podemos é ver brechas, sob prisma científico, e continuar a caça, pois o Brasil infelizmente não tem infraestrutura suficiente para pesquisa”.7 Os debates e sugestões para se resolver o problema baleeiro prosseguiam pela imprensa brasileira. Aproximadamente um mês após o encontro em Minas Gerais, o jornal A União, também de João Pessoa, publicou uma matéria em que Guilherme Campelo Rabay, membro do Departamento Jurídico da Copesbra, descartava qualquer alternativa econômica à atividade baleeira: “Não existe outra alternativa [sic]. Se a pesca da baleia for proibida, a indústria fecha; a Copesbra para as suas atividades na Paraíba”.8 O jornal deu continuidade à matéria enfatizando que o fechamento da empresa significaria o desemprego para 326 pessoas ligadas diretamente ao processamento da baleia na fábrica pertencente ao grupo japonês instalada em Costinha. “Além desses operários, outros empregados que trabalham nos dois escritórios de venda em João Pessoa e Recife ficarão desempregados”.9 Os defensores do fim da atividade baleeira utilizaram-se dos meios possíveis para disseminar ideias e valores associados à sua causa. Os jornais paraibanos tornaram-se, muitas vezes, porta-vozes dos discursos dos ambientalistas que defendiam o fim da atividade baleeira no país. No contraponto do discurso ambientalista, por sua vez, se encontravam outras falas. O receio da perda do emprego e do sustento dos trabalhadores e suas famílias, que viviam da renda proporcionada pela atividade desenvolvida pela Copesbra, se manifestou igualmente nos meios de comunicação da época. A teia discursiva, que também envolveu políticos locais e segmentos da indústria paraibana, ia-se constituindo para dar sentido à existência de homens e mulheres que habitavam Lucena e adjacências, áreas de influência econômica da atividade baleeira e dos discursos difundidos na época. PROTESTO contra a Pesca da Baleia no SBPC — Professor alerta que o Brasil pode sofrer sanções econômicas da CIB. Correio da Paraíba, 16 jul. 1985. Economia, p. 5. 7 Id., p. 5. 8 COPESBRA fecha se pesca parar — Empresa espera que projeto proibindo caça à baleia não seja aprovado no Congresso. A União, João Pessoa, 31 ago. 1985, Economia, Caderno 7, p. 2. 9 Ibid., p. 2. 6 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 116-142, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 120 Baleias e ecologistas na Paraíba: uma história do fortalecimento do movimento ambientalista e o debate sobre a crise da economia baleeira (1970-1980) Francisco Henrique Duarte Filho e José Otávio Aguiar O trabalho de militância dos membros da Apan, seus discursos inflamados pelo fim da atividade baleeira, assim como o engajamento em uma frente nacional que passou a pressionar as autoridades em Brasília para a aprovação da lei repercutiram na sociedade da época. A opinião pública acolheu e apoiou as principais ideias difundidas pelo movimento ambientalista. Talvez por isso tenham prevalecido, no final dos anos de 1980, os interesses dos militantes da Apan e simpatizantes da causa baleeira. A luta vencida pelos ambientalistas foi coroada com a instituição da Lei Federal no 7.643/1987, que proibiu definitivamente a caça à baleia no país. Algumas matérias sobre a atividade baleeira veiculadas em jornais de circulação nacio10 nal discorreram sobre a participação da população na causa conservacionista defendida pelos ativistas paraibanos. Jornais do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Brasília e São Paulo, especialmente, estiveram à frente do movimento contra a caça à baleia no país. A imprensa escrita se fazia presente e o movimento ganhava repercussão nacional. Em matéria noticiada pelo jornal O Norte,11 discorre-se sobre a formulação — durante o II Encontro Nordestino de Ecologia, realizado de 14 a 17 do mês de janeiro de 1981, em Recife — de um documento de repúdio ao presidente da República, João Batista de Oliveira Figueiredo, pela prorrogação da atividade baleeira no litoral paraibano. Um grupo de 25 pessoas, entre ecologistas, professores universitários e estudantes paraibanos, esteve presente ao evento e se manifestou, de forma organizada e pacífica, contra a manutenção da atividade de caça em Lucena. Alguns representantes do movimento ambientalista paraibano, recém-organizado, estavam presentes ao evento, o que demonstra o processo de mobilização desse movimento associado ao fim da caça à baleia. Os textos jornalísticos que discorriam sobre a atuação dos ambientalistas paraibanos sugerem que o trabalho de mobilização dos membros da Apan pelo fim da atividade baleeira extrapolava os limites geográficos da Paraíba. Matérias publicadas nos jornais da época demonstram que, por entenderem que o objetivo maior era pela instituição de uma lei federal, os ativistas da Apan também se faziam presentes em eventos políticos e acadêmicos12 regionais e nacionais, onde passaram a reafirmar seu protesto contra o que eles consideravam um massacre às baleias que, ao migrarem anualmente para o litoral da Paraíba, eram abatidas às centenas pelos caçadores locais sob coordenação da Companhia de Pesca Norte do Brasil. Em entrevista concedida ao jornal O Norte, de 20 de janeiro de 1981, Paula Frassinete Lins Duarte, na época professora do curso de biologia da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e membro da Apan, que se fazia presente ao evento organizado no litoral de Pernambuco, enfatizou a necessidade de suspensão urgente da atividade baleeira em razão do Entre os jornais de circulação nacional que deram ênfase à questão baleeira, principalmente no tocante ao projeto do deputado Gastone Righi proibindo a caça à baleia no país, podem ser citados: Folha de S.Paulo, Correio Braziliense, O Estado de S. Paulo, Zero Hora e O Globo. 11 HOJE tem vigília. O Norte, 4 jul. 1981. p. 3. 12 ECÓLOGOS firmam protesto contra presidente por prorrogar caça à baleia, O Norte, 20 jan. 1981, p. 1. 10 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 116-142, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 121 Baleias e ecologistas na Paraíba: uma história do fortalecimento do movimento ambientalista e o debate sobre a crise da economia baleeira (1970-1980) Francisco Henrique Duarte Filho e José Otávio Aguiar receio da extinção das espécies e da importância de se permitir que os animais pudessem se reproduzir no litoral paraibano sem serem molestados ou mortos por caçadores: As baleias caçadas no litoral paraibano escolhem estas águas para o acasalamento; e se são capturadas nesse período, são impedidas de reproduzirem-se, ocasionando, assim, um decréscimo em número. Uma prova desta redução: a Copesbra — empresa responsável pela pesca — há dois anos que não consegue atingir a cota estipulada pela Associação Internacional da Baleia.13 O discurso da professora e ambientalista Paula Frassinete Lins Duarte, que em certa medida sugere um ar de comoção, foi endossado por um dos grandes ecologistas brasileiros presentes ao evento, João de Vasconcelos Sobrinho. Convidado para uma palestra no mesmo evento, o professor pernambucano ao se referir a caça à baleia falou sobre a necessidade de se estabelecer a proibição da atividade no Brasil. Vasconcelos Sobrinho abriu um espaço em sua palestra e fez o seguinte comentário sobre a morte dos cetáceos em águas do litoral paraibano, o qual foi destaque no Diário de Pernambuco do dia 15 de janeiro de 1981: (...) nas águas quentes do Nordeste a baleia tem sua área de acasalamento. Para todas as espécies, as áreas de acasalamento são santuários de preservação, que deveriam merecer todo o amparo de homens civilizados. O Nordeste tem a responsabilidade por zelar por suas águas territoriais, como faríamos se fôssemos menos bárbaros.14 Como se pode inferir da fala do professor Vasconcelos e da própria Paula Frassinete, um dos argumentos mais fortes utilizados pelos ecologistas que lutavam contra a caça à baleia nas águas jurisdicionais brasileiras era o da importância e necessidade de os cetáceos poderem acasalar e se reproduzir, sem se tornarem alvos de caçadores. Os depoimentos dos professores identificam-se com características do discurso ambientalista, na corrente conservacionista, que tomava corpo nos meios intelectuais brasileiros a partir de conceitos e concepções associados ao desenvolvimento sustentável em construção na segunda metade do século passado. A própria preocupação presente nos encontros mundiais sobre a preservação da vida no planeta, ocorridos a partir dos anos 1970,15 corrobora a tese de que mudanças importantes em relação ao tratamento humano para com o meio ambiente se tornariam, a partir de então, uma realidade em praticamente todos os países ocidentais. Ibid., p. 2. FALSOS argumentos basearam liberação da pesca da baleia. Diário de Pernambuco, Recife, 15 jan. 1981. p. 1. 15 Entre os encontros internacionais organizados pela ONU para se discutir os problemas socioambientais, dois se destacam em razão de sua importância para os destinos do planeta: Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano — Estocolmo (1972) e a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Cnumad) — Rio de Janeiro, 1992. 13 14 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 116-142, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 122 Baleias e ecologistas na Paraíba: uma história do fortalecimento do movimento ambientalista e o debate sobre a crise da economia baleeira (1970-1980) Francisco Henrique Duarte Filho e José Otávio Aguiar Em relação aos discursos, se pode constatar que foram vários os argumentos utilizados pelos ambientalistas nos jornais da década de 1980 para justificar a necessidade de se pôr fim à caça à baleia no Brasil. Entre os mais utilizados, pode ser destacada a crítica frequentemente dirigida ao fato de que esse recurso natural, explorado de maneira predatória no litoral do país unicamente no município de Lucena, estado da Paraíba, servia principalmente aos interesses econômicos de estrangeiros, particularmente dos japoneses ligados à empresa Nippon Reizo Kabushiki Kaisha, multinacional do ramo de pescados com matriz na cidade de Tóquio. Empresa de grande porte que detinha o monopólio sobre os produtos baleeiros explorados na Paraíba, com destaque para a carne tipo exportação. Os ambientalistas denunciavam, entre outras coisas, que através da Copesbra os japoneses destinavam os chamados “cortes especiais” da carne de baleia para revenda (a preços elevados) no mercado daquele país, auferindo vultosos lucros com a atividade, em detrimento das questionáveis condições de vida e de trabalho da população baleeira de Lucena, principal mão de obra geradora da riqueza para os empresários japoneses. Para os representantes da Apan e simpatizantes da causa, a caça à baleia deveria ser proibida o mais rapidamente possível, uma vez que a continuação dessa atividade poderia levar a baleia minke à extinção, assim como teria ocorrido com outras espécies que foram caçadas à exaustão ao longo das extensas faixas do litoral brasileiro em períodos anteriores. O histórico da caça na Paraíba, realizada desde o início do século XX, era utilizado pelos ambientalistas para demonstrar o decréscimo populacional das espécies caçadas há décadas em águas do litoral norte da Paraíba. Ademais — acrescentavam os ambientalistas —, havia indícios de que as baleias fêmeas estavam sendo mortas em maior número do que os machos, o que poderia comprometer ainda mais a perpetuação da espécie explorada. Embora algumas vezes acusados de desconhecer a biologia comportamental e reprodutiva dos cetáceos,16 os ambientalistas da Apan não evidenciavam preocupação com as tentativas dos representantes da Copesbra em desqualificar o discurso conservacionista. Geralmente com formação em biologia, os ambientalistas demonstravam que tinham conhecimento do desaparecimento de algumas espécies das águas brasileiras em razão da caça predatória praticada em outros estados da federação, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, uma vez que entidades de proteção às baleias com sede nesses dois estados brasileiros também socializavam conhecimentos e compartilhavam da luta da entidade paraibana pelo fim da atividade baleeira no Brasil. Ambientalistas reivindicavam igualmente a suspensão imediata da caça com argumento de que estudos científicos deveriam ser promovidos e divulgados pelas instituições de pesquisa para comprovar a viabilidade e a racionalidade da exploração das baleias caçadas O jornal O Norte, de 3 de setembro de 1985, publicou matéria com o título: “Copesbra vê fantasia em declaração de dirigente”, p. 2, acusando os dirigentes da Apan de desconhecimento sobre a biologia e ecologia dos cetáceos, particularmente da espécie minke que era caçada na Paraíba. 16 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 116-142, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 123 Baleias e ecologistas na Paraíba: uma história do fortalecimento do movimento ambientalista e o debate sobre a crise da economia baleeira (1970-1980) Francisco Henrique Duarte Filho e José Otávio Aguiar na Paraíba. Alegavam os conservacionistas que as baleias minke, caçadas em período fértil, poderiam entrar na lista de animais em extinção pela falta de regulamentação e controle da caça no país. Em matéria publicada pelo jornal O Norte, no dia 18 de maio de 1981, o ecologista e professor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Antonio Moacyr Madruga, assumiu posição favorável à paralisação da exploração baleeira no Brasil por motivos claramente conservacionistas. Para o referido professor, as pesquisas da época não comprovavam a viabilidade e a racionalidade econômica da atividade: Sou pela paralisação da atividade baleeira, tendo em vista que os estudos até então realizados demonstraram que a Copesbra realiza suas atividades sem a comprovação de ser esta atividade explorada cientificamente, à medida que não houve avaliação dos estoques iniciais nem dos atuais de baleias na área, não se podendo limitar as estimativas de apreensão e, na análise histórica nota-se o desaparecimento de outras espécies do cetáceo, antes alvo central das atividades baleeiras da Copesbra, é o caso a ser citado das espadartes e cachalotes.17 A preocupação do professor Madruga quanto ao estado de vulnerabilidade de algumas espécies de baleias, manifestada no final de seu depoimento, se mostra pertinente considerando a depleção secular desse recurso natural provocada por seres humanos. As espécies espadarte, jubarte e cachalote, de tamanho maior e economicamente mais viáveis que a minke, se constituíram até a década de 1960 nos principais alvos dos caçadores na Paraíba. Na ótica dos ambientalistas, a exploração desordenada desses animais no litoral paraibano teria contribuído para o declínio dessas populações, notadamente a partir da segunda metade do século XX. Numa perspectiva econômica mais global, a constatação de Antonio Moacyr Madruga encontra ressonância no fato de que, em praticamente todos os mares onde a caça comercial e industrial da baleia foi praticada, inclusive pelos países que mais tarde viriam a se tornar membros da IWC, as espécies mais produtivas foram caçadas ao extremo. O histórico da caça predatória e a consequente necessidade de estabelecer limites para a captura dos animais, a partir da Convenção para Regulamentação da Pesca da Baleia em 1946, lançam luz aos argumentos expostos pelo professor da UFPB quando sai em defesa da suspensão imediata da atividade. No próprio preâmbulo da Convenção de 1946 chancelada pelo governo dos Estados Unidos da América, se apresentam algumas razões pelas quais se tornou imperativa a necessidade de se regulamentar mundialmente a atividade de caça à baleia. Entre elas, considerou-se o fato de que: 17 BALEIA: um problema cada vez mais sério no Nordeste. O Norte, João Pessoa, 1981. p. 2. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 116-142, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 124 Baleias e ecologistas na Paraíba: uma história do fortalecimento do movimento ambientalista e o debate sobre a crise da economia baleeira (1970-1980) Francisco Henrique Duarte Filho e José Otávio Aguiar (...) desde seu início, a pesca da baleia deu margem a uma exploração excessiva de uma zona após outra e à destruição imoderada de uma espécie após outra, ao ponto de se tornar essencial a proteção a todas as espécies das baleias contra o prolongamento de abuso dessa natureza.18 Os argumentos, apresentados pelo professor Madruga em defesa da paralisação da atividade baleeira, considerando o contexto da época, sugerem coerência. Realmente, não havia muitos incentivos aos estudos científicos19 à época no país para que se demonstrasse que a exploração baleeira estava sendo feita racionalmente, ou seja, dentro de limites ecológicos e de sustentabilidade ambiental. Aliás, dada a dificuldade ainda hoje de se observar e monitorar grandes espécies migratórias como algumas espécies de baleias, os estudiosos encontram enormes dificuldades em estudar animais com características tão diversas. Alguns estudos feitos por biólogos e oceanógrafos, por exemplo, já monitoraram baleias que nadaram pelos oceanos cerca de 10 mil quilômetros em um ano. Alguns espécimes migratórios que são identificados e monitorados em determinadas áreas oceânicas podem desaparecer com certa facilidade do controle dos cientistas. Fato que demonstra as dificuldades de se aprofundar estudos biológicos e ecológicos sobre esses mamíferos marinhos. Quanto ao que o professor denominou de “análise histórica” para a realidade da Paraíba, há de se considerar que realmente os números disponíveis na época, inclusive pela própria empresa que monopolizava a atividade baleeira, já apontavam para a gradativa escassez de algumas espécies caçadas em Lucena. Nos dados reunidos a partir das planilhas da própria Copesbra (tabela 1), pode-se verificar que, ao longo da década de 1960 e início dos anos 1970, o número de baleias-espadartes (Balaenopteraborealis) e cachalotes (Physeter macrocephalus) abatidos foi reduzido consideravelmente. Todavia, se nos anos 1960 essas espécies se constituíram nas mais capturadas pelos japoneses, foram, no entanto, sendo substituídas por outra espécie, a baleia minke (Balaenoptera bonaerensis), encontrada com certa abundância na porção mais oriental do Atlântico Sul, área de atuação da estação baleeira pertencente aos japoneses. INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE REGULATION OF WHALING. Adopted in Washington, USA, on 2 December 1946, p. 1. Disponível em: <http://iwcoffice.org/commission/convention. htm>. Acesso em: 15 jan. 2011. 19 Um fato que ilustra bem as dificuldades, principalmente financeiras e logísticas, para se realizar pesquisas sobre os cetáceos na época da caça à baleia pode ser verificado no descontentamento assumido publicamente pelo professor Kandar Valipuran Singarajah, pesquisador inglês de descendência indiana, que desenvolvia na Universidade Federal da Paraíba, no início da década de 1980, um estudo sobre o sistema nervoso central e o comportamento da espécie minke. Em reportagem do jornalista José Carlos dos Anjos, intitulada “Docente estuda a baleia minke”, publicada no jornal A União, de João Pessoa, em 4 de dezembro de 1983, p. 2, expõe-se a insatisfação do referido professor com a falta de apoio para o andamento de suas pesquisas naquela instituição. 18 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 116-142, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 125 Baleias e ecologistas na Paraíba: uma história do fortalecimento do movimento ambientalista e o debate sobre a crise da economia baleeira (1970-1980) Francisco Henrique Duarte Filho e José Otávio Aguiar Tabela 1 Captura anual das baleias-espadartes, cachalotes e minkes no litoral da Paraíba — década de referência: 1960 Ano 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 Total Espadarte 750 957 610 346 256 149 72 49 58 56 23 3.326 Cachalote 29 102 85 42 4 13 24 20 39 75 76 509 Minke 2 44 68 352 488 456 617 701 2.728 Fonte: DUARTE FILHO, F. H.; AGUIAR, J. O. História ambiental e atividade baleeira na Paraíba: algumas interrogações. In: RODRIGUES, Andre Figueiredo et al. (Org.). Natureza e cultura nos domínios de Clio: história, meio ambiente e questões étnicas. Campina Grande: EDUFCG, 2012. Sem maiores explicações por parte daqueles que administravam a caça no país, a carne e os derivados dessa nova espécie passaram, a partir de meados da década de 1960, a ser processados e contabilizados nas planilhas e balancetes da Copesbra. Embora as baleias minke fossem menores (também chamadas de baleias anãs), eram encontradas em grande número nas águas do litoral norte da Paraíba entre os meses de julho e dezembro. Esses detalhes ajudam a explicar o fato de que, para alcançar a quantidade de carne e derivados das décadas anteriores, quando se abatiam espécies maiores, era necessário capturar um número maior de animais no período de caça. Assim, as duas espécies maiores e mais atraentes economicamente, citadas anteriormente, praticamente desapareceram das anotações registradas pela Companhia de Pesca Norte do Brasil no decorrer dos anos de 1970 e 1980. O professor Madruga levantou também questionamentos sobre os problemas sociais e econômicos que envolviam a atividade baleeira em Lucena. Um desses problemas suscitados fazia menção às relações de trabalho, à exploração da mão de obra dos trabalhadores, submetidos a várias horas de serviços no mar e no processamento dos derivados em troca de remunerações diárias consideradas muito baixas.20 Inclusive fez denúncia pública utilizando Alguns depoimentos colhidos entre trabalhadores remanescentes da atividade baleeira, entre eles o do sr. Severino Freire Dias, na época presidente do sindicato dos baleeiros, depõem contra essa afirmação. Consideram, ao contrário, que a Copesbra pagava bem aos seus trabalhadores. NEVES, Severino Freire. 60 anos. Depoimento novembro de 2011, Praia de Costinha, Lucena (PB). Entrevistador: Francisco Henrique Duarte Filho. Acervo do autor. 20 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 116-142, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 126 Baleias e ecologistas na Paraíba: uma história do fortalecimento do movimento ambientalista e o debate sobre a crise da economia baleeira (1970-1980) Francisco Henrique Duarte Filho e José Otávio Aguiar os meios de comunicação da época sobre desníveis salariais21 entre brasileiros e japoneses que exerciam a mesma função dentro da empresa. A tabela 2, construída a partir dos dados disponibilizados por Madruga,22 tendo o ano de 1979 como referência, obtidos a partir da folha de pagamento dos funcionários da empresa japonesa, proporciona uma visão elucidativa da diferenciação entre os salários pagos pela Copesbra a trabalhadores japoneses e brasileiros. Tabela 2 Número de empregados fixos e faixa salarial — Copesbra, 1979 Faixa salarial, em Cr$ < 5.000,00 5.000,00 a 10.000,00 + 10.000,00 + 20.000,00 + 30.000,00 + 40.000,00 + 50.000,00 Total Brasileiros 123 8 3 134 Japoneses 1 2 2 7 4 2 2 20 Fonte: MADRUGA, A. M. A questão da baleia, op. cit. p. 106. Como se pode observar, de todos os empregados brasileiros constantes nas folhas de pagamento da Copesbra no ano de 1979, apenas três funcionários ganhavam mais de 10 mil cruzeiros mensais: cerca de quatro salários mínimos na época. Já oito funcionários brasileiros ganhavam entre 5 e 10 mil cruzeiros e o restante menos de 5 mil cruzeiros mensais.23 Sobre esta questão, o professor Moacyr Madruga ainda enfatizou que os trabalhadores da empresa japonesa desenvolviam suas atividades, dependendo da época do ano e da demanda pelos produtos baleeiros, entre 16 e 18 horas por dia, quando a legislação brasileira da época estipulava o número de horas trabalhadas em 48 horas semanais. Discorrendo sobre as relações de trabalho no âmbito da empresa japonesa, o referido professor teceu as seguintes considerações: Realmente observa-se, em praticamente todos os depoimentos analisados, que os depoentes reafirmam que os salários pagos para os japoneses eram maiores do que os pagos aos brasileiros exercendo a mesma função dentro da empresa. 22 MADRUGA, A. M. A questão da baleia: da luta ecológica à exploração humana. In: Cadernos de Estudos Regionais. O Porto de Cabedelo e a pesca da baleia — Série Monografia 2. João Pessoa: UFPB/NDIHR-CNPq. Ano 3, n. 3, 1980. 23 Considerando que, em maio de 1979, o salário mínimo era de Cr$ 2.268,00, sugere-se que a maioria dos trabalhadores brasileiros a serviço da Copesbra que tinham carteira assinada ganhava em média dois salários mínimos, o que foi confirmado pelos depoimentos dos ex-trabalhadores baleeiros que foram entrevistados para a presente pesquisa e pelos registros constantes de algumas carteiras de trabalho verificadas. 21 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 116-142, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 127 Baleias e ecologistas na Paraíba: uma história do fortalecimento do movimento ambientalista e o debate sobre a crise da economia baleeira (1970-1980) Francisco Henrique Duarte Filho e José Otávio Aguiar Ao realizarmos uma análise conjunta da história da atividade baleeira, principalmente no Brasil, enfocando os problemas da região e a atividade atual, verificamos que se o povo que nela trabalha não é mais o escravo dos tempos passados, o sistema de assalariamento que se emprega visa única e exclusivamente os interesses da multinacional que realiza essa atividade. Empresa essa que exerce uma verdadeira opressão econômica, social e até mesmo cultural sobre a população local, uma vez que os representantes da multinacional, no caso a Nippon Reizo KK, de Tóquio, poderosa firma de pescados e frios do Japão, realizam uma verdadeira agressão à população local, vivendo como se essa não existisse, formando um verdadeiro quisto detentor do dinheiro e do poder, influindo na política e condicionando, das mais variadas formas, o viver daquela população.24 As horas excessivas de trabalho da tripulação do navio baleeiro também foram objeto de observação de um estudioso da temática. Segundo depoimento do professor Singarajah,25 em dia de atividade considerada normal, as operações de caça da empresa japonesa começavam antes do amanhecer. Por volta de 4h o navio Cabo Branco partia do Porto de Cabedelo rumo à captura das baleias para somente retornar no final do dia, por volta das 18h, quando a pouca visibilidade provocada pelo pôr do sol comprometia as operações de caça do referido baleeiro. Em algumas matérias e entrevistas de pessoas ligadas à luta pelo fim da caça à baleia, principalmente ambientalistas da Apan, sob o argumento de que a maior parte dos empregos gerados pela Copesbra era sazonal, e mesmo no período mais intenso da caça, chamado de período de “safra” (de julho a dezembro), pouco mais de trezentos pais de família trabalhavam e viviam diretamente da atividade. Alegavam os críticos que outras oportunidades de emprego e renda menos degradantes poderiam ser fomentadas no município de Lucena, como alternativa ao fim iminente dessa atividade econômica na região. Dados econômicos e a retórica do desenvolvimento sustentável: argumentos em defesa e contra a “pesca da baleia” na Paraíba O discurso dos ambientalistas e simpatizantes da causa ambiental não gozava de unanimidade no contexto do referido debate. Defendendo a manutenção da caça comercial encontravam-se empresários e representantes sindicais ligados à atividade baleeira, alguns parlamentares paraibanos e membros de famílias dos trabalhadores de Lucena que dependiam direta ou indiretamente dessa atividade para obtenção de alimentos e recursos financeiros. No contraponto do discurso ecológico, analisado anteriormente, o principal argumento uti24 25 MADRUGA, A. M. A questão da baleia, op. cit. p. 70. DOCENTE estuda a baleia minke. A União, João Pessoa, 4 dez. 1983. p. 2. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 116-142, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 128 Baleias e ecologistas na Paraíba: uma história do fortalecimento do movimento ambientalista e o debate sobre a crise da economia baleeira (1970-1980) Francisco Henrique Duarte Filho e José Otávio Aguiar lizado em favor da manutenção da caça à baleia em Lucena era o da empregabilidade, da manutenção das proteínas obtidas a partir da carne de baleia para a comunidade carente do Nordeste e da importância dos impostos obtidos pelo poder municipal e estadual quando da exportação dos produtos baleeiros para o Japão. Os defensores da caça à baleia argumentavam que, se a atividade chegasse mesmo a ser desativada, centenas de famílias iriam sofrer as consequências do desemprego, da fome e da miséria. Além de que o município e o estado da Paraíba iriam perder somas consideráveis em impostos e tributos, principalmente em divisas de exportação, ICM e contribuição previdenciária. Tributos e impostos estes que eram gerados pela atividade baleeira praticada há décadas na Paraíba. Um jornal de João Pessoa do início dos anos 1980 revelava uma das linhas de argumento utilizada pelos defensores desse tipo de extrativismo animal praticado na Paraíba: A pesca da baleia proporcionará, este ano, à Paraíba e ao Nordeste: 820 toneladas de óleo de baleia para indústria nacional; 1.263 toneladas de carne para consumo interno; 905 toneladas de carne congelada; 440 toneladas de farinhas orgânicas; 410 empregos diretos e 3.000 indiretos; Cr$ 65 milhões em divisas; Cr$ 75 milhões em salários; Cr$27 milhões em ICM; Cr$ 13 milhões em contribuições previdenciárias. Deixando de pescar nada disso existirá...26 Os números divulgados pela Copesbra ao longo dos anos de 1980 nos jornais de João Pessoa alimentaram a polêmica acerca da importância social e econômica que o empreendimento baleeiro possuía para a região e para o estado da Paraíba. Não foram poucos os artigos publicados pelos jornais da época fazendo referência aos benefícios sociais e econômicos gerados pela empresa baleeira. Entre os dados constantemente divulgados estava o quantitativo de trabalhadores que caçavam e processavam os produtos baleeiros no litoral paraibano. A empresa se utilizou inúmeras vezes dos jornais que circulavam na região para confirmar que, se realmente a caça à baleia fosse proibida, a fábrica seria fechada e centenas de pais de famílias seriam lançados ao desemprego. Todavia, as matérias apresentaram o quantitativo de trabalhadores sempre instável ao longo do tempo e, pelo que se pode deduzir, os números que eram apresentados pela imprensa da época variavam de acordo com os interesses dos responsáveis por sua divulgação. Em depoimentos analisados nos artigos de jornais entre 1980 e 1986, período que abrange o maior número de matérias sobre essa discussão, encontraram-se divergências bem significativas quanto ao número de trabalhadores efetivamente envolvidos com a caça à baleia na costa paraibana: (...) é na cidade paraibana de Lucena que se encontra o único foco brasileiro de pesca de baleia, representando pela Companhia de Pesca Norte do Brasil — Copesbras — de capital japonês. 26 TIRANDO do mar o que falta na terra. Correio da Paraíba, João Pessoa, 5 ago. 1980. Geral, p. 11. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 116-142, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 129 Baleias e ecologistas na Paraíba: uma história do fortalecimento do movimento ambientalista e o debate sobre a crise da economia baleeira (1970-1980) Francisco Henrique Duarte Filho e José Otávio Aguiar Ela emprega cerca de 300 pessoas da cidade e a Sudepe, embora ache que a captura de um determinado número de baleias para pesquisa deva ser mantido, começa a acionar um antigo programa de atividades alternativas para a população de Lucena. Através de convênio com a Sudene, o superintendente da Sudepe, Petronilo Santa Cruz, estuda a possibilidade de aplicar ali o programa de pesca artesanal (sobretudo atum e algas), comprovadamente rentável para a população.27 (grifamos) Além dos números desencontrados28 que procuravam demonstrar a importância social e econômica da atividade baleeira para o município de Lucena e para a Paraíba, não faltaram, somando-se a esses dados, argumentos no mínimo inusitados que procuravam justificar a caça às baleias como “necessária”, uma vez que se acreditava que esses animais “representavam uma ameaça à espécie humana”. Merece ser mencionada uma matéria veiculada no jornal O Norte, de 25 de fevereiro de 1980, assinada por um “ecologista” paraibano de nome Balduíno Lélis de Farias, nascido em Taperoá, que defendia não apenas a manutenção da caça às baleias, mas a própria extinção das mesmas como “benéfica à natureza”. O referido “pesquisador”, como é chamado pelo jornal que publicou a matéria, parte do princípio que a baleia “é prejudicial ao homem...”, uma vez que ela contribui para o desequilíbrio ecológico quando devora em curto espaço de tempo grande quantidade de peixes, concorrendo com os seres humanos na busca de alimentos no ambiente marinho. O mesmo fundamentou sua opinião utilizando-se dos seguintes argumentos: Ela (a baleia) está fora de tempo e de espaço. Sua estrutura física está superada. Ela era da terra e fugiu para o mar e lá, evidentemente, dispunha de uma grande quantidade de alimento sem ninguém para competir, o que facilitou seu desenvolvimento (...). A baleia é um mamífero. Ela come exatamente o que nós comemos, o peixe. A baleia come atualmente 420 toneladas de peixes por dia, o que representa a considerável soma de 147 milhões de toneladas por ano. Se deixarmos esta baleia continuar se multiplicando na base de 420 mil por ano — vamos dizer que somente metade destas baleias realmente fecundasse — então teríamos 200 mil baleias por ano, o que em dez anos seriam dois milhões de baleias. Seriam dois milhões de toneladas de peixes por dia e 730 milhões de toneladas por ano. É, sem dúvida, um preço muito alto que a Humanidade irá pagar por um animal que não chega a representar quase nada ou nenhum AZEREDO, Zenaide. PB quer continuar caçando baleias. O Estado de S. Paulo, 7 jul. 1985. Caderno Ambiente, p. 3. 28 Nos documentos pesquisados dos anos 1970 e 1980 (revistas, jornais, relatórios da Copesbra e artigos científicos) não há consenso quanto ao número de empregados diretamente ligados à atividade baleeira. Falam em trezentos, quatrocentos e até mil trabalhadores diretos. O que as fontes pesquisadas deixam subentendido é que o número de trabalhadores variava de acordo com as cotas de abate que eram estabelecidas por temporada de caça. Como as cotas variavam anualmente, o número de trabalhadores, em sua maioria sazonal, parece acompanhar essa variação. 27 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 116-142, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 130 Baleias e ecologistas na Paraíba: uma história do fortalecimento do movimento ambientalista e o debate sobre a crise da economia baleeira (1970-1980) Francisco Henrique Duarte Filho e José Otávio Aguiar equilíbrio ecológico. Daí por que afirmo que ela é um predador e um perigoso concorrente do homem em termos de sobrevivência.29 Os argumentos de Balduíno Lélis de Farias parecem carecer de sustentação científica. Senão no todo, pelo menos em relação ao fato de querer estabelecer generalizações quanto ao comportamento e hábitos alimentares desses animais, como se somente existisse uma espécie de baleia. Hoje se tem conhecimento de que existem pelo menos 76 espécies e dezessete subespécies, com características e padrões de comportamento tão distintos que jamais se poderiam usar tais generalizações, como as que foram utilizadas pelo referido professor para caracterizá-las quanto aos hábitos alimentares e uma eventual concorrência com os seres humanos por recursos marinhos. Quanto à afirmação do “pesquisador” de que a humanidade irá pagar um preço muito alto “por um animal que não chega a representar quase nada ou nenhum equilíbrio ecológico”, parece ainda mais absurda. Para efeito de demonstrar aspectos relacionados ao comportamento biológico das baleias e sua importância para a manutenção do equilíbrio ecológico, basta destacar que estudos recentes constataram que o ferro presente nas grandes quantidades de fezes que esses animais expelem no mar exerce um papel importante na cadeia alimentar, na medida em que passa a ser utilizado como fonte de alimento para os fitoplânctons, seres microscópicos que servem, por sua vez, como alimento para uma infinidade de outras espécies, contribuindo para manter a estabilidade ecossistêmica: Biólogos australianos calcularam que as cerca de 12 mil baleias cachalotes do Oceano Austral defecam, cada uma, cerca de 50 toneladas de ferro no mar a cada ano, após digerirem os peixes e lulas, que são a base de sua dieta. O ferro é um excelente alimento para o fitoplâncton — plantas marinhas que vivem perto da superfície do oceano e que tiram CO2 da atmosfera através da fotossíntese. O Oceano Austral é rico em nitrogênio e pobre em ferro, que é essencial ao fitoplâncton. Como resultado desta fertilização orgânica do ambiente marinho, as baleias ajudam a remover 400.000 toneladas de carbono a cada ano, duas vezes mais que as 200 mil toneladas de CO2 que elas liberam através da expiração. Comparativamente, 200 mil toneladas de CO2 equivalem às emissões de quase 40.000 carros de passageiros, segundo estimativas do site da agência ambiental americana (EPA). Segundo a EPA, com base em um cálculo feito em 2005, um veículo de passageiros que roda 20 mil quilômetros por ano emite mais de cinco toneladas de CO2 ou carbono equivalente ao ano. As fezes das baleias são muito eficazes porque são liberadas em estado líquido e perto da superfície marinha, antes de os mamíferos mergulharem (...). Antes da pesca industrial de baleias, a população da espécie era cerca de 10 vezes maior, o que significa que dois milhões de toneladas de CO2 eram removidas anualmente.30 (grifamos) EXTINÇÃO da baleia vista como benéfica à natureza. O Norte, João Pessoa, 25 fev. 1980. Geral, p. 5. FEZES de baleias ajudam no combate ao aquecimento global. Revista Exame Online, 15 out. 2010. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/economia/meio-ambiente-e-energia/noticias/fezes-baleia-ajudam->. 29 30 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 116-142, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 131 Baleias e ecologistas na Paraíba: uma história do fortalecimento do movimento ambientalista e o debate sobre a crise da economia baleeira (1970-1980) Francisco Henrique Duarte Filho e José Otávio Aguiar O estudo mencionado sugeriu que o fato de os fitoplânctons retirarem da atmosfera, por meio do processo de fotossíntese, uma quantidade significativa de CO2, um dos principais gases responsáveis pelo aquecimento do planeta, as baleias acabam contribuindo para reduzir o que alguns estudiosos denominaram de “efeito estufa”.31 Ou seja, as baleias, assim como milhares de outros animais marinhos exercem, cada qual à sua maneira, importantes funções na estabilidade dos sistemas ecológicos. Entrevistas e depoimentos publicados pelos principais jornais da época, portanto, procuraram manifestar opiniões polêmicas e sentimentos contraditórios que tomavam de impulso a opinião pública paraibana. Em outra matéria publicada em jornal da capital da Paraíba, em dezembro de 1987, verifica-se o descontentamento do presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Pesca e da Extração do Óleo da Baleia de Lucena, Severino Freire das Neves e de Guilherme Rabay, Assessor Jurídico da Copesbra, quando da notícia de que o Senado brasileiro havia aprovado o Projeto de Lei que proibia definitivamente a atividade baleeira em águas jurisdicionais brasileiras. O jornal pessoense destacou a seguinte observação do sindicalista sobre a referida decisão: “a decisão do Senado Federal foi uma grande tragédia, porque com a continuação da pesca agente [sic] tinha a esperança que ia aumentar o nosso mercado de trabalho”.32 O desapontamento do sindicalista Severino Freire das Neves com a decisão do Senado foi novamente demonstrado quando ele faz menção, na mesma matéria, ao apoio que os trabalhadores de Lucena recebiam da Copesbra, mesmo quando o período de “pesca” era encerrado no mês de dezembro e os trabalhadores temporários ficavam afastados dos trabalhos baleeiros por quase seis meses, desenvolvendo atividades de subsistência como agricultura e pesca artesanal: Os pescadores consideravam o restante dos meses como se estivessem de férias. Quando terminava a pesca, os trabalhadores recebiam todos os direitos trabalhistas da Copesbra (...) com o dinheiro o pescador comprava uma rede e uma canoa para pescar até chegar o início da pesca da baleia.33 Em vários momentos da trajetória de luta contra a caça à baleia até a decretação do fim da atividade no Brasil, os depoimentos dos líderes baleeiros e dos próprios trabalhadores empregados na Copesbra, publicados em jornais e revistas da época, são sempre em defesa dos Segundo João Paulo Capobianco (Dicionário ilustrado de ecologia. São Paulo: Revista Terra; Azul, 1998), o efeito estufa é gerado por uma camada de gases que envolve a Terra, impedindo que o calor que reflete na superfície do planeta volte para o espaço, gerando aumento de temperatura no planeta. 32 BALEIA: trabalhadores reagem contra a proibição. Correio da Paraíba, João Pessoa, 18 dez. 1987. Geral, p. 7. 33 Ibid. 31 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 116-142, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 132 Baleias e ecologistas na Paraíba: uma história do fortalecimento do movimento ambientalista e o debate sobre a crise da economia baleeira (1970-1980) Francisco Henrique Duarte Filho e José Otávio Aguiar interesses da referida atividade econômica para que se lograsse garantida a manutenção do emprego e da remuneração que eram mantidas pela empregadora japonesa. A mensagem contida nas palavras do presidente do Sindicato da Pesca e da Extração do Óleo da Baleia de Lucena fortalece uma lógica subjacente em praticamente todos os discursos dos atores sociais estudados identificados com a defesa da permanência da atividade baleeira no estado da Paraíba, qual seja, a manutenção do emprego dos trabalhadores ligados à caça da baleia deve sobrepor-se aos interesses daqueles que lutam pelo equilíbrio ecológico e pela preservação das espécies ameaçadas de extinção. Um discurso que se apresentava voltado à causa social, mas que também se mostrava, conforme sugere Morin,34 revelador de concepções economicistas e antropocêntricas, características de uma formação humana fragmentada e reducionista. Na mesma reportagem de dezembro de 1987, o jornal abriu espaço para que Creginaldo da Silva, então presidente da Apan, ao ser indagado sobre a votação da referida lei, definisse sua aprovação como “uma conquista do povo brasileiro”. Para o presidente da Apan, a proibição da caça às baleias deveria servir de exemplo para outros recursos naturais, que estavam sendo explorados “aleatoriamente, quando não se tinham dados técnicos e científicos que garantissem a sua exploração racional com vistas à preservação dos recursos naturais para gerações futuras”. As palavras do presidente da Apan chamam atenção pela preocupação evidenciada com a exploração racional dos recursos naturais, com vistas à garantia de sua continuidade também pelas gerações futuras. O discurso do desenvolvimento sustentável, implícito nas declarações do dirigente da Apan, se tornaria gradativamente hegemônico nas décadas de 1980 e 1990, principalmente com a publicação do Relatório Brundtland, documento de 1987, e com a Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Rio-92), que passaram a assumir, sob coordenação da Organização das Nações Unidas (ONU), um papel de destaque na reformulação do discurso e das práticas ambientalistas em praticamente todo o mundo ocidental a partir das últimas décadas do século XX. O Relatório Brundtland, que recebeu também o nome Nosso futuro comum, reformulou o conceito de desenvolvimento, definindo-o como aquele que compatibiliza crescimento econômico com respeito aos limites ecológicos. Um desenvolvimento que deveria satisfazer as necessidades da geração presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades. O documento elaborado sob a presidência da norueguesa Gro Harlen Brundtland (originou-se daí o nome do relatório) enfatiza que o desenvolvimento adjetivado de sustentável é mais do que crescimento. O novo momento exige uma mudança no teor de crescimento a fim de torná-lo menos intensivo em matérias-primas e energia, procurando ser mais equitativo em seu impacto. O documento ainda pregava que as mudanças precisavam ocorrer em todos 34 MORIN, Edgar; KERN, Anne Brigitte. Terra pátria. 6. ed. Rio de Janeiro: Salinas, 2011. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 116-142, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 133 Baleias e ecologistas na Paraíba: uma história do fortalecimento do movimento ambientalista e o debate sobre a crise da economia baleeira (1970-1980) Francisco Henrique Duarte Filho e José Otávio Aguiar os países, como parte de um pacote de medidas para manter a reserva de capital ecológico, melhorar a distribuição de renda e reduzir o grau de vulnerabilidade às crises econômicas. Os ambientalistas paraibanos absorveriam, sem questionamentos, o discurso elaborado pelos países centrais do capitalismo que objetivava compatibilizar crescimento econômico com equilíbrio ecológico. O conceito de desenvolvimento sustentável que o Relatório Brundtland disseminou no fim da década de 1980, e que tem influência no discurso de Creginaldo da Silva, um dos mais destacados representantes do ambientalismo paraibano da época, deve ser considerado relevante para melhor se compreenderem avanços e limites do movimento ambientalista no Brasil e na Paraíba. No caso desse estado da federação, o movimento ecológico surgiu e se fortaleceu paralelamente à luta contra a atividade baleeira praticada em Lucena.35 As análises e as discussões mais profícuas sobre o conceito e sobre a definição de desenvolvimento adjetivado de sustentável, conforme difundido pelo Relatório Brundtland, viriam nas décadas seguintes quando Ignacy Sachs36 e Enrique Leff,37 principalmente, formularam várias críticas à falta de consenso sobre o seu significado, à heterogeneidade dos interesses no uso do termo e à sua apropriação para o atendimento de interesses sociais e econômicos diversos. O professor Enrique Leff, especialmente, ao criticar e aprofundar o conceito de desenvolvimento sustentável, vai fazer referência a ele como um projeto social e político que deveria apontar para o ordenamento ecológico e a descentralização territorial da produção, assim como para a diversificação dos tipos de desenvolvimento e dos modos de vida das várias populações que habitam o planeta. O autor de Epistemologia ambiental e saber ambiental também contribuiu com a discussão sobre a natureza ideológica das questões ambientais. Segundo ele, a problemática ambiental não é ideologicamente neutra. Ela atende a determinados interesses políticos e econômicos de grupos que utilizam o discurso racionalista para manter seu poder dentro da sociedade. A relação estreita entre saber e poder, outrora tão bem analisada por Foucault,38 é percebida como muito importante, senão fundamental, para se compreenderem as relações sociais e econômicas em um mundo marcado pelo poder do capital e pela globalização crescente dos mercados. Na esteira da discussão sobre desenvolvimento sustentável, portanto, algumas matérias jornalísticas da época oferecem indícios de como o movimento ambientalista na Paraíba nasceu, cresce e amadureceu em torno da luta contra a atividade de exploração animal, esA Associação Paraibana dos Amigos da Natureza (Apan), fundada em 1978, é considerada a mais antiga entidade de defesa ambiental do Nordeste brasileiro em atividade. Seus membros possuem uma história destacada de atuações nas mais diferentes causas relacionadas à defesa do meio ambiente e dos ecossistemas da Paraíba. Com destaque na luta pela instituição da Lei Federal no 7.643/1987, que determinou o fim da caça à baleia em águas jurisdicionais brasileiras. 36 SACHS, Igany. A terceira margem. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 37 LEFF, Enrique. Epistemologia ambiental e saber ambiental. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2006. 38 FOCAULT, Michel. Microfísica do poder. 15. ed. Graal: Rio de Janeiro, 2000. 35 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 116-142, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 134 Baleias e ecologistas na Paraíba: uma história do fortalecimento do movimento ambientalista e o debate sobre a crise da economia baleeira (1970-1980) Francisco Henrique Duarte Filho e José Otávio Aguiar tando a caça da baleia no centro do conflito.39 Alguns textos de autoria dos ambientalistas paraibanos, como o do próprio Creginaldo, e de empresários e políticos da região sugerem em seu teor a influência de ideias e concepções presentes no Relatório Brundtland40 lançado em 1987. Termos como “exploração racional dos recursos naturais” e “desenvolvimento sustentável” já estavam em construção e eram divulgados pelos meios de comunicação de massa no final dos anos 1980. Alguns desses discursos,41 materializados pelos jornais da época, podem ser utilizados como objeto de análises e reflexões, corroborando essa constatação. Políticos paraibanos e empresários de plantão: lobby pela manutenção da caça à baleia Ao longo da pesquisa realizada nos jornais de João Pessoa da época, foi se evidenciando que havia certa sintonia entre as ideias e os discursos do empresariado ligado ao ramo pesqueiro e a classe política do estado da Paraíba. Alguns fragmentos de falas recuperados dos jornais da década de 1980 confirmam a confluência de ideias e concepções defendidas por esses setores da sociedade paraibana quando se tratava da caça à baleia. Vários documentos da época, principalmente os jornais da capital paraibana, puderam testemunhar que a classe política paraibana e os empresários ligados ao setor pesqueiro também se envolveram nos debates sobre a questão da caça à baleia. A preocupação em torno da manutenção ou fim da atividade baleeira no país, cujos reflexos maiores ocorreriam na Paraíba, levou alguns parlamentares do estado com mandatos eletivos durante a década de 1980 a assumir publicamente, em vários momentos dos debates, posição política favorável à manutenção da caça à baleia praticada no litoral norte da Paraíba. Entre os políticos mais atuantes em defesa dos interesses da economia baleeira podem ser identificados os governadores Tarcísio de Miranda Burity (1979-1982), Clóvis Bezerra Cavalcanti (1982-1983), Wilson Leite Braga (1983-1986) e Milton Bezerra Cabral (1986-1987). O deputado federal Raimundo Asfora e os deputados estaduais Edvaldo Mota, Jório de Lira Machado e Ramalho Leite também são identificados com os interesses da permanência do empreendimento baleeiro em Lucena. Segundo depoimento de Paula Frassinete Lins Duarte, de 14 de setembro de 2011, quando do surgimento da Apan em 1978, duas grandes lutas constavam da agenda da entidade: o fim da caça à baleia em Lucena e a preservação do Cabo Branco em João Pessoa. 40 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso futuro comum. 2. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 1991. 41 De acordo com matéria intitulada: “Ecologistas consideram uma conquista da sociedade”, publicada pelo Correio da Paraíba (João Pessoa, 18 dez. 1987. Geral, p. 2), Creginaldo da Silva, na época presidente da Apan, voltando a se posicionar sobre o fim da caça à baleia, argumentou que a referida proibição deveria ser extensiva a outros recursos naturais que estavam sendo explorados no Brasil sem controle por parte dos órgãos governamentais. 39 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 116-142, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 135 Baleias e ecologistas na Paraíba: uma história do fortalecimento do movimento ambientalista e o debate sobre a crise da economia baleeira (1970-1980) Francisco Henrique Duarte Filho e José Otávio Aguiar No ano de 1982, durante o mandato presidencial do general João Batista de Oliveira Figueiredo, quando se iniciavam as discussões sobre um fim iminente da caça à baleia no Brasil, um jornal de João Pessoa expressava a preocupação de Clóvis Bezerra Cavalcanti, então governador42 da Paraíba, com a possibilidade de a caça à baleia não ser autorizada naquela temporada. O jornal pessoense manifestou a preocupação do chefe do Executivo paraibano da seguinte maneira: O governador Clóvis Bezerra enviou telex ao presidente João Figueiredo externando sua preocupação com o fato da Sudepe ainda não ter recebido a garantia de que a pesca da baleia não será interrompida este ano, como ocorreu no ano passado. Na mensagem enviada ontem ao presidente da República, o governador paraibano explicou que na temporada de 1981 “o setor foi surpreendido com uma redução de dez por cento do nível de captura”.43 Numa primeira análise, é importante considerar a data em que a matéria é publicada: 1 de junho de 1982. Período do ano em que as baleias minke começam a migrar para as águas do litoral brasileiro para cumprir o ritual de acasalamento e procriação. Período de “safra”, como era comumente chamado pelos baleeiros o período compreendido entre junho e dezembro de cada ano. Além de demonstrar preocupação por não ter recebido a garantia de que a atividade baleeira seria mantida naquele ano, é interessante observar que, ao concluir suas considerações sobre a necessidade da liberação da atividade baleeira para o ano em curso, sem prejuízo na cota estabelecida, o governador acrescente ao seu texto fragmentos do discurso que fortaleciam ideias e concepções de segmentos sociais favoráveis à manutenção da atividade baleeira na Paraíba. Segundo o jornal, na mensagem, Clóvis Bezerra pede que o presidente Figueiredo dê instrução aos setores competentes “no sentido de manter intacta a dotação de captura do Brasil, pois qualquer decisão ao contrário comprometerá o nível já projetado de oferta de proteínas, a taxa de emprego e a contribuição tributária da atividade ao Estado e ao município”.44 O jornal Correio da Paraíba, em sua edição do dia 20 de agosto de 1985, trouxe matéria reproduzindo o discurso do deputado estadual Edivaldo Mota, em que defendeu publicamente a manutenção da atividade baleeira. Como consta no jornal, Edvaldo Mota ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa para dizer que a Paraíba iria sair perdendo com o fim da atividade baleeira e apelou ao governo federal para rever essa posição, acrescentando que os o Clóvis Bezerra Cavalcante foi eleito vice-governador da Paraíba em 1979 ao lado de Tarcísio de Miranda Burity. Em 1982, assumiu definitivamente o governo da Paraíba, quando o titular se afastou do cargo para se candidatar a deputado federal. 43 CLÓVIS pede garantia para caça à baleia. A União, João Pessoa, 1o jun. 1982. Geral, p. 5. 44 Ibid., p. 5. 42 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 116-142, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 136 Baleias e ecologistas na Paraíba: uma história do fortalecimento do movimento ambientalista e o debate sobre a crise da economia baleeira (1970-1980) Francisco Henrique Duarte Filho e José Otávio Aguiar outros países que praticavam essa modalidade de pesca não suspenderam suas atividades.45 Em tom dramático, o deputado do PMDB acrescentou no final de seu discurso que “a Paraíba é quem vai sair perdendo com a paralisação da pesca, porque perderá ICM, deixará centenas de famílias sem emprego e aumentará a miséria no município de Costinha, motivos pelos quais a atividade não deveria ser proibida”.46 É interessante perceber no discurso do parlamentar, claramente em defesa da manutenção da atividade baleeira, que ele acaba confirmando um fato que o ambientalista Moacyr Madruga já havia denunciado sobre as condições de “vida miserável” em que se encontrava a comunidade de Costinha na época em que vigorava a atividade baleeira, mesmo com os benefícios que a Copesbra alegava trazer para a região. Nas palavras do deputado Edvaldo Mota, a desativação do empreendimento baleeiro “aumentará a miséria no município”. A frase remete a uma reflexão: se há uma preocupação com a possibilidade de aumentar a miséria, é porque se entende que ela já existe... Em nível nacional, o jornal O Estado de S. Paulo, datado de 7 de julho de 1985, divulgou uma matéria onde destaca a tentativa do então governador da Paraíba, Wilson Braga, de influenciar na posição que o Brasil deveria adotar na International Whaling Commission (IWC), encontro de representantes baleeiros que ocorria naquele ano em Londres, onde se discutiriam as questões relacionadas à atividade: O governador da Paraíba, Wilson Braga, quer que o Brasil defenda junto à Comissão Internacional da Baleia, reunida durante todo o mês de julho, em Londres, posição não conservacionista no que diz respeito à pesca da baleia. (...) Ofício neste sentido foi encaminhado pelo governador ao ministro da Marinha, almirante Henrique Sabóia, que também é presidente da Comissão Interministerial de Recursos do Mar (Cirm). Isso porque, é na cidade paraibana de Lucena que se encontra o único foco brasileiro de pesca de baleia, representado pela Companhia de Pesca Norte do Brasil — Copesbras — de capital japonês. Ela emprega cerca de 300 pessoas da cidade e a Sudepe, embora ache que a captura de um determinado número de baleias para pesquisa deva ser mantido, começa a acionar um antigo programa de atividades alternativas para a população de Lucena. Através de convênio com a Sudene, o superintendente da Sudepe, Petronilo Santa Cruz, estuda a possibilidade de aplicar ali o programa de pesca artesanal (sobretudo atum e algas), comprovadamente rentável para a população.47 Conforme se pode inferir da matéria, o governador, como representante dos interesses da população paraibana, demonstrava preocupação com o destino dos trabalhadores baleeiros que viviam da atividade no município de Lucena. Chamando atenção para o problema do O parlamentar paraibano se referia à então União Soviética, Japão, Noruega e Islândia, países que mantiveram a caça comercial de baleias mesmo depois da moratória de 1985 determinada no âmbito da IWC. 46 DEPUTADO contra suspensão da pesca à baleia. Correio da Paraíba, 20 ago. 1985. p. 3. 47 PB quer continuar caçando baleias. O Estado de S. Paulo, 7 jul. 1985. p. 2. 45 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 116-142, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 137 Baleias e ecologistas na Paraíba: uma história do fortalecimento do movimento ambientalista e o debate sobre a crise da economia baleeira (1970-1980) Francisco Henrique Duarte Filho e José Otávio Aguiar desemprego que o fim iminente da atividade provocaria no município, Wilson Braga assumiu posição não conservacionista, conforme palavras expressas no próprio jornal paulista. Observa-se que, diferentemente de outras matérias que evidenciaram a posição de autoridades paraibanas, o jornal paulista trouxe um elemento novo que começava a ser incorporado nos discursos dos defensores da “pesca da baleia” com o objetivo de manter, mesmo em condições adversas, a atividade econômica em funcionamento no município de Lucena: manter a captura de um determinado número de animais para que pesquisas científicas pudessem ser realizadas com os animais capturados em Costinha. Os japoneses se utilizaram dessa estratégia mesmo depois de decretada a moratória de 1985, mantendo, ainda que contrariando a posição de vários países signatários da IWC, a caça comercial clandestina com animais provenientes das águas da região Antártica, alegando “pesca para fins científicos”. Quanto aos representantes da classe empresarial paraibana, Guilherme Campelo Rabay foi destacadamente o maior defensor da continuidade da atividade baleeira no país. Considerado o mais influente empresário ligado à Copesbra, Rabay escreveu dezenas de artigos para os jornais paraibanos procurando mostrar a viabilidade social e econômica da atividade baleeira instalada há décadas em Lucena. Era também o representante mais proeminente da Companhia de Pesca Norte do Brasil em reuniões com autoridades brasileiras e estrangeiras, quando se tratava de defender os interesses da indústria nipo-brasileira instalada no litoral norte da Paraíba. Era o escolhido pela empresa nipo-brasileira, nos últimos anos da caça à baleia, para se pronunciar na imprensa paraibana sobre as questões de interesse da atividade baleeira. Guilherme Campelo Rabay é, sem dúvida, o personagem que mais vezes utilizou a imprensa paraibana para defender os interesses da empresa japonesa. Sua presença nos jornais analisados é marcante, principalmente no período mais agudo do embate sobre o fim da atividade baleeira no país, entre 1980 e 1987. Respondia aos seus opositores da caça à baleia sempre baseado em resultados econômicos que eram gerados pela empresa baleeira. Amparado por dados estatísticos elaborados por especialistas da Copesbra, era contundente em seus argumentos e, às vezes, destemperado. Uma entrevista publicada pelo jornal A União, datado de 5 de julho de 1981, traduziu a indignação de Guilherme Campelo Rabay quando perguntado sobre uma campanha contra a pesca da baleia, organizada no estado vizinho, Pernambuco, que contou, segundo o jornal pessoense, com o apoio de autoridades e pessoas ligadas à defesa do meio ambiente. Para Guilherme Rabay, “é um direito que eles têm (de protestar). Mas acredito que se a indústria fosse localizada lá eles não fariam essas manifestações”. O empresário deu continuidade ao seu depoimento ao jornal enfatizando que a “pesca da baleia” era muito importante para a região, uma vez que a mesma se constituía no único empreendimento gerador de emprego e renda existente no município de Lucena: “Só para Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 116-142, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 138 Baleias e ecologistas na Paraíba: uma história do fortalecimento do movimento ambientalista e o debate sobre a crise da economia baleeira (1970-1980) Francisco Henrique Duarte Filho e José Otávio Aguiar dar um exemplo da importância desse empreendimento, 80 por cento do orçamento daquele município dependem da Copesbra”.48 Conforme se pode deduzir do discurso de Rabay, a linha de argumentos em defesa da manutenção da atividade baleeira, utilizada nas narrativas expostas nos jornais, evidencia certa lógica que é seguida por representantes de vários setores da sociedade paraibana, citados ao longo do trabalho. Uma linha de raciocínio que exalta a importância dos dados econômicos como meio de demonstrar a viabilidade social e econômica do empreendimento, como forma de sensibilizar a opinião pública e as autoridades do país diante do problema do desemprego iminente que o fim do extrativismo animal provocaria no seio da população lucenense. Essa pode ser uma das leituras possíveis dos depoimentos e discursos analisados, que pretenderam defender a permanência da atividade baleeira em Lucena no decorrer dos anos 1980. Considerações finais: mudanças de percepção e de comportamento humano em relação às baleias Não parece exagero afirmar que a maioria dos discursos analisados, proferidos por ambientalistas e simpatizantes de ideias voltadas à defesa das baleias, vencedores do embate, evocou a questão da perpetuação da espécie, do direito de os animais se reproduzirem e do respeito à vida como principal linha argumentativa para alcançar seus objetivos. A esse respeito, os argumentos dos ambientalistas quanto ao direito à reprodução e à própria vida das baleias sugerem a existência de consideráveis mudanças no comportamento de uma parcela importante da humanidade, particularmente na sensibilidade refletida no trato com outros seres vivos. No caso estudado, particularmente com as baleias, sabe-se que hoje esses animais recebem um tratamento diferente daquele feito no passado. Essa conclusão, embora dedutiva, pode ser feita considerando que a luta pelo fim da caça à baleia tornou-se mundial, praticamente uma exigência das mais diferentes sociedades e culturas. Em diversos países do mundo, como Espanha, Estados Unidos, Alemanha, França, Brasil, ocorreram mobilização e pressão para que as autoridades tomassem providências acerca das espécies baleeiras ameaçadas de extinção em razão do comércio de derivados que provocou um efeito dominó entre as espécies caçadas em todo o planeta.49 O processo de mudanças em relação à percepção da natureza, o emergir de “novas sensibilidades” humanas para com os demais seres vivos, embora lentos e pouco estudados, COPESBRA já capturou seis baleias em apenas três dias. A União, 5 jul. 1981. p. 2. DOLIN, E. J. Leviathan: the history of whaling in American. Nova York: W. W. Norton & Company, 2007. 48 49 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 116-142, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 139 Baleias e ecologistas na Paraíba: uma história do fortalecimento do movimento ambientalista e o debate sobre a crise da economia baleeira (1970-1980) Francisco Henrique Duarte Filho e José Otávio Aguiar parecem ter sido iniciados nos últimos cinco séculos em todo o mundo ocidental. Essas mudanças, embora imperceptíveis para a maioria das pessoas, são representativas, uma vez que expressam transformações mentais e culturais importantes, principalmente nas relações entre sociedade e natureza. Não parece absurdo considerar, por conseguinte, que essa redefinição do relacionamento dos humanos com a natureza, a que se refere Keith Thomas50 no caso inglês, tenha se difundido com o passar do tempo por entre países mais distantes da Europa, ou até mesmo que tenha assumido características próprias em cada sociedade, de acordo com as mudanças sociais, políticas e culturais ocorridas ao longo das últimas décadas em cada país. O processo de colonização e integração cultural do continente americano, levado a cabo pelos países europeus em fins do século XV e início do XVI, permite sugerir a tese de que traços dessas “novas sensibilidades” passaram a ser incorporados paulatinamente à cultura dos povos colonizados. Todavia, é possível que nos países americanos os registros históricos sobre as mudanças nas relações entre humanos e a natureza, às quais se refere Thomas, não permitam estudo sobre o tema no nível de aprofundamento tal qual utilizado pelo referido autor na pesquisa sobre o caso inglês. Mas isso não significa que não se podem identificar, principalmente no último século, mudanças de atitudes e comportamentos da maioria das pessoas em relação à natureza no Velho Mundo (como no caso inglês) e em algumas ex-colônias americanas, como no Brasil. Basta analisar, como exemplo para reflexões, as mudanças de atitudes e de comportamento da maioria do povo brasileiro em relação às baleias. De mamíferos que chegaram a meados do século XX em processo de extinção, passaram a animais preservados e protegidos por lei no final do mesmo século. A caça predatória aos cetáceos no Brasil, iniciada ainda pelos colonizadores ibéricos no início do século XVII, perdurou por quase quatro séculos, mas atualmente o comércio e a indústria baleeira fazem parte do passado do país. A legislação ambiental brasileira protege esses animais não apenas contra a exploração comercial e industrial, mas contra qualquer tipo de molestamento. Talvez com exceção de trabalhadores baleeiros remanescentes de Lucena, em um universo micro no qual algumas pessoas ainda reivindicam um retorno à antiga atividade que era promovida pela Copesbra, parece inconcebível atualmente defender esse tipo de relação predatória com essas espécies. A lei federal sancionada em 1987 que proibiu a caça e “qualquer forma de molestamento aos cetáceos” pode ser considerada, de fato, uma conquista, resultado de mudanças na percepção e nas ações dos brasileiros para com a natureza em geral e para com esses animais em particular. No Brasil de hoje, as baleias são espécies protegidas e preservadas por leis e decretos. Recentemente, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por meio do Decreto no 6.698/2008, transformou as águas jurisdicionais brasileiras em Santuário de Baleias e THOMAS, Keith. O homem e o mundo natural: mudanças de atitude em relação às plantas e aos animais (1500-1800). Tradução de João Roberto Martins Filho. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 50 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 116-142, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 140 Baleias e ecologistas na Paraíba: uma história do fortalecimento do movimento ambientalista e o debate sobre a crise da economia baleeira (1970-1980) Francisco Henrique Duarte Filho e José Otávio Aguiar Golfinhos. Mais um passo para o reconhecimento da importância que esses animais passaram a adquirir para a história da relação entre sociedade e natureza no Brasil. Quanto ao papel social e econômico da empresa baleeira, mesmo questionada por alguns setores da sociedade como um empreendimento que explorava a mão de obra e os recursos naturais em águas paraibanas, ainda hoje é reconhecida pelos moradores como “uma empresa boa”, que “pagava em dia”, que “ajudou a criar nossos filhos”. Se considerarmos que vivemos em uma sociedade onde o trabalho é sinônimo de dignidade, de cidadania, embora o trabalhador seja também explorado para o enriquecimento dos donos do capital, é possível sugerir, com base nas narrativas dos ex-baleeiros e nas reportagens analisadas, que a Copesbra ajudava a aliviar algumas tensões sociais e a melhorar relativamente as condições de vida de uma população secularmente marginalizada pelo poder público. Todavia, a um custo social e ambiental muito alto. Basta recordar que, para a garantia da manutenção do nível de emprego oferecido pela Copesbra, centenas de baleias precisavam ser abatidas a cada temporada e dezenas de trabalhadores, por sua vez, eram explorados pela mesma empresa, que obtinha lucros consideráveis mediante a comercialização de derivados baleeiros. É importante considerar que, para uma gente necessitada, excluída das políticas públicas e oriunda muitas vezes de condições de trabalho escravizante, como da cana-de-açúcar e do cultivo de coco, produtos também explorados na região, a Copesbra ofereceu trabalho, carteira assinada e uma remuneração semanal acima da média da região. Renda que poderia ainda ser acrescida de novos valores com as horas adicionais trabalhadas ao longo da jornada. Não é de se estranhar que os trabalhadores baleeiros, em sua maioria, quando na época do conflito para pôr fim à atividade, se mobilizaram para defender a permanência da “pesca da baleia”. O que, na realidade, pode indicar que os mesmos defendiam a manutenção do emprego e da renda que a atividade proporcionava, e não necessariamente a manutenção da morte desses animais. As possibilidades viáveis para se melhorar de vida em uma dada região aonde se instalam novos empreendimentos econômicos, oferecendo emprego e renda para a população carente, devem ser consideradas como fatores relevantes, quando não decisivos, para a formação da realidade social e econômica desse lugar. O exemplo da Copesbra, que se instalou e funcionou em Lucena por mais de setenta anos, utilizando-se da mão de obra local e dos recursos naturais da região, além de um mercado consumidor para seus produtos sempre crescente, pode ser oferecido para novas reflexões acerca desse fenômeno que é antigo, mas relativamente comum em cidades do interior do Brasil. A partir da investigação, ainda se pode concluir que, diferentemente de como foi discursado na década de 1980 por alguns segmentos da sociedade paraibana, principalmente a classe política e empresarial do estado que eram favoráveis à manutenção da caça à baleia, essa atividade não representava para a comunidade de Lucena o único meio de sobrevivência material, e nem seu fim culminou no colapso da economia local, visto que a pesquisa Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 116-142, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 141 Baleias e ecologistas na Paraíba: uma história do fortalecimento do movimento ambientalista e o debate sobre a crise da economia baleeira (1970-1980) Francisco Henrique Duarte Filho e José Otávio Aguiar empírica oferece fortes indícios que ajudam na constatação de que, mesmo sem a presença da empresa japonesa, diversas estratégias de sobrevivência foram sendo desenvolvidas em Lucena (ou em cidades circunvizinhas), como alternativa de trabalho e renda para as famílias dos ex-trabalhadores que resolveram permanecer na região. Entre essas alternativas, encontrava-se o retorno à pesca artesanal, atividade secularmente praticada na região, mas que havia sido quase abandonada pelas comunidades tradicionais quando da implementação do empreendimento baleeiro. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 116-142, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 142 “E o conhecimento da viveza (…) o habilitou para aquele lugar”: Duarte Ribeiro de Machado de secretário de embaixada a enviado extraordinário na restauração portuguesa Ana Luiza de Castro Pereira* RESUMO Neste artigo, analisamos a trajetória de Duarte Ribeiro de Macedo (1610-1680) que, inicialmente, assumiu a função de secretário de embaixada para, posteriormente, chefiar uma missão em Paris como embaixador extraordinário. Os relatos por ele redigidos e emitidos para a Coroa portuguesa revelam um outro lado da vida diplomática daquele período. As dificuldades financeiras enfrentadas por Duarte Ribeiro de Macedo na sua manutenção na corte parisiense foram frequentemente motivos de queixa junto ao rei. Além disso, o embaixador revelou-se como um atento observador do modus vivendi da Corte francesa. Estar numa corte estrangeira exigiu muito dos representantes diplomáticos portugueses que, mesmo na impossibilidade de se manterem no estrangeiro, sempre tiveram a preocupação de representar a Coroa portuguesa de maneira honrada. Percebe-se que a estadia nas cortes europeias demandava não somente conhecimento político, mas também habilidade para circular nas mais diferentes cortes e conviver com hábitos sociais e culturais bastante distintos. Palavras-chave: diplomacia; Restauração; Portugal; embaixador; Duarte Ribeiro de Macedo. ABSTRACT This paper analyzes the trajectory of Duarte Ribeiro de Macedo (1610-1680), who was initially a Secretary of Embassy and then led a mission in Paris as Envoy Extraordinary. The reports drawn up by him and sent to the Portuguese Crown reveal another side of diplomatic life of that period. The financial difficulties faced by Duarte Ribeiro de Macedo to afford his visit to the French court were often grounds for complaints to the king. Moreover, the ambassador turned out to be a keen observer of the modus vivendi of the French court. Being in Artigo recebido em 23 de julho de 2013 e aceito em 19 de janeiro de 2014. * Doutora em história pela Universidade do Minho, Braga, Portugal, investigadora integrada no Centro de História Além-Mar (Cham), Universidade Nova de Lisboa/Universidade dos Açores. Bolsista de pós-doutoramento da Fundação para Ciência e Tecnologia de Portugal. Lisboa, Portugal. E-mail: aluizacastro@ gmail.com. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 143-158, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 143 “E o conhecimento da viveza (…) o habilitou para aquele lugar”: Duarte Ribeiro de Machado de secretário de embaixada a enviado extraordinário na restauração portuguesa Ana Luiza de Castro Pereira a foreign court required much from Portuguese diplomatic representatives, who, even in the impossibility of staying abroad, always cared to honorably represent the Portuguese Crown. Missions to European courts required not only political knowledge, but also the ability to move comfortably in different courts, and deal with quite distinct social and cultural habits. Keywords: diplomacy; Restoration; Portugal; ambassador; Duarte Ribeiro de Macedo. *** Introdução A diplomacia moderna deu os primeiros passos na Itália do século XV1 com o surgimento da figura do ambasciatore como representante direto do rei e das primeiras embaixadas de caráter permanente. Coube à monarquia espanhola o envio do primeiro representante permanente para o exterior, nomeadamente para a Corte inglesa. O papel desempenhado por um representante diplomático estava ainda a ser definido, o que fez levou à publicação de tratados que regulamentassem, sobretudo, suas funções. Dito isso, obras como a de Jean Hotman de Villieres, De la charge et dignité de l’ambassadeur… (1603-1604), e Abraham de Wiquefort, L’ambassadeur et ses fonctions… (1682), foram fundamentais para esboçar o perfil de um ambasciatore. Com a definição do papel que um representante diplomático devia assumir no contexto das relações internacionais, viu-se, no século XVIII, o aparecimento de manuais e tratados como o de François Calliéres, De la maniere de negotier avec les souverains… (1716), que passou a ser o manual mais consultado pelos representantes diplomáticos. A redação desses e outros tratados aconteceu em meio a um contexto político conturbado na Europa. Assolada pela Guerra dos Trinta Anos que tiveram início em 1618, a paz no continente europeu somente foi alcançada em 1648 com os Tratados de Münster e Osnabrück, também conhecidos como a Paz de Westfália, e que reconheceram, concomitantemente, as Províncias Unidas e a Confederação Suíça. Muitos estudiosos consideram ser a Paz de Westfália o marco inicial da diplomacia moderna por ter sido a primeira vez que a soberania dos Estados envolvidos foi reconhecida. Nesse contexto de acordos de paz, econômicos e geopolíticos, o papel desempenhado pelos representantes diplomáticos ao longo dos séculos assumiu contornos que não ficaram circunscritos somente à representação política do monarca. MATTINGLY, Garret. The first resident embassies: mediaeval Italian origins of modern diplomacy. Speculum, v. 12, p. 423-439, 2003. Disponível em: <www.jstor.org/stable/2849298>. Acesso em: 20 abr. 2011; FUBINI, Riccardo. Aux origines de la balance des pouvoirs: le système politique en Italie au XVe siècle. In: BÉLY, Lucien; RICHEFORT, Isabelle (dirs.). L’Europe des Traités de Westphalie. Esprit de la diplomatie de l’esprit. Paris: PUF, 2000. p. 111-121. 1 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 143-158, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 144 “E o conhecimento da viveza (…) o habilitou para aquele lugar”: Duarte Ribeiro de Machado de secretário de embaixada a enviado extraordinário na restauração portuguesa Ana Luiza de Castro Pereira Atualmente, o mundo da diplomacia vem atraindo a atenção de investigadores que buscam compreender a maneira como a função diplomática interferiu na condução de acordos políticos e econômicos entre as nações. Contudo, é fundamental perceber as distinções existentes relativamente ao caráter2 de cada função diplomática, uma vez que sua atribuição estava relacionada, diretamente, com o tipo de enviatura a desempenhar: embaixador ordinário3 ou residente;4 embaixadores extraordinários;5 ministros plenipotenciários.6 Se, num primeiro momento, os estudos sobre a diplomacia estiveram focados no papel desempenhado pelos embaixadores no contexto político, nos últimos anos o contexto social e cultural das missões diplomáticas também vem recebendo a atenção dos investigadores. Nesse sentido, as trajetórias de alguns embaixadores portugueses como José da Cunha Brochado,7 d. Luís da Cunha8 e João Gomes da Silva9 vêm sendo objeto de estudo António de Moraes Silva em seu Dicionário da língua portuguesa definiu caráter como “o estilo de qualquer pessoa, os atributos, qualidades, propriedades, hábitos, propensões, costumes, gênio que distinguem e caracterizam o sujeito”, mas também a definição da palavra caráter está relacionada ao “Posto, dignidade de alguém”. SILVA, António Moraes. Dicionário da língua portuguesa. Lisboa: Typographia Lacerdina, 1789. v. 1, p. 144. 3 De acordo com Raphael Bluteau a figura do embaixador ordinário caracterizava-se como aquele que “(…) com a continuação da sua assistência, cultiva a recíproca amizade de um Príncipe com outro, e maneja os negócios que sobrevêm”. BLUTEAU, Raphael. Vocabulário português e latino. Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesus, Coimbra, 1728, v. 3, p. 41. 4 A função de residente foi conceituada por Bluteau com “(…) aquele ministro, que faz os negócios de uma República, ou de um Príncipe pequeno, na corte de um Rei”. Ibid., v. 7, p. 282. 5 A função de embaixador extraordinário, de acordo com Bluteau, era assumida por aquele “(…) que passa para a corte de algum Príncipe, para tratar de algum negócio particular, como a conclusão de um matrimônio, a condução de uma Rainha, congratulações pelo aniversário ou pêsames pelo falecimento de um membro da família real”. Ibid., v. 3, p. 41. 6 A função de ministro plenipotenciário foi definida por Bluteau como o “Ministro ou Embaixador, que tem do seu Rei, todo o poder necessário para a negociação de uma paz, um casamento”. Ibid., v. 6, p. 548; Antônio de Moraes Silva, em 1789, definiu plenipotenciário como um ministro que tem plenipotência, ou seja, plenos poderes concedidos pelos soberanos, para tratar negócios políticos com outro monarca. Cf. SILVA, António Moraes. Dicionário da língua portuguesa, op. cit. v. 2, p. 459. 7 José da Cunha Brochado nasceu em 2 de abril de 1651 e faleceu em 27 de setembro de 1733 em Lisboa. Formado em leis pela Universidade de Coimbra, era fidalgo da Casa Real, corregedor do Cível, desembargador do Paço, conselheiro de Estado e da Fazenda, chanceler das Ordens Militares, censor e diretor da Academia Real da História. 8 D. Luís da Cunha nasceu em 25 de janeiro de 1662 e faleceu em 9 de outubro de 1749 em Paris. Formado em direito canônico, era sócio da Academia Real de História, arcediago da Sé de Évora, corregedor de Tavira, provedor de Coimbra, desembargador do Porto e da Casa da Suplicação e comendador da Ordem de Cristo. Em 1686, aos 24 anos de idade, d. Luís da Cunha foi nomeado desembargador da Relação do Porto assumindo, posteriormente, o cargo de desembargador da Casa de Suplicação. Quase uma década depois foi nomeado, por d. Pedro II, enviado extraordinário em Londres para substituir o visconde da Fonte Arcada. Posteriormente, assumiu como segundo ministro plenipotenciário em Utrecht (1712), embaixador extraordinário em Londres (1715), ministro plenipotenciário em Madri (1719-1720), ministro plenipotenciário em Haia (1728-1736) e embaixador em Paris (1737-1749). 9 João Gomes da Silva, o conde de Tarouca, nasceu em 21 de junho de 1671 e faleceu em 19 de novembro de 1738 em Viena. Foi capitão da Guarda Real de d. Pedro II, mordomo-mor da rainha d. Maria Ana de Áustria. Assumiu o cargo de diretor da Academia Real de História. 2 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 143-158, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 145 “E o conhecimento da viveza (…) o habilitou para aquele lugar”: Duarte Ribeiro de Machado de secretário de embaixada a enviado extraordinário na restauração portuguesa Ana Luiza de Castro Pereira na busca por compreender o cenário político em que estavam inseridos e seu papel nesse palco. Cientes, entretanto, da importância que os embaixadores supracitados tiveram no cenário da política internacional da Idade Moderna, interessa-nos para este artigo trazer para a discussão outro aspecto relacionado com o mundo da diplomacia e que, até então, tem sido pouco estudado: o percurso de um embaixador que primeiramente foi secretário de embaixada e suas observações acerca de uma das cortes por onde andou. Sabe-se que alguns representantes diplomáticos produziram, ao longo da sua “carreira” na diplomacia, uma série de relações em que revelavam pormenores do seu cotidiano nas mais diversas cortes europeias. Deparamo-nos com a presença de atores cujo percurso de vida merece ser analisado não somente como representantes do rei em momentos políticos, mas também como observadores culturais e promotores da circulação material. O que a consulta da documentação tem revelado é que não foram somente as figuras dos embaixadores, enviados, residentes que despertaram a atenção e a preocupação régia no período em que residiram no estrangeiro. Juntamente com os representantes diplomáticos, um séquito composto por secretário do embaixador,10 cozinheiros, copeiros, cocheiro, pagens, maître d’ hotel, escudeiros, valets de chambre, era escolhido para acompanhá-lo nas missões. A esse séquito de acompanhantes vemos muitas vezes denominado na documentação como família11 do embaixador. Tal escolha era feita cuidadosamente pelo embaixador, uma vez que também os criados eram considerados a imagem da Coroa no estrangeiro. Em muitos casos constata-se que alguns familiares do embaixador eram nascidos e residentes no local onde o embaixador tinha sido designado, atuando, assim, como um elo entre a embaixada e a sociedade onde seria inserido. A manutenção da sua família no estrangeiro foi responsável por inúmeras e recorrentes queixas dos embaixadores, uma vez que a remuneração dos seus familiares era de sua inteira responsabilidade. Dentre os criados da embaixada, o secretário de embaixada12 era aquele cujo perfil distinguia-se dos demais. É importante considerar que a documentação produzida para e pelas embaixadas passava nas mãos dos secretários das mesmas, razão pela qual a escolha era feita diretamente pelo rei. Na ausência do embaixador, o secretário da embaixada poderia assumir funções interinamente. Já o secretário do embaixador era, geralmente, um indivíduo de Era escolhido e remunerado pelo próprio embaixador. O conceito de família aplicado neste caso extrapola os laços consanguíneos. Sobre o conceito de família no Antigo Regime, ver MONTEIRO, Nuno Gonçalo. O crepúsculo dos grandes: a casa e o patrimônio da aristocracia em Portugal, 1750-1832. Lisboa: INCM, 2003. Entendia-se por família todos aqueles que acompanhavam os representantes diplomáticos em suas missões. Nesse contexto, seu comportamento no estrangeiro também devia ser cauteloso e regrado, pois os membros da família de um representante diplomático simbolizavam também, mesmo que em menor escala, sua monarquia. 12 É importante diferenciar a função de secretário da Embaixada daquela desempenhada pelo secretário do embaixador. O primeiro era nomeado diretamente pelo rei, sendo suas mesadas também de responsabilidade da Coroa. 10 11 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 143-158, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 146 “E o conhecimento da viveza (…) o habilitou para aquele lugar”: Duarte Ribeiro de Machado de secretário de embaixada a enviado extraordinário na restauração portuguesa Ana Luiza de Castro Pereira confiança do embaixador, sendo sua responsabilidade a manutenção do mesmo. Nas próximas páginas analisaremos um dos secretários de embaixada cuja trajetória pessoal e política fez com que fosse possível ocupar um dos cargos mais importantes na política internacional do Antigo Regime, o de enviado extraordinário. Portugal, a Restauração e as primeiras embaixadas No dia 1o de dezembro de 1640, o palco europeu das relações internacionais foi modificado com a independência de Portugal e a ascensão de d. João IV, duque de Bragança, ao trono na condição de legítimo rei de Portugal. Naquele dia, no Terreiro do Paço em Lisboa, gritaram: “Valorosos Lusitanos, é chegada a hora de acudirmos pela reputação de Portugal, e de comprar com nosso sangue a liberdade da pátria. O Duque de Bragança é nosso legítimo Rei e Senhor natural. Deve-se-lhe a Coroa de direito”.13 O momento histórico da Restauração de Portugal é emblemático para traçar o percurso que a monarquia assumiu no cenário das relações internacionais no Antigo Regime. Há quem interprete aquele momento como o de uma rebelião e os seus promotores, nesse contexto, foram intitulados de “rebeldes”. Os fidalgos14 portugueses do 1o de dezembro de 164015 foram, na verdade, somente quatro, sendo os restantes “conspiradores” membros da nobreza provincial.16 Segundo Rafael Valladares, a iniciativa do golpe de 1640 não contou, contudo, com o apoio do então herdeiro direto do trono português, d. João, o duque de Bragança. Tal fato acabou impondo uma necessidade peculiar ao movimento a que o autor chamou de “operação cosmética”. Segundo Valladares, Se D. João tivesse aceite encabeçar o golpe teria sido mais fácil justificá-lo, mas uma vez que não foi isso o que aconteceu, o problema tornou-se insolúvel e foi preciso a intervenção nobiliárquica como uma valente vanguarda do duque, sendo a precaução do Bragança louvada como um exemplo de prudência. Assegurados estes requisitos, o golpe foi batizado com o nome de “Restauração”. De um reino, e de uma dinastia.17 LOBO, Francisco Rodrigues. A Corte na aldeia. Lisboa: Círculo de Leitores, 1981. p. 196. Sobre o papel dos fidalgos portugueses no projeto de independência de Portugal, ver ÁLVAREZ, Fernando Bouza. Entre dos reinos, una patria rebelde. Fidalgos portugueses en la monarquía hispánica después de 1640. Estudis. Revista de História Moderna, Valência, v. 20, p. 83-103, 1994. 15 As guerras e sublevações que aconteciam, naquele período, um pouco por toda parte na Europa tiveram, no caso português, um desfecho distinto: culminaram de fato com a substituição da monarquia. Tal acontecimento repetiu-se, apenas, na Inglaterra proporcionando, assim, uma aliança militar e diplomática com a Inglaterra de Carlos II, que esteve no centro do ideário político responsável pela assinatura do Tratado de Paz de 1668. VALLADARES, Rafael. A independência de Portugal: guerra e Restauração (1640-1680). Lisboa: A Esfera dos Livros, 2006. 16 Ibid., p. 272. 17 Ibid., p. 275. 13 14 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 143-158, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 147 “E o conhecimento da viveza (…) o habilitou para aquele lugar”: Duarte Ribeiro de Machado de secretário de embaixada a enviado extraordinário na restauração portuguesa Ana Luiza de Castro Pereira Contudo, a ascensão ao trono por si só não garantiria a d. João IV o reconhecimento perante as demais monarquias europeias. O embaixador de Florença em missão em Madri expressou sua estranheza com o ocorrido em Portugal referindo a troca de “(...) um rei legítimo e grande por outro que, ainda que nacional, é pequeno e hipotético”.18 A polarização das opiniões no que dizia respeito à Restauração Portuguesa19foi vivenciada, especialmente, pelos representantes diplomáticos das primeiras missões. Se alguns monarcas reconheceram a legitimidade do novo rei português identificando-o como aliado, outros encararam sua ascensão ao trono como um episódio de insurreição e rebeldia 20 dos portugueses contra a monarquia hispânica. Segundo Pedro Cardim, “(…) os enviados de D. João IV foram frequentemente tratados como ‘rebeldes’, sentindo grandes dificuldades no que tocava ao reconhecimento do seu estatuto diplomático, pois muitos encaravam esses enviados como representantes de um senhor tido como ilegítimo”.21 Ciente disso, o recém-coroado rei agiu rapidamente e enviou as primeiras missões diplomáticas, já no ano de 1641, para as principais cortes europeias na época que faziam frente diretamente ao poder de Felipe IV, nomeadamente: Catalunha (janeiro), Inglaterra, França, Províncias Unidas (fevereiro), Suécia/Dinamarca (março), Roma (abril). O critério de escolha dos embaixadores, nesse primeiro momento, esteve voltado para a confiança que o rei depositava nos enviados, declarando que “(…) devem ser escolhidos para este cargo de Embaixador os homens das famílias mais ilustres do Reino, dos ilustres os mais discretos e cortesãos, destes os mais animosos e liberais, dos animosos os mais bem apessoados, e de todos os mais bem acostumados”.22 Contudo, a questão da ocupação do recém-restaurado trono português enfrentaria um revés com a morte de d. João IV em 1656. O momento era particularmente delicado. De acordo com a linha sucessória, o herdeiro direto do trono era Teodósio de Bragança, que não chegou a subir ao trono, uma vez que faleceu antes mesmo de d. João IV, em 1653. O Archivio di Stato, Florença, Mediceo, filza 4965, B. Monanni ao Grão-Duque da Toscana, Madrid, 13.12.1640. Citado por VALLADARES, Rafael. A independência de Portugal, op. cit. p. 277. 19 Em estudo recentemente traduzido para o português sobre a história da Coroa de Portugal e a monarquia hispânica dos Filipes, o espanhol Rafael Valadares utilizou o termo Independência em substituição ao de Restauração para caracterizar o 1o de dezembro de 1640. Segundo o autor, “(…) uma secessão de um Reino no século XVII não acontecia nem era facilmente aceite”. VALLADARES, Rafael. A independência de Portugal, op. cit. 20 O alcance do caso da insurreição de Portugal contra a monarquia espanhola foi tão significativo que Wicquefort (diplomata seiscentista e autor de obras como Mémoires touchant les ambassadeurs et les ministres publics e L’ambassadeur et ses functions) fez referência a isso em seu “manual” de teoria política no capítulo “Si les usurpateurs, et les gouverneurs en chefs peuvant envoyer des ambassadeurs”. WICQUEFORT, Abraham de. L’ambassadeur et ses fonctions. A Cologne: A Amsterdã: chez les Janss a Waesberge, 1730. 21 CARDIM, Pedro. Diplomacia portuguesa no Antigo Regime; perfil sociológico e trajetórias. In: MONTEIRO, Nuno Gonçalo; CARDIM, Pedro; CUNHA, Mafalda Soares (Org.). Óptima Pars: elites ibero-americanas do Antigo Regime. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, 2005. p. 58 22 LOBO, Francisco. A Corte na aldeia, op. cit. p. 120. 18 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 143-158, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 148 “E o conhecimento da viveza (…) o habilitou para aquele lugar”: Duarte Ribeiro de Machado de secretário de embaixada a enviado extraordinário na restauração portuguesa Ana Luiza de Castro Pereira herdeiro seguinte na linha de sucessão era, portanto, Afonso VI.23 Este, porém, além de não ter sido previamente preparado para assumir o trono, foi acometido, na infância, por uma doença que afetou fisicamente seu lado direito, comprometendo-o para o resto da vida. Associado a isso, os boatos de que um dos efeitos da enfermidade que tinha atacado Afonso VI foi ter deixado sequelas no campo mental fizeram com que se aventasse a possibilidade de adiamento da cerimônia de coroação, que foi, entretanto, mantida, sendo d. Afonso VI aclamado rei em 15 de novembro de 1656. Na impossibilidade de Afonso VI aceder ao trono em função na menoridade, d. João IV tinha registrado a regência nas mãos de d. Luísa de Gusmão, que permaneceria no trono até que d. Afonso atingisse a maioridade completando vinte anos. Contudo, o reinado da regente d. Luísa sofreria, também, um revés quando Luís de Vasconcelos e Sousa, o terceiro conde de Castelo Melhor, juntamente com o conde de Atouguia, destituíram-na e conferiram o trono a Afonso VI. A notícia do falecimento de d. João IV, assim como o conhecimento da instabilidade que a monarquia portuguesa vivenciava no plano sucessório despertaram, na vizinha Espanha, a esperança de recuperar Portugal. Esse momento delicado na história da sucessão de d. João IV fez com que a criação de uma rede diplomática portuguesa 24 se tornasse fundamental para estabelecer alianças que fossem capazes de travar o possível avanço da monarquia espanhola25 na tentativa de reaver parte do seu antigo reino. Nesse universo, o conceito de “representação” é fulcral para compreender o papel desempenhado por um chefe de missão diplomática no estrangeiro. No Antigo Regime, e não só, o termo “representação” significava “agir em nome de” ou “no lugar de” alguém, e, no caso da diplomacia, do rei. Como representante da figura régia, aquele que fosse nomeado para a função de embaixador deveria possuir três qualidades: nascimento, estudo e experiência. Para uma enviatura de negociação, por exemplo, eram designados preferencialmente embaixadores licenciados em direito. As funções a serem desempenhadas pelos embaixadores nas cortes europeias, de acordo com Wicquefort,26 estavam fundamentadas na fidelidade ao monarca, sendo o nascimento e a idade aspectos a serem observados na escolha dos representantes diplomáticos. Sobre o reinado de d. Afonso VI, ver XAVIER, Ângela Barreto; CARDIM, Pedro. D. Afonso VI. Lisboa: Círculo de Leitores, 2006; XAVIER, Ângela Barreto; CARDIM, Pedro; BOUZA, Fernando. Festas que se fizeram pelo casamento do rei d. Afonso VI. Lisboa: Quetzal Editores, 1996. 24 É fundamental para um investigador que se debruce no estudo da diplomacia portuguesa pós-Restauração a consulta à obra de SANTARÉM, Visconde de. Quadro elementar das relações políticas e diplomáticas de Portugal com as diversas potências do mundo desde o princípio da monarquia portuguesa até aos nossos dias. Lisboa: Impressão Régia, 1828. Já no século XXI, a obra de Ana Leal de Faria, Arquitetos da paz: a diplomacia portuguesa de 1640 a 1815, busca traçar um perfil da rede diplomática portuguesa, assim como pretende analisar o perfil sociológico dos embaixadores que era definido de acordo com a missão que iam desempenhar. Cf. FARIA, Ana Maria Leal. Arquitetos da paz: a diplomacia portuguesa de 1640 a 1815. Lisboa, Tribuna, 2008. 25 Sobre o cenário anterior à Restauração, ver SCHAUB, Jean-Frédéric. Portugal na monarquia hispânica, 1580-1640, Lisboa: Livros Horizonte, 2001. 26 A sua obra Mémoires touchant les ambassadeurs et les ministres publics foi escrita enquanto esteve preso por suspeita de espionagem no período da Guerra da Holanda. 23 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 143-158, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 149 “E o conhecimento da viveza (…) o habilitou para aquele lugar”: Duarte Ribeiro de Machado de secretário de embaixada a enviado extraordinário na restauração portuguesa Ana Luiza de Castro Pereira Percebemos assim que, se, por um lado, os manuais de civilidade do século XVII ensinavam a teoria, por outro, a designação para uma corte estrangeira significava a possibilidade de aplicação prática destas regras, assim como o aprendizado do modus vivendi particular a cada corte. O cenário internacional e o papel de Duarte Ribeiro de Macedo A Europa desde 1618 vinha sendo devastada por guerras que, de maneira geral, tinham enfraquecido todas as monarquias envolvidas. A busca pela paz era, em meados do século, fundamental. As conversações em torno da paz tiveram início em Westfália, ficando os protestantes em Osnabrück e os católicos em Münster. A insistência de Portugal em enviar um representante diplomático resultou na inclusão de Francisco de Andrade Leitão e Luís Pereira de Castro ao corpo diplomático de Muster e de Rodrigo Botelho de Morais ao de Osnabrück, mesmo sem passaportes. Apesar dos esforços, Portugal não foi incluído no acordo de paz na condição de reino independente. Chegava ao fim o período também conhecido como Guerra dos Trinta Anos, mas sem que Portugal estivesse incluído. A luta portuguesa pelo reconhecimento da sua legitimidade na qualidade de monarquia independente continuaria. É incontestável o papel desempenhado pelos embaixadores no cenário internacional ao longo da história. Tratados de paz,27 acordos geopolíticos e de comércio28 foram assinados com base nas suas intervenções, negociações, ou seja, no exercício da arte da diplomacia. Duarte Ribeiro de Macedo29 foi, no período pós-Restauração, um dos principais personagens na busca pela consolidação do papel de Portugal no cenário internacional. Nesse cenário, destaca-se Duarte Ribeiro de Macedo por ter sido enviado para Paris, a principal Corte nos seiscentos, em momentos fulcrais para a afirmação da posição portuguesa no cenário internacional. A participação de Duarte Ribeiro de Macedo no palco da diplomacia ocorreu em dois momentos importantes da história de Portugal no campo das relações internacionais. A primeira, iniciada em 1659, Macedo figurou como secretário da embaixada de d. João da BRASÃO, Eduardo. O conde de Tarouca em Londres: 1709-1710. Lisboa: Imprensa Nacional, 1936; CORTESÃO, Jaime. Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madri. Rio de Janeiro: Instituto Rio Branco, 1950-1960. 28 FRIGO, Daniela. Ambasciatori e “ jus gentium”. L’amministrazione della politica estera nel Piemonte del settecento. Roma: Bulzoni Editore, 1991; BÉLY, Lucien. Les relations internationales en Europe, XVIIeXVIIIe. Paris: PUF, 2001; ANDERSON, Matthew Smith. The rise of modern diplomacy. 1450-1919. Londres: Longman, 1993; CLUNY, Isabel. D. Luís da Cunha e a ideia de diplomacia em Portugal. Lisboa: Livros Horizonte, 1999. 29 Ao longo da sua “carreira” no mundo da diplomacia, Duarte Ribeiro de Macedo manteve, regularmente, contato com grandes homens da sua época. Entre eles, o padre Antônio Vieira. A correspondência trocada com Vieira, no período em que Ribeiro de Macedo esteve em missão na qualidade de embaixador extraordinário, foi publicada postumamente. VIEIRA, António. Cartas do Padre António Vieira da Companhia de Jesus a Duarte Ribeiro de Macedo. Lisboa: Impressão de Eugénio Augusto, 1827. 27 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 143-158, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 150 “E o conhecimento da viveza (…) o habilitou para aquele lugar”: Duarte Ribeiro de Machado de secretário de embaixada a enviado extraordinário na restauração portuguesa Ana Luiza de Castro Pereira Costa, o conde de Soure. O envio de um representante diplomático para a Corte parisiense nessa altura tinha um objetivo bastante definido: tentar garantir a participação de Portugal no congresso de paz que teria lugar nos Pirineus, o que, por sua vez, tinha implicações internacionais marcantes para a recém-restaurada monarquia portuguesa. De acordo com Ana Maria Leal de Faria, o envio do conde de Soure para Paris inseria-se num momento em que “(...) tratava-se de não deixar passar uma oportunidade de assinalar a posição portuguesa face a um congresso de paz”.30 Esse era o momento em que a Espanha buscava salvaguardar seus planos imperiais e a França buscava afirmar o seu poderio. A escolha do conde de Soure para embaixador extraordinário feita então por d. Luísa de Gusmão inseriu-se num momento decisivo para a legitimação da monarquia portuguesa no cenário internacional. Feliciano Dourado, com o caráter de residente na corte parisiense, em carta endereçada a Pedro Vieira da Silva, secretário de Estado, alegava a urgente necessidade de ser enviado para Paris (...) um Embaixador que saiba dizer e responder porque Sua Eminência é grande mestre e os mais ministros da mesma escolha; um residente não tem préstimo para dar um aviso e em tão boa hora que saiba fazer uma carta, mas quem vier verá a conta em que cá nos têm.31 A participação ativa na Embaixada do conde de Soure na Corte parisiense atribuiu a Ribeiro de Macedo o conhecimento necessário para que, uma vez de volta a Portugal, registrasse suas reflexões sobre o papel de Portugal no cenário das relações internacionais na obra Juízo histórico, jurídico, político, sobre a paz celebrada entre as Coroas de França & Castela no ano de 1660,32 composta de 27 razões para que Portugal também fizesse parte daquele tratado. As razões para a inclusão de Portugal no tratado “(…) foram elas tão vivas, tão fortes, e tão eficazes, que rompeu a Corte de Paris em uma demonstração tão nova, como foi a de mandar prender o Impressor, e a um francês que falsamente se creu que tinha sido o autor”. O retorno de Paris depois da frustrada tentativa de incluir Portugal no tratado de paz franco-espanhol fez com que esse se tornasse um dos aspectos fundamentais do seu discurso desde que a independência fosse confirmada. O ano de 1668 iniciou e, com ele, um período em que Portugal vivenciava o pleno reconhecimento no cenário internacional. Era necessária, entretanto, a defesa dos interesses econômicos e coloniais em face do avanço da Inglaterra e da Holanda no panorama marítimo. Foi nesse contexto, poucos anos depois de retornar para Portugal, que Ribeiro de Macedo foi nomeado como enviado extraordinário33 para aquela que, na época moderna, era uma das FARIA, Ana Maria Homem Leal. Duarte Ribeiro de Macedo. Um diplomata moderno (1618-1680). Lisboa: Instituto Diplomático; Ministério dos Negócios Estrangeiros, 2005. p. 514. 31 BNL, Reservados, Fundo Geral, Mss. 201, n. 36, Carta ao Secretário de Estado, Paris, 14 de abril de 1659. 32 MACEDO, Duarte Ribeiro de. Juízo histórico, jurídico, político sobre a paz celebrada entre as Coroas de França & Castela no ano de 1660. Lisboa: Officina de Joam da Costa, 1666. 33 A nomeação de um representante diplomático para uma enviatura no estrangeiro era sempre acompanhada 30 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 143-158, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 151 “E o conhecimento da viveza (…) o habilitou para aquele lugar”: Duarte Ribeiro de Machado de secretário de embaixada a enviado extraordinário na restauração portuguesa Ana Luiza de Castro Pereira mais importantes cortes da Europa. Assim, no dia 13 de fevereiro de 1668, com sua Carta Credencial passada pelo rei, Duarte Ribeiro de Macedo partiu para a Corte francesa numa fragata inglesa. Um mês depois, o embaixador chegou a Paris tendo sua audiência com Luís XIV em Saint-Germain-em-Laye decorrido no dia 28 de março do mesmo ano. A permanência na Embaixada em Paris, embora a contragosto de Ribeiro de Macedo, estendeu-se até 1677. A estadia na Corte parisiense permitiu-lhe estreitar os contatos com a monarquia francesa, tendo se tornado um grande admirador de Luís XIV e da sua política de engrandecimento da nação que gostaria de ver implementada em Portugal.34 Uma vez em Paris na qualidade de embaixador extraordinário, Duarte Ribeiro de Macedo deu início a uma regular e expedita correspondência com a Corte portuguesa que relatava: nascimentos, casamentos, elementos da política externa francesa, assuntos religiosos entre a França e a Santa Sé, os cerimoniais da Corte e questões relacionadas com as mesadas enviadas pela Coroa portuguesa para o embaixador e os atrasos das mesmas, o que acarretava muito constrangimento. “E o conhecimento da viveza (…) o habilitou para aquele lugar” Tudo que aqui vejo praticar que me parece útil à nossa terra, e ao serviço de S.A., observo e guardo.35 Sabe-se que, ao longo do século XVII (e não só), o mundo da diplomacia foi marcado pela teatralização de todos os momentos públicos relacionados com a entrada e estadia de um representante diplomático. Tal fato proporcionava sua integração num mundo de aparências. Os manuais de civilidade, nesse contexto, ensinavam a maneira de estar nessa sociedade de corte, mas sua aprendizagem efetiva estava relacionada com a frequência na boa sociedade. Apesar de representar um dos mais emblemáticos embaixadores portugueses que atuaram efetivamente na legitimação da monarquia portuguesa pós-Restauração, a análise que daremos início nas próximas páginas não pretende enfocar a política externa portuguesa durante do século XVII. O objetivo é, de fato, analisar a correspondência produzida por Duarte Ribeiro de Macedo tendo em vista as dificuldades que o mesmo da produção de um documento intitulado “Instrução”. Tal documento definia os objetivos da enviatura e quais seriam as obrigações do enviado. Segundo Pedro Cardim, a Instrução era “(…) um documento que, no fundo, era uma espécie de compromisso de prestação de serviços e que criava, antes de mais, obrigações com caráter jurídico.” CARDIM, Pedro. Embaixadores e representantes diplomáticos da coroa portuguesa no século XVII. Cultura, v. 15, p. 47-86, p. 71, 2002. 34 FARIA, Ana Maria Homem Leal de. Duarte Ribeiro de Macedo: um diplomata moderno (1618-1680). Lisboa: MNE, 2005. 35 ANTT, MNE, Cx. 560, Doc. 2, Ofício de Paris, 18 de abril de 1672. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 143-158, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 152 “E o conhecimento da viveza (…) o habilitou para aquele lugar”: Duarte Ribeiro de Machado de secretário de embaixada a enviado extraordinário na restauração portuguesa Ana Luiza de Castro Pereira enfrentou para manter a representação da monarquia portuguesa nas relações bilaterais36 com a França. E é no papel de um observador dos costumes que passaremos à análise da correspondência de Duarte Ribeiro de Macedo. Nascido em Lisboa, foi batizado em 10 de fevereiro de 1618 e morreu em Alicante em julho de 1680. Filho de Jerônimo Ribeiro, juiz do Cível de Lisboa, com d. Maria de Lagos, não chegou a se casar, deixando seus bens para seu secretário Manuel da Silva Pereira. A trajetória pessoal e política de Duarte Ribeiro de Macedo começou em 1642, quando se formou em artes na Universidade dos Jesuítas de Évora e, posteriormente, em direito cível na Universidade de Coimbra (1647). A influência do pai levou-o a ser admitido na Leitura de Bacharéis no Desembargo do Paço no ano de 1649. A nomeação de Duarte Ribeiro de Macedo para secretário da Embaixada de Portugal em Paris aconteceu em 1659 e foi recompensada com a mercê do hábito da Ordem de Cristo e 20$000 de pensão. Na altura, d. João da Costa escreveu a Duarte Ribeiro de Macedo dizendo: Para tempos tão calamitosos, como só que experimentamos é necessário o alívio de ter muito a miúdo novas dos amigos ausentes (…) Sua Majestade chama a V. M. para secretário da embaixada à França que me tem encarregado: e porque me obrigam a partir com muita brevidade peço a V. M. que venha logo sem dilação alguma, para que tenhamos tempo de acomodar seus despachos de V. M. como convém.37 Foi armado cavaleiro no dia 1o de abril de 1659 tendo como padrinhos Manuel de Macedo Pereira e Aleixo de Miranda. A partida da comitiva para a França deu-se no dia 13 de abril, “(...) nós embarcamos em uma nau de força inglesa, que tinha vindo do Brasil na monção última, e saímos em conserva de uma nau de guerra da mesma Nação, cujo Capitão se obrigou a comboiar o Conde até o Porto de Ave de Gracia”.38 Na hierarquia presente no mundo da diplomacia daquela época, a função de secretário da embaixada era a mais importante depois do embaixador, sendo, em muitos momentos, considerado como seu conselheiro. No caso de Duarte Ribeiro de Macedo, os episódios frequentes de gota que atacavam o embaixador d. João da Costa fizeram com que seu papel na embaixada portuguesa em França assumisse maior relevância. Já dissemos anteriormente que Duarte Ribeiro de Macedo fez duas entradas na Corte francesa: a primeira como secretário de embaixada e a segunda como enviado extraordináSobre as relações bilaterais entre Portugal e a França pós-Restauração, ver VELHO, B. T. Moraes Leite. Estudo histórico das relações diplomáticas e políticas entre a França e Portugal. Lisboa: Companhia Nacional, 1895-1996; AMZALAK, Moses Bensabat. As relações diplomáticas entre Portugal e a França no reinado de d. João IV, 1640-1656. Lisboa: s.n., 1943. 37 MACEDO, Duarte Ribeiro. Obras do doutor Duarte Ribeiro de Macedo cavaleiro da Ordem de Christo... Lisboa: na Off. de Antônio Isidoro da Fonseca, 1743. t. I, p. 4. 38 Ibid. 36 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 143-158, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 153 “E o conhecimento da viveza (…) o habilitou para aquele lugar”: Duarte Ribeiro de Machado de secretário de embaixada a enviado extraordinário na restauração portuguesa Ana Luiza de Castro Pereira rio. Relativamente à sua segunda entrada, esta aconteceu no dia 1o de março de 1668 e foi cercada de “(...) particulares demonstrações de obséquio, porque ainda estavam frescas as memórias do tempo de Secretário, e pelo espaço de nove anos sustentou em Paris com decoro, e vigilância os interesses de seu Príncipe”.39 Enquanto esteve em Paris, Duarte Ribeiro de Macedo fez chegar à Corte lisboeta notícias do cotidiano40 e da sociedade parisiense de finais do século XVII que mereceram toda a atenção do rei. A escolha de um representante diplomático para aquela Corte era feita cuidadosamente pelo rei, uma vez que a estadia em Paris exigia muito de um diplomata (política e economicamente). O cerimonial da Corte de Luís XIV era um dos mais complexos e onerosos da Europa devido às frequentes deslocações a Saint-German, Saint-Cloud e a Versailes. Duarte Ribeiro de Macedo chegou a afirmar que “(...) nem tem V. M. inteira informação do luzimento com que aqui vivo, e do que custa viver em Paris”.41 Apesar da ajuda de custo com a qual todo representante diplomático era enviado para o estrangeiro, o atraso no pagamento da mesma causava grandes transtornos. O aluguel da residência do embaixador, a contratação de criados (copeiros, cocheiros, pagens, cozinheiros, mordomos etc.) e os gastos com a indumentária, a aquisição de coches suficientemente adornados para tal função, a ornamentação da residência do embaixador que deveria refletir o luxo e o poder da corte que o enviava, tudo era sinônimo de muitos gastos que, nem sempre, eram suportados pela Coroa. Alguns diplomatas, em atitudes extremas, chegaram a suspender o envio da correspondência obrigatória para o Reino até que as ajudas de custo fossem devidamente pagas. Muitas vezes as fortunas pessoais42 dos embaixadores eram utilizadas para complementar a verba enviada pela Coroa. Mas, os momentos festivos mais onerosos para os representantes diplomáticos eram as festas de batismo, os casamentos e os funerais de membros da família real, cujas preparações eram cercadas de grande pompa. E, dos embaixadores estrangeiros, esperava-se não somente a presença, como cumprimento do protocolo na participação das cerimônias, na decoração das carruagens e no uso de vestimentas condizentes com as circunstâncias. Numa carta enviada a d. Nuno Álvares Pereira de Melo, duque de Cadaval, Ribeiro de Macedo dizia: Ibid. Sobre a vida cotidiana em Portugal no Antigo Regime, ver MATTOSO, José. História da vida privada em Portugal: a Idade Moderna. Lisboa: Círculo dos Leitores, 2011. 41 IANTT, MNE, Cx. 560, doc. 3, Oficio de Paris, s.d. 42 Na cultura política do século XVII, o desempenho de serviços prestados ao rei estava relacionado diretamente com a expectativa de retribuição. Nesse contexto, não foram somente os embaixadores que usaram seu próprio espólio para sua manutenção nas cortes estrangeiras. Os mais altos servidores do rei, nas mais diversas esferas, utilizaram suas fortunas pessoais imbuídos da ideia de que, posteriormente, seriam recompensados. Sobre a economia de favores no Antigo Regime, ver XAVIER, Angela Barreto; HESPANHA, António Manuel. As redes clientelares. In: MATTOSO, José. História de Portugal. O Antigo Regime, 1620-1807. Lisboa: Editorial Estampa, 1993. v. 4, p. 381-393. 39 40 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 143-158, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 154 “E o conhecimento da viveza (…) o habilitou para aquele lugar”: Duarte Ribeiro de Machado de secretário de embaixada a enviado extraordinário na restauração portuguesa Ana Luiza de Castro Pereira Esta corte é inaturável nos gastos, e basta dizer a V. E. que dia de ano-novo custa por regra infalível vinte dobrões a um enviado (…) No nascimento dos Príncipes é estilo fazerem os ministros festas nas Cortes em que se acham, que vêm a se sair com nova libré, fazer um fogo, e pôr na porta uma fonte de vinho ao povo no dia antes do fogo, e dar um banquete aos amigos. Estas demonstrações são coisas inescusáveis, e com mais forçosa razão em uma Corte onde a Rainha nasceu e onde seus parentes hão de fazer festas públicas.43 Se, por um lado, a escolha de Duarte Ribeiro de Macedo para chefiar uma missão diplomática em Paris era vista como reconhecimento dos serviços prestados à Coroa portuguesa, por outro, era sinônimo de grandes preocupações, uma vez que tinha sido designado para uma das mais pomposas cortes europeias. Nesse sentido, a origem pouco abastada de Duarte Ribeiro de Macedo acabou acarretando grandes dificuldades na Corte parisiense, o que, por sua vez, originou inúmeras cartas enviadas ao rei do seu representante diplomático. Ribeiro de Macedo chegou a declarar que “(...) os meus ordenados são os meus alimentos”44 e numa das cartas enviada ao rei afirmava: Quanto maior é o tempo das minhas faltas, em que conto dez meses com este que acaba, não sei quando sairemos destas afrontas e quando poderão ver os franceses que não padeço a vergonha de comer fiado? Espero que seja quando os ministros de Sua Alteza acabem de entender que é mais conveniente não ter ministros nas cortes estrangeiras, que tê-los nessa forma. Começar o trabalho de sétimo Inverno em Paris sem ter que fazer as provisões ordinárias, é coisa que passa a desesperação.45 As queixas de Duarte Ribeiro de Macedo, na passagem anterior, traduzem sua insatisfação relativamente aos atrasos que as ajudas de custo reais causavam em seu cotidiano. É interessante observar que a argumentação de Macedo para tentar “pressionar” a Coroa a quitar as mesadas em atraso estava relacionada com a aparência. O que pensaria o monarca francês, a sua corte e os demais ministros estrangeiros diante de um embaixador que tinha dificuldades em se manter e à sua família? Apesar das dificuldades, Duarte Ribeiro de Macedo foi sempre bastante rigoroso no cumprimento do seu papel nas cerimônias que a Corte francesa promoveu. A vida na Corte francesa era vivenciada não somente em Paris, mas nos arredores, e a presença dos embaixadores era requisitada na maioria delas. Até mesmo nas audiências privadas de embaixadores de outras cortes europeias Duarte Ribeiro de Macedo esteve presente. IANTT, MNE, Cx. 560, doc. 20, Oficio de Paris, s.d. IANTT, MNE, Cx. 560, doc. 2, Oficio de Paris, 3 de agosto de 1670. 45 IANTT, MNE, Cx. 560, doc. 2, Oficio de Paris, 3 de agosto de 1670, p. 370-372. 43 44 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 143-158, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 155 “E o conhecimento da viveza (…) o habilitou para aquele lugar”: Duarte Ribeiro de Machado de secretário de embaixada a enviado extraordinário na restauração portuguesa Ana Luiza de Castro Pereira Dentre as cerimônias celebradas pela Corte francesa, a mais dispendiosa era a do luto. O protocolo determinava a ornamentação dos carros (cobertos de negro), vestimentas adequadas para o embaixador e criados que o acompanhassem e a presença nas audiências, o que significava mais investimento. Sabe-se que a sociedade do Antigo Regime era baseada, em grande medida, nas aparências. Segundo o enviado português, “ (…) aqui se apresenta no Louvre uma comédia de aparências, bailes e músicas muito para ver; tem-se apresentado quatro vezes e se continua até o Entrudo quase todos os dias”.46 Mais adiante, em 1675, novamente referiu que (...) na Corte passam as noites com uma comédia que intitulavam Teseu, que representam três vezes na semana toda em música com diferentes máquinas e mudanças de teatro; dura mais de três horas. Eu a fui ver duas vezes, o primeiro convidado, e me persuadi que custaria 200.000 cruzados.47 Uma sociedade de luxo, pompa e ostentação, que era vivenciada por todos aqueles que estavam direta ou indiretamente ligados ao viver da Corte. No caso dos embaixadores, à questão do “aparentar” somava-se a da representação que o mesmo fazia da figura do rei. E, como tal, deveria corresponder às expectativas que a Coroa depositou nele e transmitir para o observador da Corte anfitriã toda segurança possível no que dizia respeito ao poder econômico do seu monarca. Se, politicamente, o embaixador representava seu rei, socialmente os membros da sua “família” também eram vistos como representantes da sua Coroa. Posto isto, nas cerimônias que aconteciam na Corte francesa não era somente o embaixador que deveria vestir-se de acordo com o protocolo; também os membros da comitiva que o acompanhavam no cortejo: o cocheiro, os lacaios e os criados. Apesar das dificuldades financeiras enfrentadas por Ribeiro de Macedo, ele não deixou de festejar, com fogos de artifício, por exemplo, o nascimento da infanta d. Isabel por acreditar que seria indigno, caso não o fizesse. Apesar da exemplar assiduidade do enviado português nas cerimônias da corte de Luís XIV, foram recorrentes as queixas de Duarte Ribeiro de Macedo lamentando-se não poder “(…) andar com o luzimento dos mais ministros”.48 Mas não foram somente as queixas que permearam a correspondência emitida por Duarte Ribeiro de Macedo para Portugal. O embaixador recebeu também atribuições como: a contratação de oficiais mecânicos especialistas na fabricação de chapéus enviados para a rainha, a responsabilidade pelo pagamento de dívidas contraídas pela rainha e a aquisição e o envio de obras bibliográficas para a composição da Biblioteca Real. RAU, Virgínia. Cenas da vida parisiense na correspondência de Duarte Ribeiro de Macedo (1668-1676). Bulletin des Études Portugaises, Lisboa, v. 30, p. 95-107, p. 98, 1969. 47 Ibid., p. 99. 48 IANTT, MNE, Cx. 560, doc. 4, Oficio de Paris, 3 de agosto de 1670. 46 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 143-158, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 156 “E o conhecimento da viveza (…) o habilitou para aquele lugar”: Duarte Ribeiro de Machado de secretário de embaixada a enviado extraordinário na restauração portuguesa Ana Luiza de Castro Pereira Representante do rei, mediador político e cultural, observador, muitos foram os papéis que os embaixadores desempenharam em suas missões. Duarte Ribeiro de Macedo, ao longo dos nove anos em que esteve em Paris, relatou pormenorizadamente o viver daquela Corte. A ornamentação dos coches diplomáticos para as cerimônias de entrada e despedida dos embaixadores estrangeiros, a escolha do vestuário (e o impedimento de repetir um traje numa cerimônia), a distinção entre as cerimônias e a maneira como os representantes diplomáticos deviam se comportar, tudo foi descrito. Ao considerarmos o universo da diplomacia, devemos ter em conta dois princípios fundamentais: o da reciprocidade e o da precedência. Relativamente à reciprocidade, Duarte Ribeiro de Macedo disse, certa vez: “(...) fazer aos ministros alheios o que nas suas Cortes se faz aos próprios”.49 Em um dos relatos sobre a cerimônia, preparada por Luís XIV, para a entrada de um representante diplomático, Duarte Ribeiro de Macedo salientou que: Aos Enviados manda El-Rei buscar na primeira audiência em uma carroça sua, pelo primeiro e segundo introdutor; quando entram a lhe falar em todas as audiências, lhe tira o chapéu até abaixo e torna a cobrir; fala El-Rei assentado e o Enviado tem o chapéu na mão. O soldado que está de sentinela lhe toma as armas; não há distinção no tratamento dos Enviados.50 No caso da entrada de um enviado Turco, Duarte Ribeiro de Macedo, que, assim como os demais representantes diplomáticos, deveria presenciar a cerimônia, relatou que o enviado (...) entrou a uma galeria, e fazendo três cortesias ao uso turquesco sem tirar o turbante, a última com maior subenviatura, entregou a carta escrita com pergaminho com títulos e letras de ouro. O Rei o esperou sentado em lugar alto, que se fabricou a este fim, e sem tirar o chapéu recebeu a carta fazendo-lhe só uma inclinação com a cabeça.51 Apesar de considerar a relevância que Ribeiro de Macedo exerceu no cenário político internacional da sua época, para este artigo a consulta à correspondência por ele produzida foi analisada numa perspectiva sociocultural. Interessou-nos seu papel no cenário da diplomacia como um observador do modus vivendi da Corte francesa, e também como mediador cultural promovendo a difusão da cultura portuguesa em Paris e vice-versa. Propusemo-nos a analisar uma das facetas da correspondência diplomática enviada por Duarte Ribeiro de Macedo à Coroa portuguesa. Informante incansável do rei, ao longo da sua estadia na Corte parisiense Ribeiro de Macedo produziu sistematicamente um significativo volume documental de cartas para o rei e para os demais representantes diplomáticos nas cortes IANTT, MNE, Cx. 560, doc. 12, Oficio de Paris, 31 de julho de 1673. IANTT, MNE, Cx. 560, doc. 10, Oficio de Paris, s.d. 51 RAU, Virgínia. Cenas da vida parisiense na correspondência de Duarte Ribeiro de Macedo (1668-1676), op. cit. p. 97. 49 50 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 143-158, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 157 “E o conhecimento da viveza (…) o habilitou para aquele lugar”: Duarte Ribeiro de Machado de secretário de embaixada a enviado extraordinário na restauração portuguesa Ana Luiza de Castro Pereira europeias. O cosmopolitismo das cortes estrangeiras, entre elas a parisiense, era vivenciado pelos embaixadores em todas as ocasiões. Os estranhos costumes russos, a riqueza dos trajes dos embaixadores que se destacavam pelo uso de pedras preciosas de várias cores; a maneira como os capuchos se apresentavam com barbas compridas, batinas justas feitas em tecidos de várias cores; a ornamentação das ruas por onde passavam os coches nos dias de festa; os fogos de artifício que coloriam as noites parisienses, tudo era vivido e transmitido pelos representantes diplomáticos de e para todas as partes do mundo da época moderna. Os embaixadores assumiram, nesse contexto, um papel de promotores da circulação material e sociocultural daquele período. Estar no estrangeiro e, por sua vez, representar um rei não foi tarefa fácil, como foi possível perceber em algumas passagens da correspondência de Duarte Ribeiro de Macedo. As dificuldades que ele encontrou foram, certamente, vivenciadas por outros representantes diplomáticos, mas não comprometeram o empenho nas missões de representação da Coroa portuguesa. O bom serviço prestado por Duarte Ribeiro de Macedo na qualidade de secretário de embaixada lhe rendeu a nomeação de embaixador extraordinário e, posteriormente, residente. Apesar da trajetória de Duarte Ribeiro de Macedo, não podemos afirmar que, àquela altura, existisse uma “carreira diplomática” a ser seguida. O fato é que a ocupação da função de secretário de embaixada era muito importante no cenário da diplomacia. Além de ser responsável pela redação e organização de toda a documentação produzida na Embaixada, o secretário de embaixada estava apto, em situações de extrema necessidade, a ocupar a posição do embaixador quando este estava ausente. Depois de ocupar a função de embaixador extraordinário na França, Duarte Ribeiro de Macedo foi nomeado para a Corte de Madri, onde permaneceu por dois anos. Sua trajetória, que começou com a nomeação para secretário de embaixada, terminou em 1680, quando faleceu em Alicante a caminho de Turim, onde viria a residir como embaixador. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 143-158, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 158 “Eu quero uma casa no campo”: a busca do verde em Belo Horizonte, 1966-1976* Regina Horta Duarte** RESUMO A expansão de condomínios horizontais esteve diretamente relacionada às condições históricas que acarretaram a deterioração e o abandono do centro urbano de Belo Horizonte, entre meados das décadas de 1960 e 1970. Nesse contexto, alguns tiveram o privilégio de escolher o sonho da casa no campo, atraídos por promessas de uma vida renovada, mergulhados nos paradoxos do desenvolvimento e dos dramas sociais, políticos e ambientais em curso no Brasil durante a ditadura civil-militar. Cientistas e técnicos realizavam as primeiras avaliações dos dilemas da poluição ambiental urbana. Entretanto, temas ambientais se configuravam como assunto extemporâneo e distante da política, subestimados por setores brasileiros de direita e esquerda. A perda de qualidade de vida em Belo Horizonte recebeu soluções individuais, por vezes com aspectos comunitários. O caráter simultâneo desses processos na capital mineira esclarece casos históricos similares em outras grandes metrópoles brasileiras e latino-americanas. Palavras-chave: condomínios privados; Milagre Econômico brasileiro; poluição urbana; Belo Horizonte; história ambiental urbana. ABSTRACT The expansion of private neighborhoods has been directly related to the historical conditions that led to the deterioration and abandonment of the urban center of Belo Horizonte, between the 1960s and 1970s. In this context, some people had the privilege of choosing the country house of their dreams, attracted by promises of a renewed life, immersed in the paradoxes of development and the social/environmental/political dramas taking place in Brazil during the civil-military dictatorship. Scientists and technicians performed then the first evaluations of urban environmental pollution dilemmas. However, environmental issues seemed untimely, Artigo recebido em 23 de fevereiro de 2014 e aprovado em 15 de abril de 2014. * Este artigo resulta de projeto de pós-doutorado desenvolvido junto ao Departamento de História da Unicamp, com apoio do CNPq. Agradecimentos: Viviane S. Parisotto Marino, Yuri Mesquita, Armando O livetti, Tom, Heloísa Starling e pareceristas anônimos. ** Doutora em história pela Unicamp, professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais e bolsista de produtividade científica do CNPq — Nível 1B. Belo Horizonte, MG, Brasil. E-mail: reginahortaduarte@ gmail.com. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 159-186, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 159 “Eu quero uma casa no campo”: a busca do verde em Belo Horizonte, 1966-1976 Regina Horta Duarte and were a subject far away from politics, underestimated by Brazilian political actors on the Left and on the Right. The decreasing quality of life in Belo Horizonte received individual solutions, sometimes with communal aspects. The simultaneity of these processes in Minas Gerais’ capital highlights similar historical circumstances in other Brazilian and Latin American metropolises. Keywords: private neighborhoods; Brazilian Economic Miracle; urban pollution; Belo Horizonte; urban environmental history. *** Eu quero uma casa no campo, Onde eu possa ficar do tamanho da paz. Zé Rodrix, Casa no campo, 1971. Em 1971, os músicos Zé Rodrix e Tavito ganharam o Festival da Canção de Juiz de Fora com Casa no campo. Como parte do prêmio, participariam ainda da fase nacional do evento, no Rio. Durante um ensaio no Maracanãzinho, Elis Regina se aproximou de Rodrix, segurou seu braço e lhe disse: “eu quero gravar esta canção”. Elis já era uma estrela, e Casa no campo estourou nas paradas em 1972. A letra evocava sonhos frugais de uma vida alternativa em meio à natureza, com tranquilidade, simplicidade e paz. Em anos de crescimento desordenado das cidades e caos urbano, com aprofundamento das diferenças entre ricos e pobres, mas também do Milagre Econômico, a repercussão dos versos de Casa no campo certamente foi um entre vários indicadores de um sentimento de mal-estar entre alguns setores da sociedade, gerado pelos graves problemas que a nação então enfrentava.1 Outra ressonância cultural da ansiedade que o crescimento urbano desmedido gerou naqueles anos foi o estrondoso sucesso da telenovela Selva de pedra, cuja temática principal explorava alguns dramas das grandes metrópoles brasileiras. A abertura mostrava cenas diversas das ruas de uma metrópole brasileira, com seus arranha-céus, multidões e o trânsito intenso de veículos. No primeiro plano, o rosto do protagonista se petrificava, sugerindo o endurecimento das pessoas pela vida urbana.2 Rodrix conta sobre o encontro com Elis em: <www.youtube.com/watch?v=7sVKfQTAwAc>. Sobre os Festivais da Canção e seu sentido político, ver: MELLO, Zuza. A era dos festivais. São Paulo: Ed. 34, 2003. p. 409-411; NAPOLITANO, Marcos. Os festivais da canção como eventos de oposição ao regime militar. In: REIS, Daniel Aarão; RIDENTI, Marcelo; MOTTA, Rodrigo Sá (Org.). O golpe e a ditadura militar. São Paulo: Edusc, 2004. p. 203-216. Em 1970, 55,94% da população brasileira vivia nas cidades, e o Brasil tinha 93 milhões de habitantes. Disponível em: <www.ibge.org.br>. Acesso em: 20 dez. 2013. 2 Sobre a relevância da cultura de massas para a análise da sociedade, ver: ECO, Umberto. Apocalípticos e integrados. São Paulo: Perspectiva, 1990. p. 43-54. Ver também FERREIRA, Mauro. Nossa senhora das oito. Rio de Janeiro: Mauad, 2003. p. 67-74; KEHL, Maria Rita. Novelas, novelinhas e novelões. In: NOVAIS, 1 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 159-186, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 160 “Eu quero uma casa no campo”: a busca do verde em Belo Horizonte, 1966-1976 Regina Horta Duarte As seções imobiliárias dos jornais das grandes cidades brasileiras, na mesma época, exibiam muitos anúncios de novos empreendimentos com lotes para casas de campo em localidades aprazíveis, a alguns minutos de carro do centro urbano, cujo principal atrativo era a proximidade com a natureza. Alguns desses empreendimentos não eram bairros comuns ou subúrbios, mas condomínios privados, alguns com clubes esportivos exclusivos para proprietários e controle da entrada de visitantes. Os proprietários passariam finais de semana e férias nesses autênticos refúgios, longe da turbulência das metrópoles, o que lhes permitiria recarregar forças para sobreviver à selva de pedra de cada dia. Viver em grandes metrópoles passou a integrar a realidade de um número crescente de pessoas não apenas no Brasil, mas também em outros países da América Latina e do Caribe. Desde o pós-Segunda Guerra Mundial, as cidades latino-americanas — “casulos de modernidade”, “arenas culturais” — tornaram-se eixo da transformação econômica e demográfica.3 Entre 1950 e 1970, a proporção de citadinos em relação à população total latino-americana saltou de 39 para 54%, o número de cidades com um milhão ou mais de habitantes saltou de oito para dezessete, e a população urbana total latino-americana e caribenha cresceu de aproximadamente 67 para 232 milhões de habitantes. Num processo de intensa urbanização, muitas cidades latino-americanas foram verdadeiras incubadoras de uma sociedade moderna. Simultaneamente, problemas advindos da concentração urbana vertiginosa expressavam contradições do desenvolvimento desses países, assim como desafios políticos para a conquista de democracia e avanços sociais efetivos.4 No caso específico do Brasil, a taxa de urbanização subiu de 31,2 para 55,9% entre 1940 e 1970. Quando a canção Casa no campo estourava nas paradas de sucesso e a novela Selva de Adauto. Anos 70, televisão. Rio de Janeiro: Europa, 1979. p. 49-73. A abertura de Selva de pedra está disponível em: <www.youtube.com/watch?v=aKIAzO5Nr_M>. Acesso em: 29 dez. 2013. 3 MORSE, Richard. Ciudades “periféricas” como arenas culturales. Bifurcaciones, v. 3, p. 1-17, 2005. Disponível em: <www.bifurcaciones.cl>. Acesso em: 12 abr. 2014. 4 Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) — División de Población de la CEPAL. Disponível em: <http://esa.un.org/unup>. Acesso em: 1o jan. 2014; GORELIK, Adrian. Das vanguardas a Brasília. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2005. p. 15-49; GORELIK, Adrian. A produção da “cidade latino-americana”. Tempo social, v. 17, n. 1, p. 111-133, 2005; MORSE, Richard. La investigación urbana latinoamericana. Buenos Aires: Siap, 1971. p. 21-22; OLIVEIRA, Orlandina Oliveira; ROBERTS, Bryan. O crescimento urbano e a estrutura urbana na América Latina, 1930-1990. In: BETHEL, Leslie (Ed.). História da América Latina, v. VI: A América Latina após 1930. São Paulo: Edusp, 2005. p. 298-304, 317, 372. Sobre o papel decisivo das cidades na história da América Latina, ver ainda: RAMA, Angel. A cidade letrada. São Paulo: Companhia das Letras, 1985; ARMUS, Diego; LEAR, John. The trajectory of Latin American urban history. Journal of Urban History, v. 24, n. 3, p. 291-301, 1998. Para a história ambiental urbana da América Latina, ver: SEDREZ, Lise. Naturaleza urbana en America Latina, ciudades diversas y narrativas comunes. In: LEAL, Claudia; PÁDUA, José Augusto; SOLURI, John (Ed.). Nuevas historias ambientales de América Latina y el Caribe. Munique: Rachel Carson Center, 2013. p. 59-65; LORETO, Rosalva (Org.). Ciudad y naturaleza: tensiones ambientales en latinoamérica, siglos XVIII-XXI. Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2012. v. 2. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 159-186, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 161 “Eu quero uma casa no campo”: a busca do verde em Belo Horizonte, 1966-1976 Regina Horta Duarte pedra conquistava os telespectadores, cinco cidades brasileiras possuíam mais de um milhão de habitantes: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Salvador.5 O principal fator do crescimento urbano brasileiro foi o fluxo migratório rural-urbano. Algumas cidades foram cenário de uma verdadeira explosão demográfica. Desde o pós-guerra, o Brasil viveu um crescimento industrial significativo, concentrado predominantemente nas áreas contíguas aos grandes centros, especialmente no Sudeste. As expectativas de emprego e de melhores condições de vida impulsionaram a migração. Entre as diversas consequências desse fenômeno, as questões ambientais assumiram aspectos de intensa gravidade. Definitivamente as cidades não estavam preparadas para receber um número tão expressivo de habitantes, o que gerou problemas sérios de abastecimento de água, saneamento, alimentos, moradia e transporte, entre outros. A ação das indústrias e fábricas não era limitada por regras de eliminação de resíduos nos rios e solos ou emissão de gases poluentes. Populações pobres se apinhavam nas favelas, onde não havia água potável e os dejetos corriam a céu aberto. Nos bairros, o esgoto era jogado sem tratamento nos cursos de água. A ascensão da classe média levou ao aumento da frota de carros particulares, incrementando a poluição atmosférica nos grandes centros. O aumento da população e do consumo gerou grandes quantidades de lixo que, na maior parte das vezes, eram incineradas ou levadas para lixões, pois não havia aterros sanitários. Enfim, as grandes cidades brasileiras começaram a enfrentar uma grave crise ambiental, com problemas de poluição dos rios, solos e atmosfera, além da poluição sonora.6 Nada disso ocorreu sem que houvesse também um clima de otimismo e confiança no desenvolvimento, desde a euforia dos anos dourados até o ufanismo da década de 1970. Mas argumentarei que a rapidez e a profundidade dessas mudanças criaram uma espécie de mal-estar da civilização, um sentimento latente de que, para se ganhar o que o desenvolvimentismo prometia, e parcialmente entregava, havia também um preço alto a ser pago, com perdas expressivas e renúncia a alguns elementos da felicidade. Entre esses, o contato com a “natureza”, ou o que se idealizava como tal, foi uma das privações lamentadas e que alguns habitantes procuraram compensar, na medida de suas possibilidades. Disponível em: <http://seculoxx.ibge.gov.br>. Acesso em: 1o jan. 2014. Em 8 de junho de 1973, a Lei Complementar 14 criou as regiões metropolitanas no Brasil (São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza). 6 Entre 1950 e 1979, 30 milhões de pessoas migraram do campo para as cidades no Brasil. MELLO, João Manuel C.; NOVAIS, Fernando. Capitalismo tardio e sociabilidade moderna. In: SCHWARCZ, Lilia M. (Org.). História da vida privada, v. 4. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. p. 581; BRITO, Fausto. O deslocamento da população brasileira para as metrópoles. Estudos Avançados, v. 20, n. 57, p. 221-236, 2006. Historiadores têm desenvolvido estudos pioneiros sobre história ambiental urbana de grandes cidades brasileiras: SEDREZ, Lise. “The Bay of all Beauties”: State and environment in Guanabara Bay, Rio de Janeiro, Brazil, 1875-1975. Dissertation (PhD in history) — Department of History, Stanford University, Stanford (Cal.), 2004; JORGE, Janes. Tietê, o rio que a cidade perdeu. São Paulo: Alameda, 2007. Para a ideia de crise ambiental urbana, ver: MELOSI, Martin V. Environmental crisis in the city. In: MELOSI, Martin V. Pollution and reform in American Cities. Austin: University of Texas Press, 1980. p. 3-31. 5 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 159-186, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 162 “Eu quero uma casa no campo”: a busca do verde em Belo Horizonte, 1966-1976 Regina Horta Duarte Entre as várias cidades brasileiras que apresentaram crescimento demográfico, industrialização e aprofundamento de problemas ambientais, este artigo privilegiará a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Essa escolha tem razões. No início de sua história, Belo Horizonte apareceu como localidade onde o urbano e os elementos naturais se harmonizavam. Essa capital, projetada em fins do século XIX, foi cantada em prosa e verso, nas suas primeiras décadas de existência, por sua arborização exuberante. As justificativas de escolha do local para a nova capital alardearam a abundância e a pureza das águas de seus córregos e do ribeirão Arrudas para o abastecimento dos habitantes. A fama do poder curativo de seus ares benfazejos espalhou-se por todo o Brasil, e mesmo em alguns centros médicos na Europa, tornando-a destino de esperança para os enfermos com tuberculose. O sossego cotidiano e a vida pacata eram tão marcantes que provavelmente entediaram Noel Rosa, que chegou ali em 1935, aconselhado por seu médico, para se tratar de tuberculose, mas concluiu preferir um ano apenas de vida no Rio de Janeiro a dez em Belo Horizonte.7 Belo Horizonte viveu mudanças profundas no pós-guerra, o que levou alguns autores a considerá-la quase uma caricatura do desenvolvimento capitalista na América Latina, com impressionante processo de industrialização sem inovação tecnológica, modernização em paralelo com aprofundamento selvagem das desigualdades e do patrimonialismo e submissão ao capital internacional. Entre 1950 e 1970, a migração foi responsável por 58% do crescimento da capital, cuja população saltou de 352.723 para 1.235.030 habitantes. A malha urbana expandiu-se consideravelmente (figura 1). No centro, houve dinamização dos setores comerciais e de serviços, e os arranha-céus ganharam destaque nas paisagens de Belo Horizonte. Paralelamente aos bolsões de pobreza extrema, ascenderam os setores de classes médias e fortaleceram-se as elites empresariais, cuja projeção aumentou no cenário político nacional.8 Já em meados dos anos 1960, pesquisas em jornais, entrevistas, relatórios de prefeitos, estudos de engenharia sanitária e de saúde pública mostram uma cidade transformada, com diminuição radical da arborização para o alargamento das Ver MIRANDA, Wander Melo (Org.). Belo Horizonte, a cidade escrita. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1996 (especialmente o “Noturno de Belo Horizonte”, 1924, de Mário de Andrade, p. 75-89). Sobre a avaliação positiva da região pela Comissão Construtora: REIS, Aarão. Commissão Constructora da Nova Capital. Revista geral dos trabalhos. Rio de Janeiro: H. Lombaerts e Cia, 1895. v. 1, p. 21; VIANNA, Newton. Belo Horizonte, seu abastecimento de água e sistema de esgotos, 1890-1973. Belo Horizonte: EEUFMG, 1997. p. 31. Um caráter salutar excepcional era atribuído ao clima de Belo Horizonte: LABOISSIÈRE, Márcia. Imagens do mal: a tuberculose em cinquenta anos da história de Belo Horizonte. Dissertação (mestrado em história) — Programa de Pós-Graduação em História, Universidade de Campinas, Campinas, 1998. p. 63-78. MARTINS, Fábio. 1935: Noel Rosa em Belo Horizonte. Rádio em Revista, v. 4, n. 1 e 2, p. 10-15, 2008. 8 Os dados demográficos referem-se apenas ao município de Belo Horizonte, com 331 km2, e encontram-se em PLAMBEL. O desenvolvimento econômico e social da região metropolitana de BH. v. III. Belo Horizonte: SPMG, 1974. p. 3-5. Para análises do desenvolvimento capitalista em Minas e a importância da área industrial da grande Belo Horizonte que, em 1973, abrangia quatorze municípios, num território de 3.669 km2, ver DINIZ, Clelio Campolina. Estado e capital estrangeiro na industrialização mineira. Belo Horizonte: UFMG/ Proed, 1981. p. 21; EAKIN, Thomas. Tropical capitalism. Nova York: Palgrave, 2001. p. 7, 172-179. 7 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 159-186, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 163 “Eu quero uma casa no campo”: a busca do verde em Belo Horizonte, 1966-1976 Regina Horta Duarte ruas, córregos poluídos e fétidos, acúmulo de lixo, enchentes, engarrafamentos, poluição do ar e sonora. Figura 1 Expansão da malha urbana do município de Belo Horizonte e área central da Região Metropolitana de Belo Horizonte Fontes: Prefeitura de Belo Horizonte; COSTA, Sandra Maria Fonseca da. Urbanização da Região Metropolitana de Belo Horizonte: monitoramento do crescimento urbano através do monitoramento de informações geográficas pelo sistema SGI/Inpe. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, VII, 1993, Curitiba. Anais... Curitiba: SBSR, 1993. p. 41-47. Elaboração: Cristiano Sena, 2014. Nesse contexto, Belo Horizonte conheceu muito precocemente o fenômeno dos condomínios privativos em seu entorno, especialmente no setor sul, grande parte deles para casas de finais de semana, voltados para o público de classe média e alta, numa busca privilegiada da compensação das perdas da vida na metrópole.9 Alguns empreendimentos surgiram em É importante destacar que tal fenômeno integra a história de outras cidades da América Latina, e Belo Horizonte participa de uma tendência urbana muito mais ampla. Para estudos da expansão de condomínios em cidades como São Paulo, Buenos Aires, Santiago do Chile e Lima, ver: CALDEIRA, Teresa. Cidade de muros. São Paulo: Ed. 34; Edusp, 2000; SVAMPA, Maristella. Los que ganáron. 2. ed. Buenos Aires: Biblios, 2008; COY, Martin. Gated communities and urban fragmentation in Latin America. Geojournal, v. 66, n. 1, p. 121-132, 2006; JANOSCHKA, Michael. El nuevo modelo de la ciudad latino-americana. Eure, v. 28, n. 85, p. 11-20, 2002; DAM, Paulo. La ocupación del desierto de la playa Asia, Lima Peru. ARQ, v. 57, n. 1, p. 569 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 159-186, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 164 “Eu quero uma casa no campo”: a busca do verde em Belo Horizonte, 1966-1976 Regina Horta Duarte fins dos anos 1950, mas a avidez pelas últimas áreas verdes, com ar puro, silêncio e nascentes cristalinas, incrementou o número de lançamentos nos anos 1970. O presente artigo analisará tal movimento em direção a refúgios verdes, realizado por alguns habitantes de Belo Horizonte, num contexto da urbanização desenfreada entre 1966 e 1976. A busca da “casa de campo” foi privilégio de membros das classes médias mais abastadas, que certamente se beneficiavam do crescimento econômico vivido pelo Brasil nos anos do Milagre Econômico mas que, paradoxalmente, lamentavam a perda da qualidade de vida no centro urbano. O ano de 1966 aparece como momento-chave para a análise. Paralelamente às promessas desenvolvimentistas, aquele ano trouxe sinais importantes do endurecimento do regime político autoritário vigente desde o golpe civil-militar de 1964. Por outro lado, o Programa de Ação Econômica do Governo demonstrou seus primeiros resultados, e o Produto Interno Bruto (PIB) deu mostras de recuperação, num processo que pouco depois instaurou um período de grande prosperidade para as classes médias e as elites. Em Belo Horizonte, o prefeito nomeado iniciou um projeto de remodelamento urbano ambicioso, o Nova BH 66. Nessas condições históricas — entre o caos urbano, o estreitamento da esfera política de ação, as ações de luta contra a ditadura e a euforia econômica — os loteamentos para casas de finais de semana ganhariam novo impulso. Em 1976, os problemas da cidade eram ainda mais graves, e as fragilidades do regime político em vigor começavam a ser expostas pela crise econômica. Carlos Drummond de Andrade, cuja poesia se dedicou tantas vezes aos encantos da cidade de outrora, publicou “Triste horizonte”. Nesses versos, Drummond lamentava as perdas sofridas e ansiava esquecer a “brutal Belo Horizonte que se empavonava sobre o corpo crucificado da primeira”.10 A despeito do enfraquecimento da construção civil, os condomínios privados continuaram crescendo, tornando-se cada vez mais um local de moradias permanentes, numa fuga agora motivada sobretudo pela insegurança, em meio à escalada da violência urbana. Entre 1966 e 1976, Belo Horizonte compartilhou paradoxos comuns a outras grandes cidades latino-americanas: crescimento econômico/aprofundamento da pobreza, ufanismo/ desencanto, aumento do consumo e do nível de vida das classes médias/falta de saneamento básico e altas taxas de mortalidade infantil, otimismo/mal-estar. Nesses tempos tão paradoxais, os sentidos latentes no sonho idílico da casa de campo, realizável para uma pequena parcela de privilegiados em meio aos intrincados problemas da terceira metrópole brasileira, apresentam-se como um campo instigante de análise, com implicações para a história política, social e ambiental urbana do período em questão. 57, 2004; ATKINSON, Rowland; BLANDY, Sarah (Ed.). Gated communities. Nova York: Routledge, 2006. 10 ANDRADE, Carlos Drummond de. Triste horizonte. Estado de Minas, 15 ago. 1976. 2o caderno, p. 1. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 159-186, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 165 “Eu quero uma casa no campo”: a busca do verde em Belo Horizonte, 1966-1976 Regina Horta Duarte Selva de pedra O projeto Nova BH 66 prometeu a solução dos problemas gravíssimos que se acumulavam na capital. Acenou com a regularização do abastecimento de água potável, a canalização dos córregos como solução para sua poluição, amplos trabalhos de pavimentação e asfaltamento de vias, melhoria do transporte público. O projeto se apoiou sobretudo no rodoviarismo — estimulando usinas de asfaltos e alimentando a indústria automobilística — e o carro particular foi consagrado como protagonista privilegiado das ruas. Como sinal do privilégio do carro particular em detrimento do pedestre, os números alardeados pelo relatório da prefeitura são significativos: em 1966, asfaltou-se um milhão de metros quadrados de vias, num gasto total de 5,5 milhões de cruzeiros. No mesmo ano, apenas 3 mil metros quadrados de passeios para pedestres foram construídos, com custo de 20 mil cruzeiros, além de 10 mil cruzeiros para a manutenção de 1.500 m2 de passeios.11 A cidade se tornou um verdadeiro canteiro de obras, causando grandes transtornos cotidianos. A prefeitura investiu na publicidade, visando conquistar a paciência da população e estimular a confiança no progresso. Uma das propagandas apresentava o sr. D.B., a única pessoa que estaria insatisfeita. O abaixo-assinado que organizara contra a prefeitura continha apenas a sua assinatura. Com “a opinião formada sobre uma porção de coisas”, o personagem aparecia caracterizado com suspensórios, óculos pince-nez, gravata ridícula, costeletas, bigode e cabelo antiquados. No pano de fundo, avista-se a cidade com seus edifícios. O céu azul contrasta com o guarda-chuva que o sr. D.B. traz nas mãos. Ele tinha opiniões absurdas sobre a seleção brasileira, achava Ursula Andress feia, defendia que Belo Horizonte estava inabitável, barulhenta e empoeirada com tantas obras. O cheiro de asfalto e a fumaça do número crescente dos ônibus a diesel o deixavam nauseado (figura 2). Dias depois, outra publicidade trazia o pedido de desculpas da prefeitura pela poeira e incômodos, mas pedia às mães que compreendessem por que as roupas das crianças se sujavam tão mais depressa. Em breve, Belo Horizonte seria uma cidade moderna e mais bela, com ruas asfaltadas e córregos escondidos. Na foto, uma turma de operários trabalha na rua, tendo ao fundo a linha do horizonte da serra do Curral. Para uma cidade que sofria terrivelmente com a falta de água, a prefeitura anunciava ainda que conseguira 12 milhões de dólares para captar água do rio das Velhas, e que “a lata d’água na cabeça de Maria” seria, em breve, apenas a letra de um samba. Além de matérias pagas em jornais, um encarte foi veiculado no final do ano, com PREFEITURA de Belo Horizonte. Relatório do Exercício de 1966. Belo Horizonte: PBH, jan. 1967. p. 132-133. Sobre as canalizações de córregos empreendidas pelo Nova BH 66 e o predomínio do asfalto, ver MESQUITA, Yuri. Jardim de asfalto: água, meio ambiente, canalização e as políticas públicas de saneamento básico em Belo Horizonte, 1948-1973. Dissertação (mestrado em história) — Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2013. p. 138-142. 11 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 159-186, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 166 “Eu quero uma casa no campo”: a busca do verde em Belo Horizonte, 1966-1976 Regina Horta Duarte lindas vistas da cidade, suas ruas asfaltadas, circulação de ônibus a diesel nas ruas, e imagens das obras ainda em curso e que dinamizariam a vida urbana, comemorando “o cheiro de asfalto quente [que] invadiu toda a cidade” (figura 3).12 Figura 2 Fonte: Diário de Minas, Belo Horizonte, 31 jul. 1966. p. 2 (Hemeroteca Histórica do Estado de Minas Gerais). As matérias publicitárias encontram-se em: Estado de Minas, Belo Horizonte, 20 jun. 1966. p. 7; Estado de Minas, 17 jul. 1966. p. 2; Diário de Minas, Belo Horizonte, 31 jul. 1966. p. 2. Note-se que Ursula Andress estava no auge de sua glória, desde sua cena de biquíni branco em Dr. No (1962). O folheto Nova BH 66 foi encarte do jornal Diário de Minas em 11/12 dez. 1966 (Hemeroteca Pública de MG). Yuri Mesquita me indicou generosamente a referência do Sr. D.B. 12 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 159-186, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 167 “Eu quero uma casa no campo”: a busca do verde em Belo Horizonte, 1966-1976 Regina Horta Duarte Figura 3 Nova BH 66 Fonte: Encarte do Diário de Minas, 11/12 dez. 1966 (Hemeroteca Histórica do Estado de Minas Gerais). Nos anos seguintes, altas taxas de crescimento econômico do PIB (acima de 11,2% ao ano entre 1968 e 1973, alcançando 14% em 1974) catapultaram o poder de consumo das camadas médias, e o carro particular certamente foi um dos bens mais imediatamente desejados, com todos os signos de prestígio que o cercavam (figura 4). O aumento da frota de veículos em Belo Horizonte representou um fator importante no processo de grande deterioração ambiental do centro da cidade que, até o final dos anos 1960, possuía muitos prédios residenciais com bons apartamentos ocupados por famílias de classe média e alta. O centro concentrava ainda escritórios de advocacia, consultórios médicos e odontológicos, companhias de aviação e agências de turismo, hotéis, bons restaurantes, lojas de roupas finas, empresas jornalísticas, livrarias, cafés, agências bancárias, escolas de línguas e consulados, e tudo isso gerava um grande movimento. Numa área central de ruas quadriculadas e avenidas em diagonal, um verdadeiro caos se instalou com a circulação crescente de veículos sem planejamento adequado de semáforos, deficiência de passagens adequadas para pedestres e a prática de estacionar veículos particulares indiscriminadamente pelas ruas, canteiros centrais e até nos passeios. Tudo isso gerou situações de grande morosidade, estrangulamenTopoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 159-186, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 168 “Eu quero uma casa no campo”: a busca do verde em Belo Horizonte, 1966-1976 Regina Horta Duarte to de vias, poluição sonora causada não apenas pela característica ruidosa dos motores da época, mas também pelas buzinas de motoristas impacientes. Em abril de 1972, o professor Oromar Moreira, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), saiu às ruas do centro com um aparelho medidor de ruídos e constatou a média de 68 decibéis. Em algumas vias, entretanto, o nível chegava a 90 decibéis em horários de pico, quando o tolerável para a saúde humana seriam até 40 decibéis. Em 1975, iniciativa similar realizada pelo médico Thelmo Quick mostrou que a média das áreas centrais aumentara, e os níveis nas ruas centrais chegavam a até 104 decibéis.13 Figura 4 Fonte: PLAMBEL. Estudo do sistema de órgãos encarregados do transporte/trânsito, 1974. p. 20. Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte. Fundo: Secretaria Municipal de Planejamento. AH 06/00/00 – GR 520. Arranjo TX/EP.40/PT.02/CX 96. Dados de 1976: AUMENTO de carros preocupa prefeito de Belo Horizonte. Estado de Minas, 26 jun. 1976. p. 5. Elaboração: Regina Horta Duarte. Sobre milagre econômico, consumo e comércio, ver: GOMES, Angela de C. Economia e trabalho no Brasil republicano. In: GOMES, Angela de C.; PANDOLFI, Dulce; ALBERTI, Verena (Org.). A República no Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; FGV, 2001. p. 253-257; ALBERTI, Verena. O século do moderno: modos de vida e consumo na república. In: GOMES, Angela de C.; PANDOLFI, Dulce; ALBERTI, Verena (Org.). A República no Brasil, op. cit. p. 301-338. Sobre o centro de BH, ver: BELO Horizonte. Revista Minas Gerais, n. 1, p. 105, 1961; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Belo Horizonte e comércio: 100 anos de história. Belo Horizonte: FJP, 1997. p. 115-158. Sobre a relação de brasileiros com seus carros e os sentidos simbólicos envolvidos, ver WOLFE, Joel. Autos and progress: the Brazilian search for modernity. Nova York: Oxford University Press, 2010. Sobre a iniciativa do drs. Moreira e Quick ver, respectivamente: O SOM e a fúria moram com você nas ruas da cidade. Estado de Minas, 16 abr. 1972. p. 5; FIRMINO. Hiram. Esse barulho ainda vai nos deixar todos surdos. Estado de Minas, 15 jun. 1975. p. 13. 13 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 159-186, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 169 “Eu quero uma casa no campo”: a busca do verde em Belo Horizonte, 1966-1976 Regina Horta Duarte A poluição atmosférica também se tornou um problema crescentemente sério, deixando no passado a imagem dos ares de Belo Horizonte como refúgio restaurador para os acometidos por doenças pulmonares. O transporte público elétrico antes existente na cidade foi gradativamente substituído por ônibus a diesel e completamente extinto em 1969. A gasolina e o diesel então comercializados emitiam grandes concentrações de enxofre e chumbo. O desenho quadriculado das ruas do centro urbano favorecia morosidade mesmo fora dos horários de rush, pois tantos cruzamentos exigiam paradas e arrancos constantes. A moda do carro “envenenado” levava muitos motoristas a realizarem alterações nos motores para aumentar a potência, incorrendo em maior gasto de combustível e aumento do ruído. Os modelos de carros tinham um desempenho fraco em termos de consumo por quilômetro rodado. Enfim, a cultura do carro disseminava-se em condições fortemente poluidoras.14 Desde fins dos anos 1960, o tema da poluição do ar ganhou as manchetes dos jornais locais, estudos médicos e de engenharia sanitária, promessas da prefeitura e de seus órgãos de controle urbano, assim como a atenção da população, para quem seus efeitos deletérios se tornaram crescentemente perceptíveis. Em Belo Horizonte, todos os discursos sobre poluição do ar foram unânimes em distinguir a poluição no centro da cidade (causada pelo tráfego de veículos) da poluição de origem industrial. Esta última se concentrava na Cidade Industrial, mas vários bairros belo-horizontinos de classes médias baixas e pessoas em condições de pobreza sofreram com a vizinhança de fábricas diversas, usinas de asfalto e outras. O crescimento significativo da taxa de mortalidade na capital, por bronquite, asma e enfisema pulmonar, naquele período, é um dos indícios da piora da qualidade do ar (figura 5). O chumbo melhorava o desempenho do veículo e era adicionado desde os anos 1920. Começou a ser eliminado da gasolina em 1989, no Brasil (e, completamente, em 1992): A Petrobras apresenta a primeira manifestação ecológica do ano, a gasolina totalmente sem chumbo. 1989. Disponível em: <http://memoria. petrobras.com.br/acervo/chumbo-tetraelita-e-retirado-da-gasolina#.U2Lg0sbNDn0>. Acesso em: 31 out. 2013. Ver ainda: LANDRINGAN, Phillip. The worldwide problem of lead in petrol. Bulletin of the World Health Organization, v. 80, n. 10, p. 768, 2002; MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Primeiro inventário nacional de emissão de veículos automotores rodoviários. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2011; MARAZZI, Expedito. Seu corcel vai render mais com veneno. Quatro Rodas, São Paulo, ano XI, n. 129, p. 91-95, abr. 1971; VICENTINO, Flávio; MANERA, Roberto. Escolha o veneno para seu Chevette. Quatro Rodas, ano XV, n. 169, p. 86-91, ago. 1974. Disponível em: <http://quatrorodas.abril.com.br/acervodigital/ home.aspx>. Acesso em: 17 jan. 2014; I SIMPÓSIO SOBRE TRÂNSITO DE BH. Belo Horizonte: Câmara de Deputados, 1975. 3 v. 14 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 159-186, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 170 “Eu quero uma casa no campo”: a busca do verde em Belo Horizonte, 1966-1976 Regina Horta Duarte Figura 5 Fonte: IBGE, Estatísticas do século XX: saúde. Disponível em: <www.ibge.org>. Elaboração: Regina Horta Duarte. Em 1968, um professor de engenharia sanitária da UFMG, Honório Pereira Botelho, denunciou o aumento de doenças alérgicas em decorrência da poluição na cidade. Por meio de convênio dessa Universidade com a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Belo Horizonte instalaria sua primeira estação de controle de poluição do ar em dezembro de 1971.15 A inauguração da estação medidora possibilitou a realização de estudos fundamentados sobre os níveis de poluição em Belo Horizonte. Em 1972, o médico Thelmo Quick e o engenheiro químico Ernest Paulini realizaram um estudo sobre os níveis de emissão de vários agentes poluentes no centro e nas áreas industriais de Belo Horizonte. Os dois trabalharam com medidores móveis em vários pontos da cidade. Além da gravidade extrema das áreas industriais (especialmente nas imediações de fábricas de cimento, com destaque para a Itaú, e para a siderúrgica Mannesmann, no Barreiro, que funcionavam sem filtros ou controle de BOTELHO, Honório Pereira. Ar poluído provoca surto de doenças alérgicas na cidade. Estado de Minas, 29 out. 1968. p. 15; Id. Poluição do ar. Belo Horizonte: 1969. Mimeografado. (Acervo Memória, Escola de Engenharia da UFMG); BOTELHO, Honório Pereira. Contribuição ao estudo da poluição industrial em Minas Gerais. Dissertação (mestrado em engenharia sanitária) — Programa de Pós-Graduação em Engenharia Sanitária, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1980. Sobre a presença da Opas em Belo Horizonte para controle da poluição: Depoimento concedido por Jesus Miguel Tajra Adad, 26 nov. 2013. Na época, o prof. Adad dirigiu o Laboratório de Controle de Poluição do Ar, situado na Escola de Engenharia da UFMG, no centro da cidade. 15 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 159-186, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 171 “Eu quero uma casa no campo”: a busca do verde em Belo Horizonte, 1966-1976 Regina Horta Duarte resíduos), alguns pontos do centro eram críticos. No túnel Concórdia-Lagoinha, obra inaugurada com pompa e circunstância pela prefeitura em 1969, os gases eram tão concentrados que, na situação hipotética de um acidente que causasse um engarrafamento de vinte minutos, o monóxido de carbono (CO) atingiria um nível letal para os ocupantes dos veículos. Muitas pessoas sentiam náuseas ao percorrer o túnel, especialmente nas horas mais movimentadas. Outras áreas centrais apresentavam níveis de poluentes acima do limite aceitável para a saúde humana, com danos diretamente proporcionais ao tempo de permanência no local. O diesel e a gasolina também emitiam aldeídos, hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio e partículas sólidas. A estação não possuía aparelhos adequados para todas as medições, mas apontava a diminuição da visibilidade e uma nítida sensação de desconforto entre os transeuntes para argumentar que a poluição já era um problema significativo para os belo-horizontinos. Dados técnicos de 1976 indicaram algumas substâncias poluentes com níveis cinquenta vezes acima do máximo recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).16 Além dos carros, outros problemas pioravam a qualidade do ar, como a prática de incineração de lixo (apenas 46% do lixo produzido pelo município era coletado) e a grande frequência de queimadas nos limites da cidade. Nos períodos de estio, havia episódios do envolvimento de toda a cidade por uma bruma que chegava a interferir na visibilidade do aeroporto. Os primeiros episódios de inversão térmica se faziam visíveis e se tornariam cada vez mais frequentes na estação seca. O horizonte, belo e azul na memória recente dos moradores, em poucos anos mesclou-se à cor da fuligem.17 O clima ameno da cidade também sofreu alterações de forma bastante perceptível aos habitantes. Para isso, contribuíram tanto a pavimentação das ruas e a canalização dos córregos, como a diminuição notória da arborização da cidade. Ao longo da história de Belo Horizonte, o Parque Municipal localizado no centro teve sua área inicial reduzida de 550 mil para 180 mil metros quadrados. Desde o início dos anos 1960, o alargamento das vias rodoviárias urbanas determinava a eliminação de canteiros e árvores. Souza Lima, prefeito entre 1967 e 1971, era ridicularizado pela fúria com que árvores eram derrubadas durante seu mandato: charges de QUICK, Thelmo; PAULINI, Ernest. Contribuição ao estudo da poluição atmosférica e das doenças pulmonares em Belo Horizonte. Belo Horizonte: Academia Mineira de Medicina, 1973. p. 9-18. Ver ainda PAULINI, E. Crise ambiental. Belo Horizonte: Crea/EEUFMG, 1974; PLAMBEL. Poluição atmosférica na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Belo Horizonte: FJP, 1973; G Mimeografado; GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Situação ambiental na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Belo Horizonte: s.n., 1976. p. 64-68. 17 A incineração de lixo pelos habitantes era permitida por lei, desde que realizada durante o dia. Lei Municipal 1.479, 26 abr. 1968. Sobre a fumaça escura que saía dos prédios pela queima de lixo, ver: NOTAS do dia: lixo. Estado de Minas, 21 dez. 1974. p. 5. A poluição se tornava crescentemente visível no inverno: NÉVOA seca. Diário de Minas, Belo Horizonte, 4 ago. 1966. p. 5; NO ar, nosso veneno de cada dia. Estado de Minas, 14 set. 1975. p. 20; BELO Horizonte é tomada pela poluição. Estado de Minas, 18 jun. 1976. p. 5; A MAIS forte inversão térmica deste ano foi ontem pela manhã. Estado de Minas, 15 jul. 1977. p. 5. Fotos de episódios de inversão podem ser encontradas em: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Situação ambiental na Região Metropolitana de Belo Horizonte, op. cit. p. 55-56, 64. 16 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 159-186, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 172 “Eu quero uma casa no campo”: a busca do verde em Belo Horizonte, 1966-1976 Regina Horta Duarte jornais o mostravam com um machado nas mãos, com expressões de avidez dendroclasta. Cientistas e intelectuais organizaram moções de protesto contra a supressão de árvores. Espaços de lazer público eram exíguos e, em 1976, havia minguados 0,7 m2 de área verde por habitante em Belo Horizonte, quando a OMS já estipulava o mínimo de 12 m2.18 Nos bairros de população pobre, a falta de regulamentação urbana e fiscalização abria o caminho para a instalação de pequenas fábricas, a exemplo de usinas de asfalto de menor porte, mas que causavam grande poluição pela falta de filtros, pelo ruído e pelo livre descarte de resíduos. Os moradores do Barreiro, especialmente, amargaram a grave poluição causada pela Siderúrgica Mannesmann, e o hospital regional vivia abarrotado de crianças e adultos com graves crises respiratórias. Houve muitos casos de organização de comunidades em torno de ações legais populares contra usinas de concreto ou asfalto, fábricas de lubrificantes, de cigarros e fundições, entre outras. A despeito das ações e denúncias, os estabelecimentos permaneceram por anos a fio sem qualquer regulamentação e sem filtros.19 Em algumas ruas do centro da cidade, prédios de apartamentos amplos e espaçosos eram, até então, habitados por pessoas de classes médias mais favorecidas. Mas a poluição, o barulho e a mendicância pelas ruas as tornaram gradativamente inadequadas aos olhos de pessoas de melhor condição social. Outro fator de insatisfação era a inexistência de garagens em prédios antigos. Tudo isso levou ao abandono do centro como local desejável para moradia, num processo de crescente deterioração.20 A Pampulha, projetada nos anos 1940 como bairro privilegiado para mansões e lazer de elites, com a construção de uma lagoa cercada de obras-primas da arquitetura e do paisagisOs dados sobre áreas verdes e coleta de lixo são do relatório GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Situação ambiental na Região Metropolitana de Belo Horizonte, op. cit. p. 18, 30, 48. Ver ainda: BELO Horizonte, uma cidade sem verde e sem áreas de lazer. Estado de Minas, 19 out. 1975. p. 11; CIDADE ganha em calor o que perdeu no corte de árvores no centro. Estado de Minas, 1o jan. 1971. Sobre o Parque Municipal de Belo Horizonte nos anos 1960 e 1970, ver: COMPANHIA Vale do Rio Doce. Parque Municipal: crônica de um século. Belo Horizonte, 1992. p. 99-111. Um exemplo de charge sobre o corte de árvores pela prefeitura: ESTEVES, Oldack. Imagens do dia (charge). Estado de Minas, 10 dez. 1970. p. 4. Sobre os protestos da comunidade acadêmica: CIENTISTAS condenam corte de árvore e levam o seu manifesto a Souza Lima. Estado de Minas, 1o nov. 1968. p. 5; TÉCNICO em botânica diz que corte de árvores em BH é crime contra o povo. Estado de Minas, 27 out. 1968. p. 5. 19 As chaminés da Siderúrgica Mannesmann expeliam fumaça vermelha e densa, altamente tóxica, e os filtros só foram instalados em 1978: afinal acabou a poluição da Mannesmann. Estado de Minas, 16 mar. 1978. p. 5. Para outros exemplos em diferentes bairros populares: UM plano contra a poluição. Estado de Minas, 26 abr. 1970. p. 6; POLUIÇÃO: a fumaça venceu. Estado de Minas, 27 jul. 1972. p. 5; NA Lagoinha há nuvens de cimento. Estado de Minas, 11 out. 1973. p. 7; SEGUNDO o que se diz, poluição do óleo continuará. Estado de Minas, 14 set. 1974. p. 7; QUEREM que a fábrica pare com poluição. Estado de Minas, 14 jan. 1975. p. 5; ESTA fábrica vai continuar poluindo. Estado de Minas, 8 mar. 1975. p. 8; NO Betânia, todos reclamam contra fábrica poluidora. Estado de Minas, 15 set. 1976. p. 5. Para avaliar a continuidade desses estabelecimentos poluidores nos anos seguintes, a despeito das ações populares, ver: NINGUÉM sabe quantas empresas poluem. Estado de Minas, 4 mar. 1979. p. 10. 20 MISÉRIA nas ruas. Estado de Minas, 14 jan. 1967. p. 4; MENDIGOS fazem o drama da cidade. Estado de Minas, 23 out. 1968. p. 16. 18 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 159-186, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 173 “Eu quero uma casa no campo”: a busca do verde em Belo Horizonte, 1966-1976 Regina Horta Duarte mo modernistas por Oscar Niemayer e Burle Marx, tornou-se um local poluído por esgotos domésticos e industriais e altamente contaminado por esquistossomose.21 A especulação imobiliária de residências de luxo voltou-se para áreas da zona sul da cidade, que receberam estrutura urbana adequada e prévio desalojamento de barracos e habitantes miseráveis. Desde fins dos anos 1960, lotearam-se bairros de elite, com casas elegantes, jardins e garagens, ruas com passeios adequados para arborização e regras estabelecidas de ocupação urbana: Cidade Jardim, São Bento, Mangabeiras, Belvedere. O nome do bairro Cidade Jardim indicava a exclusividade do que antes costumava ser o epíteto de toda a cidade. Mas o bairro elegante tinha episódios nada elegantes na história de sua formação: para abrir a avenida de acesso, em 1970, uma equipe do Departamento de Ordem Política e Social (Dops) — com homens armados, além de cães — “supervisionou” a derrubada de 182 barracos. A publicidade do Belvedere, situado no local mais elevado da cidade, aos pés da Serra do Curral, convidava seus proprietários a olharem a cidade de cima, longe da poluição, gozando de ar puro e do clima ameno de montanha. Novas avenidas asfaltadas abertas pela prefeitura garantiram acesso aos novos bairros. O comércio elegante da cidade se deslocou para a Savassi, também na zona sul, e logo depois — com a ascensão da violência urbana e a busca de ambientes de acesso selecionado — para o primeiro shopping da cidade, inaugurado em 1979, no bairro Belvedere.22 É certo que o desconforto trazido pela degradação urbana dependia de variações espaciais, e alguns tiveram condições financeiras para evitá-la, mudando-se para áreas mais nobres. Mas proponho que moradores antigos de diferentes condições sociais partilhavam as dimensões temporais implicadas no fenômeno de crescimento desordenado. Sentidos atribuídos ao passado, presente e futuro eram repletos de sentimentos paradoxais, como saudosismo diante do passado, euforia e mal-estar pelo presente, otimismo e ansiedade em relação ao futuro. O passado pouco distante, de duas ou três décadas, era relembrado com sentimentos de perdas. As árvores dia a dia eram eliminadas nos mais variados pontos da cidade. Os jardins substituídos por estacionamento de carros. Ar puro, clima ameno, água potável e silêncio Sobre a degradação da Pampulha, ver: CASALARDE, Flávio. Pampulha. Belo Horizonte: Conceito, 2007. p. 64-80; GARCIA, Luiz Henrique Assis. Ruptura e expansão: Pampulha em contrastes. In: PIMENTEL, Thais (Org.). Pampulha múltipla. Belo Horizonte: MHAB, 2007. p. 89-111; GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Situação ambiental na Região Metropolitana de Belo Horizonte, op. cit. p. 101; DEODATO, Alberto. A Pampulha e o prefeito. Estado de Minas, 15 abr. 1967. Caderno 3, p. 1. 22 ARREGUY, Cintia; RIBEIRO, Rafael Rajão (Org.). História de bairros de Belo Horizonte: regional centro-sul. Belo Horizonte: APCBH, 2008. p. 29-35; sobre a derrubada da favela no que seria a av. Prudente de Morais, na Cidade Jardim: FAVELA acaba sob vigilância. Estado de Minas, 13 mar. 1970. p. 13; DÊ um passo à frente e vá viver no Belvedere. Estado de Minas, 4 fev. 1973. Pequenos Anúncios, p. 1. Sobre os signos de distinção e status que passaram a reger a arquitetura das casas de classes médias altas no Brasil nos anos 1950-1960 em diante, instituindo uma nova “cultura de morar”, com destaque para projetos paisagísticos de jardins, ver PINTO Junior, Rafael. Casas de sonho. Tese (doutorado em história) — Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2011. p. 98-164. 21 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 159-186, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 174 “Eu quero uma casa no campo”: a busca do verde em Belo Horizonte, 1966-1976 Regina Horta Duarte escasseavam. Essa saudade foi murmurada nos versos de Drummond, que evocaram um “passado cor-de-cores fantásticas”, a Belo Horizonte “provinciana saudável, de carnes leves pesseguíneas (...) lugar muito especial pela graça do clima”, remanso que seus habitantes gozavam “macio-amesendados na calma e na verde brisa irônica”.23 A despeito das críticas, os apelos desenvolvimentistas conquistavam adeptos: o país crescia vertiginosamente, as classes médias compravam carros e casas, seus filhos alcançavam a universidade, o Brasil ganhou a Copa do Mundo de 1970. O país vivia o paradoxo do “carro zero e pau de arara”,24 assim como do apoio de muitos ao regime, simultâneo à resistência, luta/discordância ou simples insatisfação de tantos outros. A participação do Brasil na Conferência de Estocolmo, em 1972, foi bastante expressiva no que se refere a esses paradoxos. Perante a pressão internacional pela conservação, representantes brasileiros afirmaram que o Brasil não poderia reduzir seu crescimento industrial para compensar pecados ambientais cometidos no passado por países já desenvolvidos, apontando a pobreza como a pior poluição e afirmando o direito do Brasil ao desenvolvimento econômico. Internamente, essa postura gerou sentimentos diversos. De um lado, houve comemorações ufanistas do destaque brasileiro na defesa do crescimento econômico, louvada por muitos como atitude patriótica e corajosa. De outro, a situação ambiental era tão visivelmente grave que gerou ansiedades — especialmente entre a comunidade científica — pela sensação de que as autoridades manteriam seu projeto de progresso “a qualquer preço”. Esse foi o caso do engenheiro sanitário Honório Botelho, da UFMG, presente na Conferência, que criticou com argumentos econômicos o desprezo da poluição em nome do desenvolvimento. Argumentava que seria “muito mais barato desenvolver um complexo industrial puro desde o início, do que ter que purificá-lo mais tarde”.25 A questão da degradação ambiental ganhou espaço na mídia, ações populares e seminários científicos, tornando-se um tema significativo de opinião pública. A proposta de combater a pobreza por meio do desenvolvimento para depois preocupar-se com o meio ambiente afinava-se, na verdade, ao princípio maior da política econômica do governo. No mesmo período em que o Brasil apresentava índices excelentes de crescimento DRUMMOND, Carlos Drummond de. Triste horizonte, op. cit. ALMEIDA, Maria H. Tavares; WEIS, Luiz. Carro zero e pau de arara: o cotidiano de oposição de classe média ao regime militar. In: SCHWARCZ, Lilia (Org.). História da vida privada no Brasil: contrastes da intimidade contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 319-410. 25 BOTELHO, Honório P. Poluição ambiental. Belo Horizonte: UFMG, 1973. p. 4-5. Manuscrito. (Setor de Obras Raras, Biblioteca EEUFMG, 628(063)B748p). O professor comenta ainda matéria publicada sobre o depósito de lixo a céu aberto em Belo Horizonte no jornal norueguês Dagbladet, qualificado como o mais baixo grau de miséria. Ver ainda: LAGO, André Aranha. Estocolmo, Rio, Joanesburgo. Brasília: Instituto Rio Branco; Funag, 2006. p. 115-144. Sobre a repercussão ufanista, ver: POLUIÇÃO no vizinho (editorial). Jornal do Brasil, 25 fev. 1972. p. 6; COSTA Cavalcanti reafirma que defenderá na Suécia o direito ao desenvolvimento. Jornal do Brasil, 31 maio 1972. p. 4; SANTAYANA, Mauro. Brasil pede luta contra poluição da pobreza. Jornal do Brasil, 7 jun. 1972. p. 8. Sobre opinião pública, ver GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Situação ambiental na Região Metropolitana de Belo Horizonte, op. cit. p. 157-158. 23 24 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 159-186, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 175 “Eu quero uma casa no campo”: a busca do verde em Belo Horizonte, 1966-1976 Regina Horta Duarte do PIB, a classe trabalhadora vivia o “arrocho salarial”. O ministro Delfim Netto defendeu a necessidade de “deixar o bolo crescer, para depois reparti-lo”. Ao fim do Milagre Econômico, sobraram índices vergonhosos de qualidade de vida humana. Em Belo Horizonte, em 1970, o índice de mortalidade infantil era de 107,7 óbitos de crianças de até um ano por mil nascidas vivas. Em 1973, esse dado havia subido para 124,8.26 Nesse contexto, sentimentos quanto ao futuro eram também paradoxais. Certamente havia euforia: grande parte dos brasileiros acreditou que o país subiria em breve ao rol do Primeiro Mundo, e alguns idosos lamentavam “não ter condições biológicas para viver até o próximo milênio, quando o Brasil se equipararia ao Japão”.27 Mas os dados estatísticos também causavam vertigens naqueles que pensassem no futuro próximo. O aumento galopante da população (figura 6) e do número de automóveis, bem como a expansão desordenada das periferias28 e a rápida deterioração ambiental influenciavam prognósticos sombrios para quem assistia ao agravamento da situação, especialmente quando contrastado à postura do governo brasileiro em Estocolmo. Figura 6 Taxas geométricas de crescimento demográfico no município de Belo Horizonte e na Região Metropolitana (RMBH) Fonte: IBGE. Elaboração: Regina Horta Duarte. Note-se que a diminuição da taxa em BH nos anos 1970 é simultânea ao aumento nos municípios vizinhos, expressão da saturação do centro urbano e da ocupação imobiliária desordenada nas periferias. WOOD, Charles. Infant mortality trends and capitalist development in Brazil: the case of São Paulo and Belo Horizonte. Latin American Perspectives, v. 4, n. 56, p. 56-65, 1977. 27 Como descrevem FAUSTO, Bóris. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 2004. p. 485; e MELLO, João Manuel C.; NOVAIS, Fernando. Capitalismo tardio e sociabilidade moderna, op. cit. p. 560. 28 MARQUES, Robson. Região de Belo Horizonte e a urbanização: notas sobre uma dinâmica imobiliária. In: MEDEIROS, Regina (Org.). Permanências e mudanças em BH. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. p. 113-137. 26 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 159-186, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 176 “Eu quero uma casa no campo”: a busca do verde em Belo Horizonte, 1966-1976 Regina Horta Duarte Interpretações de tons neomalthusianos ganharam destaque. A expectativa de crescimento demográfico apostava na manutenção dos níveis de crescimento. Em 1967, quando o município de Belo Horizonte possuía 1.081.000 habitantes, o IBGE fazia estimativas extraoficiais de que a capital teria 10.464.000 no ano 2000. Em 1973, estudos acadêmicos consideravam a mesma projeção para a virada do milênio. O mesmo pressuposto baseava as projeções do número de veículos. Em 1973, a prefeitura previa um milhão de veículos na capital em 1990. Um ano depois, o Departamento de Estradas e Rodagens estimou que 350 mil carros transitariam na capital em 1980. A poluição crescente trazia grandes preocupações, com a expectativa de uma cidade de surdos em 2000, ou de que a saúde de muitos sucumbiria antes que as indústrias controlassem seus resíduos tóxicos. Numa charge publicada em 1975, dois cidadãos conversavam num banco de praça com espessa nuvem de fumaça ao fundo. Um deles lia no jornal que a siderúrgica Mannesmann prometia filtros nas chaminés até 1977. O outro, com ar incrédulo, de braços cruzados, mirando a fuligem, dizia: “Quem viver, verá!...”.29 Assim, cientistas, formadores de opinião e técnicos vislumbravam um futuro próximo com problemas de dimensões gravíssimas, o que certamente aumentou a ansiedade gerada pelo crescimento urbano em muitos habitantes da capital naqueles anos. O horizonte das expectativas de qualidade de vida urbana era desanimador. Quantos não se identificaram com os versos da canção Casa no campo? Quantos puderam realizar esse sonho, e como isso ocorreu? Verde total “Estamos loteando a felicidade, reserve um pedaço prá Você.” Esses dizeres, parte da campanha publicitária de um dos muitos condomínios lançados em Belo Horizonte, captavam bem o sentimento de muitos citadinos entre as décadas de 1960 e 1970: a perda de uma parte da felicidade em prol do progresso e do desenvolvimento. Além de lotes, paisagens verdes, silêncio e águas cristalinas, os incorporadores negociavam a expectativa irreal de um lugar em que o tempo decorrido e as conquistas tecnológicas estariam presentes (e tudo o que isso significava: água, luz, eletrodomésticos, telefone, acesso por automóvel), mas WALDEMAR, José. População dobra cada dez anos e a metrópole abrange cidades vizinhas. Estado de Minas, 10 mar. 1967. p. 10; QUICK, Thelmo; PAULINI, Ernest. Contribuição ao estudo da poluição atmosférica e das doenças pulmonares em Belo Horizonte, op. cit. p. 10; PLAMBEL. Poluição atmosférica na Região Metropolitana de Belo Horizonte, op. cit. p. 6; EM BH os carros aumentam mais que a população. Estado de Minas, 28 nov. 1974. p. 13. A taxa de crescimento demográfico, entretanto, foi reduzida: em 2000, o município de Belo Horizonte tinha 2.238.526 habitantes. A crise econômica desacelerou também o crescimento no número de veículos: apenas em 2001 a capital alcançou a marca dos 706.480 veículos. Disponível em: <http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/> (ver Estatísticas e indicadores). Acesso em: 7 fev. 2014. A charge referida é de ESTEVES, Oldack. Imagens do dia (charge). Estado de Minas, 8 ago. 1975. p. 4. 29 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 159-186, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 177 “Eu quero uma casa no campo”: a busca do verde em Belo Horizonte, 1966-1976 Regina Horta Duarte a vertigem do futuro se acalmasse, mesmo que somente nos finais de semana... A mesma publicidade prometia o controle do futuro, pois o condomínio à venda se localizava “numa região onde a natureza jamais será violentada por qualquer tipo de poluição” (grifo meu).30 Dessa forma, a perspectiva de viver no condomínio tentava resolver o paradoxo de pessoas de melhor condição social beneficiadas pelo desenvolvimento em curso no país, cujo poder de consumo aumentara incrivelmente em decorrência do alto crescimento econômico, mas que se ressentiam da galopante deterioração ambiental do centro urbano. No condomínio, teriam o conforto da cidade, a proximidade dos serviços viabilizada pelo automóvel e a tranquilidade de habitar lugares mais preservados. A promessa de felicidade garantida (tema presente na maioria dos anúncios de condomínios) mobilizava fantasias monádicas, em que se viveria num ambiente paradisíaco, a salvo do tempo, da morte, da falta, da finitude humana, num retorno a um estágio primário de satisfação total, enfim.31 Condomínios horizontais existiam em Belo Horizonte desde fins dos anos 1950, quando foram inaugurados o Retiro das Pedras (1957), o Morro do Chapéu e o Estância Serrana (ambos em 1958), todos na região sul da cidade. O Estância Serrana teve a peculiaridade de ser organizado pela Mannesmann, que ali situou as famílias dos altos funcionários alemães que vinham trabalhar em Belo Horizonte, numa comunidade bastante fechada, logo apelidada de “Morro do Chucrute”. Retiro das Pedras e Morro do Chapéu foram lançados em áreas de paisagens privilegiadas, e suas sedes sociais tornaram-se locais de festas elegantes e disputadas pela alta sociedade. O sucesso desses dois últimos no fim dos anos 1950 deveu-se, em parte, à atribuição de um “ambiente europeu” e sofisticado aos clubes, localizados em áreas montanhosas e de clima ameno, assim como ao prazer de sair de carro nos fins de semana, num momento de ascensão da “cultura do carro” embalada pelos anos dourados, expressão de euforia e de aventura. O campo de golfe do Morro do Chapéu coroava o desejo de sofisticação de elites em ascensão e oferecia opções de lazer para os executivos de empresas estrangeiras e para membros de corpos consulares.32 ESTAMOS loteando a felicidade. Estado de Minas, 13 nov. 1975. Pequenos Anúncios, p. 3. Ver também: COSTA, Heloisa. Mercado imobiliário, Estado e natureza na produção do espaço metropolitano. In: COSTA, Heloisa et al. (Org.). Novas periferias metropolitanas. Belo Horizonte: C/A, 2006. p. 101-124; PIRES, Claudia. Evolução do processo de ocupação urbana do município de Nova Lima. Dissertação (mestrado em geografia) — Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2003. 31 Sugiro aqui as possibilidades da leitura psicanalítica do sonho do verde total. Meu argumento de mal-estar dos belorizontinos apoia-se em FREUD, Sigmund. O mal estar da civilização. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. Sobre possibilidades de interpretação psicanalítica de processos históricos, ver: CASTORIADIS, Cornelius. Psicanálise e sociedade I e II. In: CASTORIADIS, Cornelius. As encruzilhadas do labirinto: os domínios do homem. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. p. 39-53, 95-107. 32 DUARTE, Regina Horta. It does not even seem that we are in Brazil: country clubs and gated communities in Belo Horizonte, Brazil, 1951-1964. J. Lat. Amer. Stud., Cambridge, v. 44, n. 3, p. 435-466, 2012. Sobre o Estância Serrana: HEEP, Hans. Entrevista. Estância Serrana, 30 nov. 2013. Há um paralelo com a cultura norte-americana, em que “to go riding” nos finais de semana se tornou uma experiência familiar prazerosa nos anos 1950. JACKSON, Kenneth. Grabgrass frontier. Nova York: Oxford University Press, 1985. p. 181. 30 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 159-186, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 178 “Eu quero uma casa no campo”: a busca do verde em Belo Horizonte, 1966-1976 Regina Horta Duarte Os lançamentos, nos anos 1970, ganharam novos sentidos. Os empreendimentos não se constituíram em torno de clubes: alguns até prometiam a construção de áreas sociais e esportivas, mas elas não se concretizaram. Muitas casas continuaram ocupadas apenas nos finais de semana, mas, pouco a pouco, algumas famílias decidiram se estabelecer ali, construindo um estilo inédito de vida. Os condomínios mais sofisticados situaram-se ao sul da cidade, a quinze ou vinte minutos de carro da praça Savassi, próximos aos bairros mais elegantes e às melhores escolas particulares. Se o trânsito no centro da cidade era caótico, as vias percorridas entre os condomínios e a zona sul eram tranquilas e o fluxo era rápido e previsível.33 Em face da decadência do centro como área desejável para habitar e dos valores altos dos lotes nos bairros sofisticados na zona sul, no perímetro do município, os preços de lotes em condomínios eram convidativos para muitas pessoas que, dessa forma, podiam direcionar o investimento maior à construção da casa e dos jardins, em terrenos de 2 mil metros quadrados ou mais. Para jovens profissionais liberais, professores universitários ou funcionários qualificados de órgãos públicos, essa opção atendia às expectativas tanto de bem-estar quanto de distinção social, já que os condomínios garantiam vizinhança seleta e — não menos importante — “cabiam no bolso”. A possibilidade de financiamento pelo Banco Nacional da Habitação (BNH) facilitava tudo. Criado em 1964 para estimular a construção civil por meio do setor de casas populares, o sistema direcionou investimentos, a partir de 1970, para o mercado médio (classes média e alta). Uma propaganda da Caixa Econômica Federal de 1975 é esclarecedora. Na foto, com o título “Natureza morta”, um menino olha a metrópole através da janela com grades. O texto faz considerações sobre o caráter implacável do progresso e a vida de crianças presas em apartamentos: todo dia a natureza era destruída, e “até que todos tomassem consciência disso, talvez fosse tarde demais”. Ninguém era contra o desenvolvimento, mas, “e o cheiro de mato?”.34 A escolha de morar nos condomínios pode ser vista como uma saída individual de pessoas que assistiam a um panorama desanimador na cidade. Havia, certamente, mudanças em curso. As ações populares contra poluidores na Região Metropolitana de Belo Horizonte foram importantes: a ação contra a fábrica de Cimento Itaú, em 1975, configurou-se como um verdadeiro marco nas iniciativas de combate à poluição atmosférica, num conflito que envolveu sociedade civil, imprensa, autoridades locais e presidência da República. No âmbito estadual e federal, ocorriam os primeiros seminários sobre o tema, a comunidade cientíUCHOA, Maria Angela. Entrevista. Condomínio Vila del Rey, 21 nov. 2013; ANDRADE, Marlene Vieira Chaves de. Entrevista. Condomínio Estância Serrana, 12 dez. 2013. 34 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Natureza morta. Estado de Minas, 28 ago. 1975. p. 9; AZEVEDO, Sérgio. Vinte e dois anos de política de habitação popular. Revista Administração Pública, v. 22, n. 4, p. 107-119, 1988. Sobre financiamento de casas de condomínios horizontais pelo BNH: SANTOS, Regina. Rochdale e Alphaville. Tese (doutorado em geografia) — Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994. p. 201-206. 33 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 159-186, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 179 “Eu quero uma casa no campo”: a busca do verde em Belo Horizonte, 1966-1976 Regina Horta Duarte fica se pronunciava e encaminhava propostas, as primeiras leis eram decretadas. Destaca-se, principalmente, a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente (Sema), em 1973, ocupada pelo cientista Paulo Nogueira Neto, fruto certamente da dupla pressão internacional e da opinião pública interna, após a controversa posição do Brasil na Conferência de Estocolmo.35 Mas essas ações tinham resultados lentos, e mesmo que alguns as acompanhassem com esperança, mudanças efetivas não eram esperadas a curto prazo. Se a questão ambiental ganhava espaço na mídia e no discurso de cientistas brasileiros, não era experimentada efetivamente como questão política. Os discursos da direita privilegiavam o desenvolvimento e o combate à “poluição da pobreza”, refugiando-se no elogio ufanista da natureza do Brasil. Para a esquerda, proteger a natureza parecia algo distante, “pequeno-burguês”, quase ridículo diante das grandes urgências revolucionárias.36 Nessas condições, ansiedades sobre a destruição ambiental foram predominantemente vividas no Brasil daqueles anos como sentimento individual e extemporâneo. As motivações apontadas por moradores nos anos 1970 para sua escolha são diversas. A ex-moradora do centro se entristecia pelos mendigos à sua porta, além de se incomodar com a fumaça preta dos ônibus que atingia o carrinho de seu bebê sempre que ia ao Parque Municipal. O médico recém-chegado de especialização em Paris não conseguia estudar com o barulho dos automóveis. O jovem pesquisador norte-americano que veio morar no Brasil viu no condomínio algo mais próximo dos subúrbios de seu país natal, ao mesmo tempo que se surpreendeu com a degradação da cidade. O maestro tinha o prazer de receber jovens músicos para ensaios diante de uma ampla visão da esplêndida mata do Jambreiro. O Sobre a Itaú: GUIMARÃES FILHO, Tito. A Fumaça assassina. Belo Horizonte: Armazém de Ideias, 2000. Alguns estudos técnicos e anais de eventos da época encontram-se em: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. Poluição Industrial no Brasil. Brasília: Ipea/Iplan, 1975; CÂMARA DOS DEPUTADOS. Anais do I Simpósio de Poluição Ambiental. Brasília: CDI, 1975. 5 v.; GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Situação ambiental na Região Metropolitana de Belo Horizonte, op. cit.; NOGUEIRA NETO, Paulo. Política governamental de controle da poluição. In: PAULINI, Ernest; TOMAGNINI, B. Controle da poluição das indústrias: Simpósio de Engenharia Química. Belo Horizonte: Grêmio da EEUFMG, 1978, Mimeografado. (Biblioteca EEUFMG, Manuscritos, Ref: 628.5(063) C764.1978). A Sema foi criada pelo Decreto 73.030, de 30 de outubro de 1973. Ver ainda FREITAS, José Rabelo. Entrevista (Ambientalistas Mineiros). Belo Horizonte: Programa de História Oral/CEM/UFMG, 2006; FERRAZ, Sarah. Triste horizonte: movimentos em defesa da Serra do Curral. Trabalho de Conclusão (bacharelado em história) — Departamento de História, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008. 36 RICAS, Maria Dalce. Entrevista (Ambientalistas mineiros). Belo Horizonte: Programa de História Oral/ CEM/UFMG, 2007. É certo que havia matizes entre as posturas políticas, mas naqueles anos a oposição entre esquerda e direita se aprofundou. Não obstante essa polarização, Heloisa Starling generosamente me alertou sobre a dissonância dos movimentos de contracultura, no seio dos quais anticonsumismo, pacifismo, vegetarianismo, macrobiótica e vida comunitária se sintonizavam com o movimento hippie mundial, sensíveis às questões ambientais. Em Minas Gerais, o Festival de Inverno, realizado pela UFMG em Ouro Preto, a partir de 1969, tornou-se um evento decisivo para a experimentação cultural alternativa. STARLING, Heloisa. Coisas que ficaram muito tempo por dizer. In: MALINA, Judith. Diário de Judith Malina, o Living Theatre em Minas Gerais. Belo Horizonte: Arquivo Público Mineiro, 2008. p. 15-37, especialmente p. 29-33. 35 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 159-186, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 180 “Eu quero uma casa no campo”: a busca do verde em Belo Horizonte, 1966-1976 Regina Horta Duarte incorporador quedava-se estupefato à noite, com o céu límpido, a ponto de decidir nomear todas as ruas de seu empreendimento, para onde se mudou, com nomes de constelações. O pesquisador e professor universitário apaixonou-se pela paisagem do Retiro, que exercia verdadeiro magnetismo sobre quem o visitava pois, ali, “para olhar o céu não olhe para cima, olhe para frente”.37 Os nomes dos condomínios mobilizavam desejos e fantasias de refúgio e verde, além da imagem recorrente da “vila”, em contraposição à metrópole: Retiro das Pedras, Ville de Montagne, Vila del Rey, Estância Serrana, Vila Campestre, Vila Verde e Jardins de Petrópolis, entre outros. As ruas curvilíneas, em contraste com o traçado quadriculado do centro de Belo Horizonte, obrigavam à diminuição da velocidade do automóvel para a contemplação dos arredores. A nomeação aludia aos signos do mundo natural. Para as alamedas, referências astrais (do Universo, Centauro, Cruzeiro do Sul, Aldebarã) e botânicas (Pinheiros, Paineiras, Ipês, Palmeiras, Sibipirunas). Ruas de passarinhos: do Colibri, Bem-te-vi, Juriti, Cardeal, Andorinha. Outros nomes remetiam à fortuna dos moradores: Alameda da Liberdade, do Paraíso, dos Sonhos, do Sorriso. Havia também referências a serras brasileiras: Mantiqueira, da Canastra, dos Órgãos, do Mar. Palavras inscritas nas placas remetiam aos elementos da flora e fauna, estrelas, serras, sensações, aspirações e gestos, na clara intenção de conferir lirismo ao território a ser habitado e investido de significados.38 No material publicitário, alguns anúncios mobilizavam o desejo de um estilo de vida europeu. O Retiro das Pedras era uma “escandalosa imitação do clima e da paisagem suíça”, a 1.450 metros de altitude. Outras chamadas agenciavam aspirações à qualidade de vida: “venha morar onde a vida vale a pena”, e a foto mostrava uma família caminhando numa belíssima trilha. Em outra imagem, a página de um livro estampava uma foto da cidade, concreto e edifícios. A página seguinte se deixava entrever, pois a primeira estava sendo virada. Em baixo, a chamada: “troque o ar que você respira por um clima de montanhas”. No Ville de Montagne, “trânsito, só o dos pássaros”. Lotes financiados ofereciam “em nome dos pais e dos filhos (...) um lugar ao sol, enquanto é tempo”. Duas portarias garantiriam a “liberdade sem medo”. A rejeição ao afastamento era combatida pela veiculação de pequenos mapas, com indicações da posição do condomínio em relação à Praça Savassi, a distância em quilômetros e o tempo estimado de dez, quinze, vinte minutos para acessar os “últimos terrenos de natureza na zona sul”, pois “a porção nobre de Belo Horizonte só tem um caminho para crescer, a zona sul”. Anúncio do Ouro Velho Mansões, lançado em 1969 — “para quem sabe gozar a vida” numa “paisagem europeia dentro da cidade” —, recorria à sinestesia, ANDRADE, Entrevista; COSTA, Paulo. Entrevista. Vila del Rey. 21 nov. 2013; LIBBY, Douglas. Entrevista. Vila del Rey, 11 nov. 2013; RIBEIRO, Antonio. Entrevista. Belo Horizonte, 12 fev. 2014; COSTA, Carlos. Entrevista. Ville de Montagne, 5 nov. 2013; CANFORA, Hugo. Entrevista. Belo Horizonte, 19 dez. 2013. 38 Sobre a “aventura das palavras” da cidade, ver BRESCIANI, Maria Stella (Org.). Palavras da cidade. Porto Alegre: EUFRGS; Unesco, 2001. p. 9-16; DEPAULE, Jean-Charles; TOPALOV, Christian. A cidade através de suas palavras. In: BRESCIANI, Maria Stella (Org.). Palavras da cidade, op. cit. p. 17-38. 37 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 159-186, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 181 “Eu quero uma casa no campo”: a busca do verde em Belo Horizonte, 1966-1976 Regina Horta Duarte apresentando o local “onde você vai respirar a beleza do ar puro”.39 O Vale do Ouro, “verde total” a noroeste da cidade, ilustrava o contraponto entre a cidade vertical e com chaminés industriais com o condomínio-paraíso arborizado acessível pela estrada (figuras 7, 8 e 9). Figura 7 Ouro Velho Mansões Fonte: Estado de Minas, 21 dez. 1969. 4o caderno, p. 3 (Hemeroteca Histórica de Minas Gerais). RETIRO. Estado de Minas. 13 jan. 1974. Pequenos Anúncios, p. 3; TROQUE o ar que você respira. Estado de Minas, 10 out. 1976. Pequenos Anúncios, p. 1; PLANTE-SE. Estado de Minas, 5 set. 1976. Pequenos Anúncios, p. 1; PARA quem sabe gozar a vida. Estado de Minas, 21 dez. 1969. Caderno 4, p. 3; O VERDE total. Estado de Minas, 20 ago. 1972. Pequenos Anúncios, p. 1. 39 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 159-186, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 182 “Eu quero uma casa no campo”: a busca do verde em Belo Horizonte, 1966-1976 Regina Horta Duarte Figura 8 Vale do Ouro Fonte: Estado de Minas, 20 ago. 1972. Pequenos Anúncios, p. 1 (Hemeroteca Histórica de Minas Gerais). Figura 9 Ville de Montagne Fonte: Estado de Minas, 19 jun. 1976. p. 7 (Hemeroteca Histórica de Minas Gerais). Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 159-186, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 183 “Eu quero uma casa no campo”: a busca do verde em Belo Horizonte, 1966-1976 Regina Horta Duarte Apesar de ser uma decisão individual das famílias, a escolha da mudança para um condomínio horizontal implicou uma convivência comunitária. A despeito das promessas mirabolantes dos anúncios, moradores recém-chegados tiveram, na grande maioria dos casos, de se organizar não só para obter instalações de água e fossas adequadas, mas também para estabelecer regras de convivência e construção, ou mesmo o almoço de domingo em conjunto. Esforços contínuos de arborização tornaram a área dos condomínios muito mais preservada, como mostram fotos particulares guardadas por antigos moradores.40 Ao longo das décadas, esses primeiros proprietários se ressentiram muito da chegada de novos habitantes e da expansão de novos empreendimentos que ameaçam suas paisagens verdes. Muitos condomínios tiveram uma valorização surpreendente, nos últimos anos, e têm sido procurados por pessoas de nível econômico bastante alto, o que tem alterado a arquitetura e o perfil do local, para desconforto dos mais antigos, levando à organização de iniciativas preservacionistas. O problema, entretanto, é quase tão antigo como os condomínios: em 1970, a primeira ação popular foi movida por um jovem advogado, primeiro brasileiro a se mudar para o Estância Serrana, até então habitada apenas por alemães. Ao ver todo o seu esforço de construir sua casa num lugar aprazível ser ameaçado pela especulação imobiliária iminente e o loteamento excessivo, entrou na justiça, alegando que a ocupação da área não podia contemplar apenas o direito de propriedade, mas também sua função coletiva e social. O processo se arrastou por décadas, e nesse tempo o Estância tornou-se um dos condomínios de maior área preservada nas imediações de Belo Horizonte.41 Essa e outras ações, para as quais o espaço deste artigo é pequeno, mostram que a vida nos condomínios foi também constituinte de práticas ambientalistas nos anos que se seguiram. Conclusões A criação dos condomínios horizontais privados como opção de moradia esteve diretamente relacionada às condições históricas que acarretaram a deterioração e abandono do centro urbano de Belo Horizonte. Nesse contexto, alguns tiveram o privilégio de poder escoCOSTA, Paulo. Entrevista, op. cit.; UCHOA, Maria Angela. Entrevista, op. cit.; CANFORA, Hugo. Entrevista, op. cit.; BRANDÃO, Pedro. Sociabilidade urbana: o caso do condomínio Ville de Montagne. Monografia (iniciação científica) — Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2003; NASCIMENTO, Alexandra. Do Vila del Rei ao Alphaville. In: COSTA, Heloisa et al. (Org.). Novas periferias metropolitanas. Belo Horizonte: C/Arte, 2006. p. 339-364; ANDRADE, Luciana. Os condomínios fechados e os novos empreendimentos de cultura e lazer em Nova Lima. In: COSTA, Heloisa et al. (Org.). Novas periferias metropolitanas, op. cit. p. 275-289. 41 ARAUJO, Aloizio Gonzaga de Andrade. Entrevista. Estância Serrana, 12 dez. 2013. Ver ainda LIBBY, Douglas. Entrevista, op. cit. Nos Estados Unidos, a expansão dos subúrbios foi diretamente ligada à mobilização em defesa do ambiente, como demonstra ROME, Adam. The bulldozer in the countryside. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 40 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 159-186, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 184 “Eu quero uma casa no campo”: a busca do verde em Belo Horizonte, 1966-1976 Regina Horta Duarte lher o sonho da casa no campo, atraídos por promessas de uma vida renovada, mergulhados nos paradoxos do desenvolvimento e dos dramas sociais, políticos e ambientais em curso no Brasil durante a ditadura civil-militar. A constatação da simultaneidade desses processos na capital de Minas Gerais tem possíveis paralelos com o que ocorreu em outras grandes metrópoles brasileiras, e também em outras cidades latino-americanas. Essa perda de qualidade aprofundar-se-ia gravemente nas décadas de 1980 e 1990, reforçada pela expansão de espaços segregados em detrimento de espaços de acesso público. O boom dos shopping centers é outro capítulo decisivo desse processo. Condomínios privados se tornam cada vez mais presentes não apenas no Brasil, mas também no Chile, Argentina, Peru, Costa Rica, Panamá e México, alterando o dinamismo dessas cidades latino-americanas. Tal expansão responde a demandas de isolamento social das elites e tem profundas implicações políticas. A vida nessas “ilhas” — verdadeiros universos autocentrados — esvazia espaços públicos, aprofunda o abandono das áreas centrais das urbes, desvaloriza práticas de cidadania e rejeita valores democráticos de liberdade e igualdade social. A zona sul de Belo Horizonte, onde surgiram seus primeiros condomínios, é hoje a maior área de concentração de empreendimentos imobiliários fechados, mas eles se expandem também sobre o vetor norte. A situação atual, por sua vez, evidencia como os dramas da vida nas grandes metrópoles de forma alguma se solucionaram com o refúgio em seus arredores. Problemas de poluição, devastação e insegurança atingem mais e mais o cotidiano de seus moradores: muros altos com dispositivos elétricos, seguranças armados, ameaça das atividades de mineração ou industriais do entorno, dificuldades em destinar o lixo produzido, perigos de contaminação das nascentes e córregos, engarrafamentos nas vias de acesso ao centro urbano, conflitos entre moradores que priorizam a preservação e outros interessados em modernizar os serviços do condomínio, ameaças de desmate pela fúria da especulação imobiliária. A expansão das periferias pobres no entorno dos condomínios trouxe para perto os “indesejáveis” que, paradoxalmente, são aqueles que ali trabalham como pedreiros, faxineiras, babás, jardineiros etc. Cresceu o nível econômico-social dos moradores: a especulação imobiliária elevou o preço dos terrenos e casas; equipamentos coletivos cada vez mais diversificados acarretam o aumento das tarifas mensais. Os problemas urbanos invadiram essas áreas de pretenso refúgio, e de suas janelas os moradores observam, a cada dia, mais e mais casas construídas em seu horizonte antes tão exclusivo. A busca do verde continua relevante, mas é cada vez menos satisfatória, numa região à beira de um colapso ambiental. Enfim, não existe refúgio possível: a cidade chegará. As soluções individuais e familiares evidenciam seus limites. A experiência comunitária de pretensas “vilas” de convívio entre iguais se desfez, evidenciando que a conquista da preservação ambiental e da qualidade de vida nas cidades é sobretudo uma questão política, com urgência de ações que contemplem todos os cidadãos e o território comum onde habitam. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 159-186, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 185 “Eu quero uma casa no campo”: a busca do verde em Belo Horizonte, 1966-1976 Regina Horta Duarte Sociedade, ambiente e política encontram-se inextricavelmente relacionados no passado, presente e futuro das cidades. Perspectivas que abarquem o conjunto desses aspectos efetivamente contribuirão para o inesgotável esforço de decifrar os mistérios das metrópoles, essas esfinges que parecem nos devorar a cada dia, ao mesmo tempo que nos fascinam, estimulando nossa criatividade, sonhos de superação e busca da felicidade. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 159-186, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 186 Roberto Farias e a lógica do duplo-pensar no caso da censura ao filme Pra frente, Brasil Wallace Andrioli Guedes* RESUMO A presente pesquisa busca discutir as relações entre censura e representação cinematográfica da ditadura civil-militar brasileira nos anos finais do regime, a partir do caso do filme Pra frente, Brasil, dirigido por Roberto Farias e lançado nos cinemas do país no início de 1983. Avalia-se até que ponto o modo representativo e o discurso político adotados por Farias são condicionados pelas pressões censórias existentes no período ou expressam meramente um posicionamento político do cineasta em questão. Palavras-chave: ditadura civil-militar brasileira; censura; cinema brasileiro; resistência; duplo-pensar. ABSTRACT This paper considers the relationship between censorship and cinematic representation of the Brazilian civil-military dictatorship in the regime’s final years. In order to do so, it examines the feature movie Pra frente, Brasil, directed by Roberto Farias and released to theatres around the country in early 1983. The strategy is to discuss whether Farias’ representational aesthetics, and political speech, were either determined by censorship pressures or just expressed the director’s own political point of view. Keywords: Brazilian civil-military dictatorship; censorship; Brazilian cinema; resistance; double-thinking. *** Artigo recebido em 3 de abril de 2013 e aceito para publicação em 3 de julho de 2013. * Doutorando em história social pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Niterói, RJ, Brasil. E-mail: [email protected]. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 187-208, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 187 Roberto Farias e a lógica do duplo-pensar no caso da censura ao filme Pra frente, Brasil Wallace Andrioli Guedes Introdução No presente artigo, busco discutir a representação dos chamados “anos de chumbo” da ditadura civil-militar brasileira pelo filme Pra frente, Brasil, dirigido por Roberto Farias e lançado nos cinemas do país em 1983, refletindo acerca da construção, a partir da obra de Farias, de um olhar cinematográfico hegemônico sobre o referido período, que se estenderia até os dias atuais. Também é preocupação deste trabalho pensar a noção de resistência cultural à ditadura a partir do cinema, problematizando posições que tendem à naturalização do uso de tal noção para qualquer produção artística daqueles anos minimamente politizada. Não se trata aqui de julgar peremptoriamente, determinando se um filme é ou não “de resistência”, mas de um esforço crítico em torno de um conceito tão disseminado de maneira tão irrefletida. Ao tomar Pra frente, Brasil como objeto de reflexão, faz-se mister analisar tanto a narrativa fílmica em si quanto as relações estabelecidas entre seu principal realizador, o diretor, produtor e roteirista Roberto Farias, e as instâncias de atuação governamental no setor cultural, especialmente a Embrafilme e a Divisão de Censura às Diversões Públicas (DCDP). Farias foi, por cinco anos (1974-1979), diretor-presidente da Embrafilme, tornando-se figura de proa na produção cinematográfica do país e mantendo relações diversas no interior do governo, o que justifica a necessidade de um olhar cuidadoso para a atuação do cineasta junto à estatal responsável pela produção e distribuição de grande parte dos filmes brasileiros do período; quanto à DCDP, Pra frente, Brasil passou por um longo processo dentro desse órgão até conseguir sua liberação para exibição comercial, nos primeiros meses de 1983. A análise do processo e da trajetória de Farias permite a este trabalho localizar Pra frente, Brasil entre a intervenção censória e o posicionamento político, ou seja, discutir até que ponto o discurso político presente no filme é moldado por concessões de Farias à censura ou por convicções suas, inclusive verbalizadas à imprensa quando do lançamento do filme. Trata-se, assim, de um trabalho de história política do cinema, centrado na política cultural do Estado brasileiro num determinado momento e nas formas de estruturação da censura às chamadas diversões públicas (o cinema entre elas), que afetaram a produção cinematográfica do país de então, bem como no debate, comum a diversos campos da sociedade brasileira, acerca da resistência à ditadura civil-militar que vigorou no país entre 1964 e 1985. Da mesma forma, este é um trabalho de história cultural, já que busca compreender as possibilidades de representação pelo cinema de um momento histórico a partir do caso emblemático do filme Pra frente, Brasil.1 História do cinema, história cultural da política, Entendo história cultural aqui como Roger Chartier em seu livro História cultural entre práticas e representações: “A história cultural, tal como a entendemos, tem por principal objeto identificar o modo como em diversos lugares e momentos uma determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler”. CHARTIER, Roger. História cultural entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990. p. 16-17. 1 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 187-208, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 188 Roberto Farias e a lógica do duplo-pensar no caso da censura ao filme Pra frente, Brasil Wallace Andrioli Guedes história política da cultura; é nessa encruzilhada que se localiza este estudo, desenvolvido como mais uma etapa da pesquisa de doutorado que realizo no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense (PPGH/UFF). Parece-me fundamental, ainda neste preâmbulo, deixar clara a abordagem sobre o cinema aqui proposta. Por um lado, não é possível analisar historicamente essa forma de arte desconsiderando elementos externos à narrativa fílmica ou, nas palavras de Marc Ferro, “as relações do filme com aquilo que não é filme: o autor, a produção, o público, a crítica, o regime de governo”.2 Por outro lado, é fundamental que a análise parta do próprio filme, compreendendo as especificidades da linguagem cinematográfica e de seu desenvolvimento na obra estudada. Recorro novamente a Ferro: Partir da imagem, das imagens. Não buscar nelas somente ilustração, confirmação ou o desmentido do outro saber que é o da tradição escrita. Considerar as imagens como tais, com o risco de apelar para outros saberes para melhor compreendê-las. (...) o filme, imagem ou não da realidade, documento ou ficção, intriga autêntica ou pura invenção, é História.3 Do filme para o universo que o cerca e, então, de volta ao filme. É esse o movimento a ser feito e que perpassará toda a minha pesquisa. Compreender a narrativa de Pra frente, Brasil, partir dela para o contexto político-institucional vivido pelo país no momento de sua produção: entender o funcionamento da censura ao cinema no período em questão e acompanhar todo o trâmite de liberação para exibição comercial do referido filme; buscar a repercussão desse processo na grande imprensa e os posicionamentos assumidos então pelo diretor Roberto Farias, justificando determinados caminhos narrativos e políticos escolhidos durante a realização de Pra frente, Brasil. Retorno, em seguida, ao filme, já acompanhado das informações colhidas nesse universo externo a ele. Surgem aqui as questões centrais do trabalho: o problema da representação cinematográfica da repressão política durante a ditadura civil-militar e o enquadramento naturalizado do filme de Farias como obra política de resistência ao regime. Busco discutir até que ponto as possíveis limitações político-representacionais encontradas em Pra frente, Brasil são resultado direto da presença ameaçadora da censura no horizonte cultural do período (e de sua intervenção efetiva sobre o filme), ou simplesmente sintomas de posicionamentos políticos assumidos pelo diretor Roberto Farias. O artigo tem como fontes o próprio filme Pra frente, Brasil; vasta bibliografia disponível sobre a relação entre história e cinema, história do cinema brasileiro, censura cinematográfica e ditadura civil-militar no Brasil, além de bibliografia específica sobre o conceito de resistência; os pareceres oficiais de proibição e liberação do filme de Farias pela censu2 3 FERRO, Marc. Cinema e história. São Paulo: Paz e Terra, 2010. p. 33. Ibid., p. 32. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 187-208, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 189 Roberto Farias e a lógica do duplo-pensar no caso da censura ao filme Pra frente, Brasil Wallace Andrioli Guedes ra, disponíveis no Arquivo Nacional e, em parte, no portal www.memoriacinebr.com.br; além de entrevistas do diretor e matérias veiculadas por órgãos de imprensa no período, também disponibilizadas por aquele portal. I Quando, a 31 de março de 1964, teve início o golpe de Estado que derrubaria o governo constitucional de João Goulart, o cinema brasileiro vivia um momento de esplendor criativo. O pagador de promessas recebera o prêmio máximo no Festival de Cannes de 1962, enquanto o Cinema Novo de fato se configurava como um movimento de redefinição da produção cinematográfica no país, com o lançamento de longas-metragens como Os cafajestes, Os fuzis (ambos dirigidos por Ruy Guerra), Vidas secas (de Nelson Pereira dos Santos), Barravento e Deus e o diabo na terra do sol (ambos de Glauber Rocha). A produção altamente politizada dos cinemanovistas sofreu os impactos do golpe de 1964. Mas aqueles cineastas, em sua maioria posicionados à esquerda no campo político, trataram logo de transformar as lições da derrota em filmes, dando origem às primeiras representações cinematográficas da ditadura. A O desafio (1965), de Paulo César Saraceni, é atribuído o pioneirismo nessa matéria, ao narrar a história de um jornalista de esquerda vivendo a ressaca do Golpe, enquanto se envolve com a esposa de um industrial que apoia os militares agora no poder. No entanto, a partir de Terra em transe (Glauber Rocha, 1967), o cinema político brasileiro4 claramente passou a optar por caminhos alegóricos para falar da realidade vivida pelo país naquele momento. Justificá-los somente pela vigência de um regime autoritário de direita, que perseguia violentamente seus opositores e detinha o poder sobre a liberdade de exibição dos filmes, tende a obscurecer certas opções estéticas feitas por cineastas como Glauber, Joaquim Pedro de Andrade (Macunaíma e Os inconfidentes) e Walter Lima Jr. (Brasil ano 2000). Mas o fato é que estas são obras que falaram da vida sob a ditadura de maneiras muito diversas daquelas usadas mais recentemente em inúmeras produções cinematográficas sobre o período. Na verdade, filmes como O que é isso, companheiro? (Bruno Barreto, 1997), Zuzu Angel (Sérgio Rezende, 2006) e Batismo de sangue (Helvécio Ratton, 2007), por exemplo, se aproximam muito mais das escolhas estéticas e narrativas de Pra frente, Brasil do que daquelas feitas pelos cinemanovistas. Teria Roberto Farias, portanto, inaugurado com seu filme um modo representacional da ditadura, estabelecido como parâmetro desde então? Trata-se de uma questão que será mais bem discutida no decorrer do texto. De qualquer forma, é importante lembrar que o contexto político-institucional no qual Pra frente, Brasil foi produzido é substancialmente diverso daquele em que foram lançadas as obras Para Peter Wollen, “um filme político é aquele que leva as pessoas a fazer perguntas, considerar questões, questionar pressupostos estabelecidos sobre o próprio cinema, seu papel enquanto uma indústria de entretenimento e um espetáculo com efeitos políticos”. WOLLEN, Peter. Cinema e política. In: XAVIER, Ismail (Org.). O cinema no século. Rio de Janeiro: Imago, 1996. p. 85. 4 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 187-208, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 190 Roberto Farias e a lógica do duplo-pensar no caso da censura ao filme Pra frente, Brasil Wallace Andrioli Guedes citadas, diferença que se constitui num possível elemento de ruptura nas formas de representação aqui discutidas. II É fundamental para os objetivos deste trabalho a compreensão do funcionamento da censura cinematográfica no Brasil durante a ditadura civil-militar. Carlos Fico identifica a censura como um dos pilares básicos da repressão em qualquer regime autoritário, ao lado da espionagem, da polícia política e da propaganda, e ressalta que, no caso brasileiro, seria um equívoco falar em estabelecimento da censura das diversões públicas pelos militares, já que ela jamais deixou de existir na história republicana do país.5 Nos anos iniciais do regime, o controle sobre a produção cultural se deu exclusivamente pelas determinações do Decreto no 20.493, de 1946, por meio da atuação do Serviço de Censura às Diversões Públicas (SCDP), vinculado à Polícia Federal. No entanto, com o endurecimento da ditadura, novas leis foram criadas, no intuito de melhor definir a atuação censória no país, sendo as principais delas a de no 5.536, de 21 de novembro de 1968, que, apesar de apresentar um viés liberalizante na criação do Conselho Superior de Censura, instância de recurso diretamente ligada ao ministro da Justiça (mas que só seria realmente implementada em 1979),6 já traz em suas determinações marcas do contexto político autoritário de então ao, por exemplo, condicionar a classificação indicativa de peças teatrais e a liberação de filmes à segurança nacional (art. 2o, inciso 1o e art. 3o, respectivamente); e o Decreto-Lei no 1.077, de 26 de janeiro de 1970, exemplar incisivo das noções morais e políticas que regiam a ditadura civil-militar brasileira que decretou, já em seu art. 1o, a não tolerância para com “publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes quaisquer que sejam os meios de comunicação” e culpou, ainda no preâmbulo, um suposto “plano subversivo internacional” pela publicação e exibição de licenciosidades e obscenidades nos meios de comunicação e no campo das diversões públicas. A divisão da atuação da censura em três momentos distintos, proposta por Marcos Napolitano, ajuda a compreender o funcionamento da repressão sobre a área cultural no período. Para o historiador, após certa desarticulação entre os anos de 1964 e 1967, a criação da já citada nova lei de censura, em 1968, o Decreto-Lei no 1.077, de 1970 (que, na interpretação da historiadora Beatriz Kushnir, também estabeleceu a censura prévia sobre materiais impressos),7 e a reestruturação do SCDP como Divisão de Censura às Diversões Públicas (DCDP) na primeira metade da década de 1970 seriam sintomas de uma organização do FICO, Carlos. Espionagem, polícia política, censura e propaganda: os pilares básicos da repressão. In: FERREIRA, Jorge; NEVES, Lucília de Almeida. O Brasil republicano, vol. 4: “O tempo da ditadura”. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 187. 6 KUSHNIR, Beatriz. Cães de guarda: jornalistas e censores, do AI-5 à Constituição de 1988. São Paulo: Boitempo, 2012. p. 102. 7 Ibid. 5 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 187-208, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 191 Roberto Farias e a lógica do duplo-pensar no caso da censura ao filme Pra frente, Brasil Wallace Andrioli Guedes controle sobre as diversões públicas como prática estratégica do Estado, com este se aparelhando burocrática e juridicamente para atuar como censor implacável das manifestações culturais. Na terceira fase, de 1979 a 1985, teria havido uma busca por controlar o processo de desagregação da ordem política vigente, estabelecendo limites de conteúdo e linguagem para a expressão artística.8 Pra frente, Brasil, portanto, se inseriria nesse último momento da censura cinematográfica na ditadura, descrito por Napolitano, marcado, ainda de acordo com o historiador, por uma retomada da ênfase no controle da moral e promoção dos bons costumes, concomitantemente à diminuição da censura sobre conteúdos estritamente políticos.9 Mas o longo processo enfrentado pelo filme de Roberto Farias até sua liberação para exibição nos cinemas aponta justamente para a existência de uma censura ainda fortemente preocupada com temáticas políticas. Beatriz Kushnir busca quebrar essa dicotomia entre censura moral e política ao estabelecer que, “sob a capa do ‘resguardo à moral e aos bons costumes’ ou defendendo questões de ‘interesse da nação’”, toda censura é política.10 De fato, moral e bons costumes e assuntos mais estritamente políticos andavam lado a lado nas preocupações censórias, afinadas com a Doutrina de Segurança Nacional que embasou o regime civil-militar no pós-1964,11 o que fica claro nas legislações que regulamentavam o setor desde a década de 1940. O veto a Pra frente, Brasil, num contexto de guinada conservadora no setor censório, durante a gestão de Ibrahim Abi-Ackel no Ministério da Justiça (1980-1985) — e de Solange Hernandes na DCDP —, talvez explicite essa forte conexão entre motivações aparentemente diversas para a censura. Como aponta Kushnir, falando especificamente da Lei no 5.536/1968, (...) o artigo 3o da 5.536/38, ao sentenciar que nenhuma manifestação poderia ser contrária às questões de política e segurança da nação, como também aos elementos de moral e bons costumes, expõe que a censura, nesse momento, era percebida sempre como um ato político, e não restrito apenas ao universo das diversões públicas. Tudo — do livro ao filme, do jornal à música, do teatro ao Carnaval — era objeto de censura: avaliação, aprovação ou proibição. Censurar, portanto, é um ato político em qualquer esfera ou instante de sua utilização. Com graus de ingerência maiores ou menores, esse ponto é fundamental para compreender os mecanismos estabelecidos no pós-AI-5.12 NAPOLITANO, Marcos. “Vencer Satã só com orações”: políticas culturais e cultura de oposição no Brasil dos anos 1970. In: ROLLEMBERG, Denise; QUADRAT, Samantha Viz (Org.). A construção social dos regimes autoritários: Brasil e América Latina. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. v. II, p. 151-153. 9 Ibid. 10 KUSHNIR, Beatriz. Cães de guarda, op. cit. p. 38. 11 BORGES, Nilson. A Doutrina de Segurança Nacional e os governos militares. In: FERREIRA, Jorge; NEVES, Lucília de Almeida. O Brasil republicano, op. cit. 12 KUSHNIR, Beatriz. Cães de guarda, op. cit. p. 105-106. 8 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 187-208, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 192 Roberto Farias e a lógica do duplo-pensar no caso da censura ao filme Pra frente, Brasil Wallace Andrioli Guedes III Pra frente, Brasil narra a história de Jofre (Reginaldo Faria), cidadão de classe média que, tido por terrorista, é sequestrado por um grupo de extrema-direita que passa a torturá-lo barbaramente enquanto sua família busca notícias de seu paradeiro. O pano de fundo é a Copa do Mundo de futebol de 1970, com a população embalada e envolvida pelas sucessivas vitórias da seleção — Roberto Farias apresenta, assim, um povo alienado e manipulado por seus governantes, muito mais preocupado com futebol do que com a situação política do país. Nesse sentido, o uso do título Pra frente, Brasil é sintomático, já que se refere tanto ao ufanismo das propagandas do regime militar naquele momento quanto à música-tema da seleção de futebol no campeonato de 1970.13 Por outro lado, a inserção de um letreiro no início de Pra frente, Brasil, por determinação do Conselho Superior de Censura,14 parece apontar para uma nova possibilidade de sentido atribuído ao título do filme. O letreiro diz: Este filme se passa durante o mês de junho de 1970, num dos momentos mais difíceis da vida brasileira. Nessa época, os índices de crescimento apontavam um desempenho extraordinário no setor econômico. No político, no entanto, o governo empenhava-se na luta contra o extremismo armado. De um lado, a subversão da extrema esquerda, de outro, a repressão clandestina. Sequestros, mortes, excessos. Momentos de dor e aflição. Hoje, uma página virada na história de um país que não pode perder a perspectiva do futuro. Pra frente, Brasil é um libelo contra a violência. (grifo meu) Pode-se pensar, portanto, numa narrativa que considera os fatos que apresenta como parte de um passado já superado, uma “página virada na história de um país que não pode perder a perspectiva do futuro”. Ou seja, o título Pra frente, Brasil passa a ser visto também como uma espécie de exortação à sociedade brasileira, para que supere os erros do passado e olhe para frente, siga seu caminho de grandeza e cordialidade. Logicamente, como os dizeres do letreiro não constavam no roteiro original de Pra frente, Brasil, provavelmente não estava nos planos de Roberto Farias realizar aquela exortação, ao menos não de forma tão explícita. No entanto, a inserção foi feita, mesmo que por determinação externa, e é parte constitutiva do filme, devendo, por isso, ser levada em consideração na análise de sua narrativa. Pra frente, Brasil é, na verdade, um filme perpassado por conflitos políticos dos quais o texto inicial imposto pela censura é apenas a manifestação mais clara. “Noventa milhões em ação/ Pra frente Brasil/ Do meu coração/ Todos juntos vamos/ Pra frente Brasil/ Salve a Seleção/ De repente é aquela corrente pra frente/ Parece que todo o Brasil deu a mão/ Todos ligados na mesma emoção/ Tudo é um só coração!/ Todos juntos vamos/ Pra frente Brasil, Brasil/ Salve a Seleção! ” 14 No processo censório de Pra frente, Brasil, disponível no Arquivo Nacional/DF, consta a liberação do filme para maiores de dezoito anos, sem cortes, em 15 de dezembro de 1982, condicionada à inserção do letreiro sugerido (Decisão no 147/82, DCDP/MJ, AN/DF). 13 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 187-208, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 193 Roberto Farias e a lógica do duplo-pensar no caso da censura ao filme Pra frente, Brasil Wallace Andrioli Guedes Trata-se de uma história de conscientização política, alicerçada sobre o arco dramático do personagem Miguel (Antônio Fagundes), irmão de Jofre, que passa de homem de classe média “apolítico”, como ele próprio gosta de dizer, a guerrilheiro capaz de sequestrar um empresário, seu patrão, financiador da tortura, e de matar os responsáveis pelo assassinato de seu irmão. Roberto Farias claramente constrói uma narrativa de identificação com esse personagem — ele é, em certo sentido, o “herói” de Pra frente, Brasil. Ou melhor: ele se torna o herói do filme ao se dar conta do que ocorre no país, do que foi feito de seu irmão e por quê, e, ao decidir reagir contra a realidade posta, tornando-se um quase guerrilheiro. Forma-se, portanto, uma contradição entre essa visão dos personagens proposta por Farias e os dizeres que abrem seu filme: não há em cena a equidade entre extremistas de esquerda e de direita, como deseja transparecer o letreiro da censura; enquanto a extrema-direita representa vilania e crueldade, os guerrilheiros são heroicizados, o que pode ser atestado ainda pela cena da morte do personagem Zé Roberto, que remete diretamente à icônica imagem de Che Guevara morto. Ao mesmo tempo, Roberto Farias busca gerar identificação do espectador com Jofre. Centra-se em sua figura o horror das lutas políticas travadas no Brasil de 1970, que poderiam, de acordo com o filme, lançar suas garras sobre qualquer um, mesmo os que se consideravam apolíticos e neutros. Como observa o historiador Cláudio Batalha, Farias aposta num artifício típico do cinema de Alfred Hitchcock, ao apresentar “um inocente confundido com outra pessoa ou tomado por culpado”, sensibilizando o espectador a partir da lógica de que “qualquer um poderia ser vítima do engano”.15 Há em Pra frente, Brasil uma sequência sintomática nesse sentido, na qual Jofre, sozinho em seu cativeiro, discursa para a câmera sobre a situação vivida por ele. A sequência tem início a 37 minutos e 32 segundos de filme: INT Cárcere. Jofre. O rosto massacrado de pancada. Nariz escorrendo sangue. Boca inchada, olhos roxos. Parece delirar. Jofre — Quem são vocês? Fala pausado, um brilho diferente nos olhos. Quem vocês pensam que são? Jofre está sentado na cadeira-do-dragão, cercado pelos homens, que o preparam para uma sessão de choques. Depois de um “telefone”, parece desmaiar. Dr. Barreto — Agora eu quero ver se você fala ou não fala. Voz de Mike — Dr. Barreto! Camilo! O jogo já começou. Dr. Barreto — Torce pro Brasil ganhar, rapaz. BATALHA, Cláudio M. Pra frente, Brasil: o retorno do cinema político. In: SOARES, Mariza de Carvalho; FERREIRA, Jorge. A história vai ao cinema. Rio de Janeiro: Record, 2001. p. 137. 15 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 187-208, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 194 Roberto Farias e a lógica do duplo-pensar no caso da censura ao filme Pra frente, Brasil Wallace Andrioli Guedes Os homens se alvoroçam. Ao fundo, ouve-se a voz do locutor transmitindo o jogo do Brasil. Vão todos embora, deixando Jofre sozinho. Ele começa a falar para si mesmo aquilo que se nega a dizer aos seus torturadores. Fala baixinho, pausado, buscando ouvir a própria voz, como para provar a si mesmo que não está enlouquecendo. A princípio, é visto de longe. Vai crescendo, até que se vê seu rosto de perto. Está chorando. Jofre — Com que direito? Com que direito, meu Deus? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu sempre fui neutro, apolítico, nunca fiz nada. Nunca fiz nada contra ninguém. Não sou dos que são contra. Eu sou um homem... comum. Eu trabalho, eu tenho emprego, documento. Tenho mulher, tenho filhos. Eu pago imposto. Ninguém tem o direito de fazer isso comigo. Logo comigo, porra. E os meus direitos? Uma coisa dessas... não se faz... com ninguém, porra. Com ninguém.16 “Nessa época, os índices de crescimento apontavam um desempenho extraordinário no setor econômico. No político, no entanto, o governo empenhava-se na luta contra o extremismo armado.” A princípio, essas palavras também entram em choque com alguns caminhos seguidos pelo filme de Farias, já que os policiais — agentes do poder público — que investigam o desaparecimento de Jofre o fazem com visível descaso, desconfiando da versão dos fatos apresentada por Miguel e Marta (Natália Lage), esposa do desaparecido, tratando-os, por vezes, com truculência. Mas é importante lembrar que esses são policiais estaduais, subordinados ao governo da Guanabara, e não à instância federal. Há inclusive um momento (a partir de 29 minutos e 22 segundos de filme) em que um dos agentes responsáveis pelo caso faz referência à Polícia Federal, cujos profissionais seriam muito competentes: EXT Rua. Miguel e Moreira caminhando. Moreira passa a língua nos dentes, como que limpando o resto de sanduíche. Miguel está sério. Não fala nada. Moreira olha-o e fala, procurando as palavras. Moreira — Seu Miguel, o senhor vai gastar seu dinheiro à toa. Vou lhe dar um conselho. Miguel para, esperando o que Moreira tem para dizer. Moreira — Sai dessa... Miguel — Ele está bestificado. Moreira — É!... sai dessa. Cuida da sua vida. Deixa esse trabalho com a gente... Miguel — Mas como? Meu irmão desapareceu. Ninguém sabe dele. Nem a polícia sabe onde ele está! Você não acha que eu posso ficar parado? Moreira — Para lhe dizer a verdade, eu não sei nem se esse caso vai ficar por conta da polícia do Rio. Daqui a pouco a gente recebe uma ordem para deixar as investigações por conta da Polícia Federal. Miguel para. Fica olhando Moreira. 16 FARIAS, Roberto. Pra frente, Brasil. Rio de Janeiro: Alhambra, 1983. p. 31. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 187-208, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 195 Roberto Farias e a lógica do duplo-pensar no caso da censura ao filme Pra frente, Brasil Wallace Andrioli Guedes Moreira — É!... e não se preocupe que eles são muito eficientes. Fica na sua, hein! Moreira dá uma palmadinha no ombro de Miguel e se afasta. Miguel, parado, olhando, pensando, enquanto Moreira se afasta.17 Por outro lado, há pouco depois uma sequência na qual Miguel é interrogado por um delegado do Departamento de Ordem Política e Social (Dops), em que aparecem referências diretas à perseguição pelos agentes públicos aos comunistas e insinuações de envolvimento da polícia na tortura. A sequência tem início a 44 minutos e 50 segundos de filme: INT DOPS. Noite. Algemas sendo abertas. Miguel sentado diante do policial que acabou de soltá-lo. O policial caminha e seus sapatos fazem um ruído forte no assoalho antigo. Policial — Questão de hábito, Senhor Miguel. Desde os tempos do Getúlio que eles têm essa mania. Desde os tempos da P.E. que eles tratam as pessoas assim. Miguel. Policial — Uns, são muito grossos, outros mais educados... Mas o senhor ainda não viu nada. [grifo meu] Policial caminha de um lado para o outro. É cortês. Coloca-se atrás de Miguel. Policial — Senhor Miguel. O senhor sabe que o país está atravessando uma fase difícil... Miguel — Dá para notar... Policial — Por favor, não interprete mal a minha gentileza... O policial caminha até uma sacada de altas portas azuis e pergunta: Policial — Quem lhe disse que os jornais estão sob censura? A pergunta fica no ar. O policial faz outra, aproximando-se. Policial — O senhor tem acesso às notícias que os jornais não publicam? A câmera vai-se movimentando em torno de Miguel. Miguel — O senhor já leu as receitas de bolo do Estado de São Paulo? Policial — O senhor tem algum amigo jornalista? Miguel — Amigo, amigo, não. O policial colocou-se atrás de Miguel, ao fundo. Policial — Conhecidos? De que jornal? Miguel — O Globo, Jornal do Brasil... O policial volta-se, com certa ironia. Policial — Repórteres? Colunistas? Miguel. Ainda de costas. Miguel — Classificados. Um ou outro repórter fazia de vez em quando uma entrevista sobre nossos trabalhos. 17 Ibid., p. 24-25. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 187-208, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 196 Roberto Farias e a lógica do duplo-pensar no caso da censura ao filme Pra frente, Brasil Wallace Andrioli Guedes Policial volta a caminhar. Policial — Que tipo de trabalho? Miguel — Máquinas, motores... a firma que eu trabalhava abre estradas no país inteiro... Policial conclui, insinuante? Policial — Estradas... trabalham com explosivos? Voz de Miguel — Também. Policial — E o senhor, viaja muito? Ele acabou de dar uma volta quase completa em torno de Miguel, no amplo espaço da sala. Miguel. Policial do fundo. Miguel suspira. Procura manter uma calma que lhe é difícil. Miguel — Bastante. Mas o que é que o senhor está querendo dizer? A pergunta sai de chofre. Policial — O que o senhor sabe sobre... luta armada? Espanto de Miguel. Miguel — Luta armada? Eu? Nada! Policial — Qual é a organização terrorista que o senhor conhece? Miguel — Que loucura é essa? Que é que eu tenho a ver com terrorista? Policial — Há dias o senhor afirmava que estão preparando luta armada no país! O policial cruza a frente de Miguel, afastando-se dele. Miguel — Eu? Policial — Sim! E que a polícia não deixa publicar as notícias! Miguel — Quando? Onde? Policial muda de assunto. Policial — O senhor tem muitos amigos? Miguel respira. Miguel — Não. Pensei que tivesse mais. Policial — Onde está o seu irmão? Miguel está cabisbaixo. Levanta a cabeça. Encara o policial. Miguel — Desapareceu. Por quê? O senhor sabe onde ele está? Policial — Seu irmão... conhece muita gente? Miguel — As mesmas pessoas que eu. Trabalhava junto comigo. Policial — Alguma vez o seu irmão demonstrou interesse por ideologias exóticas? Como o senhor definiria o seu irmão politicamente? Miguel — Apolítico, como eu... (Miguel completa): Como o senhor... Policial — O senhor é muito engraçadinho. Policial pensa antes de continuar. Aproxima-se de Miguel para falar, ameaçador. Policial — Quero lhe prevenir que não estamos brincando. Miguel — O senhor já me preveniu. Policial — Tome cuidado com suas palavras. Se o senhor não sabe, quero dizer que estamos Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 187-208, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 197 Roberto Farias e a lógica do duplo-pensar no caso da censura ao filme Pra frente, Brasil Wallace Andrioli Guedes em guerra. E que nossos inimigos falam português, não têm sotaque, não são de outra raça, são como nós. Daqui mesmo. Brasileiros, mas traidores. O policial afasta-se. Vai até a porta, abre-a. Policial — O senhor está livre. Miguel levanta-se sem dizer uma palavra. Policial — O senhor não pode sair da cidade. Se tiver notícias do seu irmão, avise. De agora em diante, nós também estamos procurando por ele. Miguel engole em seco. Miguel afasta-se, passa por uma enorme porta de ferro e vidro e vai embora, enquanto a voz do locutor dá informações sobre o que acontece no país.18 Ainda assim, pode-se argumentar que as Forças Armadas passam incólumes à crítica de Farias. Essa pouca disposição do diretor para criticar diretamente o regime fica mais visível na única sequência de Pra frente, Brasil em que um militar aparece. Trata-se de um general, tio do personagem Rubens (colega de trabalho de Jofre e Miguel), que vai até a casa do sobrinho após este ser sequestrado pelo mesmo grupo de extrema direita que sequestrara Jofre. Em conversa com Olga, esposa de Rubens, e Marta, o militar expõe seu horror diante do ocorrido. Segue a descrição da referida sequência, que tem início a 1 hora, 8 minutos e 30 segundos de filme: INT Apartamento Rubens. Um senhor de aproximadamente sessenta anos caminha pelo apartamento. A câmera recua. Tudo revirado. Olga chorando, acompanha-o. Está protegida por ele. Tio — Que absurdo! Que absurdo, meu Deus! Onde é que isso vai parar? A campainha toca. A sogra atende. Entra Marta. Marta — Cadê a Olga? Marta caminha até Olga. Abraçam-se. Marta, assustada — Que que foi? O que aconteceu? Tio se aproxima das duas. Tio — Vem cá, minha filha. O Rubens... que é que tem feito? Você... vê alguma razão para isso? Olga — Não, tio. Nenhuma. Olham-se, Olga e Marta. O tio percebe. Tio — Que foi? Olga — O Jofre, o marido da Marta. Desapareceu ninguém sabe como. Marta recebe toda a carga do olhar desconfiado do tio de Rubens. Embaraça-se. Sente-se mal. 18 Ibid., p. 36-39. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 187-208, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 198 Roberto Farias e a lógica do duplo-pensar no caso da censura ao filme Pra frente, Brasil Wallace Andrioli Guedes Marta — Desculpe, Olga, eu tenho um compromisso agora. Te ligo mais tarde. Marta sai apressadamente sob o olhar do tio. Marta acaba de sair. Fecha a porta. O tio volta-se para Olga. Está muito desconfiado. Tio — O marido dela... você conhece bem? Por que o Rubens não me avisou? Você tem confiança nele? Ele não poderia ser um subversivo, por exemplo? Olga já adivinhara o que ia dizer ao general. Abraça-o. Olga — Oh! Tio! Não! Pelo amor de Deus! Rubens não queria se comprometer. Mas o Jofre é um débil mental igualzinho a ele.19 Ou seja, o único militar presente em Pra frente, Brasil é um general que considera a tortura e as prisões clandestinas um absurdo, como ressaltou o cineasta Ruy Guerra, quando entrevistado por Alex Viany, em 1984.20 Diante disso, fica a questão: qual seria o motivo para Farias evitar críticas diretas ao regime militar, transformando os atos dos vilões de seus filmes em iniciativas desvinculadas do poder institucionalizado? Uma primeira resposta aponta para os limites impostos pelo contexto de produção e lançamento do filme. De fato, Pra frente, Brasil passou por um longo e desgastante processo até ser liberado para os cinemas. Convidado a ser exibido no Festival de cinema de Cannes e já premiado no Festival de Gramado de 1982, o filme encontrou obstáculos na DCDP para sua liberação, tendo ficado célebre a postura intransigente de Solange Hernandes, então diretora do órgão, que, mesmo após pareceres favoráveis à obra, determinando que sua exibição ficasse restrita a maiores de dezoito anos, vetou-a, ao que parece, por conta própria. Hernandes nomeou uma nova equipe de censores que também deu sinal verde ao lançamento do filme nos cinemas, ao que a diretora da DCDP respondeu com novo veto. Com o recurso de Roberto Farias ao Conselho Superior de Censura, vieram à tona, por meio de Pompeu de Souza (representante da Associação Brasileira de Imprensa no CSC), informações de que Hernandes havia suprimido do processo pareceres favoráveis ao filme, história que a própria confirmou, justificando que a comissão de censores, que funcionava em segunda instância e que produzira aqueles pareceres, já havia sido desativada, com tais documentos sendo incorporados ao processo simplesmente por uma falha de comunicação interna.21 Comumente atribui-se à diretora da DCDP a centralidade neste caso, como se a decisão de proibir a exibição de Pra frente, Brasil partisse de sua má vontade pessoal com o filme de Ibid., p. 54-55. VIANY, Alex. O processo do Cinema Novo. Organização de José Carlos Avellar. Rio de Janeiro: Aeroplano, 1999. p. 388. Na opinião de Guerra, Pra frente, Brasil! é um filme “completamente falho sob o ponto de vista de análise política. É um ponto de vista burguês, falso, dizer que a tortura não é institucionalizada. O único general que aparece tem boas intenções”. 21 DIRETORA da Censura confessa desvio de pareceres. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 28 ago. 1982. Disponível no portal Memória do Cinema Brasileiro: <www.memoriacinebr.com.br>. 19 20 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 187-208, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 199 Roberto Farias e a lógica do duplo-pensar no caso da censura ao filme Pra frente, Brasil Wallace Andrioli Guedes Farias, visão até justificável quando se levam em conta os repetidos pareceres favoráveis ao longa-metragem emitidos pelos censores e omitidos por ela. No entanto, não se pode perder de vista que Hernandes atuava sob as ordens do ministro da Justiça, estando, naquele momento, afinada com a guinada conservadora no setor censório promovida pela gestão de Abi-Ackel. De qualquer forma, o vazamento dessa informação enfraqueceu Solange Hernandes, contribuindo, de acordo com Inimá Simões, para a liberação de Pra frente, Brasil. Mas não sem um alto custo a ser pago: a exoneração do diplomata Celso Amorim da direção-presidência da Embrafilme, empresa estatal coprodutora do filme de Farias — Hernandes continuaria no comando da DCDP até 1984.22 O próprio Roberto Farias, em entrevista de 16 de fevereiro de 1983 à revista Veja, abraçou o discurso da permanência da censura e do regime autoritário como entraves para a realização de um filme mais ousado em suas críticas: Veja: Você esperava que a liberação de Pra frente, Brasil demorasse tanto? Farias: Não fiz um filme para ser interditado. Se partisse do princípio de que seria interditado, nem teria feito Pra frente, Brasil. Fiz com a certeza de que seria exibido, acreditando viver num país onde é possível falar do tema de que o filme trata: a repressão clandestina que existiu no Brasil num passado recente. (grifo meu) Veja: Você não foi muito otimista ao decidir filmar assunto tão delicado? Farias: Não. Meu filme é contido, reprimido. Sei dos limites. (...) Veja: O que seria um filme mais contundente que Pra frente, Brasil? Farias: Se eu tivesse feito um filme onde a repressão não fosse absolutamente clandestina, ele seria bem mais problemático. Mesmo que me baseasse em fatos e pessoas reais, conhecidos e divulgados pelos jornais, colocando nomes e vestindo a roupa certa em cada um, a amolação seria bem maior do que a que estava disposto a enfrentar. Não faria isso. Não tenho vocação para exilado.23 No entanto, cabe pensar se esta justificativa é suficiente para determinar os caminhos políticos seguidos pela narrativa de Pra frente, Brasil. Seria o agente externo ao filme (contexto político, censura institucionalizada) o único responsável por sua crítica contida ao regime vigente? Por mais que seja fundamental levar em consideração nesta pesquisa a presença ameaçadora da censura no horizonte dos cineastas do período, acredito que a análise de Pra frente, Brasil pede um pouco mais de refinamento, uma investigação que também SIMÕES, Inimá. Roteiro da intolerância: a censura cinematográfica no Brasil. São Paulo: Senac, 1999. p. 238-240. 23 VEJA. O cinema da coragem. 16 fev. 1983. Disponível no portal Memória do Cinema Brasileiro: <www. memoriacinebr.com.br>. 22 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 187-208, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 200 Roberto Farias e a lógica do duplo-pensar no caso da censura ao filme Pra frente, Brasil Wallace Andrioli Guedes dê importância a elementos como a trajetória profissional de Roberto Farias e determinados posicionamentos políticos assumidos publicamente por ele quando do lançamento do filme nos cinemas do país. A carreira de cineasta de Farias tem origem nas chanchadas produzidas pelo estúdio carioca Atlântida. Lá, dirigiu Rico ri à toa (1957), No mundo da lua (1958) e Um candango na Belacap (1961). No início da década de 1960, investiu no gênero policial, em filmes como Cidade ameaçada (1960) e Assalto ao Trem Pagador (1962), grande sucesso de bilheteria no período. Apesar de nunca ter sido um cinemanovista tout court, Farias flertou com um cinema mais social em obras como as duas citadas anteriormente e Selva trágica, de 1963. Mas logo retornou ao comando de produções com apelo comercial, como a comédia Toda donzela tem um pai que é uma fera (1966) e a trilogia de filmes protagonizada pelo cantor Roberto Carlos, Roberto Carlos em ritmo de aventura (1968), Roberto Carlos e o diamante cor-de-rosa (1968) e Roberto Carlos a 300 quilômetros por hora (1971).24 Em 1974, primeiro ano do governo do general Ernesto Geisel, Farias assumiu a direção-presidência da Embrafilme. De acordo com Wolney Malafaia, a política cultural do governo Geisel foi marcada por uma aproximação entre Estado autoritário e intelectuais de esquerda (cinemanovistas entre eles), em total consonância com o projeto de distensão lenta, gradual e segura colocado em prática no período. Para o historiador, Esse encontro tem como motivação a necessidade desse mesmo Estado de se legitimar perante setores até então arredios às suas propostas políticas e culturais, de forma a solidificar seu projeto mais amplo de democratização. Por outro lado, a constante luta contra o domínio do mercado cinematográfico brasileiro pelo produto estrangeiro, somada ao esgotamento das experiências de renovação estética e à necessidade de maiores recursos para fazer frente ao aprimoramento técnico então em curso, fazem com que esses intelectuais aceitem o diálogo e colaborem com a elaboração de uma política cultural para o setor, passando a defender a intervenção do aparelho estatal na produção cinematográfica como a única alternativa possível.25 Assim, aponta Marcos Napolitano, “o Estado de direita e os intelectuais de esquerda puderam compartilhar certos valores simbólicos que convergiam para a defesa da nação, ainda que sob signos ideológicos trocados”.26 E a gestão de Roberto Farias à frente da Embrafilme foi emblemática nesse sentido. Luís Alberto Rocha Melo, em dossiê sobre o cineasta produzido para a revista Filme Cultura, destaca que a atuação de Farias, como diretor-presidente da estatal cinematográfica, se caracterizou pela MELO, Luís Alberto Rocha. Roberto Farias: cineasta. Filme Cultura, n. 52, p. 81-85, out. 2010. MALAFAIA, Wolney Vianna. O cinema e o Estado na terra do sol: a construção de uma política cultural de cinema em tempos de autoritarismo. In: CAPELATO, Maria Helena et al. História e cinema: dimensões históricas do audiovisual. 2. ed. São Paulo: Alameda, 2011. p. 333. 26 NAPOLITANO, Marcos. “Vencer Satã só com orações”, op. cit. p. 154. 24 25 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 187-208, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 201 Roberto Farias e a lógica do duplo-pensar no caso da censura ao filme Pra frente, Brasil Wallace Andrioli Guedes defesa de um cinema de prestígio cultural, pelo ataque a uma determinada produção desvinculada do Estado, como no caso das comédias eróticas e pornochanchadas produzidas em São Paulo; por um discurso de conciliação com a classe cinematográfica; pela promoção no exterior do cinema brasileiro — notadamente dos títulos produzidos pelo Cinema Novo; e, sobretudo, por uma postura firme frente à ocupação pelo filme estrangeiro do mercado de salas de exibição.27 Sua gestão é costumeiramente lembrada como a “era de ouro” da Embrafilme. A reestruturação da empresa promovida pelo governo, que a transformou de um mero braço do Instituto Nacional de Cinema (INC) em coprodutora e distribuidora, contribuiu para uma maior intervenção estatal no mercado cinematográfico, ampliando consideravelmente as parcelas de participação dos filmes brasileiros. Não à toa, alguns dos maiores sucessos do cinema brasileiro no período levam a marca da Embrafilme. Para Malafaia, a associação entre Estado autoritário e cineastas vinculados ao Cinema Novo gerou uma “época de sucesso para a produção cinematográfica nacional”, com “aumento do número de longas-metragens produzidos” e “uma variedade temática e uma ocupação de mercado nunca vistas anteriormente”.28 Farias, protagonista desse processo de crescimento do cinema brasileiro, deixou a direção da Embrafilme em 1979 (último ano do governo Geisel), sendo substituído por Celso Amorim. Pouco tempo depois, daria início à produção de seu novo longa-metragem, Pra frente, Brasil, inspirado no argumento Sala escura, escrito por seu irmão Reginaldo Faria e por Paulo Mendonça — o cineasta não dirigia um longa-metragem desde o documentário O fabuloso Fittipaldi, de 1973 (que teve Hector Babenco como codiretor). É interessante observar que, quando do início da controvérsia com a censura criada por Pra frente, Brasil, Roberto Farias fez questão de lembrar, em declarações à imprensa, do seu período de atuação como diretor da Embrafilme, ou seja, como funcionário do governo Geisel. De acordo com matéria publicada na edição de 8 de abril de 1982 de O Estado de S. Paulo, Afirmando que trabalhou junto ao governo por quase cinco anos, durante o governo Geisel, quando dirigiu a Embrafilme, o cineasta também disse ter certeza de que fez o possível para exercer com dignidade suas funções e lembrou que suas atividades profissionais e particulares são amplamente conhecidas por todos. “Não há aspecto de minha vida que não seja público. Meu filme, assim como eu, não é radical e não tem qualquer ligação com grupos revanchistas. É um filme sério que tem como objetivo principal o combate à violência.”29 MELO, Luís Alberto Rocha. Roberto Farias: cineasta, op. cit. MALAFAIA, Wolney Vianna. O cinema e o Estado na terra do sol, op. cit. p. 335. 29 ROBERTO Farias: “Meu filme não é extremista”. O Estado de S. Paulo, 8 abr. 1982. (grifo meu) Disponível no portal Memória do Cinema Brasileiro: <www.memoriacinebr.com.br>. 27 28 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 187-208, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 202 Roberto Farias e a lógica do duplo-pensar no caso da censura ao filme Pra frente, Brasil Wallace Andrioli Guedes Farias busca, claramente, definir seu filme como politicamente moderado, sem a intenção de realizar uma crítica contundente, “extremista”, ao regime militar. “Sou um homem íntegro e por mais que tentem me transformar num extremista não vão conseguir”, afirmou o cineasta em outro trecho da matéria. Postura semelhante, aliás, àquela assumida por ele na já citada entrevista à revista Veja, no ano seguinte. Curiosamente, nessa mesma entrevista veio à tona a discussão sobre a cena de Pra frente, Brasil em que aparece um militar fardado, com o questionamento sobre a intenção do diretor ao incluir tal momento em seu filme. O entrevistador, Paulo Moreira Leite, perguntou se isso seria para facilitar a liberação, ao que Farias respondeu: Não fiz isso para ser simpático. Estava querendo demonstrar que, num instante da história brasileira, mesmo aqueles que eram contra a tortura não tinham muito o que fazer, a não ser aderir a uma resistência que iria frutificar depois. Não posso negar, por exemplo, que naquela época havia diferença, havia um setor comprometido com a democracia. Não poderia culpar o governo por atos pessoais.30 Ora, parece perceptível nessa fala do cineasta uma clara intenção de eximir o governo militar, mesmo durante a presidência do general Emílio Garrastazu Médici (período retratado em Pra frente, Brasil), da violência cometida contra seus opositores políticos. A moderação presente no discurso de Farias confirma a, até então suposta, moderação de seu filme. Nesse sentido, talvez mais do que reflexo da presença ameaçadora de uma censura institucionalizada, a tal cena do general em Pra frente, Brasil seja a assunção de um posicionamento político por parte de seu diretor/roteirista/produtor. Posicionamento que perpassa não só a narrativa do filme, mas a própria trajetória de Roberto Farias como cineasta (de filmes, em sua maioria, puramente comerciais) e diretor-geral da Embrafilme. Um exemplo: Tunico Amancio, em sua análise das políticas implementadas pela referida empresa entre os anos de 1977 e 1981, destaca a atuação de Farias no sentido de fazer restrições à realização de filmes que atentem contra as ideias do próprio governo,31 evidente demonstração da postura conciliadora do cineasta. No entanto, é preciso deixar claro que não é objetivo deste trabalho acusar Roberto Farias de qualquer coisa. Pressionado ou não pela censura, o posicionamento político assumido pelo cineasta é legítimo historicamente, porque coerente com a sociedade em que foi gestado. Busco me afastar, portanto, de qualquer noção dicotômica de análise do Brasil sob os militares, aproximando-me, assim, dos estudos mais recentes produzidos pela historiografia sobre o período.32 VEJA. O cinema da coragem, op. cit. (grifo meu) AMANCIO, Tunico. Artes e manhas da Embrafilme. Cinema estatal brasileiro em sua época de ouro (19771981). Niterói: EdUFF, 2000. p. 44. 32 A recente coletânea A construção social dos regimes autoritários (op. cit.) é, talvez, o exemplo máximo dessa “nova historiografia”. 30 31 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 187-208, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 203 Roberto Farias e a lógica do duplo-pensar no caso da censura ao filme Pra frente, Brasil Wallace Andrioli Guedes Referindo-se especificamente à política cultural dos governos de Geisel e Figueiredo, Marcos Napolitano argumenta que a compreensão crítica das lutas culturais do período não deve ficar refém da dicotomia entre “resistência” e “cooptação”, pois revela um processo mais complexo e contraditório, no qual uma parte significativa da cultura de oposição foi assimilada pelo mercado e apoiada pela política cultural do regime.33 Como localizar Pra frente, Brasil e seu diretor nessa tensão entre resistência e colaboração? Conforme apontado anteriormente, o filme se inseriu num momento de vasta produção artística sobre os anos mais duros da ditadura, sendo talvez o exemplar cinematográfico mais emblemático desta produção cultural, e, levando-se em conta o longo processo que enfrentou até ser liberado pela censura, talvez fosse possível pensá-lo como uma peça de resistência ao arbítrio do regime vigente. Mas o que significa resistir? O historiador francês François Marcot apresenta, a partir de reflexão de Pierre Laborie, três critérios que contribuem com os esforços de definição do conceito de resistência: a vontade objetiva de atingir um inimigo claramente identificado; a consciência da resistência, no sentido de recusar, de maneira intransigente e com conhecimento dos riscos que se corre e do sentido daquela luta, uma determinada realidade arbitrária; e a prática de atos de transgressão.34 Seguindo esses critérios, seria Roberto Farias, ao realizar Pra frente, Brasil, um resistente? De fato, ao tematizar a violência política no Brasil do início da década de 1970, o cineasta transgrediu uma certa norma oculta que interditava a exploração de certos assuntos naquele momento de abertura política, o que talvez explique seus esforços em caracterizar seu filme como uma “peça da abertura”, “resultado direto da liberdade de expressão que ela nos dá hoje”.35 No entanto, e como essa própria tentativa de Farias de investir numa imagem moderada para sua obra ressalta, não havia por parte do cineasta uma “vontade objetiva de atingir um inimigo claramente identificado”, pelo contrário: o suposto inimigo, a ditadura civil-militar, não era encarada como tal por Farias. Pra frente, Brasil, nas palavras de seu realizador, era apenas um filme, que não integrava nenhum “movimento subterrâneo de desestabilização do governo”.36 NAPOLITANO, Marcos. “Vencer Satã só com orações”, op. cit. p. 147. MARCOT, François. Résistance et autres comportements des français sous l’Occupation. In: MARCOT, François; MUSIEDLAK, Didier. Les résistances: miroirs des régimes d’oppression. Alemagne, France, Italie. Paris: Presses Universitaires de Franche-Comté, 2006. p. 47-48. 35 “PRA frente, Brasil”, um teste para a censura. Folha de S.Paulo, 28 mar. 1982. Disponível no portal Memória do Cinema Brasileiro: <www.memoriacinebr.com.br>. 36 Como o próprio afirmou à revista Veja: “O grande problema é que tive de reduzir Pra frente, Brasil! ao que ele era mesmo: um filme. Na época da interdição, chegaram a acusá-lo de integrar um ‘movimento subterrâneo’ de desestabilização do governo. Nunca pretendi isso, nem conheço qualquer filme que fosse capaz de derrubar um regime. Nunca pertenci a nenhum grupo ou partido político e tive de provar que sou uma única 33 34 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 187-208, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 204 Roberto Farias e a lógica do duplo-pensar no caso da censura ao filme Pra frente, Brasil Wallace Andrioli Guedes Então seria Roberto Farias um colaborador do regime? François Marcot, buscando problematizar o uso indiscriminado do termo resistência, chama atenção para a necessidade de também se sofisticar a noção de colaboração. Referindo-se ao caso específico da França sob ocupação alemã durante a Segunda Guerra Mundial, Marcot define colaboração como: “(...) o engajamento voluntário daqueles que escolheram o lado do ocupante (e de seus colaboradores) e que facilitam seus objetivos de guerra. Eles podem fazê-lo por diferentes razões: ideologia, aposta na vitória alemã ou interesse pessoal”.37 O autor enfatiza a vinculação de um comportamento colaboracionista com a intenção de efetivar esse comportamento, questionando se seria adequado qualificar de colaboração um ato que não parte de uma intenção deliberada, mas de uma situação de constrangimento consequente da ocupação de uma determinada posição.38 Nesse sentido, talvez o caso de Roberto Farias esteja próximo de se enquadrar na noção, desenvolvida por Marcot, de adaptação constrangida: alguém que aceita se comprometer com o ocupante, no limite subjetivo (e objetivo) de sua simples sobrevivência.39 É claro que o caso aqui analisado não se refere a uma ocupação estrangeira como a ocorrida na França na década de 1940 e que a aproximação entre intelectuais/artistas e Estado autoritário no Brasil esteve longe de ser o resultado de uma ameaça às vidas dos primeiros. No entanto, ao aceitar a direção-presidência da Embrafilme e ao exercê-la por cinco anos em sintonia tanto com o projeto cultural do regime quanto com os interesses de parte dos cineastas brasileiros, Farias, que em matéria de março de 1982 na Folha de S.Paulo se disse identificado com a esquerda, teve em mente também o desenvolvimento de sua carreira profissional. E foi em defesa dessa carreira que ele saiu quando teve seu filme ameaçado pela censura, associado a um possível ataque ao governo. Roberto Farias, figura ambivalente,40 ao mesmo tempo principal gestor de um órgão diretamente vinculado ao regime militar e promotor dos interesses de um grupo anteriormente perseguido por esse mesmo regime; como diretor de cinema, crítico veemente da tortura praticada durante a ditadura, mas também verdadeiramente crente na seriedade do governo que o empregou durante cinco anos. Homem do seu tempo, enfim, que, como tantos outros, atuou sob o autoritarismo segundo uma lógica do duplo-pensar, conforme definida por Pierre Laborie: Muito longe dos comportamentos heroicos e das rejeições declaradas, o duplo-pensar aparece como uma forma de resposta social a alternativas consideradas insuperáveis, uma resposta pessoa e que realizara um filme”. VEJA. O cinema da coragem, op. cit. 37 MARCOT, François. Résistance et autres comportements des français sous l’Occupation, op. cit. p. 51. 38 Ibid., p. 52. 39 Ibid. 40 Sobre a validade da noção de ambivalência para os estudos históricos sobre regimes autoritários, ver LABORIE, Pierre. 1940-1944. Os franceses do pensar-duplo. In: ROLLEMBERG, Denise; QUADRAT, Samantha Viz. A construção social dos regimes autoritários, op. cit. p. 33-44. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 187-208, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 205 Roberto Farias e a lógica do duplo-pensar no caso da censura ao filme Pra frente, Brasil Wallace Andrioli Guedes datada que deve ser vista como tal, como tentativa patética de ajustamento entre o desejo e o possível.41 Em suas declarações à revista Veja, o cineasta realmente parece se colocar “entre o desejo e o possível”, na terminologia de Laborie, especialmente quando ressalta que poderia, se quisesse, colocar os nomes e vestir a roupa certa em cada um, mas que sabia de seus limites de atuação diante do regime instaurado no poder e da presença da censura. No entanto, como este artigo procurou demonstrar, há fortes indícios de que o discurso construído pela narrativa de Pra frente, Brasil não foi só resultado da presença cerceadora da censura, mas de posicionamentos políticos assumidos publicamente pelo próprio Farias e coerentes com sua trajetória como cineasta e gestor público. Conclusão Busquei, neste breve artigo, propor algumas reflexões sobre a representação da ditadura civil-militar brasileira presente em Pra frente, Brasil, de Roberto Farias, a partir da análise de um trecho específico do filme, de pareceres da censura e de entrevistas realizadas pela grande imprensa com o referido cineasta, nos anos de 1982 e 1983, problematizando a classificação irrefletida do cineasta e de sua obra como peças de resistência cultural àquele regime. Em seu trabalho sobre a atuação da censura durante a ditadura civil-militar, Beatriz Kushnir ressalta que as reflexões nesse campo “têm-se debruçado mais fortemente sobre a resistência, sobre o burlar o ‘não dizer’”.42 Foi objetivo deste artigo investigar um caso de censura cinematográfica em que o “burlar o ‘não dizer’” aparece, porém como marca de uma postura ambivalente, em que também está presente a articulação narrativa de um posicionamento político que, em muito, se afinava com o pensamento governamental. Busquei mostrar que as escolhas narrativas de Roberto Farias em Pra frente, Brasil, que numa análise apressada poderiam ser tomadas como artimanhas para driblar o interdito, são também escolhas políticas, coerentes com posições assumidas publicamente pelo cineasta. Talvez Farias tenha, portanto, dito quase tudo o que queria dizer com seu filme. Pra frente, Brasil se enquadra no que Robert Stam e Randal Johnson chamaram de “naturalismo da Abertura”: é uma obra claramente voltada para o entretenimento, com trama repleta de ação e um leve toque de politização.43 Suas escolhas estéticas e artifícios narrativos (walk-and-talk, dinamização dos diálogos pela montagem, uso de planos mais aproximados) remetem ao cinema narrativo moderno hollywoodiano, nascido na década de 1960 e difunIbid., p. 41. KUSHNIR, Beatriz. Cães de guarda, op. cit. p. 39. 43 STAM, Robert; JOHNSON, Randal. Brazilian cinema. Austin, Texas: University of Texas Press, 1978. 41 42 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 187-208, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 206 Roberto Farias e a lógica do duplo-pensar no caso da censura ao filme Pra frente, Brasil Wallace Andrioli Guedes dido nos anos 1980, sendo, de acordo com David Bordwell, caracterizado por uma lógica de “continuidade intensificada”, na qual “cada tomada é tão breve que precisa ser ainda mais redundante indicar quem está onde, quem está falando com quem, quem mudou de posição e assim por diante”; desse modo, “a montagem fundada na lógica da continuidade foi reestruturada quanto à escala de planos e dinamizada, e o drama foi concentrado nos rostos — particularmente olhos e bocas”.44 A narrativa de Farias se afasta de qualquer opção alegórica, seguindo uma lógica realista que se aproxima do cinema político do diretor grego Costa-Gavras, inclusive se assemelhando bastante, estética e tematicamente, a Desaparecido — um grande mistério (Missing), filme sobre o golpe militar no Chile lançado nos cinemas em 1982. Nesse sentido, Pra frente, Brasil parece ser a base de muitos dos filmes produzidos posteriormente sobre a ditadura civil-militar brasileira. Longas-metragens como O que é isso, companheiro?, Lamarca, Zuzu Angel e Batismo de Sangue seguem caminhos estéticos e narrativos próximos aos de Pra frente, Brasil, ainda que, por se tratar de filmes das décadas de 1990 e 2000, a eles tenha sido permitido “colocar nomes e vestir a roupa certa em cada um”. No entanto, mesmo num caso recente como o da adaptação do livro de memórias de Fernando Gabeira, surgiram polêmicas relativas a uma possível atenuação da violência do regime — por meio de uma imagem favorável da figura do embaixador norte-americano Charles Elbrick e da presença de um torturador com crise de consciência — e barbarização dos guerrilheiros, algo ressaltado pela análise de Ismail Xavier: a personagem do embaixador traz atributos que têm tudo a ver com sua posição. Seu contato com os contestadores do regime resulta do motivo central de sua presença no Brasil. Isso não impede que o filme acentue uma afinidade eletiva que se manifesta entre o protagonista — figura mais preparada dos sequestradores — e aquele que está na posição de vítima. O Gabeira imaginário do filme e o embaixador definem uma relação que consolida a imagem diferenciada de ambos diante dos outros, confirmando a vítima como a figura mais serena do episódio, espécie de voz da razão que aconselha, dá palpites certos e compreende melhor o que se passa, em contraste com a insegurança e a falta de formulação mais lúcida por parte dos jovens rebeldes bem-intencionados, que acabam por obedecer a um comandante dogmático e vingativo, que anula as individualidades, qualquer que seja o lado em que estejam.45 O que é isso, companheiro?, dirigido por Bruno Barreto, sofreu, portanto, críticas muito semelhantes às recebidas por Pra frente, Brasil cerca de quinze anos antes. Estaria Barreto seguindo o modelo representacional estabelecido pelo filme de Farias ou simplesmente reBORDWELL, David. Figuras traçadas na luz: a encenação no cinema. Campinas, SP: Papirus, 2008. p. 46-51. XAVIER, Ismail. O cinema brasileiro dos anos 90. Praga. Estudos marxistas, São Paulo, n. 9, p. 97-138, jun. 2000. 44 45 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 187-208, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 207 Roberto Farias e a lógica do duplo-pensar no caso da censura ao filme Pra frente, Brasil Wallace Andrioli Guedes velando permanências no olhar cinematográfico sobre a ditadura militar? Em 1997, ano do lançamento de O que é isso, companheiro? nos cinemas, não havia mais a ameaça da censura e, ainda assim, seu diretor — representante, assim como Farias, de um cinema de cunho mais comercial — optou por realizar uma obra politicamente moderada. Semelhanças e continuidades que podem contribuir para reforçar o argumento central deste artigo, concernente a Pra frente, Brasil e à posição política assumida por seu diretor. É interessante destacar a necessidade de se pensar a imagem como espaço privilegiado de veiculação da memória, e o cinema, imagem-movimento, tem contribuído consideravelmente na construção de uma determinada memória da ditadura civil-militar brasileira. Conforme destaca Marcos Napolitano, (...) Se for certo dizer que a cultura não ajudou a derrubar o regime, como os setores mais autênticos e radicais da oposição sonhavam, ela gerou um conjunto de representações e discursos que ajudaram a esquerda a vencer a batalha da memória e explicam, em parte, por que os militares, vitoriosos politicamente e com ampla base na chamada ‘sociedade civil’, foram aos poucos sendo isolados no processo político e vilanizados no processo histórico, mesmo por aqueles que os apoiaram inicialmente, ou seja, o conjunto dos liberais dos quais a grande imprensa sempre foi o melhor arauto. Obviamente, a violência do regime é o fator explicativo central deste processo, mas esta violência também sofreu um processo de deslegitimação simbólica para o qual concorreram as lutas culturais do período.46 O registro naturalista e a narrativa em moldes clássicos encontrados em Pra frente, B rasil são recorrentes, como apontei acima, nos filmes produzidos sobre o período a partir de meados da década de 1980; logo, talvez seja possível atribuir à obra de Roberto Farias um protagonismo na construção dessa memória cinematográfica da ditadura. Mapear de maneira mais aprofundada as proximidades entre Pra frente, Brasil e os outros filmes citados é um passo importante ainda a ser dado por esta pesquisa. NAPOLITANO, Marcos. Coração civil: arte, resistência e lutas culturais durante o regime militar brasileiro (1964-1985). Tese (livre-docência) — Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. p. 357-358. 46 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 187-208, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 208 O sentido do teatro: contribuições para uma história cultural de programas teatrais contemporâneos Henrique Buarque de Gusmão* RESUMO Este artigo analisa algumas tensões observadas entre textos programáticos escritos por encenadores contemporâneos, tendo como ponto de partida a disputa pelo sentido do teatro. Constantin Stanislavski, Bertolt Brecht, Antonin Artaud e Jerzy Grotowski construíram sentidos de teatro de diversos modos e, no mesmo movimento, tornaram suas proposições extemporâneas ou trans-históricas. A partir dos sentidos propostos, os textos conferem lugares e funções específicos a atores, dramaturgia, cenógrafos, dentre tantas outras figuras, o que faz com que programas teatrais possam ser identificados na leitura desses materiais. Finalmente, é analisada a questão da “fronteira do teatro”, presente nos textos analisados, e que marca a história do teatro contemporâneo. Palavras-chave: teatro; ator; dramaturgia; Constantin Stanislavski; Bertolt Brecht. ABSTRACT This article analyses tensions between programmatic texts written by contemporary directors, by focusing initially on the dispute over the meaning of theater. Constantin Stanislavski, Bertolt Brecht, Antonin Artaud, and Jerzy Grotowski elaborated meanings of theater in different ways and, in doing so, they made their propositions extemporaneous or transhistorical. From these several proposed meanings, the texts assign specific functions and places to actors, dramaturgy, designers, among others, which enables the reader to identify theatrical programs by analyzing these materials. Lastly, I’ll examine the problem of “the boundaries of theater”, as it is present in the texts analyzed, and which is central to the history of contemporary theater. Keywords: theater; actor; drama; Constantin Stanislavski; Bertolt Brecht. *** Artigo recebido em 19 de janeiro de 2014 e aceito em 22 de maio de 2014. * Doutor em história pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e professor adjunto da mesma instituição. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: [email protected]. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 209-222, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 209 O sentido do teatro: Contribuições para uma história cultural de programas teatrais contemporâneos Henrique Buarque de Gusmão Sentidos em disputa Ao longo do século XX, diversos artistas de teatro escreveram textos em que discutiram diferentes aspectos de suas práticas em cena. Alguns desses materiais apresentam uma importância mais decisiva para uma análise da história do teatro contemporâneo, uma vez que colocam em questão o próprio sentido do que o teatro é ou deve ser. Certamente, os textos, hoje clássicos, de Constantin Stanislavski, Bertolt Brecht, Antonin Artaud e Jerzy Grotowski, podem ser lidos através de uma perspectiva sócio-histórica e, do mesmo modo, pensados a partir de seu caráter programático. Nesse sentido, um dos mais importantes textos programáticos, que se tornou uma verdadeira matriz dos discursos sobre o teatro contemporâneo, é O trabalho do ator sobre si mesmo, de Constantin Stanislavski. Admirador e seguidor de algumas propostas cênicas que se fortaleciam na Europa no século XIX — como as dos Meiningen e de Antoine —, Stanislasvski concentrou boa parte dos seus esforços na busca de mecanismos necessários para que a cena se confundisse com a vida. Rompendo com um amplo conjunto de convenções teatrais provenientes de um determinado aristotelismo, Stanislavski pretendia que o espectador se identificasse com a cena, a ponto de se relacionar com ela como se fosse ele próprio quem vivenciasse plenamente as tensões do palco. Dessa forma, os atores, ao vivenciarem as experiências de seus personagens, deveriam ser incluídos “na lista dos nossos amigos íntimos e queridos, que podemos amar, com os quais podemos sentir afinidade, e que vamos visitar no teatro muitas e muitas vezes”.1 Estabelecem-se, assim, em linhas gerais, um lugar e um sentido específico para o teatro: um espaço de identificação do público com a cena, de vivência por parte dos atores, de radicalização da verossimilhança, de criação de um ambiente em que se compartilha uma experiência de intimidade. Como se sabe, a maior parte dos textos que Stanislavski escreveu e que o notabilizaram como “homem de teatro” é dedicada à reflexão sobre o trabalho dos atores. Ao romper com o constrangimento e a artificialidade que guiavam os atores ao terem de agir diante do público, ao que se somava a tradição de um gestual codificado, Stanislavski sugere ao ator: “quando estiver em cena, viva de acordo com as leis naturais”.2 Surge, assim, uma questão decisiva para se pensar as tentativas contemporâneas de fixação de sentido para o teatro: a busca pela distinção e pela universalidade3. O programa stanislavskiano se entende, no interior desse STANISLAVSKI, Constantin. A construção da personagem. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. p. 383. Ibid., p. 383. 3 É a análise sociológica de Pierre Bourdieu dos campos culturais que nos abre esta perspectiva aqui em questão. Segundo o autor, o “pensamento essencial” estaria em ação muito evidentemente em campos como o científico e o cultural, onde se travam “jogos que têm por aposta o universal” (BOURDIEU, Pierre. As regras da arte. Gênese e estrutura do campo literário. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 332), colocando em questão a universalidade dos gestos artísticos específicos e buscando afirmar como essencial uma determinada aposta de sentido. 1 2 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 209-222, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 210 O sentido do teatro: Contribuições para uma história cultural de programas teatrais contemporâneos Henrique Buarque de Gusmão movimento, como universal e verdadeiro, amparado, como visto, nas leis da natureza. Em cena, seus atores construiriam uma espécie de “segunda natureza”,4 reproduzida em sua própria lógica orgânica, que possibilitaria essa relação forte com o público. Bertolt Brecht justifica igualmente a sua prática e o seu discurso como universais, através do recurso a um outro elemento: as antigas tradições do teatro oriental. Discutindo elementos observados na Ópera de Pequim, Brecht busca romper com a lógica stanislavskiana da identificação do espectador com a cena e pretende “despertar a atenção do público, em lugar de arrebatá-la”.5 Em diversos de seus textos — dentre os quais destaca-se o famoso “Pequeno organon para o teatro” —, Brecht critica a relação hipnótica que o teatro costuma propor a seu público, que retira o espectador de sua apatia, de seu transe ou de seu sono (termos recorrentemente utilizados por ele). A representação teatral ordinária, para Brecht, “é como uma reunião em que todos dormissem profundamente”.6 A ruptura com essa relação viria, justamente, desse outro modelo oriental de teatro onde estaria a essência da cena, marcada pela convenção, pelo jogo, pela “ludicidade” e pela diversão — esta considerada por ele fundamental na arte. Nos escritos programáticos de Brecht e de Stanislavski — alguns deles podem ser considerados até mesmo manifestos artísticos —, o que está em jogo não é apenas uma forma de se fazer teatro ou uma técnica específica; é a própria definição do que é o teatro e, no sentido do universalismo desses discursos, daquilo que talvez sempre tenha sido. Está em jogo, portanto, o seu caráter universal, originário e essencial. E, para afirmar aquilo que o teatro, então, verdadeiramente é, seriam necessários argumentos consistentes, ligados à própria natureza, no caso de Stanislavski, ou a antigas tradições orientais, como é o caso de Brecht. Partindo desses elementos que justificam as definições de teatro, são construídos longos diagnósticos do estado das artes, do mundo e do homem. Em Brecht, esse diagnóstico é bastante evidente. Sua proposta de um teatro épico insere-se num amplo conjunto de críticas ao mundo burguês e capitalista. Diante de uma sociedade que reproduzia acriticamente suas desigualdades, o teatro precisaria fazer com que o homem enxergasse os mecanismos perversos dessa reprodução, despertando a atenção do espectador para o seu potencial transformador. Esse novo olhar de assombro a ser produzido pelo teatro só seria possível quando se apresentasse ao espectador “uma técnica que o distanciasse de tudo que é familiar”.7 Daí advêm todos os mecanismos de distanciamento pensados por Brecht, como a ruptura com os cenários realistas, a exposição da teatralidade, a construção de ambientes no palco a partir de cartazes em que está escrito o local em que se passa a cena, o canto como forma de relembrar ao espectador que ele está diante de uma obra STANISLAVSKI, Constantin. A construção da personagem, op. cit. p. 384. BRECHT, Bertolt. Pequeno organon para o teatro. In: BRECHT, Bertold. Estudos sobre o teatro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005. p. 153. 6 Ibid., p. 138. 7 Ibid., p. 146. 4 5 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 209-222, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 211 O sentido do teatro: Contribuições para uma história cultural de programas teatrais contemporâneos Henrique Buarque de Gusmão de ficção construída, a presença do narrador, do coro etc. Todos esses mecanismos teriam a função de tirar o espectador de sua relação hipnótica de identificação com a cena e ensiná-lo a observar o mundo criticamente. Assim como Brecht e Stansilavski, Antonin Artaud fez diagnósticos das artes e da própria civilização ocidental em escritos, em tom de manifesto, que visavam indicar uma determinada função e um determinado sentido para o teatro. No caso desses textos, a necessidade de refundação e de reinvenção do teatro é mais evidente ainda, uma vez que ela estaria articulada à própria reinvenção da cultura e do homem. Logo nas primeiras páginas de O teatro e seu duplo, é denunciada a “impotência para possuir a vida”8 pelo homem ocidental que impregna a cultura. Artaud combate a ideia de que a civilização se organiza como se “de um lado estivesse a cultura e do outro a vida”, 9 para sustentar que a primeira seria incapaz de mobilizar as forças inerentes à vida, “forças que dormem em todas as formas”.10 11 Diante desse cenário, o teatro teria uma função específica: rompendo com o estatuto das obras-primas e com a própria linguagem, ele precisaria aderir à vida de forma mais radical. Segundo Artaud, “é preciso acreditar num sentido da vida renovado pelo teatro”.12 O verdadeiro teatro estaria sendo sufocado por esta cultura fraca e distante da vida. Para se realizar plenamente, ele precisaria romper com as formas vazias e atuar no registro da crueldade, na relação direta e violenta com o público, em seus termos: “o verdadeiro teatro, porque se mexe e porque se serve de instrumentos vivos, continua a agitar sombras nas quais a vida nunca deixou de fremir”.13 Dessa maneira, se Stanislavski acredita que o sentido que atribui ao teatro mais legítimo é aquele que segue as leis da natureza; se Brecht afirma, a partir de tradições orientais ancestrais, a necessidade de observação crítica do mundo pelo teatro; Artaud, por sua vez, entende que o teatro que se faz em seu tempo não é verdadeiro, porque o verdadeiro teatro estaria oculto, existiria no subterrâneo, inseparável das forças vitais, como uma espécie de duplo do teatro ocidental. A obra de Artaud teve ampla recepção, como se sabe, inclusive fora do âmbito do teatro. Foi a partir dela que gerações de encenadores praticaram um teatro ritualizado, tendo como horizonte este encontro orgânico, vivo, arrebatador e visceral entre atores e espectadores, que rompeu com a ideia de que o fenômeno teatral consiste em um texto encenado. Dentre os que partilham dessa concepção está Jerzy Grotowski. ARTAUD, Antonin. O teatro e seu duplo. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 3. Ibid., p. 4. 10 Ibid., p. 6. 11 Sem dúvida, os textos de Artaud sobre cultura e teatro merecem uma análise mais detida em torno dos usos de algumas categorias. “Vida”, “força”, “forma”, “cultura”, “civilização”, “corpo”, por exemplo, são categorias recorrentemente operacionalizadas por ele e que, certamente, dialogam com outros usos, mais especificamente os da filosofia (notadamente com Nietzsche) e das artes, ganhando sentidos particulares em seus textos. 12 ARTAUD, Antonin. O teatro e seu duplo, op. cit. p. 8. 13 Ibid., p. 7. 8 9 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 209-222, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 212 O sentido do teatro: Contribuições para uma história cultural de programas teatrais contemporâneos Henrique Buarque de Gusmão Programas para o teatro Em cada um dos textos programáticos abordados até aqui pode-se encontrar propostas de hierarquização de papéis e de atribuição de funções e de modulações próprias a atores, dramaturgia, público, espaço teatral etc. No caso do programa stanislavskiano, o papel e o comportamento do público deveriam ser reformulados para que seus objetivos atingissem o resultado esperado. Rompendo com a ideia de que o edifício teatral era um espaço para a convivência social ordinária e para a reafirmação das suas hierarquias, Stanislavski propõe uma estrita disciplina do público que impedisse que os espectadores entrassem no teatro atrasados, conversassem ao longo da representação e dispersassem a atenção, tirando o foco da cena. Especialmente para o cumprimento desse último objetivo, Stanislavski reforça o gesto de Wagner e deixa o público no escuro, determinando apenas a iluminação do palco. Sem esses procedimentos, o ato de identificação com a representação e o compartilhamento de experiências íntimas e emocionais entre atores e espectadores estariam, evidentemente, comprometidos. Os cenógrafos e figurinistas também ganham lugares e funções específicos. Eles deveriam realizar pesquisas consistentes para trazer à cena o maior número possível de elementos presentes no ambiente ou no período da peça trabalhada. Até mesmo o figurante menos determinante na trama deveria se vestir e utilizar os objetos próprios para a sua cena, com a finalidade de alcançar maior verossimilhança. Dessa forma, em diálogo com uma característica muito recorrente nos romances do final do século XIX e início do XX,14 Stanislavski busca recriar em cena a complexidade social do ambiente no qual a trama se desenrola (até mesmo em seus aspectos materiais), assim como a complexa relação desse ambiente social com a subjetividade dos personagens. Certamente, como já afirmado aqui, um ponto determinante do programa stanislavskiano é a investigação a respeito das sutilezas psicológicas, emocionais e comportamentais dos personagens, vivenciadas pelos atores. Para se aproximar o máximo possível desses mecanismos sutis do comportamento humano, Stanislavski propõe um jogo dinâmico em que os atores deveriam operar sobre sua própria subjetividade de modo a “vivenciar o personagem”, tal como orientava seus atores: Para avaliar os fatos através de seus próprios sentimentos, baseando-se em sua relação viva e pessoal com eles, você, como ator, deve fazer a si mesmo esta pergunta: que circunstâncias da minha própria vida interior — quais das minhas ideias, desejos, esforços, qualidades, deficiências e dotes inatos, pessoais e humanos, podem forçar-me, como homem e como ator, A relação entre as propostas teatrais e de trabalho de ator de Stanislavski e os problemas ligados à escrita do romance neste período — com destaque para o romance russo — mereceria um estudo específico. 14 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 209-222, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 213 O sentido do teatro: Contribuições para uma história cultural de programas teatrais contemporâneos Henrique Buarque de Gusmão a adotar em relação às pessoas e aos acontecimentos uma atitude semelhante à da personagem que estou interpretando?15 A construção de personagens orgânicos, que experimentam o mundo com frescor e espontaneidade, só seria possível, assim, a partir deste empréstimo e destas operações a partir dos materiais subjetivos dos próprios atores. A fronteira entre ator e personagem deveria ser sempre posta em questão para que o trabalho fizesse sentido.16 Esse tipo de atuação e de cena propostas encontrou na dramaturgia de Anton Tchekhov um material de trabalho conveniente. Stanislavski, em seu livro autobiográfico Minha vida na arte, entende que os dramas tchekhovianos não provocam encanto pelos seus diálogos, mas pelo “que neles fica subentendido, nos olhares trocados pelos artistas, nos silêncios, na irradiação da vida interior das personagens”.17 O encenador já apontava, nesse texto, para um aspecto que, anos mais tarde, Peter Szondi desenvolveria muito bem em sua famosa reflexão sobre a obra de Tchekhov: a percepção de que seus personagens vivem uma profunda “recusa à ação e ao diálogo”,18 fechados em seus desejos silenciosos, em suas esperanças que não se concretizam, em seus sonhos com um passado já dissolvido no tempo, fazendo com que eles acabem vivendo uma “participação na solidão do outro”.19 Esta dramaturgia, certamente, se adequa a um projeto teatral que busca trazer para a cena personagens pouco límpidos e estáveis (tais como os clássicos), porém marcados por tensões, insinuações e hesitações que caracterizam o homem comum. A ideia da construção, em cena, de uma vida interior intensa, complexa e contraditória dos personagens, gerando uma aproximação potente entre arte e vida, pôde unir os interesses estéticos e gerar a conhecida parceria entre Tchekhov e Stanislavski. A fixação desse sentido para o teatro, como se vê, é calcada no estabelecimento de uma série de balizamentos para o trabalho de ator, para a dramaturgia e para a cenografia, no senSTANISLAVSKI, Constantin. A criação de um papel. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999. p. 217. A noção de “trabalho do ator sobre si mesmo”, proposta por Stanislavski, foi se transformando ao longo de suas investigações. Diferentes concepções de subjetividade e de uso de materiais subjetivos estiveram em jogo nas pesquisas stanislavskianas. Certamente, ao menos dois momentos distintos podem ser observados: um primeiro, quando o diretor se debruça sobre emoções e memórias emotivas; e um segundo, quando ele passa a investigar mais detidamente a noção de “ação psicofísica”. Dois livros escritos por atores que trabalharam com Stanislavski podem ser muito esclarecedores a respeito desses diferentes momentos: TOPORKOV, Vasily Osipovich. Stanislavski in rehearsal. Nova York: Routledge, 1998; e KNÉBEL, María. El último Stanislavsky. Análisis activo de la obra y el papel. Madri: Fundamentos, 1996. Minha dissertação de mestrado tratou, especificamente, desta questão da concepção de subjetividade presente no trabalho de ator proposto por Constantin Stanislavski: GUSMÃO, Henrique Buarque de. Fronteiras do sujeito, fronteiras do corpo, fronteiras do teatro: subjetividade e uso do corpo no trabalho de ator proposto por Constantin Stanislavski. Dissertação (mestrado em teatro) — Programa de Pós-Graduação em Teatro, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006. 17 Stanislavski, Constantin. Minha vida na arte. São Paulo: Anhembi, 1956. p. 129. 18 Szondi, Peter. Teoria do drama moderno. [1880-1950]. São Paulo: Cosac Naify, 2001. p. 49. 19 Szondi, Peter. Teoria do drama moderno, op. cit., p. 51. 15 16 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 209-222, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 214 O sentido do teatro: Contribuições para uma história cultural de programas teatrais contemporâneos Henrique Buarque de Gusmão tido do trabalho material, fazendo com que se caracterizem, efetivamente, como programas que articulam diversos e distintos elementos constituidores da cena. A articulação desses elementos, em Brecht, assume, por sua vez, uma forma um tanto distinta, a começar pela própria noção de personagem. No teatro brechtiano, que busca um olhar crítico do público, um olhar que compreendesse as tensões que levam à organização desigual da sociedade, o personagem tende a se apresentar mais como um tipo social. Assumindo algumas das características que marcam um grupo social específico, o personagem não deveria produzir “qualquer ilusão: nem a ilusão do ator ser a personagem, nem a de a representação ser o acontecimento”.20 Diferentemente do que se pode observar em Stanislavski, não há qualquer investimento na construção de uma rede de mecanismos psicológicos em Brecht, o que indica que os atores deveriam, no caminho proposto pelos orientais, mostrar os personagens muito mais do que vivenciá-los. Ele defendia que o ator deveria “pôr de lado tudo o que havia aprendido antes para provocar no público um estado de empatia perante as suas configurações”.21 Dessa forma, seria necessária uma reformulação completa no trabalho, na formação e no treinamento do ator. Novas técnicas — todas elas associadas à noção de distanciamento — deveriam levá-lo a aprender a fazer com que seu personagem ganhasse múltiplas facetas (não organizadas harmonicamente, como num indivíduo com unidade psicológica), que deveriam fazer com que ele aprendesse a trocar de papel ao longo do espetáculo ou a romper bruscamente com uma sequência orgânica de ações e sensações construídas. Essas proposições programáticas não devem ser confundidas com gêneros literários. Não é disso que se trata. Um bom exemplo para reforçar essa afirmação encontra-se na proposição de número 68 do texto “Pequeno organon para o teatro”, em que Brecht indica como poderia montar Hamlet. Para ele, a tragédia shakespeariana deveria ser encenada numa chave bastante distante daquela que quer valorizar, em cena, as tensões intersubjetivas decorrentes da morte do rei Cláudio — chave desenvolvida por Stanislavski nas diversas referências que faz à mesma obra. O que Brecht propõe é que Hamlet seja trabalhada como uma peça que trata da guerra, chamando a atenção para o jogo político e social que leva, no final da trama, à invasão da Dinamarca. Trata-se de uma leitura bastante singular e de uma forma de apropriação do texto evidentemente inserida em um programa teatral específico. Como é largamente sabido, Brecht escreveu uma série de peças que propunham estruturas teatrais montadas especificamente para a produção do distanciamento e do olhar crítico e atento à construção do mundo social. Isso é observável na peça Aquele que diz sim, aquele que diz não. Nesse texto, o enredo se desenvolve a partir do momento em que um personagem toma uma decisão específica, dizendo “sim” a um grupo de pessoas. Em um determinado ponto da peça, a trama é interrompida e volta para o instante em que o personagem havia dito o “sim”. 20 21 Brecht, Bertolt. “Pequeno organon para o teatro”, op. cit. p. 150. BRECHT, Bertolt. Pequeno organon para o teatro, op. cit. p. 147. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 209-222, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 215 O sentido do teatro: Contribuições para uma história cultural de programas teatrais contemporâneos Henrique Buarque de Gusmão Mas, agora, ele diz “não” e o resultado final é bastante diferente. Estão em jogo, nessa estrutura, uma série de elementos do programa brechtiano: a necessidade de um trabalho de ator que não siga uma unidade subjetiva, a interrupção da narração, a exposição de mecanismos de teatralidade, a observação de uma nova possibilidade de desenvolvimento do enredo. Em diálogo com estas abordagens específicas da dramaturgia e com a proposta geral de trabalho de ator, uma série de elementos constituintes do espetáculo é explorada nos textos programáticos escritos por Brecht, como a construção de cenários e figurinos (nunca reiterativos em relação à situação representada, sempre expondo a teatralidade na cena, construída diante do espectador), a trilha sonora (usada para romper com a ilusão) e o recurso à canção por parte dos atores (rompendo com uma possível identificação do público com o personagem) etc. Uma terceira articulação entre elementos formadores da cena visando estabelecer um sentido de teatro encontra-se nas proposições de Artaud de uma expressão teatral ligada ao ritual, à potência vital, à exposição do organismo vivo. A partir dos textos (e dos experimentos) de Grotowski, que incorpora uma série de elementos do vocabulário e das provocações artaudianas, na busca pelo que ele denominava “teatro pobre”, essa articulação se torna ainda mais evidente. Dialogando com um ambiente cultural no qual o cinema e a cultura de massa se desenvolviam rapidamente, Grotowski propõe que o teatro rompa com todos os recursos técnicos disponíveis — até mesmo porque eles sempre seriam mais bem realizados pelos cineastas — e encontre aquilo que marca sua essência, chegando a uma simplicidade radical. Em suas palavras: “A aceitação da pobreza no teatro, despojado este de tudo que não lhe é essencial, revelou-nos não somente a espinha dorsal do teatro como instrumento, mas também as riquezas profundas que existem na verdadeira natureza da forma de arte”.22 Dessa maneira, romper com o que é supérfluo no momento da constituição de cena poderia levar o teatro a reencontrar sua “verdadeira natureza” e sua verdade mais profunda. Segundo Grotowski, a principal característica desse teatro essencial e pobre seria o encontro do ator com o espectador. O encontro entre dois organismos vivos seria o que caracterizaria, em essência, o teatro e lhe daria força e sentido de ser. Dessa forma, esse encontro deveria ser marcado por uma grande vitalidade, caracterizando-se como uma experiência forte, o que exigiria do ator muito mais do que uma exibição de suas virtudes técnicas. Para Grotowski, o ator (cujo modelo ideal seria o do “ator santo”23) deveria realizar um ato de sacrifício (como Artaud propusera em seus textos), um ato de “transiluminação”. O ator que realiza uma ação de autopenetração, que se revela e sacrifica a parte mais íntima de si mesmo — a mais dolorosa, e que não é atingida pelos olhos do mundo —, deve ser capaz de GROTOWSKI, Jerzy. Em busca de um teatro pobre. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1987. p. 19. Grotowski, em diferentes momentos de seu livro Em busca de um teatro pobre, trata dessa noção de “ator santo”, associando-a ao trabalho com a exposição, livre de qualquer exibicionismo. Na página 29, ele discute a “santidade secular” necessária para o teatro. Ibid., p. 29. 22 23 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 209-222, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 216 O sentido do teatro: Contribuições para uma história cultural de programas teatrais contemporâneos Henrique Buarque de Gusmão manifestar até o menor impulso. Deve ser capaz de expressar, através do som e do movimento, aqueles impulsos que estão no limite do sonho e da realidade. Em suma, deve ser capaz de construir sua própria linguagem de sons e gestos, da mesma forma como um grande poeta cria a sua linguagem própria de palavras.24 A maneira como esse trabalho de ator se desenvolveria na prática pode ser exemplificada por meio do espetáculo que Grotowski montou em 1965: O príncipe constante. Inicialmente, o diretor trabalhou apenas com um ator, Ryszard Cieslak, considerado emblemático de seu Teatro Laboratório. Num artigo do livro dedicado a Cieslak, Grotowski relata o seu processo de trabalho: “todo o personagem foi construído sob o tempo preciso de sua memória pessoal (...) ligada ao período de sua adolescência, quando ele viveu sua primeira grande, enorme experiência amorosa”.25 Ator e diretor não partiram, portanto, de um trabalho que se referisse diretamente à situação a ser encenada e proposta pelo texto. Ao contrário, trabalharam o corpo e as ações do ator a partir da memória de uma luminosa experiência pessoal de Cieslak. Quando chegaram a uma partitura precisa, construída a partir dessa lembrança do ator, começaram a lidar com o texto da peça e novos atores passaram a fazer parte da encenação. Esse exemplo deixa claro tanto um novo lugar proposto ao ator como à dramaturgia. No caso do ator, o foco de seu trabalho deixa de ser uma adequação, uma ilustração ou crítica à situação da cena e passa a ser o encontro dos mecanismos que poderiam levá-lo a uma situação de exposição pessoal e, portanto, de profunda entrega em cena. Aí estaria o elemento-chave do teatro. O texto seria mais uma camada do trabalho, não necessariamente reforçando, nem mesmo dialogando com a composição do ator. Figurinos e adereços, por sua vez, deveriam ser usados a partir da marca e do limite do “teatro pobre”, ou seja, respeitando a lei do despojamento que acentua o encontro entre ator e espectador. O espaço do acontecimento cênico, por sua vez, tanto nas experiências de Grotowski como nas reflexões de Artaud, é nitidamente repensado. O clássico espaço da sala italiana passa a ser visto como problemático. Dois exemplos podem ser dados na obra de Grotowski. Um primeiro refere-se ao espetáculo Kordian, quando o diretor polonês organiza o espaço de uma sala com beliches sobre os quais os atores andavam e nos quais os espectadores estavam sentados, misturando-se com o espaço da representação e de circulação dos atores. Nesse exemplo, o espectador inseria-se na cena, participando, junto com os atores, da construção do espaço. Outro exemplo é o espetáculo O príncipe constante, em que os espectadores se situavam acima do espaço da representação e tinham de ver a peça do Ibid., p. 30. Trecho original (livremente traduzido pelo autor do artigo): “Tout le rôle a été fondé sur le temps très précis de sa mémoire personnelle (...) lié à la période où il était adolescent et où il a eu sa première grande, énorme expérience amoureuse”. GROTOWSKI, Jerzy. Le prince constant de Ryszard Cieslak. In: BANU, Georges (Org.). Riszard Cieslak, acteur-emblème des annés soixante. Arles: Actes-Sud, 1992. p. 16-17. 24 25 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 209-222, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 217 O sentido do teatro: Contribuições para uma história cultural de programas teatrais contemporâneos Henrique Buarque de Gusmão alto, debruçando-se sobre uma pequena mureta. Nesse caso, a relação entre ator e espectador não se dá pela proximidade física e pela inclusão, e sim pelo sentido contrário. Mas aí está proposta também uma relação de exclusão, em que o espectador tem necessidade de se esforçar para ver algo que lhe parece ser proibido.26 Ou seja, se a marca essencial do teatro é um encontro entre ator e espectador, seria fundamental que o espaço em que esse encontro se dá fosse idealizado para construir uma relação precisa entre os dois. Grotowski propõe, então, como tarefa dos artistas contemporâneos “encontrar o relacionamento adequado entre ator e espectador, para cada tipo de representação, e incorporar a decisão em disposições físicas”.27 Negociações entre obras e programas A relação entre essas obras de vocação normativa, as montagens realizadas a partir de fins do século XIX e as obras propriamente ditas não é uma relação harmônica, nem tampouco direta. Assim como em todas as modalidades artísticas, projetos artísticos não resultam em obras que se adequam exatamente a eles. Tal como em Stanislavski, Brecht e Artaud (Grotowski), os programas veiculados buscam dar um sentido geral para o conjunto de obras dramáticas, hierarquizando-as. Esses textos programáticos, ao mesmo tempo que geram a condição de possibilidade de produção de tantas obras, não dão conta de construir um modelo interpretativo único ou fechado de análise dessas obras. Uma vez que fenômeno teatral é mais determinantemente coletivo do que outras modalidades artísticas e que um mesmo espetáculo teatral exige a junção de um texto dramatúrgico, de um encenador, de atores, de cenógrafos, iluminador, entre outros, há de coexistir diferentes níveis de adequação a uma proposta de teatro determinada. Um exemplo da complexidade do uso desses programas, tornados modelos dramatúrgicos, pode ser encontrado em Oduvaldo Vianna Filho. Uma primeira abordagem da sua trajetória indica uma forte relação entre suas peças teatrais e as proposições de Brecht, o que se comprova tanto pelos diversos mecanismos brechtianos presentes em seus textos como por sua liderança em movimentos artísticos e políticos (notadamente os CPCs da UNE) que tinham no alemão uma referência para a produção teatral. Por um lado, peças como Dura lex, sed lex, no cabelo só gumex e A mais-valia vai acabar, seu Edgard, por exemplo, articulam essas proposições a elementos, figuras e temas da tradição do teatro cômico brasileiro,28 criando É Jean-Jacques Roubine quem discute, de maneira clara e organizada, essa relação de integração do espectador à cena grotowskiana, seja pela inclusão ou pela exclusão. ROUBINE, Jean-Jacques. A linguagem da encenação teatral. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. p. 101-104. 27 GROTOWSKI, Jerzy. Em busca de um teatro pobre, op. cit. p. 18. 28 Esta articulação, assim como outras que aponto neste parágrafo, são debatidas com propriedade por Rosângela Patriota no primeiro capítulo de seu livro (PATRIOTA, Rosângela. A crítica de um teatro crítico. São Paulo: Perspectiva, 2007). A autora chama a atenção para o fato de que o teatro de revista brasileiro já utilizava recorrentemente alguns elementos cênicos valorizados por Brecht, como as tabuletas que indicavam 26 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 209-222, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 218 O sentido do teatro: Contribuições para uma história cultural de programas teatrais contemporâneos Henrique Buarque de Gusmão uma marca singular para esses textos. Por outro, em Chapetuba futebol clube, Moço em estado de sítio, Mão na luva ou Rasga coração, Vianinha afasta-se do caráter didático que havia marcado muitas de suas peças e torna mais densa sua abordagem dos personagens. Eles não se constituem mais tão claramente como tipos sociais representantes de uma determinada classe, passando a viver profundas tensões e contradições, mergulhados em seus universos subjetivos. Sem deixar de lado o debate político e ideológico, o dramaturgo abandona o maniqueísmo que marcara muitos artistas ligados ao teatro engajado no Brasil e realça sutilezas psicológicas que estão em jogo nas disputas sociais, criando conflitos de difícil resolução e pouco didáticos. Esses textos, produzidos num momento em que o regime militar já havia se consolidado e o ambiente de esperanças em relação a grandes mudanças sociais do início dos anos 1960 havia se desfeito, ganham um profundo ar nostálgico, quando os personagens são constantemente confrontados com suas opções do passado (que muitas vezes voltam à cena na forma de flashbacks) e experimentam uma grande dificuldade de dialogar. Nessas peças, o espectador não entra em contato com uma fábula que orienta com clareza o olhar e o juízo do público, como se observa mais comumente na tradição brechtiana. Surge, então, um Vianinha que parece dialogar com diversos mecanismos criados por Tchekhov.29 O que não quer dizer que seu trabalho sobre o distanciamento e a crítica social tenha se dissolvido ao abordar tensões subjetivas mais complexas, mas, certamente, ele ganha novos formatos e deve, a seguir, recorrer a novos mecanismos dramatúrgicos e teatrais, mais evidentemente próximos das propostas stanislavskianas. É claro que as proposições de Brecht e Stanislavski não são inconciliáveis, por mais que, como já foi apontado, haja objetivos gerais que colocam em tensão os dois programas. Em particular, a proposta de distanciamento de Brecht parte, supostamente, do programa stanislavskiano quando se observa o que o alemão chamava de “efeito V”, referido à grafia da letra V, equivalente a um movimento que vai numa direção e que, repentinamente, é rompido e passa a seguir na direção oposta. Trata-se de um jogo entre identificação e distanciamento. Brecht, em alguns de seus textos, discute um nível de identificação necessário entre o público e a cena, sem o qual o teatro poderia se tornar tedioso e frio. Mas, num determinado momento, a identificação deveria ser rompida bruscamente, o que fortaleceria ainda mais o estranhamento e o despertar da consciência proposto. Dessa maneira, procedimentos recorrentemente utilizados por Stanislavski não seriam completamente negligenciados por B recht — que, em diferentes momentos, demonstra seu apreço e sua gratidão por ele. o espaço da ação e as canções satíricas. Patriota também trata dos elementos que Vianinha utiliza em suas peças tendo como referência algumas operações dramatúrgicas já realizadas por seu pai, Oduvaldo Vianna. 29 Um elemento gerador de tensões dramáticas nesses textos de Vianinha e em Tchekhov seria a situação da falência, entendida num sentido mais amplo do que a falência puramente financeira. A percepção dos personagens de que um determinado modo de vida e de estar no mundo está esgotado, frustrando sonhos, levando a reminiscências constantes, a uma dificuldade de agir, à dúvida e à incapacidade do diálogo pode ser um elemento comum de textos como Rasga coração e O jardim das cerejeiras, por exemplo. Tal aproximação temática e de um elemento catalisador de tensões pode se desenvolver em novas e futuras pesquisas. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 209-222, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 219 O sentido do teatro: Contribuições para uma história cultural de programas teatrais contemporâneos Henrique Buarque de Gusmão atteo Bonfitto, tratando dessa questão, propõe que, da perspectiva brechtiana, “é preciso M que o ator chegue a um equilíbrio, que mantenha uma tensão entre ‘vivência’ e ‘demonstração’, uma não anulando a outra”.30 Grotowski também merece ser pensado nessa perspectiva. Muitas vezes, seu teatro é associado às inquietações de artistas dos anos 1960, leitores de Artaud, críticos da civilização e construtores de utopias. Essa sua caracterização tende, muitas vezes, a colocá-lo num lugar muito distante do tão criticado “realismo stanislavskiano”. Uma leitura rápida dos principais textos de Grotowski indica o quanto as inquietações de Stanislavski, no que diz respeito ao trabalho do ator, marcam sua obra de maneira determinante. É curioso observar como, dentro de uma proposta de cena realista/naturalista, surge um conjunto de questões que abre o caminho para, nos anos 1960, uma leitura específica do trabalho do ator e uma aproximação entre teatro e ritual. Com isso, não se quer dizer que as experiências teatrais, “no fundo”, têm uma essência comum. O que não se pode perder de vista é uma dinâmica complexa que articula obras e programas, suas funções e seus usos, de maneira, muitas vezes, inesperada.31 Modernidade e crise do teatro Outro aspecto que merece destaque a partir da leitura dos textos programáticos aqui analisados está relacionado a um lugar fronteiriço proposto para o teatro por estes materiais. Ana Bernstein, em seu artigo sobre o nascimento do teatro moderno, afirma: “inaugura-se a modernidade e, com ela, a crise do teatro”.32 A modernidade, na perspectiva da autora, teria trazido para o campo teatral uma nova configuração em que não haveria mais uma definição e um sentido fixo ou dominante para o teatro. Como demonstrado até aqui, o sentido do teatro e sua essência, sua universalidade, foram os investimentos desses “homens de teatro”. Dessa forma, segundo Bernstein, “o teatro se torna uma questão”.33 E há, aí, um movimento duplo: ao mesmo tempo que se quer entender o sentido próprio e essencial do teatro, se configura uma ruptura com o teatro, fazendo com que categorias fundamentais para a modalidade artística, como as de “teatralidade” e de “representação”, sejam constantemente questionadas. Daí a aproximação entre modernidade e crise, proposta por Bernstein. Um BONFITTO, Matteo. O ator compositor. São Paulo: Perspectiva, 2002. p. 66. Stanislavski é apropriado de forma particular e distinta por Brecht e por Grotowski, assim como Tchekhov e Brecht estão presentes nas obras de Vianinha ou mesmo de encenadores contemporâneos brasileiros, como Enrique Diaz e Celina Sodré. Os espetáculos Gaivota — tema para um conto curto, encenado pela Cia. dos Atores e dirigido por Enrique Diaz em 2007, e TransTchekhov, dirigido por Celina Sodré em 2009, são bons exemplos dessa articulação e dessa leitura possível entre o universo thekhoviano e os procedimentos cênicos brechtianos. 32 BERNSTEIN, Ana. O nascimento do teatro moderno. In: BRANDÃO, Tânia (Coord.). O teatro através da história. Rio de Janeiro: CCBB; Entourage, 1994. v. 1, p. 160. 33 Ibid., p. 159. 30 31 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 209-222, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 220 O sentido do teatro: Contribuições para uma história cultural de programas teatrais contemporâneos Henrique Buarque de Gusmão acordo mínimo que poderia definir o que o teatro é se torna cada vez menos possível, e formulam-se, assim, modelos “fronteiriços” que não podem mais ser considerados como teatro. Nesse sentido, aproximações entre o teatro de Stanislavski e o realismo literário da virada do século XX podem ser esclarecedoras. Paul Ricoeur, em Tempo e narrativa, ao tratar desses romances, que tinham como objetivo maior “igualar a arte à vida”,34 indaga: “Quantas convenções, quantos artifícios não são acaso necessários para escrever a vida, ou seja, para dela compor, pela escrita, um simulacro persuasivo?”.35 A mesma indagação pode ser colocada frente às proposições stanislavskianas quanto a trazer à cena “emoções humanas, não teatrais”,36 de modo a forjar um “simulacro persuasivo”. Observa-se, então, a relação tensa entre convenção e artifício, de um lado, e, de outro lado, certa naturalidade própria da vida, própria do mundo externo ao palco. Toda a obra stanislavskiana busca encontrar o procedimento mais adequado para trazer a vida para a cena, o que gera um refinamento cada vez maior de artifícios e convenções de modo a criar uma “transparência”. No entanto, com a propagação de seu modelo teatral, eles logo se tornam mais evidentes: a rigor, seguir adiante nesse movimento significa assumir o incômodo a que as convenções teatrais submetem às propostas de Stanislavski. É precisamente isso que faz com que seu modelo teatral seja visto como utópico, assim como o projeto de seus contemporâneos simbolistas.37 Por sua vez, a proposta brechtiana de criar um espírito crítico e atuante no espectador poderia, se radicalizada, levar a cena para fora do espaço da representação, misturando-se com o mundo social e rompendo as fronteiras do teatro. O ator engajado de Brecht, em seu sentido radical, deveria estar nas ruas, nas fábricas, atuando num contato direto com o público. Ou, até mesmo, fazendo com que o público não percebesse que aquilo que fazia era teatro, como se pode observar em diversas manifestações desenvolvidas por Augusto Boal a partir das provocações brechtianas, como o “teatro invisível”. No caso do teatro ritualizado de Artaud e Grotowski, a ruptura com as concepções mais correntes de teatro e de representação é mais explícita, na criação de um novo lugar para as obras e para a cultura no programa que propõem. A trajetória de Grotowski efetua uma ruptura com o teatro, uma vez que, com seu Teatro Laboratório, ele anuncia que não fará mais teatro e parte para o desenvolvimento de uma série de experiências que não tinham como objetivo final um espetáculo para um público teatral. No texto “From the theatre company to art as vehicle”, Grotowski trata dessas experiências — denominadas “parateatro” ou “Arte como Veículo”, entre outras — e de seus objetivos em relação aos artistas envolvidos: “No que diz respeito às pessoas diretamente envolvidas na Arte como veículo, eu não penso nelas RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010. v. 2, p. 18. Ibid., v. 2, p. 21. 36 STANISLAVSKI, Constantin. A construção da personagem, op. cit. p. 394. 37 Artistas ligados ao movimento simbolista como Appia, Craig e, até mesmo, Meyerhold, pelos limites deste texto, não foram aqui tratados. Mas, certamente, eles podem trazer muitos elementos relevantes para esta discussão em vários níveis. 34 35 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 209-222, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 221 O sentido do teatro: Contribuições para uma história cultural de programas teatrais contemporâneos Henrique Buarque de Gusmão como ‘atores’, mas como ‘agentes’ (aqueles que agem), porque os seus pontos de referência não são o espectador, mas o itinerário na verticalidade”.38 Eis uma diferença fundamental entre os modelos de teatro e o de experiência da “Arte como Veículo”: os agentes não criam uma estrutura de ações tendo como objetivo produzir algo para ser visto; produzem um trabalho que pretende aprofundar uma pesquisa sobre eles mesmos, sobre sua ancestralidade, sobre sua organicidade. Em certo sentido, Grotowski parece radicalizar algumas das tensões presentes no trabalho de Stanislavski e romper completamente com as convenções e com a representação, partindo para uma busca exclusivamente do “si mesmo” do ator como agente. O resultado da pesquisa poderia eventualmente ser assistido, mas não era produzido para o espectador. Como Grotowski afirma no artigo citado, a sede do trabalho não era o espectador, mas o próprio agente. Dentro dessa discussão da dimensão de crise do teatro produzida pela modernidade, não se pode deixar de levar em conta a atitude provocadora que as vanguardas assumiram desde o início do século XX. Problematizando, de maneira geral, as fronteiras entre as artes, elas criam uma atitude crítica radical que leva a uma constante desestabilização das identidades de diferentes modalidades artísticas. Abre-se, com a radicalização das propostas vanguardistas, espaço para novas linguagens, como a performance, os happenings, a body art, tendências que já não se assumem como teatrais e que criam novos vocabulários, novas práticas e novas formas de trabalho para se diferenciarem do teatro. Muitas destas inovações, por sua vez, são incorporadas por diretores de teatro, tais como Bob Wilson, que utiliza como dramaturgia fragmentos de textos recolhidos de programas aleatórios de televisão, operando com o procedimento da collage, recorrente na performance. O mesmo jogo que coloca em disputa sentidos diversos atribuíveis ao teatro leva, evidentemente, a uma desestabilização de sua identidade e de suas fronteiras. Dessa forma, uma das marcas do campo teatral contemporâneo seria a constante operação, em diferentes graus, de ruptura das fronteiras. A partir daí, as funções específicas de atores, dramaturgos, encenadores e demais agentes do fazer teatral assumem sentidos (e lugares) distintos, segundo os usos dos modelos em jogo, na dinâmica determinante da produção teatral contemporânea. A herança legada pelos textos de Stanislavski, Brecht, Artaud e Grotowski, aqui abordados, considerados fundadores do teatro moderno, é objeto constante de disputas em que artistas ou grupos de artistas lutam para mostrar quem é o herdeiro legítimo dos modelos de uma cultura teatral, cujo sentido não cessa de se construir e de se desconstruir, no interior dessa dinâmica contemporânea. Trecho original (livremente traduzido pelo autor do artigo): “Concerning the persons directly involved in Art as vehicle, I don’t think of them as “actors” but as “ doers” (those who do), because their point of reference is not the spectator but the itinerary in verticality”. GROTOWSKI, Jerzy. From the theatre company to art as vehicle. In: RICHARDS, Thomas. At work with Grotowski on physical actions. Nova York: Routledge, 1995. p. 134. 38 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 209-222, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 222 O despertar de Orfeu: prazer e lazer dos trabalhadores de Macapá (1944-1964)* Sidney Lobato** RESUMO Neste texto, objetivamos analisar a solidariedade constituída pelos trabalhadores de Macapá, nos momentos de prazer e diversão, entre os anos de 1944 e 1964. Argumentamos que esses momentos propiciaram à classe trabalhadora macapaense efêmeras experiências de emancipação das interdições impostas pelos precários meios de sobrevivência e pelas investidas moralizadoras do Estado e da Igreja. Palavras-chave: Amazônia; cidade; classe trabalhadora; lazer; festa. ABSTRACT This article analyzes the solidarity built by Macapá’s workers in their leisure time, between 1944 and 1964. We argue that such moments propitiated, to Macapá’s working class, ephemeral emancipatory experiences from the limitations imposed by poverty and by State and the Church’s moralizing campaigns. Keywords: Amazon; city; working class; leisure; feast. *** Este artigo originou-se de uma parte da tese de doutorado A cidade dos trabalhadores: insegurança estrutural e táticas de sobrevivência em Macapá (1944-1964), elaborada sob a orientação da professora doutora Maria Odila Leite da Silva Dias e defendida no Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo (USP), em 2013. ** Doutor em história social pela Universidade de São Paulo (USP), professor adjunto de história da Universidade Federal do Amapá (Unifap). Macapá, AP, Brasil. E-mail: [email protected]. * Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 223-241, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 223 O despertar de Orfeu: prazer e lazer dos trabalhadores de Macapá (1944-1964) Sidney Lobato Introdução: a regulação do gozo Foi a partir da ideia de atraso regional que, no pós-1930, formulou-se para a Amazônia um projeto político de valorização econômica e de nacionalização do seu espaço.1 Nas décadas de 1940, 1950 e 1960, o Norte do Brasil era percebido por muitos políticos e intelectuais como uma região economicamente problemática. Na perspectiva do governo federal, urgia ocupar e valorizar o espaço amazônico para que ele, definitivamente, se integrasse ao restante do país — sobremodo aos centros hegemônicos. Em 1940, discursando aos comerciantes de Belém, Getúlio Vargas afirmou que: o Pará, toda a Amazônia, não conseguiu adaptar os métodos de trabalho a essa renovação dos processos de aproveitamento dos recursos naturais. Não é momento de indagar as causas dêsse retardamento. Talvez a imprevidência, que La Fontaine simbolizou na fábula da cigarra e da formiga, tenha impedido que se aplicasse em obras duradouras, de técnica agrária e industrial, boa parte do abundante ouro extraído da floresta generosa.2 O atraso da Amazônia, segundo Vargas, possivelmente era resultado do predomínio de uma cultura baseada no gozo despreocupado e imprevidente do tempo e no uso oportunista dos recursos da floresta (aos moldes da cigarra descrita pela fábula referida).3 Embasado em tais pressupostos, o primeiro governo territorial do Amapá tentou disciplinar o homem regional para que ele pudesse ajudar a alavancar o desenvolvimento do país. A criação do Território Federal do Amapá (em 13 de setembro de 1943) e a instalação nele do governo territorial (em 25 de janeiro de 1944) eram apresentadas como marcos inaugurais de um novo e auspicioso tempo na história dos habitantes da Guiana Brasileira.4 O primeiro governador do Amapá, Janary Gentil Nunes, tentou a todo custo difundir entre os trabalhadores uma narrativa histórica na qual a sua posse simbolizava o fim de um período de pessimismo, abandono, caos, atraso, doenças, analfabetismo, superstição, D’ARAÚJO, Maria Celina. Amazônia e desenvolvimento à luz das políticas governamentais: a experiência dos anos 50. Revista Brasileira de Ciências Sociais, n. 19, p. 40, jun. 1992. 2 VARGAS, Getúlio. Os problemas da Planície Amazônica e o futuro do Pará. In: A nova política do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, s.d. v. VIII, p. 55-56. 3 No Sudeste, a valorização do trabalho regular e a disciplinarização da vida de homens e mulheres entravam em choque com a chamada “cultura da malandragem” (TOTA, Antonio Pedro. Cultura, política e modernidade em Noel Rosa. São Paulo em Perspectiva, v. 15, n. 3, p. 45-49, jul./set. 2001; e VASCONCELLOS, Gilberto; SUZUKI JÚNIOR, Matinas. A malandragem e a formação da música popular brasileira. In: FAUSTO, Boris (Dir.). História geral da civilização brasileira. Tomo III (O Brasil Republicano). São Paulo: Difel, 1984. v. 4, p. 501-523. 4 Após longo processo de debates políticos, o governo federal decidiu criar os territórios federais de Rio Branco, Guaporé, Ponta-Porã, Iguaçu e Amapá. Publicada em 13 de setembro de 1943, essa decisão se apoiava na Constituição de 1937, que definia os territórios como áreas diretamente administradas pelo governo federal (arts. 4o e 6o). 1 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 223-241, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 224 O despertar de Orfeu: prazer e lazer dos trabalhadores de Macapá (1944-1964) Sidney Lobato pobreza e invisibilidade. Segundo ele, iniciava então um luminoso momento de otimismo, patriotismo, progresso em todos os aspectos socioeconômicos.5 A partir desse momento, nas escolas amapaenses, os alunos deveriam ser preparados para integrar o mundo da produção, através do qual se integrariam à própria sociedade. A disciplinarização dos corpos e mentes dos moradores de Macapá deveria levar ao direcionamento da maior parte de suas energias para o trabalho produtivo.6 A criação de uma sociedade pautada na ética do trabalho era algo assumido como uma prioridade pelos janaristas. Segundo o delegado Flávio Maroja, o princípio constitucional de que o trabalho era um dever social foi “um lema que o Governador Janary firmou para os seus auxiliares” e ao qual ele próprio prestou “incondicional obediência”. Por outro lado, Maroja, pressupondo que a ociosidade trazia sempre um risco para a sociedade (dada sua natureza criminógena), argumentou que o Amapá — onde a criminalidade não acompanhara o crescimento populacional —, ao invés de se tornar “um seio de Abraão para os ociosos”, transformou-se em “uma organização social perfeita e ajustada”.7 Em 1951, o advogado Aderbal Melo, ao analisar o crescimento do número de crimes praticados na cidade do Rio de Janeiro, sentenciou: “é a ociosidade a geradora da criminalidade”. E acrescentou: “é dessa camada, sem o hábito da árdua batalha diuturna pelo pão sem nódoas em seu miolo, que promana o número sempre crescente dos piores facínoras (...)”.8 A centralidade do trabalho no discurso hegemônico desdobrava-se na grande preocupação da classe dirigente com as horas de folga dos que cotidianamente laboravam pela sobrevivência. Por outro lado, mais do que sobreviver, os sujeitos históricos aqui estudados queriam viver. A moralidade que supervalorizava o trabalho era altamente castradora, pois submetia o tempo livre aos imperativos da racionalidade técnica e da produtividade econômica. Por isso, o gozo do ócio (termo carregado de conotações negativas) causava grande preocupação nos grupos dirigentes. Para eles, tal gozo deveria ser: dosado, regulado e (mormente) policiado. Neste artigo, nos ocuparemos dos desejos, dos prazeres e dos sonhos dos moradores da capital do Amapá. Sonhos que levavam a excessos catárticos. Ressaltamos que a vibração onírica deve ser contabilizada pelo pesquisador preocupado em entender os aspectos latentes das experiências sociais. Nosso objetivo é analisar aquilo que a moral e a pobreza diariamenComo exemplo, destacamos um trecho do Editorial do número especial do jornal Amapá, de 25 de janeiro de 1952: “se o Amapá caminhou mais célere do que outros recantos do país, projetando-se em evidência no cenário econômico e social da Pátria, deve-se ao entrosamento produtivo entre o seu Governo e o seu povo, que sempre marcharam unidos na árdua e gloriosa missão de soerguimento do Território. Foi graças a essa coesão de ideais que nasceu e cresceu, florindo e frutificando, a mística do Amapá, tornando esta terra de heróis e de sofrimentos, numa das mais promissoras esperanças do Brasil atual” (OITO anos de batalha territorial [Editorial]. Amapá, n. 358, 25 jan. 1952. 1a secção, p. 1). 6 Ver: LOBATO, Sidney da Silva. Educação na fronteira da modernização: a política educacional no Amapá (1944-1956). Belém: Paka-Tatu, 2009. 7 MAROJA, Flávio. O trabalho como fator do equilíbrio social. Amapá, n. 183, 13 set. 1948. p. 6. 8 MELO, Aderbal. A ociosidade e o crime. Amapá, n. 319, 21 abr. 1951. p. 6. 5 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 223-241, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 225 O despertar de Orfeu: prazer e lazer dos trabalhadores de Macapá (1944-1964) Sidney Lobato te obstavam ou barravam e compreender as efêmeras experiências emancipatórias, ocorridas nos momentos de prazer e de lazer dos trabalhadores de Macapá. O tempo do lazer Macapá, no início de 1944, ganhou o status de capital (em detrimento da escolha inicial, que recaíra sobre a cidade de Amapá). Nesse momento, no entanto, ela era uma vila de algumas centenas de habitantes, abalada pela crise da borracha amazônica do início do século XX.9 As construções realizadas pelo governo territorial trouxeram novo fôlego para a combalida economia macapaense. Em números arredondados, Speridião Faissol nos fornece uma síntese do vertiginoso crescimento populacional macapaense neste contexto: “a população de Macapá, que em 1940 era de 2 mil habitantes, foi crescendo para 10 mil em 1950, 25 mil em 1960 e para os seus atuais [1964] 40 mil”. Faissol afirma que esse “exagerado crescimento” derivou da criação do Território Federal do Amapá e das ações do governo federal na região. As novas condições de assistência e de vida existentes em Macapá foram o principal foco de atração das populações das ilhas paraenses vizinhas.10 Paraenses e nordestinos compuseram a maior parte da onda migratória que gerou esse boom populacional. O crescimento de Macapá a partir de 1944 ensejou um aumento e uma diversificação das opções de lazer dos citadinos. Domingueiras matinais, animadas pelo jazz-band da Guarda Territorial, eram realizadas na Fortaleza de São José. Nas tardes de domingo, os trabalhadores podiam usufruir das festas ocorridas no salão de recepção do Macapá Hotel. Os cinemas da capital (o Cine-Teatro Territorial11 e o Cine João XXIII12) eram LOMBAERDE, Padre Júlio Maria. Macapá: sua história desde a fundação até hoje. Macapá, 1987, p. 8. Mimeografado. 10 FAISSOL, Speridião. Atlas do Amapá. Rio de Janeiro: Instituto Regional de Desenvolvimento do Amapá e Conselho Nacional de Geografia (IBGE), 1966. p. 26. Na verdade, Faissol sistematizou uma série de dados levantados por equipes de técnicos do Instituto Regional de Desenvolvimento do Amapá (Irda), do IBGE e do governo territorial do Amapá. Conforme um articulista da revista Icomi Notícias: “o ‘Atlas do Amapá’, trabalho realizado pelo Irda (entidade criada e mantida pela Icomi) em colaboração com o IBGE e técnicos do Território, foi resultado de um desses esforços de sistematização do conhecimento disperso que geralmente se tem sobre áreas e regiões brasileiras, com prejuízo para as atividades da Administração Pública e redução do interesse privado pela implantação de iniciativas de ordem econômica (...)” (ATLAS: Amapá de corpo inteiro. Icomi Notícias, n. 34, p. 6, mar./abr. 1967). 11 Segundo o articulista do jornal Amapá, o Cine Territorial de Macapá (que contava com 280 lugares) deveria propiciar não apenas o entretenimento: “é com alegria que observamos o operário, o agricultor, o criador, o comerciante, o escriturário, etc... nos seus ‘bate-papos’ cotidianos, aludindo ao filme e ao seu fundo moral ou social, elogiarem mais essa iniciativa que diverte e educa”. Em 1946, o contrato assinado com a Twenty Century Fox garantiu a apresentação de filmes com longas metragens em Macapá. Nas quintas-feiras ocorriam sessões populares com ingressos custando Cr$ 3,00. As crianças tinham uma vesperal especial, desde que o filme não fosse considerado “impróprio e prejudicial aos bons costumes que, diariamente, vem aprendendo nas escolas” (Comentário da Semana [seção]. Amapá, n. 55, 6 abr. 1946. p. 2). 12 Foi inaugurado pela Igreja em 1963 (INAUGURADO o cinema João XXIII. Amapá, n. 1210, 27 mar. 1963. p. 4). 9 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 223-241, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 226 O despertar de Orfeu: prazer e lazer dos trabalhadores de Macapá (1944-1964) Sidney Lobato procurados por públicos de várias idades e preferências. A Rádio Difusora possuía um auditório onde se podia assistir, ao vivo e de graça, a programação dela, que incluía: performances ao piano, shows de calouros, programa infantil (A hora do guri) e outros... Essas eram as diversões da chamada Macapá moderna. Apesar de ficarem concentradas na área urbanizada da cidade, tais opções de lazer eram usufruídas pelos moradores de todos os bairros.13 Muito populares eram os piqueniques e os banhos na orla do Amazonas. As “praias” de Macapá e de Fazendinha eram ocupadas por dezenas de banhistas nos dias quentes, especialmente nos finais de semana. Referindo-se à pequena praia situada junto à Fortaleza, o articulista do jornal Amapá destacou em 1950: “nas cheias da maré, fica literalmente tomada por banhistas que enchem a tepidez da manhã equatorial com o riso alegre de sua mocidade sadia, com disputa de ‘páreos’ em água e terra, não faltando o matraquear dos motores de popa que ziguezagueiam pelas redondezas”.14 A “maré convidativa” era a alta, quando as águas do “Rio mar” se avolumavam na beira e propiciavam um prazeroso alívio para o calor.15 Balneários mais afastados do núcleo urbano eram os preferidos para a realização de bebedeiras e encontros amorosos. Em abril de 1952, Ocimar Melo e seus amigos, “a fim de tomar banho”, foram a “uma praia existente para os lados do Beirol, a qual o povo denomina de ‘Araxá’, a fim de tomar banho”, onde se excederam em “libações alcóolicas”.16 Nos anos 1960, um grande número de pessoas acorria à praia de Fazendinha, para aí se refrescar e divertir. Preocupados com os possíveis desvios morais, padres e policiais passaram a tentar trazer tais banhistas para a órbita do controle social. Em abril de 1963, o diretor da Divisão de Segurança e Guarda, Uadih Charone, “considerando as constantes comunicações chegadas à Chefia de Polícia com respeito a realização de farras e bacanais efetuados nas praias de Fazendinha, por banhistas inescrupulosos” e também “considerando a necessidade da imediata moralização naqueles locais”, resolveu “proibir a realização de farras e bacanais nas praias de Fazendinha”.17 A proibição não surtiu efeito (duradouro), pois, em outubro de 1964, um articulista do jornal A Voz Católica advertia: “um pouco mais de cuidado com a praia de Fazendinha”. E explicava: “cuidado eu digo, para prevenir desatinos... físicos e morais”.18 Além das praias, lagos e lagoas (um pouco ou muito distantes do centro urbano) DIVERSÕES. Amapá, n. 252, 7 jan. 1950. p. 3. Ibid. 15 Em depoimento prestado em setembro de 1949 para um inquérito policial, a paraense de 24 anos, Maria José Borges, disse que “estando a maré convidativa, [ela e Maria Santos] acertaram tomar um banho de praia, atrás da Fortaleza” (Arquivo do Fórum da Comarca de Macapá [doravante: AFCM]. Caixa 299, processo n. 348, de 22 de setembro de 1949, fl. 23). 16 AFCM. Caixa 275, processo n. 649, de 18 de junho de 1952, fls. 6 e 10. 17 DIVISÃO de Segurança e Guarda — Portaria nr. 144/63 — DSG. A Voz Católica, n. 185, 12 maio 1963. p. 4. 18 LUZ e sombras [seção]. A voz católica, n. 260, 19 out. 1964. p. 2. 13 14 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 223-241, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 227 O despertar de Orfeu: prazer e lazer dos trabalhadores de Macapá (1944-1964) Sidney Lobato também eram utilizados para banhos e passeios. Como os que ocorriam na Lagoa dos Índios e no Laguinho.19 Os jogos de azar também eram um divertimento sempre associado a degenerescência moral. No dia 30 de abril de 1946 (véspera do Dia do Trabalho), o presidente Dutra, pelo Decreto no 9.215, proibiu a realização de jogos de azar em todo o território nacional. No jornal Amapá, de 4 de maio deste ano, lemos que, desde o início do governo de Janary, este “câncer maldito” já encontrava todas as portas fechadas nas terras amapaenses.20 Já em 23 de junho de 1945, aquele mesmo semanário noticiava: “quando jogavam a dinheiro, no barracão onde residem, foram pilhados os operários Alcides Ribeiro, baiano, com 25 anos de idade; José Henrique da Silva, alagoano, com 19 anos de idade e José Barroso de Antunes, pernambucano, com 21 anos de idade”.21 Os barracões governamentais que abrigavam operários (juntamente com os subúrbios) eram os principais focos da profilaxia moral promovida pela Polícia. Numa sentença de abril de 1948, o juiz Uriel Sales de Araujo destacou que “no caso concreto, havia o combate moralizador, por parte da polícia, a jogos proibidos e venda de bebidas alcoólicas no barracão onde residiam os operários empregados na construção do hospital desta cidade”. Mas, vieram as resistências... Nesta mesma sentença lemos: “contra essa campanha louvavel, contra essa medida legal, rebelou-se o denunciado, elemento indesejavel”.22 Os padres também estavam empenhados nessa cruzada contra a jogatina. Em abril de 1960, o clero local, através de seu semanário A Voz Católica, ressaltou que não condenava a todos os jogos indiscriminadamente. O articulista esclarecia: “jogar uma canastinha [sic], de noite, sem outro interesse que o de passar umas horas de lazer, com o único prejuízo do sono perdido, quem diz que é mal?”. A Igreja condenava sim: o jogo a dinheiro. Isso porque, ainda segundo o referido jornal, o jogador inveterado não jantava mais em casa, saía do trabalho e Segundo processo criminal, em 9 de junho de 1957, Lucy Araujo e Raimunda Santana alugaram uma bicicleta e foram tomar banho na Lagoa dos Índios, área afastada da cidade e próxima da ponte “Santa Maria” (AFCM. Caixa 210, processo no 1241, de 26 de agosto de 1957, fl. 12). Num outro processo, Alexandra Ramos relatou que, em 26 de agosto de 1956, fora tomar “um banho num lago situado nas proximidades” de onde morava — o bairro do Laguinho (AFCM. Caixa 210, processo no 1191, de 17 de maio de 1957, fl. 7). 20 PROIBIDA a prática e a exploração de jogos de azar em todo o território nacional. Amapá, n. 59, 4 maio 1946. p. 1. 21 PRESOS em flagrante quando jogavam. Amapá, n. 14, 23 jun. 1945. Ocorrências policiais, p. 3. 22 Na assentada de testemunhas ocorrida em 5 de abril de 1948, o mestre de obras de 38 anos Julio B. de Araujo (natural do estado do Rio de Janeiro) disse que, após um tumulto no barracão, soube pelo próprio denunciado — conhecido como “Raimundo Pará” — “que este convidara Esmerido Silva Muniz e outros operários da referida construção para que, no dia que a Polícia comparecesse no barracão e suas proximidades fazendo investigações e busca no combate ao jogo e à venda de bebidas alcoólicas nos dias proibidos, eles corressem a Polícia a cacete; que, posteriormente, os operários que se tinham comprometido a fazer o que o denunciado mandara, retiraram seus compromissos e rebelaram-se contra a insistência do denunciado em vê-los arrebanhados para a prática da violência; que depois desse caso o denunciado abandonou o emprego e, passados mais ou menos dois meses, retirou-se para as ilhas do Estado do Pará” (AFCM. Caixa 227, processo no 85, de 15 de maio de 1946, fl. 32). 19 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 223-241, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 228 O despertar de Orfeu: prazer e lazer dos trabalhadores de Macapá (1944-1964) Sidney Lobato ia direto para as casas de jogo, furtando-se ao convívio com esposa e filhos, o que resultava num afrouxamento dos laços familiares. A jogatina, assim, era vista como uma patologia social que obstava a formação de um trabalhador previdente e como um mal que corroía a suposta harmonia dos lares cristãos.23 Algumas modalidades de lazer eram consideradas apanágio masculino. Era o caso do futebol. Esporte que era, de longe, o mais popular em Macapá. Por isso, merece ser objeto de estudos mais pormenorizados. Governo, Igreja, empresas e bairros criaram seus times. A hora do jogo oferecia uma oportunidade de constituição de novos laços de solidariedade. Era também um momento de revigoramento da camaradagem cultivada dentro dos mundos do trabalho. Mais do que nos campeonatos oficiais, isto ocorria durante as peladas. Como um pequeno carnaval, a pelada era um momento de suspensão momentânea das hierarquias sociais. Uma experiência genuinamente democrática, mais regida pelo companheirismo do que por rigorosas regras. A respeito de uma pelada que se realizava no campo do Aeroclube de Macapá, José Tostes escreveu em dezembro de 1957: “se alguém pensa que o Governador, chutando a bola, o servente, no arco, engole frango, está enganado... que o chefe da repartição não leva tranco do contínuo!... que ali há hierarquia!?”. E prossegue: “nada disso!... O que há, ali, não é bem futebol... mas é pelada, no duro. O que há de verdade, ali, é puríssima democracia (...)”.24 Nos descampados, praças e praias de Macapá, crianças e adultos entregavam-se a essa efêmera democracia futebolística. Farras nos botequins A paixão pelo futebol também se traduzia na adesão a este ou aquele time. As atuações das agremiações eram, frequentemente, tema das animadas e ruidosas conversas de botequim.25 Isso porque, à noite, a capital amapaense ganhava uma vibração nova. Não aquela dos músculos crispados no estafante labor diário. Era a vibração mais espontânea e emotiva dos bate-papos entre amigos, regados pelas libações alcoólicas. O rápido crescimento da urbe macapaense poderia ser bem representado pelo vigor de seus entretenimentos noturnos. O grande número de clubes e botequins existentes evidenciava uma pujante movimentação de amantes da boemia. É o que se depreende de vários relatos encontrados nos processos PAI e jogador. A Voz Católica, n. 26, 24 abr. 1960. p. 4. TOSTES, José Barroso. A pelada. Amapá, n. 887, 8 dez. 1957. p. 3. 25 Vejamos um exemplo. Num inquérito policial de setembro de 1946, o comerciante Francisco Serrano depôs que fora chamado pelo advogado Lauro Sodré Gomes “para uma reunião no botequim de João Vieira de Assis” e que, quando foi atender a tal chamado — na praça Capitão Assis de Vasconcelos —, avistou Sodré Gomes ansioso na calçada. Nesse momento, Serrano fora avisado pelo jogador apelidado “Labrione” de que, minutos antes, houvera naquele botequim uma discussão acerca de clubes de futebol, no meio da qual veio à baila o nome dele (Serrano). Este, para evitar incidentes, retornou a sua casa (AFCM. Caixa 224, processo no 1469, de 2 de outubro de 1946, fl. 12). 23 24 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 223-241, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 229 O despertar de Orfeu: prazer e lazer dos trabalhadores de Macapá (1944-1964) Sidney Lobato judiciais, como o do funcionário da mineradora Indústria e Comércio de Minérios S.A. (Icomi)26 Pedro Gomes (paraense de 25 anos), que, no dia 24 de agosto de 1957, saiu de sua referida residência, por volta das vinte e uma horas e sabendo que realizava-se uma festa dançante de aniversário, no bairro do ‘Trem’, para ali se dirigiu, indo sozinho; que, imediatamente entrou na festa, pois tinha alguns conhecidos na mesma que facilitaram a entrada do declarante; que, entre esses amigos um deles tinha um litro de gim, tendo por isso o depoente tomado alguns goles com guaraná; que, em seguida passou a dançar, tendo conseguido uma namorada, ficando juntamente com ela até por volta [das] vinte quatro horas, saindo em seguida e casualmente passou em frente à sede do Latitude Zero e parou um pouco, não se demorando muito, porque nessa ocasião passou uma camionete da Icomi e o conduziu para a sede do Amapá Clube, onde mora conforme disse acima; que, sentindo fome o declarante foi até o Society Café e ao chegar encontrou-se com um seu conhecido que informou estar o seu colega de serviço, Manoel da Conceição, bastante alcoolizado e ter se dirigido para a piscina; que, imediatamente, dirigiu-se para a piscina, a fim de trazer o seu referido colega.27 Frustrando as investidas normalizadoras que a Icomi fazia no sentido de enquadrar sua “mão de obra” dentro das estreitas expectativas do capitalismo industrial, funcionários dessa empresa — como Pedro Gomes — usavam seus momentos de folga para se divertir em farras (que, em geral, combinavam o usufruto de bebidas alcoólicas e da prostituição) nos botequins de Macapá.28 Os divertimentos noturnos desta cidade suscitavam o despreocupado gozo do corpo, do tempo e da vontade. Três coisas que a disciplina capitalista cotidianamente teimava em tentar arrancar do controle dos homens. De modo subversivo e efêmero, as noitadas nos bares e lupanares propiciavam aos trabalhadores uma retomada do governo de si. Os “excessos” e o riso catártico rechaçavam a conduta regrada e o tom artificialmente sério das horas do trabalho e do dever. Bem compreendendo este antagonismo moral, em 1949, Álvaro da Cunha escreveu, no poema Noturno de Macapá, os seguintes versos: “ah! Boêmios! Essa reputação de moço sério,/ ou o esforço de manter tal atitude,/ como pesa, A exploração pela Indústria e Comércio de Minérios S.A. (Icomi) — uma modesta firma constituída em Belo Horizonte, no ano de 1942 — das imensas jazidas de manganês do Amapá criou uma grande onda migratória para Macapá. A Icomi precisava de uma ampla infraestrutura para tornar possível a exploração e o escoamento da produção manganífera amapaense. Esta infraestrutura foi dividida em três seções: a) área de mineração (vila de Serra do Navio e área de extração); b) a ferrovia (que transportava o minério); c) e o Porto de Santana (distrito da capital, distante dela cerca de 20 km), onde terminava a ferrovia e de onde o minério saía, em navios, para o exterior. Abria-se, assim, no Amapá, uma ampla e diversificada frente de trabalho. 27 Colocamos em destaque (negrito) os lugares de entretenimento visitados por Pedro Gomes em apenas uma noite (AFCM. Caixa 255, processo no 1219, de 21 de novembro de 1957, fl. 23). 28 PAZ, Adalberto Júnior Ferreira. Mineiros da floresta: sociedade e trabalho em uma fronteira de mineração industrial amazônica (1943-1964). Dissertação (mestrado em história) — Universidade de Campinas, Campinas, 2011. p. 103. 26 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 223-241, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 230 O despertar de Orfeu: prazer e lazer dos trabalhadores de Macapá (1944-1964) Sidney Lobato às vezes!/ Ver a vida passar todos os meses,/ com ela a juventude/ e o corpo a caminhar pro cemitério”.29 A boemia possuía uma moral própria, contrária à limitação e à procrastinação do prazer — imperativos dos forjadores do cidadão-trabalhador. No escuro, nos lugares escondidos e afastados dos olhares era que o hedonismo poderia expandir-se. E, nos meios sérios, este somente poderia apresentar-se com licença poética. Poetas boêmios recorrentemente queixavam-se da vida cotidiana — seara repleta de frustrações. Na poesia Cabaré da angústia (de 1956), o poeta paraense Georgenor Franco escrevia: “nos copos de cerveja que se esvaem/ há a tristeza de poetas líricos/ e a esperança de sonhos incompletos”.30 Alegrias e tristezas encontravam grata acolhida nos botequins. Abafados nos ambientes sérios, os dramas pessoais podiam ser francamente expostos na mesa de bar. Aí, a solidariedade mais rapidamente se fortalecia e a camaradagem dos trabalhadores virava cumplicidade e amizade. O autor de Cabaré da angústia, ao tematizar “a esperança de sonhos incompletos”, inspirara-se no então comentado poema Sermão da mágoa, de Arthur Neri Marinho. Nesta verdadeiramente bela composição, lemos: “meu coração é público, Senhores!/ é como o botequim dali da esquina,/ À turba não ilude/ sempre há de ter lugar aos sofredores”. E mais adiante conclama: “entrai, ó legião de sofredores,/ neste templo onde o ódio não existe./ Entrai que a casa é grande e há hospedagem/ suficiente para a turba triste...”.31 O botequim era a antítese da racionalidade técnica. Aí o homem não precisava fingir ser uma máquina, ou um ser destituído de sentimentos. Aí ele poderia expor suas fraquezas e decepções, bem como ensaiar uma cura para os males d’alma. A boemia concentrava-se e ganhava força na doca da Fortaleza. Esse lugar, durante o dia, recebia dezenas de embarcações vindas de vários pontos da Amazônia e do restante do Brasil. Chegada a escuridão, a doca era tomada pelos notívagos que buscavam seus pequenos bares para rápidos aperitivos ou demoradas farras. Alcy Araújo era “o poeta das docas e dos cais”. Ele escrevia sobre a interinidade da vida nestes lugares: “sou feito de ondas/ de algas de salsugem/ de barcos voltando/ para a renovação de partidas”.32 Em Belém, AraúCUNHA, Álvaro da. Noturno de Macapá. Amapá, n. 250, 24 dez. 1949. p. 3. Cunha nascera em 1923 e era belenense. Mudou-se para o Amapá em 1946. Publicou diversos poemas no jornal Amapá e na Revista do Amapá. Em 1952, com José Pereira da Costa e Marcílio Vianna, fundou a revista literária Latitude Zero. Janarista até o início da década de 1960, ele dirigiu por vários anos a assessoria técnica do governo territorial. No campo literário, publicou: Pássaros de chumbo (em 1951), Modernos poetas do Amapá (em 1960, com a colaboração de Ivo Torres e outros) e Amapacanto (1986). Ver: CUNHA, Álvaro da et al. Modernos poetas do Amapá. Rio de Janeiro: Lux, 1960. p. 71. 30 FRANCO, Georgenor. Cabaré da angústia [que então compunha o livro inédito Poemas dentro da noite]. Amapá, n. 750, 5 jul. 1956. p. 2. 31 MARINHO, Arthur Neri. Sermão da mágoa. Amapá, n. 751, 8 jul. 1956. p. 4. Arthur Neri Marinho era chavense (nascido em 1923). Em 1946, começou a trabalhar no gabinete do governador do Amapá e foi diretor da Imprensa Oficial do Território. Seus escritos literários foram publicados em jornais e revistas amapaenses (por exemplo: na revista Rumo) e paraenses (por exemplo: na revista Amazônia). Cf.: Álvaro da et al. Modernos poetas do Amapá, op. cit. p. 37. 32 ARAÚJO, Alcy. Chorando mar. In: ARAÚJO, Alcy. Poemas do homem do cais. Rio de Janeiro: MEC Editora, 1983. p. s.n. Alcy Araújo nasceu no município de Bragança (Pará), em 1924. Entre 1941 e 1953 trabalhou 29 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 223-241, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 231 O despertar de Orfeu: prazer e lazer dos trabalhadores de Macapá (1944-1964) Sidney Lobato jo era tão entregue à inebriante vida noturna da área do cais, que seu amigo Georgenor Franco chegou a temer que ele viesse a sucumbir, juntamente com sua poesia: “tememos até, eu e [Carlos] Lima, amigos de sempre, que Alci naufragasse, não vencido pelas ondas do mar, da Baía do Guajará, mas pelas ondas violentas de uma boemia desregrada, que estava talvez, a comprometer o seu próprio valor poético”.33 Mas, ao se mudar para Macapá, Alcy Araújo não se afeiçoou à doca da Fortaleza. Ele adotou o moderno e maquinizado Porto de Santana, um cais “mais pesado,/ carregado de idealismo e de metais,/ com apitos de locomotivas egressas do ventre das montanhas,/ — um navio imenso fecundando as entranhas/ de outros navios menores/ na cópula pesada do minério”. Em seguida, Araújo esclareceu: “não mais bares das docas,/ — agora o barracão,/ não mais os marinheiros bêbados,/ agora o operário suarento./ Não mais o ranger obsoleto dos guindastes,/ — agora a sinfonia das modernas britadoras”.34 Assim, a doca da Fortaleza ficou sem seu aedo. Aliás, o poeta Álvaro da Cunha foi um dos detratores dela. Um ano e meio antes de escrever Noturno de Macapá (em julho de 1948), ele, como “moço sério”, advertia que estava surgindo em Macapá um grande número de botequins de suspeita higiene e de questionável utilidade social. Os botequins enquistados deveriam, segundo Cunha, ser objeto de severo controle, “pois é sabido que na maioria das cidades é sempre mais calamitosa a praga do alcoolismo e de outras doenças sociais quanto mais disseminado for o número dos estabelecimentos de ócio e dos centros de dissipação”.35 A profilaxia social, desse modo justificada, visava salvaguardar a moral familiar do discurso hegemônico. Em outras palavras, a doca deveria ser higienizada física e moralmente para o bem de toda a cidade. A percepção depreciativa do entorno do igarapé da Fortaleza tinha ampla ressonância. Em suas alegações finais para um processo acerca de crime de sedução, o advogado José Dionísio da Silva Barros, após perguntar “que vida levava Raimunda?”, apresentou sua apreciação sobre a suposta vítima, argumentando: evidentemente a vida de Raimunda estava muito longe de ser a da de menor “absolutamente inexperiente”, como é apresentada na denúncia. Além do mais, residindo a ofendida à margem esquerda do Igarapé da Fortaleza, não podia ser um produto infenso às influências do meio. O Exmo. Doutor Juiz conhece que a margem esquerda do Igarapé da Fortaleza, ou seja, na doca, é onde estão localizadas as barracas ou botequins que servem os tripulantes dos barcos para vários jornais paraenses. Em meado de 1953, aceitando convite de Álvaro da Cunha, ingressou no funcionalismo público do território do Amapá, onde se tornou oficial e (depois) chefe de gabinete do governador. Foi diretor da Imprensa Oficial do Território. Além de Poemas do homem do cais, publicou o livro poético Autogeografia. Cf. Álvaro da et al. Modernos poetas do Amapá, op. cit. p. 9. 33 FRANCO, Georgenor. O poéta das docas. Amapá, n. 758, 2 ago. 1956. p. 4. 34 Ibid. 35 CUNHA, Álvaro da. D.D.T. Amapá, n. 177, 31 jul. 1948. p. 4. O título do artigo já indica a carga de estigmas que o autor estava jogando sobre a doca, pois o D.D.T. é um veneno muito forte que até alguns anos atrás foi utilizado para afastar pragas e matar insetos. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 223-241, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 232 O despertar de Orfeu: prazer e lazer dos trabalhadores de Macapá (1944-1964) Sidney Lobato que alí aportam, e onde, como em toda parte, se situa preferencialmente o meretrício, quando determinações da polícia não o afastam para outra parte.36 Percebida como espaço criminógeno e fonte de degradação humana, a doca era objeto de frequente policiamento. Igualmente era vista como algo feio que, lamentavelmente, ficava na frente de Macapá.37 No pós-1964, o governo territorial fez desaparecer esse lugar. Depois do grande incêndio da noite do dia 28 de novembro de 1967 (que destruiu muitas das palafitas aí existentes), os desabrigados foram transferidos para outras partes da cidade. Foi construído, então, um canal com o leito concretado e cujas margens foram aterradas.38 Em todo o período enfocado aqui, a doca foi, além de um espaço de comércio e moradia, um importante centro de divertimentos populares. Seus botequins e lupanares atraíam homens de toda a cidade, e também de fora dela. Seu apagamento da cartografia urbana deu-se em nome do ideal de uma Macapá higienizada e moralizada... Como afirmamos, os botequins ensejavam o fortalecimento dos laços de companheirismo e amizade. Em entrevista, Arlindo Oliveira nos disse: “eu gosto muito de frequentar bar, não para beber, para fazer amizade”.39 Mas, os bares também oportunizavam desentendimentos, acaloradas discussões e brigas. Tomando o botequim como um “observatório popular”40 e partindo da análise das rixas entre os boêmios, podemos entender todo um amplo espectro de valores e práticas. No Baixo Amazonas, as brigas manifestavam uma conAFCM. Caixa 299, processo no 257, de 2 de fevereiro de 1949, fl. 52. Arlindo Silva de Oliveira (nascido em 1931) foi entrevistado no dia 13 de outubro de 2006. Foi aluno da Escola de Iniciação Agrícola do Amapá (município) e foi um dos primeiros pilotos de avião do recém-criado Território Federal do Amapá. Durante a entrevista, Arlindo Oliveira relatou-nos: “a ‘Beira’ era aí, onde é o comercio hoje. Aquilo tudo era madeira. A maioria era formada por judeu ou turco. Houve um incêndio. Disseram que aquilo foi ideia do governo, mas eu acho que não (era muita maldade). Queimou tudo, começaram do zero. Aí começaram a fazer comércio de alvenaria (...). E o mercado era ali. Aquilo era palafita, tinha até prostituição. Uma vez eu fui fazer compra lá e eu vi uma mulher sair de dentro d’um buraco daqueles, completamente nua (...). No bar, de vez em quando você tem ideias interessantes: um disse que faria daquele mercado uma área de artesanato; eu o quartel da guarda municipal, ‘porque eu tenho andado por aí e quase todos os quartéis da guarda municipal que eu vejo é mais ou menos naquele estilo’. E outro disse ‘não pode ser’, e ficou aquela história lá. Eu disse: ‘olha é melhor do que implodir, melhor do que a ideia do Gil Gato de meter embaixo. Resolvia dois problemas: a prostituição e a jogatina’. Uma vez mataram um cara lá com negócio de jogo, de jogo de baralho (...). Voltando ao incêndio que atribuíram ao governo, que não queria aquele negócio que era feio... Os caras vinham para cá, queriam ganhar dinheiro, não queriam saber de investir. Só queriam ficar naquilo ali. Vender naquele negócio todo. E hoje ainda existem muitos deles aqui. Aliás, deles não, os descendentes. Foi o velho JK que trabalhou muitos anos pra construir aquilo ali (o Romeu). Mas, naquela época era muito feio aquele pedaço ali, principalmente até ali aquela área da ponte [da rua Cândido Mendes]. Ali, bem no canto tinha um bar chamado Bar Caboclo que era de madeira, mas não foi atingido, porque o incêndio foi mais daquela passagem para trás”. 38 COSTA, Paulo Marcelo Cambraia da. Na ilharga da fortaleza, logo ali na beira, lá tem o regatão: os significados dos regatões na vida do Amapá (1945-1970). Belém: Açaí, 2008. p. 181-192. 39 Entrevista anteriormente citada. 40 CHALHOUB, Sidney. Trabalho, lar e botequim: o cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da belle époque. Campinas: Unicamp, 2001. p. 312. 36 37 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 223-241, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 233 O despertar de Orfeu: prazer e lazer dos trabalhadores de Macapá (1944-1964) Sidney Lobato cepção popular de justiça. A tradição do uso privado da violência fortaleceu-se em áreas que por décadas ficaram fora do alcance das forças policiais, do Judiciário e das demais agências do poder estatal. Em dezembro de 1947, em suas alegações finais para um processo criminal em torno de lesões corporais, o advogado Marcílio Felgueiras Viana argumentou: “o lugar poção do Matapí como também nas suas adjacências jamais possuiu sequer uma escola. A grande tradição pelo ser costume e mesmo por não saberem a quem se dirigir, era da Justiça pelas próprias mãos”.41 Em geral, as comunidades de vizinhança reconheciam as brigas como meios legítimos de solução de conflitos. Tal reconhecimento ficava evidente quando os vizinhos decidiam não interferir na luta corporal. A interferência ocorria apenas em situações especiais — principalmente: quando se tratava do desdobramento de um litígio entre famílias (o que fazia vir à tona a solidariedade doméstica)42 e quando ocorria a necessidade de se reestabelecer um equilíbrio entre os litigantes (como quando um estava armado e o outro não).43 O que observamos nas brigas narradas nos processos criminais é que elas não podem ser tomadas como sintomas de anomia social — ou do “estado de natureza” hobbesiano. Pelo contrário, as rixas eram esforços no sentido de diluir tensões, de (re)estabelecer hierarquias, de reparar danos (em geral, algo atrelado à honra da pessoa). Tratava-se da garantia e do reforço de uma ordem: da micropolítica de grupos e comunidades. A associação da briga à desordem ou a “questões de somenos importância” nascia do estereótipo de que as camadas populares formavam um ente ameboide, instável e destituído de qualquer norma própria. Feitas estas importantes ressalvas, podemos voltar à questão das brigas ocorridas nos botequins. Elas aconteciam principalmente por dois motivos: a honra e a valentia masculinas. Não podemos entender nenhuma das duas sem inseri-las na estrutura de sensibilidade machista, que tinha raízes profundas na hegemonia dos modelos androcêntricos de então. A honra masculina estava assentada nas noções de força, de virilidade, de destemor e honestidade. O uso da palavra “fresco” para caracterizar alguém era uma das ofensas que comumente causavam brigas.44 Em julho de 1952, o motorista paraibano de 28 anos, SeveAFCM. Caixa 240, processo no 90, de 25 de maio de 1946, fl. 38. Ver por exemplo: AFCM. Caixa 286, processo no 1159SN, de 6 de janeiro de 1946; e AFCM. Caixa 210, processo no 111, de 19 de setembro de 1946. 43 Ver, por exemplo: AFCM. Caixa 262, processo no 695, de 11 de setembro de 1952, fls. 7-8, 12; e AFCM. Caixa 286, processo no 1159SN, de 6 de janeiro de 1946. 44 À luz dos autos por nós analisados, é possível afirmar que o uso de expressões racistas e de termos como “corno” com pouca frequência geravam rixas. No atinente a expressões racistas, ver: AFCM. Caixa 275, processo no 579, de 11 de dezembro de 1951; e AFCM. Caixa 262, processo no 219, de 23 de dezembro de 1952. Já no relativo à utilização da ofensa com o termo “corno”, destacamos o seguinte caso: em 13 de dezembro de 1962, Durval Santa Brígida (funcionário público e residente na av. Profa Cora de Carvalho, s.n.) apresentou queixa (através do advogado Alcino da Costa Bahia) contra Otaviano Souza, por este, dias antes, no Bar Sol Risal, ter proferido injúrias contra o querelante, chamando-o de “corno” na presença de várias pessoas e investindo contra o mesmo — sendo, porém, contido. Por tal ato, “além de o querelado ofender-lhe a dignidade”, trazia à baila a lembrança da esposa deste, “respeitável e virtuosa mãe de família apesar de pobre” 41 42 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 223-241, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 234 O despertar de Orfeu: prazer e lazer dos trabalhadores de Macapá (1944-1964) Sidney Lobato rino de Almeida, depôs num inquérito policial que agredira Caetano de Souza, no bar de Aurélio Dantas (em Porto Grande), porque este: o chamou de “Cabra sem vergonha”, usou expressões pornográficas e depois o chamou de “fresco”, “além de outras palavras ofensivas à dignidade do homem”.45 Já em dezembro de 1958, a meretriz Maria Raimunda (paraense de dezenove anos) declarou à Polícia que era empregada do Bar Caipira, aonde presenciara uma discussão na qual Luiz Borges taxara Raimundo Nonato de “fresco” e este chamara aquele de “veado”. Luiz fora então contido por Pedro e Aldo. Após ouvir gritaria, Maria Raimunda correra para fora e aí achara Raimundo com um ferimento no peito, do qual saía muito sangue, enquanto L. Borges se afastava com um canivete de lâmina longa.46 A valentia masculina também figurava entre as causas mais comuns de rixas nos botequins. Ela implicava a imposição da autoridade de um homem sobre outro, através da força e da habilidade em lutas corporais. Quando, no meio de uma discussão no Hotel Macapá, o jogador de futebol Roxinho disse que A. Pimentel “tinha a mania de querer ser valente”, quis indicar que este não conseguia impingir medo em ninguém, apesar de pensar o contrário.47 A valentia não era simplesmente algo que alguém podia reclamar para si. Ela dependia do reconhecimento de um “tribunal da reputação”, formado por observadores aptos a divulgar os atos de coragem que testemunhavam.48 O botequim, por abrigar uma sociabilidade predominantemente masculina, era um bom lugar para demonstrações de impetuosidade e força. Casos havia em que o sujeito alcoolizado acabava “tornando-se perigoso e valente”.49 (AFCM. Caixa 270, processo no 1504, de 10 de janeiro de 1963, fls. 2-3). Ver também: AFCM. Caixa 170, processo no 1447, de 14 de novembro de 1961, fl. 23. 45 AFCM. Caixa 275, processo no 687, de 22 de agosto de 1952, fl. 8. 46 AFCM. Caixa 286, processo no 1310, de 22 de fevereiro de 1959, fl. 5. Independentemente de ocorrer ou não no botequim, a ofensa com o adjetivo “fresco” gerava brigas. Vejamos alguns exemplos. No dia 5 de maio de 1951, foi realizado o interrogatório presidido pelo juiz U. Araújo, no qual “Cassiporé” depôs: que não eram verdadeiras as acusações feitas contra ele, pois os ferimentos de R. Lemos decorriam da queda deste; que tinha constantes desentendimentos com a ex-sogra, que o chamou de “fresco” — sendo “que essa palavra tem significado muito deprimente na linguagem do povo” —, o que foi suficiente para que ele investisse para agredi-la. Em sua peça de defesa, o advogado de “Cassiporé” afirmou que este foi recebido por sua sogra com insultos, sendo chamado de “fresco”, “cuja tradução popular é pederasta passivo” (AFCM. Caixa 299, processo no 352, de 19 de setembro de 1949, fls. 31-33). A outra face da moeda da densidade ofensiva da palavra “fresco” é a força da homofobia no cotidiano dos homens. É o que se depreende do depoimento do ajudante de pedreiro “Manoelzinho” (cearense de 16 anos residente no Trem), que disse à autoridade policial que dias antes fizera aniversário; mas, não autorizara ninguém — e muito menos Luiz Santos (indivíduo “anormal”) — a comemorar isto com festa. Disse ainda que era “absolutamente mentirosa e falsa” a alegação de Luiz dos Santos “de manter com ele, como sujeito ativo, contato anal, pois não é como ele nenhum degenerado, mesmo ativo” (AFCM. Caixa 255, processo no 1206, de 29 de abril de 1957, fl. 6). Ver também: AFCM. Caixa 262, processo no 623, de 22 de abril de 1952, fl. 34; e AFCM. Caixa 281, processo no 865, de 19 de dezembro de 1953, fl. 3. 47 AFCM. Caixa 262, processo no 628, de 8 de maio de 1952, fl. 5. 48 SILVA, Fernando Teixeira da. Valentia e cultura do trabalho na estiva de Santos. In: BATALHA, Cláudio H. M. et al. (Org.). Culturas de classe: identidade e diversidade na formação do operariado. Campinas: Unicamp, 2004. p. 211. 49 AFCM. Caixa 272, processo no 966, de 25 de novembro de 1957, fl. s/n. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 223-241, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 235 O despertar de Orfeu: prazer e lazer dos trabalhadores de Macapá (1944-1964) Sidney Lobato Mas, apenas alguns conseguiam, verdadeiramente, alcançar grande fama. Era o caso de Raimundo Serra, “homem temido na região [de Ferreira Gomes] pela sua valentia e força física”. No processo acerca do assassinato dele, encontramos o depoimento do motorista José Cordeiro (ocorrido em junho de 1957), para quem Serra abusava de sua compleição física para ser valente. Cordeiro afiançou que em Ferreira Gomes muita gente “levantou as mãos para o Céu quando soube de sua morte” e que no Paredão “a satisfação foi geral”. O braçal Carlos Leal declarou que corria longe a fama de Raimundo, porque dera pancada em muita gente e porque “não havia nem um outro que lhe pudesse resistir”.50 A Polícia reprovava e combatia a valentia. Em 14 de julho de 1945, o jornal Amapá noticiou a prisão de três trabalhadores do vale do rio Matapi, destacando: “ali, são dados a valentes, mas o Comissário, não acreditando nessa bravura recomendou-os em ofício à Polícia desta Capital, e, aqui, aconselhados, compreenderam de que não é profissão nobre essa espécie de valentia”.51 Por um lado, o uso da luta corporal pelos trabalhadores visava promover o desempate entre litigantes e, no caso da valentia, definir os camaradas mais dignos do poder de mando. Por outro lado, a punição dos valentões e o esforço para inibir as brigas visavam trazer para o braço policial do estado o monopólio da violência. A Guarda Territorial procurou impor-se como única mediadora dos desentendimentos cotidianos. Percebendo os espaços de lazer como focos de possíveis conflitos, aí a Guarda foi imiscuir-se. Conforme temos enfatizado, sua finalidade era também “policiar os costumes”, ou seja: coibir práticas que levassem o trabalhador aos “excessos” indesejáveis do ponto de vista da ética do trabalho disciplinado e do ideal da família higienizada e moralizada. Dias de festa No seu relatório de 1944, o diretor do Departamento de Segurança Pública e Guarda, Paulo Eleutério Cavalcanti de Albuquerque, afirmava: “o Departamento vem dedicando seu maior empenho na redução do consumo de bebidas alcóolicas, punindo severamente os seus infratores; na proteção de menores de ambos os sexos”. E mais: policiando permanentemente as festas e outros meios de diversões populares, impedindo que as crianças participem de reuniões incompatíveis com suas idades; na manutenção dos costumes morais, no respeito à propriedade, no direito ao trabalho e na repressão à vadiagem, tudo isso mediante às ordens aos elementos policiais e portarias amplamente divulgadas, com minuciosas instruções, em todo o Território.52 AFCM. Caixa 210, processo no 1180, de 19 de julho de 1957, fls. 6-7, 45. ERAM valentes na zona onde residem. Amapá, n. 17, 14 jul. 1945. Ocorrências policiais, p. 3. 52 NUNES, Janary. Relatório das atividades do Governo do Território Federal do Amapá em 1944. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1946. p. 115. 50 51 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 223-241, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 236 O despertar de Orfeu: prazer e lazer dos trabalhadores de Macapá (1944-1964) Sidney Lobato Com muitas dificuldades, os guardas tentavam realizar esses intentos. Criada pelo Decreto no 8, de 17 de fevereiro de 1944, a Guarda Territorial tinha caráter civil e, além dos trabalhos relativos à “manutenção da ordem”, deveria ocupar-se da “construção de edifícios, estradas e caminhos, [e de] todos os trabalhos de utilidade pública relacionados com saneamento, transporte e povoamento, colonização e incremento da produção”.53 Portanto, o guarda era um factótum do governo ou alguém cuja identidade profissional tinha contornos bastante elásticos. Ademais, os chefes da corporação tinham de trabalhar com um número de subordinados cada vez mais insuficiente, devido ao rápido crescimento populacional macapaense.54 Quando não eram fixados para fazer atendimentos em delegacias e postos, os guardas trabalhavam no patrulhamento de locais e momentos classificados como criminógenos. Era o caso das festas populares, entre as quais se destacava o carnaval. Há, na historiografia, um fértil debate sobre a natureza do carnaval. Alguns estudos defendem a tese de que ele exerce uma função estabilizadora, porque é uma “válvula de escape” para tensões sociais. Já outros argumentam que a folia carnavalesca é uma experiência que fortalece uma percepção subversiva da sociedade, porque retira momentaneamente a sacralidade do poder e, assim, expõe normas e convenções ao ridículo. Não cabe aqui remontar em detalhes a este debate. Podemos, entretanto, afirmar que a leitura atenta da própria historiografia indica: a) que ambas as coisas (a função estabilizadora e a subversiva) estão presentes no carnaval; b) que o predomínio de uma ou de outra depende dos condicionantes históricos (o que inviabiliza a adoção de uma regra universal).55 O ciclo momesco em Macapá ensejava inversões sociais e, por isso, era também o maior dos pesadelos dos ordenadores. A atmosfera de licenciosidade tomava conta da cidade. As distinções sociais eram diluídas, gerando ambiguidades e estranhamentos. Mas alguns demarcadores sociais eram mantidos — e até reforçados. ATOS do Governo do Território Federal do Amapá. Amapá, n. 4, 4 abr. 1945. p. 4. Um articulista do jornal A Voz Católica destacou, em maio de 1963 (um momento de grande tensão entre governo e trabalhadores), que o Tenente Uadih Charone estava espalhando guardas em todos os cantos da cidade e acrescentou: “mais não pode fazer, o chefe de polícia, como é seu ardente desejo, por falta de homens” (REPÓRTER curioso [seção]. A Voz Católica, n. 184, 5 maio 1963. p. 3). 55 No erudito estudo A cultura popular na Idade Média e no Renascimento, Mikhail Bakhtin defende a tese da natureza subversiva do carnaval. Segundo ele, durante a Idade Média, “ao contrário da festa oficial, o carnaval era o triunfo de uma espécie de liberação temporária da verdade dominante e do regime vigente, de abolição provisória de todas as relações hierárquicas, privilégios, regras e tabus. Era a autêntica festa do tempo, a do futuro, das alternâncias e renovações. Opunha-se a toda perpetuação, a todo aperfeiçoamento e regulamentação, apontava para um futuro ainda incompleto” (BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais. 6. ed. São Paulo: Hucitec; Brasília: UnB, 2008. p. 8-9). Outra é a tese defendida pelo antropólogo Roberto DaMatta, que afirma: “seria ingênuo supor que o Carnaval apenas neutraliza e inverte as oposições e posições sociais do cotidiano, abolindo suas dimensões de contraste. Na realidade, as inversões do Carnaval — precisamente pelo fato de permitirem o aparecimento aberto de comportamentos e fantasias abusivas à moralidade diária — terminam por provocar a confiança na ordem” (DAMATTA, Roberto. Ensaios de antropologia estrutural. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1977. p. 58). Um balanço geral da bibliografia que trata do carnaval pode ser encontrado em: SOIHET, Rachel. Reflexões sobre o carnaval na historiografia — algumas abordagens. Tempo, Rio de Janeiro, v. 4, n. 7, p. 169-188, 1999. 53 54 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 223-241, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 237 O despertar de Orfeu: prazer e lazer dos trabalhadores de Macapá (1944-1964) Sidney Lobato Às vésperas da Quaresma, as ambiguidades causadas pela carnavalização da vida podiam propiciar grandes confusões. Foi o que aconteceu na noite dia 5 de março de 1946. Ocorria o baile carnavalesco do Esporte Clube Macapá e o ponteiro do relógio estava algo próximo das duas horas da madrugada quando se iniciou uma briga, envolvendo várias pessoas. Os guardas ali presentes correram com cassetetes em punho a fim de intimidar e apartar os participantes da luta (uma troca caótica de socos, empurrões, pancadas, pontapés e cadeiradas). No meio do tumulto, o guarda José Santiago (acreano de dezenove anos) teve a infelicidade de segurar Paulo Moacir de Carvalho pela gola e de repreendê-lo agressivamente. Santiago não sabia que se tratava da “segunda pessoa do Governador”. Mas, seria difícil para o jovem guarda supor que estava repreendendo o presidente do Esporte Clube Macapá, pois Moacir de Carvalho “estava fantasiado de caboclo ou cousa parecida”. Se nos dias comuns do ano a roupa funcionava como um importante demarcador (elemento identificador de poder econômico e/ou político), durante o carnaval as fantasias borravam as fronteiras sociais, gerando uma ambiência que dava vazão a momentos de igualitarismo.56 José Santiago foi imediatamente punido por não ter adivinhado que aquele homem vestido como caboclo era, na verdade, uma autoridade com amplos poderes. Foi preso logo após a afronta. Mas Paulo Moacir de Carvalho deixou claro a todos os guardas que, independentemente das fantasias, algumas demarcações sociais deveriam ser mantidas no carnaval. Em depoimento prestado na delegacia, ele disse que não sabia “atribuir o fato de se achar no recinto do salão tamanha quantidade de gente, digo, de guardas, àquela hora, armados de cassetete, pois que não pedira policiamento reforçado para uma festa que se considera de Elite”. Havia uns quinze guardas territoriais no local. Irritado por acreditar ser isto um exagero, Moacir de Carvalho expulsou da festa o investigador da Guarda, Estevam Sampaio, dizendo “que autoridade e dono da festa era ele”. As festas que aconteciam nos grandes clubes macapaenses eram frequentadas pelos membros das classes mais abastadas. Usando um pressuposto nada estranho para a Polícia — o de que os focos criminógenos se localizavam nos territórios da pobreza e não nos da “elite” —, o presidente do Esporte Clube Macapá apontou que aqueles guardas não estavam onde deveriam estar. Mas a maior turbulência do carnaval macapaense de 1946 aconteceu exatamente ali.57 Enquanto os clubes ofereciam bailes aos mais endinheirados, as ruas e as praças eram o território da folia popular.58 Pouco depois da criação do Território Federal do Amapá surgiram os “blocos sujos”, formados pelos trabalhadores engajados no setor da construção AFCM. Caixa 227, processo no 1490SN, de 6 de abril de 1946, fls. 9-10, 28-29. Ibid., fl. 26. 58 Em entrevista, Miracy Barbosa se lembrou das festas nas sedes dos clubes: “(...) existia também a sede do Trem [Esportivo Clube] que fazia os grandes bailes, a sede do [Esporte Clube] Macapá, sede do Amapá [Clube]... Faziam grandes bailes. Mas ali só entrava quem tinha dinheiro (...)”. Miracy Martel Barbosa (nascida em 1947) foi entrevistada — pelas pesquisadoras Barbara Lorena Costa e Najayra Monte Verde para o Projeto Banco de História Oral (Probho) da Universidade Federal do Amapá (Unifap) — no dia 19 de março de 2011. Ela nasceu na região das ilhas do Pará e chegou a Macapá quando tinha cinco anos de idade. 56 57 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 223-241, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 238 O despertar de Orfeu: prazer e lazer dos trabalhadores de Macapá (1944-1964) Sidney Lobato civil macapaense. O primeiro deles foi o bloco Os bandoleiros da saudade, que estreou no carnaval de 1946. Depois vieram as grandes agremiações. Em meado da década de 1960, as batalhas de confetes aconteciam em frente ao Bar do Barrigudo (no bairro do Trem) e na praça Barão do Rio Branco. As escolas de samba Boêmios do Laguinho (criada em 1954), Maracatu da Favela (fundada em 1957) e Piratas da Batucada (de 1962, com sede no Trem) preparavam-se com afinco para essas disputas.59 Blocos e escolas exprimiam e reforçavam a solidariedade de vizinhança e o sentimento de pertencimento a um bairro. No carnaval de 1947, o jornal Amapá divulgou o samba O Trem em 1o lugar — do bloco dos Ferroviários —, no qual se cantavam os seguintes versos: “o TREM fala minha gente não é p’ra você se zangar/ sou o bairro mais querido aqui deste velho lugar/ o povo diz com razão e me quer bem/ que antes de ser Território o meu nome sempre foi TREM”.60 O orgulho de pertencer a um bairro também pulsa nos versos que herdamos “do maior compositor do Laguinho”, Raimundo Lino. Senão vejamos: “Laguinho, ô Laguinho/ é bairro de tradição/ Laguinho, mora no meu coração./ É ódio dessa gente/ que não sabe o que faz/ Laguinho é o orgulho de nosso carnaval”.61 Diferentemente das farras (incursões individuais pela vida boêmia), que dependiam tão somente das condições e dos desejos de cada um, as festas obedeciam a um calendário fixo e envolviam toda uma mobilização coletiva, em que cada membro do bairro ou da comunidade de vizinhança disponibilizava um pouco de si (produtos, dinheiro, trabalho, ou simplesmente tempo para o usufruto). Isso explica por que as grandes festividades criavam uma atmosfera de contentamento que se estendia por toda a cidade. Após o carnaval vinham as celebrações de São José e do Marabaixo. Semanas depois, iniciava-se o ciclo das festas juninas. No segundo semestre do ano, destacavam-se o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, o Natal e o Réveillon. Muitas pessoas chegavam das ilhas paraenses e dos interiores próximos para tomar parte nos grandes festejos de Macapá. Como em outros lugares, nos dias de festa, os participantes colocavam suas melhores roupas e calçados, assim como se perfumavam bastante, indicando não ser aquele um tempo comum.62 Não raro, com sacrifícios, guardaGONÇALVES, Mariana de Araújo. Enredos da memória: história e identidade no carnaval das escolas de samba de Macapá. São Paulo: Ética do Brasil, 2011. p. 39-40. 60 A SEGUNDA festa dos “ferroviários”. Amapá, n. 100, 15 fev. 1947. p. 3. 61 CANTO, Fernando. Telas e quintais. Macapá: Conselho de Cultura do Amapá, 1987. p. 37, 113-114. 62 Num comentário sobre como as festividades alteravam o dia a dia no Oiapoque da década de 1940, Alfredo Gama afirmou: “nessas festas, a gente da elite da terra logo pela manhã aparece na rua com seus melhores fatos, embora cheirando a ‘penicilina’, pois só saem da mala nos dias festivos (...)” (GAMA, Alfredo. Um rio a serviço de dois povos. Belém: Revista da Veterinária, 1947. p. 108). A respeito do esmero com que as pessoas se preparavam para as festas em Gurupá, Wagley destacou: “uma das impressões mais fortes que dali leva o forasteiro é o asseio do povo. Sente-se o cheiro da roupa limpa e os perfumes naturais da floresta amazônica. Mesmo quando está quente o dia, tem-se a impressão do frescor, pois as pessoas banham-se e vestem-se sempre especialmente para cada função religiosa e cada dança que se realiza. Apenas os perfumes baratos, com que se borrifam tanto os homens quanto as mulheres, perturbam a atmosfera extremamente agradável” (WAGLEY, Charles. Uma comunidade amazônica: estudo do homem nos trópicos. São Paulo: Editora Nacional, 1957. p. 263). 59 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 223-241, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 239 O despertar de Orfeu: prazer e lazer dos trabalhadores de Macapá (1944-1964) Sidney Lobato va-se algum dinheiro para este momento especial. Frequentemente, gastavam-se os recursos disponíveis de forma imprevidente, advindo, desse modo, o endividamento. Nos dias festivos, promovia-se uma ruptura com a cotidianidade. De modo geral, os trabalhadores procuravam desvencilhar-se do império da necessidade — da fome, da regulação do pouco e de tudo o que estivesse meramente adstrito à sobrevivência — para ingressar momentaneamente no reino da liberdade — da vontade livre de contingências ou livre do medo de não ter o necessário para permanecer vivo. A música de Orfeu fazia adormecer Prometeu.63 Como acontecia com o sapateiro Antônio Melo, que nos dias de grandes festas (como o carnaval) destacava-se tocando: saxofone, flauta e violino. Outros chamavam a atenção pela dança, como ressaltou Carlos Bezerra: “na área da dança, tínhamos nomes fantásticos: Isnard Lima (uma elegância total), Suzete, meu pai de criação (cujo nome real era Maurício Monteiro da Piedade), Falconeri Santos Mascarenhas, Jeconias Araújo e mais alguns poucos”. E acrescentou: “era um prazer ver esses homens dançarem”.64 O prazer da música e da dança misturava-se com outros prazeres... Como aqueles ligados ao afeto e ao sexo. Isto fazia das festas (que nos processos judiciais eram percebidas de forma mais genérica, o que incluía as farras) espaços poluentes à moral. Palavras finais Procuramos, nas linhas apresentadas, evidenciar que os divertimentos propiciavam aos trabalhadores efêmeras experiências de emancipação das interdições impostas pelos precários meios de sobrevivência e pelas investidas moralizadoras do Estado e da Igreja. Enfocamos também a solidariedade constituída nos momentos de diversão, pois, do lado da solidariedade doméstica e de vizinhança, formaram-se variadas redes de sociabilidade, tais como: clubes esportivos, a boemia, as escolas de samba. Essas redes funcionavam dentro de territorialidades pertencentes à classe trabalhadora e, por isso, vivificavam a solidariedade horizontal. Não faz pouco tempo que os pesquisadores que se preocupam com as questões relativas à luta de classes têm se voltado para a análise das implicações das vivências dos trabalhadores fora do ambiente de trabalho.65 No número do jornal A Voz Católica de 16 de fevereiro de 1964 lê-se: “a sombra do carnaval ainda se projeta triste na sociedade, embora há cinco dias tenha passado. Há ainda quem anda de pernas bambas de tanto sapatear; há quem não conseguiu digerir completamente os porres momescos; há quem sinta aperturas e falta do dinheiro jogado fora nas fantasias (...)” (LUZ e sombras [seção]. A voz católica, n. 225, 16 fev. 1964. p. 2). 64 Carlos Emanoel de Azevedo Bezerra (nascido em 1948) foi entrevistado — pelas pesquisadoras Alcione Barros e Rosicleide Barbosa para o Projeto Banco de História Oral (Probho) da Unifap — no dia 24 de março de 2011. Nascido em Portel (no Pará), em 1959 transferiu-se para Macapá, onde se tornou, primeiramente, vendedor e, depois, jornalista. 65 O impacto recente do instigante livro A hidra de muitas cabeças, de Peter Linebaugh e Marcus Rediker, fortaleceu na historiografia brasileira (e mesmo ocidental) a insatisfação para com uma concepção restrita 63 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 223-241, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 240 O despertar de Orfeu: prazer e lazer dos trabalhadores de Macapá (1944-1964) Sidney Lobato Nesse movimento de ampliação do raio de visão dos estudos sobre a classe trabalhadora, foram admitidos novos objetos de análise e debate. Atividades até então “invisíveis” aos olhos da historiografia passaram a ganhar destaque. É o caso das variadas formas de divertimento.66 Ao descortinarmos parte dessa diversidade, procuramos evidenciar as inconsistências de estereótipos cuja longevidade ainda nos desafia. Como a ideia de que os trabalhadores formam sempre sociabilidades perigosas e essencialmente marcadas pela anomia. Desafiador foi igualmente conseguir reunir informações necessárias para transpor essas insistentes imagens deformadoras que são projetadas sobre os subalternos. Ao percorrer as muitas páginas de diferentes tipos de documentos, nos deparamos com pessoas que, apesar de muitas privações, interdições e constrangimentos, foram sujeitos de sua própria história. Da história possível. de classe trabalhadora (LINEBAUGH, Peter; REDIKER, Marcus. A hidra de muitas cabeças: marinheiros, escravos, plebeus e a história oculta do Atlântico revolucionário. São Paulo: Companhia das Letras, 2008). Marcel van der Linden, em um balanço historiográfico, afirma que “Peter Linebaugh e Marcus Rediker traçaram um quadro fragmentário de como um proletariado multiforme de ‘derrubadores de matas e viajantes das águas’ se desenvolveu, com vários espaços de luta: ‘os campos comuns, a plantation, o navio e a fábrica’” (LINDEN, Marcel van der. Rumo a uma nova conceituação histórica da classe trabalhadora mundial. História, São Paulo, v. 24, n. 2, p. 12, 2005). A coletânea Culturas de classe apresentou alguns dos esforços de pesquisadores que, nos últimos anos, tentaram dar conta de uma apresentação mais nuançada ou multifacetada da história da formação das classes trabalhadoras e de suas respectivas culturas. Segundo seus organizadores (Claudio H. M. Batalha, Fernando Teixeira da Silva e Alexandre Fortes), “a ênfase nas relações de produção, no processo e mercado de trabalho, como elementos estruturantes da coesão política dos trabalhadores, fez com que, por muito tempo, o acento recaísse sobremaneira nas lutas, nas formas de organização e nos movimentos políticos” (BATALHA, Claudio H. M.; SILVA, Fernando Teixeira da; FORTES, Alexandre. Apresentação. In: BATALHA, Claudio H. M. et al. (Org.). Culturas de classe, op. cit. p. 12-13). 66 A incipiência deste campo de estudo faz com que as seguintes palavras do antropólogo José Guilherme Cantor Magnani ainda sejam bastante válidas: “apesar do atual interesse em torno das condições de existência dos trabalhadores nos grandes centros urbanos, um aspecto concreto — as fontes de entretenimento com que a população preenche o tempo de lazer, nos bairros da periferia — tem sido deixado de lado pela maioria dos estudos e análises. Este aspecto, entretanto, é parte integrante do cotidiano desta população” (MAGNANI, José Guilherme Cantor. Festa no pedaço: cultura popular e lazer na cidade. 3. ed. São Paulo: Unesp; Hucitec, 2003. p. 20). Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 223-241, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 241 Associativismo e política no Rio de Janeiro do Segundo Império: o Clube Ginástico Português e o Congresso Ginástico Português* Victor Andrade de Melo** Fabio de Faria Peres*** RESUMO No Brasil do século XIX, em muitas cidades, inclusive na capital, portugueses criaram agremiações dos mais diversos perfis. Considerando que essas iniciativas podem ser entendidas como uma estratégia de afirmação e conformação da comunidade lusitana no país, este artigo tem por objetivo analisar as trajetórias do Clube Ginástico Português e do Congresso Ginástico Português, procurando discutir tanto sua articulação com o cenário político do Segundo Império quanto os conflitos e tensões existentes entre os lusitanos que na sociedade da Corte se estabeleceram. Para alcance do objetivo, como fontes foram utilizados periódicos publicados no Rio de Janeiro entre 1868, ano de fundação do Clube Ginástico Português, e 1889, ano em que as duas agremiações se reconciliaram, depois de mais de uma década de conflitos. Além disso, foram consultados os estatutos disponíveis das duas sociedades. Palavras-chave: associativismo; política; Segundo Império; portugueses; ginástica. ABSTRACT In many 19th century Brazilian cities, including the capital, the Portuguese founded associations of various profiles. Considering that we can understand these initiatives as a strategy of statement and shaping of the Lusitanian community in Brazil, this article analyzes the trajectory of the Clube Ginástico Português and the Congresso Ginástico Português, and discusses their articulation with the political context of the Second Empire and the conflicts and tensions among the Portuguese who settled in Rio’s society. The available statutes of the two clubs, and newspapers published in the city between 1868, when the Clube Ginástico Artigo recebido em 13 de agosto de 2013 e aceito em 7 de fevereiro de 2014. * A pesquisa que dá origem a este artigo é apoiada pela Capes, Faperj e CNPq. ** Doutor em educação física pela Universidade Gama Filho (UGF) e professor de história na Univesidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: [email protected]. *** Bolsista (Capes/Faperj) de pós-doutorado em história comparada na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: [email protected]. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 242-265, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 242 Associativismo e política no Rio de Janeiro do Segundo Império: o Clube Ginástico Português e o Congresso Ginástico Português Victor Andrade de Melo e Fabio de Faria Peres Português was founded, and 1889, when the two associations were reconciled, after more than a decade of conflict, were used as sources. Keywords: associativism; polítics; Second Empire; Portugueses; gymnastics. *** Introdução Em 1883, a Gazeta Lusitana assim comentou o costume de criar agremiações que os portugueses adotaram em muitas cidades brasileiras: Incontestavelmente é digno de nota ver-se o espírito de associação de que são dotados os portugueses residentes no Brasil. Não podemos deixar de simpatizar com tão nobre sentimento que eleva o individuo à comunhão social e o faz por isso, identificar perante os seus compatriotas, como um ente útil à sociedade, congraçando a grande família portuguesa em um só princípio — o amor à pátria.1 Observa o jornalista que, entre tantas, algumas dessas associações são “dedicadas ao cultivo da musica, ginástica etc.”. Para ele, os lusitanos “procuram um passatempo útil e agradável ao mesmo tempo, demonstrando o espirito de união de que é dotada a mocidade portuguesa”. Sugere ainda que o português tem claras diferenças se comparado a outros estrangeiros que no Brasil viviam. Estaria disposto a trabalhar intensamente e a criar raízes, sentindo-se em casa: “Ele parece quando muito que mudou de província, mas nunca que mudou de país”. A Gazeta Lusitana foi publicada entre os anos de 1883 e 1889. Embora a presença de lusitanos fosse significativa na imprensa fluminense,2 havia também semanários próprios da colônia,3 cujo principal intuito era defender os “interesses dos portugueses residentes no Brasil”.4 Entende-se, assim, em parte, a postura elogiosa do periódico com o hábito dos patrícios de criar associações.5 Gazeta Lusitana, 22 dez. 1883. p. 1. FERREIRA, Marie-Jo. Os portugueses do Brasil, atores das relações luso-brasileiras, fim do século XIX — início do século XX. Rio de Janeiro: Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro, 2007. Disponível em: <www0.rio.rj.gov. br/arquivo/pdf/quartas_no_arquivo/2007/palestra_MarieJoFerreira.pdf>. Acesso em: 8 jun. 2013. 3 Segundo Maire-Jo Ferreira (ibid.), no Rio de Janeiro e em São Paulo, entre 1850 e 1950, houve mais de quarenta jornais dirigidos à comunidade portuguesa que vivia no Brasil. 4 Gazeta Lusitana, 11 dez. 1883. p. 1. 5 Por essa vinculação com a colônia portuguesa, por vezes esses periódicos sofreram perseguições. No caso da Gazeta Lusitana, foi em diversas ocasiões invadida por denúncias que fizera contra a violência da Guarda Nacional contra os patrícios (SILVA, Maria Manuela de R. de Sousa. Portugueses no Brasil: imaginário so1 2 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 242-265, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 243 Associativismo e política no Rio de Janeiro do Segundo Império: o Clube Ginástico Português e o Congresso Ginástico Português Victor Andrade de Melo e Fabio de Faria Peres O associativismo dos portugueses, contudo, também chamou a atenção de nacionais. Em 1887, por exemplo, o assunto mereceu referências de um de nossos maiores dramaturgos, Artur Azevedo, que com seu olhar arguto o inseriu em uma de suas peças de revista, O homem.6 Uma das cenas é totalmente dedicada a ironizar as estratégias de organização da colônia, ela mesma uma personagem, que assim dizia: Que neste país tamanho Uma coisa é ser estranho E é outra ser português. No fundo do coração Pelo Brasil recebidos, Nós somos irmãos queridos, Não somos hóspedes, não. A personagem “colônia portuguesa” sugere que se dedicava a contribuir para o progresso do país. Um indicador disso seria exatamente suas associações, que atuavam em diferentes esferas. Uma vez mais o dramaturgo ironiza: Eis a Beneficência, A minha glória, o meu eterno orgulho! (...) O Liceu Literário... Vê como vai catita; Não há colégio mais humanitário, Nem mais cosmopolita, Não faz questão de nacionalidade: Para aprender ali, basta a vontade. A Caixa de Socorros, A Caridade a jorros! O Real Clube Ginástico... Inteligente, pândego, fantástico... Este é o Retiro Literário... um ninho... O Congresso Ginástico aparece... O Congresso a que vem Martins de Pinho... cial e táticas cotidianas (1880-1895). Acervo, Rio de Janeiro, v. 10, n. 2, p. 119, jul./dez. 1997). Utilizaremos alguns desses jornais no decorrer do artigo. 6 Disponível em: <www.encontrosdedramaturgia.com.br/wp-content/uploads/2010/10/Artur-Azevedo-O-HOMEM.pdf>. Acesso em: 9 jun. 2013. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 242-265, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 244 Associativismo e política no Rio de Janeiro do Segundo Império: o Clube Ginástico Português e o Congresso Ginástico Português Victor Andrade de Melo e Fabio de Faria Peres Para entender melhor esse impulso associativista dos portugueses, de um lado devemos considerar que essa era uma ocorrência comum no Segundo Império, observável em vários âmbitos, com os mais distintos intuitos. Para Vitor Fonseca,7 as agremiações eram espaços de sociabilidade que atendiam a necessidades específicas de certos grupos, ligadas a um exercício possível da cidadania, que tinha em conta os limites do jogo político da ocasião. Isto é, o crescimento do número de associações não seria somente a expressão de um maior exercício (e expectativas) de direitos sociais, como também da construção de novas posturas políticas, que materializavam certa visão de mobilização, indícios de uma ideia de cidadania em construção. De outro lado, é importante ter em conta que, de fato, entre os estrangeiros, era distinta a situação dos lusitanos que no país se estabeleceram. Devemos lembrar que, muito embora a questão da cidadania tenha sido objeto de controvérsias no pós-independência, ela fora definida, provisoriamente, já em janeiro de 1823.8 Como cidadãos eram admitidos os portugueses já residentes e os que chegassem com o intuito de se estabelecerem “pacificamente neste país”, desde que se apresentassem à câmara municipal do respectivo porto de entrada e prestassem “solene juramento de fidelidade à causa do Brasil e ao seu Imperador”. Posteriormente, na Constituinte, a discussão do tema foi marcada por tensões em torno do Projeto de Lei do deputado Francisco Muniz Tavares, que propunha a restrição das possibilidades de naturalização. Entre os pontos debatidos, encontravam-se as provas de adesão à causa da independência, o poder do governo expulsar portugueses que assumissem atitudes suspeitas e a instituição do prazo de sete anos de residência como critério para a obtenção da cidadania brasileira. Após a dissolução da Assembleia de 1823, todavia, tais limitações não encontraram eco. De fato, a Constituição de 1824 estabeleceu que os portugueses (e suas “possessões”) que, residindo no Brasil quando da proclamação da independência, tivessem aderido à causa eram considerados cidadãos brasileiros, ainda que com restrições no que tange à participação política.9 Mesmo com a independência, seguiu intenso o fluxo migratório de Portugal para o Brasil. Nesse cenário, “o Rio, Corte Imperial e capital da República, teve preferência como uma espécie de continuação do sonho lotérico do século XVIII de fazer fortuna nas Gerais”.10 FONSECA, Vitor Manoel Marques da. No gozo dos direitos civis: associativismo no Rio de Janeiro, 19031916. Niterói: Muiraquitã, 2008. 8 BRASIL. Decreto de 14 de janeiro de 1823. Sobre as condições com que podem ser admitidos no Brasil os súditos de Portugal. Disponível em: <www2.camara.leg.br/legin/fed/decret_sn/anterioresa1824/decreto-38719-14-janeiro-1823-567488-publicacaooriginal-90821-pe.html>. Acesso em: 26 fev. 2014. 9 Para mais informações, ver: VIEIRA, Martha Victor. Antilusitanismo, naturalização e disputas pelo poder no Primeiro Reinado. MÉTIS: história & cultura, v. 5, n. 10, p. 87-99, jul./dez. 2006. 10 LESSA, Carlos. Rio, uma cidade portuguesa? In: LESSA, Carlos (Org.). Os Lusíadas na aventura do Rio moderno. Rio de Janeiro: Record; Faperj, 2002. p. 21-62. p. 27. 7 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 242-265, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 245 Associativismo e política no Rio de Janeiro do Segundo Império: o Clube Ginástico Português e o Congresso Ginástico Português Victor Andrade de Melo e Fabio de Faria Peres Em 1890, quando a cidade possuía cerca de 500 mil habitantes, cerca de 100 mil eram portugueses;11 20% da população, portanto. Era o grupo majoritário de imigrantes.12 Nesse contexto, de um lado havia posicionamentos que de alguma forma beneficiavam os portugueses, como aponta Seyferth: (...) grupos nacionalistas apregoavam o perigo de uma concentração de estrangeiros não assimilados, culturalmente muito distintos e não católicos, no sul do país. Não eram necessariamente contrários à colonização estrangeira, mas queriam imigrantes (categoria que passou a ser usada com mais frequência) de origem latina. Para eles havia uma tradição a ser respeitada e o Brasil devia fazer parte da civilização ocidental como país de formação latina, católica e de língua portuguesa. Quais as implicações desse argumento reportado à nação muito mais do que aos interesses do Estado na imigração? Certamente muda o perfil do imigrante ideal, que não é mais o europeu em geral, mas os latinos mais próximos dos brasileiros — portugueses, italianos e espanhóis.13 Devemos lembrar que, no Brasil do século XIX, muitos portugueses gozavam de prestígio, relacionado a suas posições e seu sucesso no comércio e na indústria. Segundo Freitas Filho, naquele momento as elites brasileiras estavam mais envolvidas com o setor agropecuário, com as profissões liberais e com cargos políticos e administrativos.14 De outro lado, entre os populares muitas foram as manifestações de contestação, mais ou menos violentas, origem de uma ironia que vai se perpetuar até os dias de hoje. Os lusitanos eram considerados interesseiros e exploradores, criticados por privilegiarem os que vinham de Portugal em detrimento dos brasileiros.15 Na verdade, poucos não eram os incômodos com seu protagonismo na alta ou baixa esfera social. Mesmo que “ser brasileiro” ou “ser português” adquirisse sentidos particulares que se articulavam a conjunturas políticas e econômicas mais amplas, não se restringindo, portanto, Ibid. Para mais informações, ver: CERVO, Amado Luiz; MAGALHÃES, José Calvet de. Depois das caravelas: as relações entre Portugal e Brasil, 1808-2000. Brasília: EdUnb, 2000. 13 SEYFERTH, Giralda. Imigrantes, estrangeiros: a trajetória de uma categoria incômoda no campo político. In: REUNIÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA, 26, 2008, Salvador. Anais... Salvador, UFBA, 2008. p. 1-20 p. 9. (Anais eletrônicos). 14 FREITAS FILHO, Almir Pita. A colônia portuguesa na composição empresarial da cidade do Rio de Janeiro no final do século XIX e início do XX. In: LESSA, Carlos (Org.). Os Lusíadas na aventura do Rio moderno. Rio de Janeiro: Record; Faperj, 2002. p. 163-198. 15 Para mais informações, ver: RIBEIRO, Gladys Sabina. A liberdade em construção. Identidade nacional e conflitos antilusitanos no Primeiro Reinado. Rio de Janeiro: Faperj; Relume Dumará, 2002; e ROWLAND, Robert. A cultura brasileira e os portugueses. In: BASTOS, Cristiane; ALMEIDA, Miguel Vale de; FELDMAN-BIANCO, Bela (Org.). Trânsitos coloniais: diálogos críticos luso-brasileiros. Campinas: Editora Unicamp, 2007. p. 397-410. 11 12 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 242-265, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 246 Associativismo e política no Rio de Janeiro do Segundo Império: o Clube Ginástico Português e o Congresso Ginástico Português Victor Andrade de Melo e Fabio de Faria Peres à naturalidade per si, a legitimação da ideia de nação foi marcada, de acordo com Rowland (2003), pela coexistência, com variações, de três estratégias discursivas: A primeira definia a identidade do Brasil por oposição à antiga metrópole, procurando encontrar na oposição a Portugal uma explicação e justificação da Independência; a segunda, inversamente, definia-a em termos da singularidade do novo país, que se exprimia na sua natureza tropical e paisagem luxuriante e na cultura e tradições das populações indígenas; a terceira, por fim, procurava definir para a nova nação um projeto ou missão que consistiria, através da combinação de elementos europeus e americanos, na edificação e afirmação, através do Estado e da coroa, de uma civilização europeia nos trópicos.16 A presença de portugueses em um cenário em que o país pretendia se afirmar como ente independente era mesmo algo um tanto ambíguo. De um lado, havia louvações aos laços em comum entre Brasil e Portugal, a uma tradição que tinha se enraizado no cotidiano. De outro lado, era isso mesmo que incomodava os que acreditavam que a construção da nação “civilizada” necessariamente deveria passar pelo abandono da herança colonial. A criação de agremiações, assim, pode ser entendida como uma estratégia de afirmação e conformação da comunidade lusitana. Atendia tanto à necessidade de auto-organização, para melhor encarar os problemas enfrentados no Brasil e para celebrar a relação com a pátria distante, quanto ao desejo de demonstrar à sociedade brasileira o valor da colônia portuguesa, sendo também uma forma de intervenção política. Como bem resume Ferreira: Essas associações desempenharam então um papel bastante importante na vida social, cultural e desportiva da sociedade brasileira. Elas compensavam a falta de assistência e de ajuda das autoridades consulares portuguesas aos imigrantes portugueses no Brasil e assumiram a função de realizar trocas culturais entre Portugal e Brasil, na ausência de uma política cultural entre os governos dos dois países.17 Entre tantas associações fundadas por lusitanos, podemos destacar o Gabinete Português de Leitura (criado em 1837), a Sociedade Portuguesa de Beneficência (1840), a Caixa de Socorros D. Pedro V (1863), o Liceu Literário Português (1868) e, nosso objeto de estudo, duas sociedades ginásticas: o Clube Ginástico Português (1868) e o Congresso Ginástico Português (1874). Não poucas vezes essas instituições atraíram reconhecimento para os portugueses no Brasil estabelecidos. O hospital da Beneficência chegou a ser considerado tão importante ROWLAND, Robert. Patriotismo, povo e ódio aos portugueses: notas sobre a construção da identidade nacional no Brasil independente. In: JANCSÓ, István (Org.). Brasil: formação do Estado e da Nação. São Paulo: Hucitec/Unijuí/Fapesp, 2003. p. 365-388. p. 366. 17 FERREIRA, Marie-Jo. Os portugueses do Brasil, atores das relações luso-brasileiras, fim do século XIX — início do século XX, op. cit. 16 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 242-265, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 247 Associativismo e política no Rio de Janeiro do Segundo Império: o Clube Ginástico Português e o Congresso Ginástico Português Victor Andrade de Melo e Fabio de Faria Peres quanto a Santa Casa de Misericórdia. O Liceu era valorizado pelas contribuições à educação. As agremiações recreativas também eram constantemente elogiadas: “A colonia portuguesa tem-se assinalado no nosso reconhecimento por serviços importantes em todo o império; mas na Corte seus serviços são relevantes (...). O Club e o Congresso Ginástico Português, além dos edifícios que funcionam, prestam serviços dignos de nota”.18 Além disso, há ainda uma dimensão que precisa ser ressaltada, inclusive por ser clara nas agremiações ginásticas: “A criação e manutenção das associações servia, também, como legitimação e testemunho do sucesso alcançado por seus promotores no país que os acolhera. Era a materialização sociocultural de uma trajetória econômico-financeira bem-sucedida”.19 Por que, todavia, foram criadas duas agremiações ginásticas de portugueses na sociedade da Corte? Sinal de que era grande a colônia ou de que havia fissuras na sua conformação, dimensões que podem mesmo estar articuladas? Este artigo tem por objetivo analisar as trajetórias do Clube Ginástico Português e do Congresso Ginástico Português, procurando discutir tanto sua articulação com o cenário político do Segundo Império quanto os conflitos e tensões existentes entre lusitanos que no Rio de Janeiro se estabeleceram. Os clubes funcionavam em um contexto em que, finda a Guerra do Paraguai, a monarquia chegara a seu auge, mas também caminhava para seu fim.20 O abolicionismo se tornou uma questão fulcral, em maior ou menor grau articulado, ainda que não necessariamente de forma coincidente, com a assunção de propostas republicanas. Os militares, notadamente do Exército, ocupavam um novo espaço político na sociedade, fomentado ainda mais pela adesão de jovens a ideais positivistas (que rejeitavam a escravidão e apoiavam a república). Além disso, percebe-se uma maior multifacetação social, com um melhor delineamento dos estratos médios. Para alcance do objetivo, como fontes, além dos estatutos disponíveis das duas sociedades, foram utilizados periódicos publicados no Rio de Janeiro entre 1868, ano de fundação do Clube Ginástico Português, e 1889, ano em que as duas agremiações se reconciliaram, depois de mais de uma década de conflitos. Cabe observar que os jornais e as revistas usados possuíam diferentes perfis, merecendo nossa observação sobre suas características quando julgamos necessário. Todavia, deve-se perceber que era alto o grau de heterogeneidade e mudanças numa imprensa que ainda tentava melhor se estruturar.21 Nesse sentido, nem sempre o olhar do cronista citado pode ser subsumido ao caráter majoritário do veículo analisado. Com este estudo espera-se lançar um olhar sobre algumas importantes dimensões que marcavam o Rio de Janeiro do século XIX: o surgimento de novas práticas sociais, típicas O Paiz, 8 ago. 1886. p. 2. Esse periódico tinha forte relação com a colônia lusitana. FREITAS FILHO, Almir Pita. A colônia portuguesa na composição empresarial da cidade do Rio de Janeiro no final do século XIX e início do XX, op. cit. p. 172. 20 CARVALHO, José Murilo. A vida política. In: CARVALHO, José Murilo (Coord.). História do Brasil nação (1808-2010) — volume 2 — A construção nacional (1830-1889). Rio de Janeiro: Objetiva, 2012. p. 83-129. 21 SODRÉ, Nelson Werneck. História da imprensa no Brasil. São Paulo; Porto Alegre: Intercom; Edipucrs, 2011. 18 19 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 242-265, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 248 Associativismo e política no Rio de Janeiro do Segundo Império: o Clube Ginástico Português e o Congresso Ginástico Português Victor Andrade de Melo e Fabio de Faria Peres de um contexto em que emergiam discursos de modernidade; a articulação entre associativismo e política; o papel desempenhado por portugueses em um momento importante da constituição da nação independente. Clube Ginástico Português O Clube Ginástico Português foi fundado em 1868, antes, portanto, da pioneira sociedade ginástica criada em Portugal, o Ginásio Clube Português (1875).22 De acordo com o sítio da agremiação,23 que permanece ativa até os dias de hoje, os primeiros estatutos teriam sido aprovados, pelo chefe de polícia da Corte, em 1869. No documento a que tivemos acesso, os estatutos aprovados pelo Decreto no 5.026, de 24 de julho de 1872,24 João José Ferreira da Costa e Antônio José Ferreira da Costa são reconhecidos como sócios fundadores e beneméritos, por tal condição podendo “usar como distintivo uma fita azul e branca com uma medalha pendente ao pescoço, tendo gravada na mesma a data da fundação do club, de um lado e de outro — Club Ginástico Português”. Segundo o sítio do clube, o primeiro seria oficial de correio (na verdade, correeiro, isto é, responsável por trabalhar o couro, confeccionando tanto obras de decoração quanto produtos para cavalos) e o segundo, dono de uma venda na rua do Hospício (atual Buenos Aires), onde teria sido fundada a agremiação, local no qual os primeiros associados faziam seus exercícios ginásticos. Segundo essa versão, a agremiação teria uma origem popular. Devemos nos perguntar, contudo, como teria sido possível pessoas com esse perfil já estarem envolvidas com a ginástica, cuja prática e, sobretudo, o ensino ainda não eram totalmente vulgarizados na vida social do Império. Embora a ginástica já estivesse inserida de forma múltipla em diferentes instituições da Corte — algumas escolas, instituições militares e, em particular, nos circos e teatros, onde era uma atração que agradava a uma sociedade que cada vez mais valorizava os divertimentos públicos —, condições específicas e concretas do Império dificultavam uma maior estruO caso da conformação da ginástica e do esporte em Portugal do século XIX ainda não foi largamente debatido, embora já existam alguns estudos sobre o tema. Alguns pesquisadores argumentam que a fraca adesão inicial às práticas, naquele país, tem relação com as suspeitas e distanciamentos de certos parâmetros da modernidade. Para mais informações, ver: HASSE, Manuela. O divertimento do corpo: corpo, lazer e desporto na transição dos séculos XIX e XX, em Portugal. Lisboa: Temática, 1999; e MELO, Victor Andrade de. Que modernidade? O esporte em Os maias (Eça de Queirós, 1888). Aletria: Revista de Estudos de Literatura, v. 22, n. 2, p. 201-217, maio/ago. 2012. 23 Disponível em: <www.clubeginastico.com.br/>. Acesso em: 20 jun. 2013. 24 BRASIL. Decreto no 5.026, de 24 de julho de 1872. Aprova os estatutos da associação denominada — Club Ginástico Português. Disponível em: <www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto5026-24-julho-1872-551233-norma-pe.html>. Acesso em: 26 maio 2013. É possível que se trate dos mesmos estatutos de 1869, mas não conseguimos confirmar tal informação. 22 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 242-265, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 249 Associativismo e política no Rio de Janeiro do Segundo Império: o Clube Ginástico Português e o Congresso Ginástico Português Victor Andrade de Melo e Fabio de Faria Peres turação do seu ensino-aprendizado. A relação entre ideias e formação social fez com que a prática adquirisse alguns contornos particulares no Rio de Janeiro do século XIX.25 Além disso, encontramos informações contraditórias. Sabemos que certo João José Ferreira da Costa já vinha atuando como mestre na Sociedade Francesa de Ginástica.26 Mais ainda, tratava-se de uma família que tinha algum destaque na sociedade política do Império. Há outro indicador que deve ser levado em conta: o primeiro presidente do clube, eleito em 1869, foi, segundo o sítio do clube, Manuel Mariano Ribeiro, membro ativo da loja maçônica Grande Oriente do Brasil. É pouco provável que tenha sido de família humilde. De toda forma, muitos comerciários parecem ter integrado as fileiras do Clube Ginástico. Essa referência apareceu em vários momentos. Em novembro de 1870, por exemplo, um jornalista, que elogia os avanços que a agremiação “tem feito no curto espaço de tempo que consta de existência”,27 observou que “um bom número de empregados do comércio encontra ali noturnamente algumas horas de salutar e divertido exercício e a confraternização da classe”. As roupas e as posturas dos associados eram apresentadas como “simples e elegantes”. Alguns anos mais tarde, quando foi inaugurada uma nova sede, ao celebrar a conquista, uma vez mais a diretoria lembra do grupo social majoritariamente representado: “É uma glória para todos os srs. sócios, é um triunfo dizer-se que uma sociedade recreativa, composta, na máxima parte, da mocidade empregada no comércio, pudesse levar a efeito a construção deste edifício que é, podemos dizer, o único de seu gênero no Brasil”.28 A agremiação, a essa altura, ainda reforçava essa identidade de categoria. Devemos ter em conta que era bastante diverso o quadro de comerciários na ocasião. De um lado, de fato, os portugueses, que eram proprietários de grande parte dos negócios, admitiam mais patrícios do que brasileiros. De outro lado, “a profissão, no Rio de Janeiro, incluía um espectro amplo de funções que atendiam a uma escala hierárquica”.29 Havia um grande número de cargos e remunerações, podendo ser, em linhas bem gerais, divididos em “alto comércio” e “baixo comércio”, de acordo com a complexidade das ações e do volume financeiro mobilizado. Essas diferenças, veremos, eram perceptíveis no Clube Ginástico e no Congresso Ginástico. De toda forma, é possível sugerir que os grupos envolvidos com essas agremiações, Para mais informações, ver: MELO, Victor Andrade de; PERES, Fabio de Faria. O corpo da nação: posicionamentos governamentais sobre a educação física no Brasil monárquico. História, Ciências, Saúde — Manguinhos, Rio de Janeiro, 2014. No prelo. PERES, Fabio de Faria; MELO, Victor Andrade de. A introdução da ginástica nos clubes do Rio de Janeiro do século XIX. Movimento, Porto Alegre, 2014. No prelo. 26 Fundada em 1863, foi antecedida pela Sociedade Alemã de Ginástica, criada em 1859. 27 Diário de Notícias, 3 nov. 1870. p. 2. Trata-se do periódico que foi dirigido por A. Clímaco dos Reis. Mesmo com a intensa movimentação política do momento, o jornal procurava se apresentar como alheio às questões partidárias. O redator era português e já atuara na mesma função em seu país de origem. 28 A Instrução Pública, 22 dez. 1872. p. 332. 29 POPINIGIS, Fabiane. Proletários de casaca: trabalhadores do comércio carioca (1850-1911). Campinas: Editora da Unicamp, 2007. p. 34. 25 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 242-265, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 250 Associativismo e política no Rio de Janeiro do Segundo Império: o Clube Ginástico Português e o Congresso Ginástico Português Victor Andrade de Melo e Fabio de Faria Peres mesmo que com parâmetros distintos, tinham em conta um processo típico de estratos intermediários: “Em meados da década de 1850, essas pessoas teriam, segundo ele (Owensby), encontrado uma maneira de diferenciarem-se das classes inferiores, mas também, e sobretudo, de afirmarem-se perante as elites. A importância de ser culto seria uma guinada das classes médias na busca de status e ascensão social”.30 Esse processo era marcado por uma ambiguidade observável na classe do comércio: Por um lado, o caixeiro era o trabalhador empenhado, fiel à mentalidade de comerciante, defensor dos interesses do patrão, e, por isso, muito pouco tempo tinha para si mesmo e para a vida “fútil” das diversões que a rua oferecia. Por outro, apresenta-se o caixeiro como um pastiche burguês, aspirando a uma condição social superior, preocupado com o trajar e com assuntos reservados aos privilegiados da sociedade; a literatura e a política.31 Além de ter em conta os diferentes perfis dos trabalhadores do comércio, majoritariamente portugueses, o Clube Ginástico também procurava se equilibrar entre as referências ao Brasil e a Portugal, concedendo especial atenção aos símbolos do país ibérico. Normalmente abria suas cerimônias, pelo menos até a proclamação da República, com a execução dos hinos das duas nações, exemplo de sua dupla vinculação. Constantemente comemoravam-se as datas importantes das duas coroas, ainda mais festivamente as da portuguesa. Bastante simbólica, nesse sentido, foi a cerimônia em que se comemorou, em 1876, a concessão ao clube, por parte da Coroa portuguesa, do título de “Real”, pelos serviços prestados à cultura e à colônia lusitana.32 Presentes estavam Matias de Carvalho (ministro de Portugal no Brasil), o barão de Wildik33 (cônsul-geral), além de representantes do Liceu Literário, da Caixa de Socorros de D. Pedro V e da Beneficência Portuguesa. Tratou-se de uma completa celebração lusitana em terras brasileiras. Muitos foram os representantes do corpo diplomático e as personalidades importantes da colônia portuguesa no Brasil, ou de Portugal que estavam no Brasil, que visitaram a agremiação, por vezes até mesmo se tornando sócios. Não poucas vezes receberam fartos agradecimentos e reconhecimento pela ajuda dada ao seu funcionamento. Os diplomatas também tinham a agradecer aos clubes portugueses, já que esses os auxiliavam na execução de suas tarefas. Não surpreende saber que as agremiações chegaram a ser Ibid., p. 55. Ibid, p. 183. 32 O clube passou a se chamar Real Clube Ginástico Português. A mudança foi aprovada pelo seguinte decreto: BRASIL. Decreto no 6.443, de 30 de dezembro de 1876. Aprova a alteração do nome do Club Ginástico Português. Disponível em: <www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-6443-30-dezembro-1876-549907-publicacaooriginal-65444-pe.html>. Acesso em: 26 maio 2013. 33 Tratava-se de Pedro Afonso de Figueiredo, que chegou a escrever o livro Guia do cidadão português no Império do Brasil, ou Compêndio dos direitos e deveres dos portugueses residentes no Império, lançado pela Tipografia da Gazeta de Notícias, em 1884. 30 31 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 242-265, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 251 Associativismo e política no Rio de Janeiro do Segundo Império: o Clube Ginástico Português e o Congresso Ginástico Português Victor Andrade de Melo e Fabio de Faria Peres agraciadas com comendas de Portugal: o Congresso Ginástico Português com a de Freixo de Espada à Cinta e o Clube Ginástico Português com essa e a Cruz da Torre dos Clérigos, todas da Ordem de Cristo, uma sociedade religiosa e militar criada em 1319. Nessa interface entre ser brasileiro e português, o clube foi ganhando notoriedade. Vejamos como um jornalista ressaltou a importância da ginástica e as contribuições da agremiação por ocasião da inauguração da nova sede: “Embora geralmente sadia e forte, a mocidade portuguesa não pôde eximir-se da influência de sua raça e por isso os sócios do Club Ginástico souberam não manter-se exclusivamente no terreno simples do exercício corpóreo”.34 O Vida Fluminense foi também categórico: “O novo edifício é um dos mais vastos e elegantes desta Corte. Se excetuarmos o do Cassino Fluminense, não há no Rio salão que possa ombrear em dimensões com o do Club Ginástico”.35 Não era um elogio pequeno: o Cassino era uma das mais importantes agremiações da capital (e talvez mesmo do país).36 Para o jornalista de O Mosquito, “nunca sociedade alguma fez tanto em tão poucos anos”.37 Sua grande contribuição seria o “desenvolvimento físico do sexo forte, que apesar de forte está ficando raquítico e enfezado como um sibarita”. Nesse sentido, elogia a nova sede pela “singeleza arquitetônica que faz recordar, ainda que vagamente, a austera majestade dos antigos anfiteatros”. Para o cronista, teria mais a feição de “um templo do que a de um recinto de divertimentos”. É digna de destaque a representação construída: vinculava-se o clube a algo mais do que o puro entretenimento, teria uma clara utilidade social. Devemos ter em conta que uma parte dessas posições se articulava com o que sugere Popinigis: “A construção de um perfil de bons moços trabalhadores para os caixeiros tinha como função assim mantê-los na legalidade e afastá-los do movimento operário radical”.38 Uma parte dos empregados do comércio adotava mesmo esses discursos como forma de estabelecer relação com os patrões e o governo, a fim de obter ganhos em suas reivindicações trabalhistas. De toda forma, isso não significará a ausência de envolvimento com movimentações políticas. Veremos como os clubes acolheram algumas dessas iniciativas, e é fato que os comerciários foram ativos em muitas das questões ocorridas nos anos finais do Império e anos iniciais da República. Outra parte dos discursos tinha mesmo a ver com a adesão a ideais modernos, valorizados por certos setores da Sociedade da Corte. Logo, aliás, a agremiação passou a ser frequentada por pessoas de vários círculos sociais. Vejamos como é uma das nominalmente citadas pelo colunista de O Mosquito, que elogiava “a grande quantidade de festas musicais Diário de Notícias, 3 nov. 1872. p. 1. Vida Fluminense, 9 nov. 1872. p. 1192. 36 Para mais informações sobre o Cassino Fluminense, ver: NEEDELL, Jeffrey D. Belle Époque tropical. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 37 O Mosquito, 9 nov. 1872. p. 3. 38 POPINIGIS, Fabiane, Proletário de Casaca, op. cit., p. 131. 34 35 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 242-265, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 252 Associativismo e política no Rio de Janeiro do Segundo Império: o Clube Ginástico Português e o Congresso Ginástico Português Victor Andrade de Melo e Fabio de Faria Peres e dançantes” que havia no Rio de Janeiro, segundo ele responsável por “não saber a gente como se há de virar para ir a toda a parte”: “É o baile do Club Ginástico Português por um lado, o sarau do Mozart pelo outro, o grande concerto da Filarmônica no salão do Cassino, e que sei eu!”.39 Não surpreende que a agremiação tenha passado a figurar nas edições de periódicos que, adotando uma linguagem mais descontraída, bem como o uso de quadrinhos e caricaturas, abordavam os fatos do cotidiano, a vida social, política e cultural da cidade, sempre com um olhar atento e irônico, como Vida Fluminense, O Mosquito e O Mequetrefe.40 Considerada como uma das grandes sociedades da ocasião, o Clube Ginástico passou a integrar com honras o mundo fashionable da Corte. O clube português sempre promoveu um grande número de atividades: aulas de ginástica, esgrima e música; saraus e bailes; reuniões cotidianas na sede; passeios campestres. A agremiação buscava também se exibir publicamente nas mais diferentes ocasiões. Um interessante exemplo foi a cerimônia de benção de seu estandarte, realizada solenemente na igreja do Senhor Bom Jesus do Calvário.41 O pavilhão, aliás, foi produzido por Venâncio Inácio da Costa, importante artista, e exibido na Notre Dame de Paris, um dos maiores e mais prestigiosos magazines da cidade, situado à rua do Ouvidor.42 Outra atividade que aumentava sua visibilidade era a promoção de festas de caridade, tendo em conta as mais distintas causas, sob a forma de quermesse, apresentação ou bando precatório (um desfile público no qual se recolhiam donativos para alguma causa). O clube também procurava colaborar com as iniciativas de outras agremiações assistenciais, especialmente com as da Sociedade de Beneficência Portuguesa, com a qual mantinha estreita relação. Nessas ocasiões, não poucas vezes o clube explicitou sua dupla vinculação. Por exemplo, em março de 1871, os recursos obtidos com uma festividade beneficente foram divididos entre a Caixa de Socorros de D. Pedro V, uma instituição de cariz lusitano, e o Asilo dos Inválidos da Pátria, entidade nacional que atuava com os que lutaram na Guerra do Paraguai.43 Pelos jornais, muitos foram os elogios a essa iniciativa. L. Guimarães Júnior, na coluna “Revista de Domingo”, o folhetim do Diário do Rio de Janeiro, exaltou: “Das associações formadas há pouco tempo entre nós, há uma que merece a maior atenção e agasalho, não só pelo fim útil a que se dirigem os associados, como pelas provas de generosidade e caridade O Mosquito, 4 set. 1875. p. 4. Nos dois primeiros periódicos, atuou um dos personagens célebres da imprensa no Império: Angelo Agostini (SODRÉ, Nelson Werneck. História da imprensa no Brasil, op. cit.). 41 Era um importante templo, destruído quando da construção da avenida Presidente Vargas (ficava na rua do Sabão/General Câmara). A igreja hoje se localiza no bairro da Tijuca. 42 Diário de Notícias, 14 dez. 1870. p. 1. 43 Diário de Notícias, 12 mar. 1871. p. 1. 39 40 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 242-265, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 253 Associativismo e política no Rio de Janeiro do Segundo Império: o Clube Ginástico Português e o Congresso Ginástico Português Victor Andrade de Melo e Fabio de Faria Peres que tem posto em prática”.44 Na verdade, esses eventos eram sempre louvados. Valorizava-se “a ideia generosa que promove a festa”, “tão útil e nobre pensamento”.45 Com tamanha presença social, o Clube Ginástico passou a ser muito procurado para a realização de reuniões de diferentes grupos — recreativos, religiosos, esportivos, beneficentes, muitos deles agremiações portuguesas. Essa prática se tornou comum no decorrer dos anos: as sociedades mais estruturadas cediam suas instalações para algumas congêneres, sinal da fraternidade que entre elas existia. O clube sediou muitos encontros de natureza política. Alguns dos assuntos candentes no Segundo Império de alguma forma passaram por seus salões. Por exemplo, em março de 1879, por lá se reuniram oficiais da Armada e do Exército, nomeando uma comissão que se encarregou de defender os interesses dos militares.46 Já em maio de 1881, a reunião foi destinada a discutir a participação da categoria no pleito eleitoral, situando-se o debate entre os que achavam que se deveria apresentar um só concorrente, para garantir ao menos um representante na Câmara, e os que pensavam ser melhor lançar várias candidaturas. Dirigida pelo almirante Joaquim Raimundo de Lamare,47 contou com cerca de quinhentos presentes, decidindo-se ao final por apoiar dois candidatos: o tenente-coronel (futuramente general) Catão Roxo (do Exército) e o chefe de Divisão (futuramente almirante) Silveira da Motta (da Armada).48 Devemos lembrar que se tratou de um momento em que as Forças Armadas passaram a se posicionar mais explicitamente acerca das questões nacionais, tanto nos seus fóruns e periódicos específicos, como O Soldado e a Tribuna Militar, quanto na imprensa em geral.49 Já havia uma geração de militares que dedicava maior “lealdade à corporação do que aos partidos, ou mesmo ao regime”, sendo capaz de “enfrentar a elite civil dos bacharéis”.50 Esse novo protagonismo dos militares também se articulava com uma das mais efervescentes questões dos anos finais do Império: a extinção da escravatura. O Clube Ginástico acolheu reuniões de grupos abolicionistas. Por exemplo, em sua sede foram realizados os Diário do Rio de Janeiro, 2 abr. 1871. p. 1. Esse periódico foi relançado em 1860, tornando-se um dos mais populares e combativos da cidade, contando com a colaboração de importantes personagens como Quintino Bocaiúva e Machado de Assis. Notabilizou-se por sua qualidade e pelo olhar atento que lançou sobre as mudanças na sociedade da Corte (SODRÉ, Nelson Werneck. História da imprensa no Brasil, op. cit.). 45 Diário do Rio de Janeiro, 13 ago. 1871. p. 2. 46 O Repórter, 15 mar. 1879. p. 1. 47 Importante personagem do Império, foi deputado, senador, presidente de província e ministro da Marinha, entre outros cargos que ocupou. 48 Gazeta de Notícias, 7 maio 1881. p. 1. Esse periódico marcou época por suas posições liberais e por abrir denotado espaço para a literatura, inclusive escritos de portugueses, como Eça de Queirós e Ramalho Ortigão. Graças à ação de Ferreira Araújo, o jornal tinha grande relação com a cultura de Portugal (MINÉ, Elza. Ferreira de Araújo, ponte entre o Brasil e Portugal. Via Atlântica, São Paulo, n. 8, p. 221-229, dez. 2005). 49 SCHULZ, John. O Exército na política: origens da intervenção militar, 1850-1894. São Paulo: Edusp, 1994. 50 CARVALHO, José Murilo. A vida política, op. cit. p. 123. 44 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 242-265, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 254 Associativismo e política no Rio de Janeiro do Segundo Império: o Clube Ginástico Português e o Congresso Ginástico Português Victor Andrade de Melo e Fabio de Faria Peres ensaios para um festival promovido, em maio de 1881, para angariar fundos para a causa.51 Assim se saudou a participação dos ginastas no evento: “Honra aos dignos amadores e professores que assim cooperam para o triumfo e vitória da mais santa das causas”.52 Na agremiação, aliás, foi fundado o Centro Abolicionista Forense, formado por “trabalhadores modestos”53 que “unindo-se à Confederação será uma grande força para a propaganda do bem”.54 No ano seguinte, em 1884, também nas dependências do Clube Ginástico, criou-se um grupo exclusivamente formado por portugueses e seus filhos, o Centro Português Redentor dos Escravos.55 Para o Campeão Lusitano, era um passo esperado, já que muitos da colônia estavam envolvidos com a causa, uma prova da sua “virilidade” e “aspirações generosas”.56 Não surpreende, assim, que o clube tenha tomado parte ativa nas comemorações da abolição da escravatura. Nas festividades realizadas no Campo da Aclamação, participou com sua banda de música, seus alunos de ginástica e dois carros com estandartes.57 Mais um indicador das atividades políticas que sediou o Clube Ginástico: em fevereiro de 1887, anunciou-se que Adolfo Bezerra de Menezes, um antigo sócio, convidou “os liberais do município neutro, para tratarem da organização do partido”, reunião realizada nas dependências da agremiação.58 Esse importante personagem do Império se notabilizou pelo caráter empresarial de suas iniciativas, pela defesa de ideais liberais, pelo combate à escravidão, pela preocupação com os mais carentes e por ser um dos líderes da doutrina espírita no Brasil. Por vezes as reuniões tinham relação com a política de Portugal. Em abril de 1881, dirigido por Francisco Travassos Valdez, que viajara pelo continente africano como explorador, houve um encontro para tratar de um assunto que deixava de “sobressalto o espírito dos portugueses”,59 o Tratado de Lourenço Marques, proposto pelos britânicos, que permitiria à sua marinha manter-se em águas moçambicanas e desembarcar no porto da capital. O acordo não foi ratificado pelo parlamento português, desencadeando uma crise diplomática. A participação foi ampla: a colônia portuguesa desejava ser esclarecida para ajudar no que fosse necessário. Gazeta de Notícias, 1o maio 1881. p. 2. Id., 8 maio 1881. p. 3. 53 O grupo era formado majoritariamente por advogados (logo, trabalhadores nem tão modestos). Para mais informações e um debate sobre a relação entre associativismo e abolicionismo, ver: ALONSO, Angela. Associativismo avant la lettre — as sociedades pela abolição da escravidão no Brasil oitocentista. Sociologias, Porto Alegre, ano 13, n. 28, p. 166-199, set./dez. 2011. 54 Gazeta da Tarde, 15 dez. 1883. p. 2. 55 Gazeta de Notícias, 7 abr. 1884. p. 2. 56 Campeão Lusitano, 26 abr. 1884. p. 3. Esse periódico era ligado à colônia portuguesa; seu perfil foi debatido na introdução (ver notas 1, 2 e 4). 57 Gazeta de Notícias, 21 e 22 maio 1888. p. 1. 58 Diário de Notícias, 27 fev. 1887. p. 1. Esse periódico foi um dos que mais fortemente se engajou nas campanhas republicanas, destacando-se a atuação de Rui Barbosa. 59 Gazeta de Notícias, 8 abr. 1881. p. 2. 51 52 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 242-265, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 255 Associativismo e política no Rio de Janeiro do Segundo Império: o Clube Ginástico Português e o Congresso Ginástico Português Victor Andrade de Melo e Fabio de Faria Peres Anteriormente, Valdez já proferira uma conferência narrando e enfatizando a importância das expedições de Serpa Pinto, um dos responsáveis por reconhecer, mapear e tomar posse de terras de Portugal na região de Angola.60 O próprio Serpa Pinto esteve no Brasil e recebeu muitas homenagens da colônia portuguesa e do Clube Ginástico. Entre outras atividades, promoveu-se em sua honra, em junho de 1881, um baile. Os salões foram ornados com muito luxo e muitos símbolos que remetiam a sua experiência na África, bem como às coroas de Brasil e Portugal.61 Os eventos de Valdez e Serpa Pinto referiam-se a uma preocupação constante no Portugal daquele momento, a manutenção de suas terras em África, que deveriam ser definitivamente ocupadas para que não se perdessem em um momento de expansão colonial. Várias potências procuravam tomar posse de territórios no continente, um movimento que teve como marca importante a Conferência de Berlim, na qual os portugueses participaram de forma secundária.62 Mesmo distantes de seu país de origem, os lusitanos no Brasil estabelecidos procuravam acompanhar e de alguma forma contribuir com os interesses da nação ibérica. Se o Clube Ginástico logrou sucesso desde os seus momentos iniciais, sua trajetória também foi marcada por conflitos internos, ligados aos diferentes interesses que, em certa medida, expressavam fraturas na heterogênea colônia portuguesa. Quem deveria ser aceito como sócio? A qual rede de relações vincular-se-ia a agremiação? Essas questões estiveram na base de certas tensões que, em boa medida, foram responsáveis pela criação do Congresso Ginástico Português. Vejamos alguns indícios desses conflitos. Em dezembro de 1875, um jornalista critica com veemência as ações de Viridiano de Carvalho, chamando-o de “serpente venenosa” e “verme roedor”,63 considerando-o alguém que não mereceria privar da convivência de cavalheiros, senhoras e famílias. O que motivara tamanha fúria? Em reunião da diretoria do Clube Ginástico, Carvalho chamara de “lavadeiras” e “biqueiras” as jovens de uma agremiação que fora convidada para um baile, o Flor dos Alpes, uma sociedade dançante mais popular. Para o cronista, Viridiano cometia equívocos imperdoáveis ao julgar as famílias pelo traje e ao ofender as mulheres. Ele teria desrespeitado a proposta, o clima e os intuitos do clube. Por isso, a sugestão de que fosse excluído do convívio, para que não mais envergonhasse a agremiação. Todavia, Carvalho não só não foi expulso, como ainda ampliou seu prestígio. Sua posição, de fato, repercutia o que pensavam outros sócios: a reivindicação por maior elitização. Gazeta da Noite, 14 jul. 1879. p. 1. Gazeta da Tarde, 28 jun. 1881. p. 1. 62 PIMENTA, Fernando Tavares. Portugal e o século XX: Estado-Império e descolonização (1890-1975). Lisboa: Afrontamento, 2010. 63 A Reforma, 7 dez. 1875. p. 3. Esse periódico defendia um programa liberal para o país, caracterizando-se por posições convictas e enfáticas. Chegou a ser um dos mais lidos e influentes da capital (SODRÉ, Nelson Werneck. História da imprensa no Brasil, op. cit.). 60 61 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 242-265, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 256 Associativismo e política no Rio de Janeiro do Segundo Império: o Clube Ginástico Português e o Congresso Ginástico Português Victor Andrade de Melo e Fabio de Faria Peres Português de nascimento, autor de importantes livros de ensino comercial, Viridiano atuou em muitas casas, tornando-se famoso guarda-livros. Chegou a trabalhar no Jornal do Commercio e a ocupar cargos no governo republicano.64 No âmbito do clube, foi o introdutor das atividades dramáticas, origem de uma das maiores vocações da agremiação, materializada no futuro em um importante grupo cênico e em um dos teatros de referência da cidade (o Teatro Ginástico, que existe até os dias de hoje). Certamente tratou-se de uma iniciativa que ampliou o perfil do Clube Ginástico, sendo por diversas vezes celebrada: “O encanto da beleza congraçava-se com a ufania da mocidade e a arte dramática abraçando-se com a ginástica, deu horas de verdadeiro prazer”.65 No decorrer do tempo, as atividades dramáticas foram ganhando espaço. Passaram até mesmo a ser promovidos saraus dramático-dançantes nos quais não havia espaço para os exercícios ginásticos.66 A posição de Viridiano era também um indício das tensões relacionadas à direção da entidade, problemas que começaram alguns anos antes. A diretoria tomara algumas decisões polêmicas, como exclusão de sócios, restrição à possibilidade de associação, proibição de entrada de convidados em determinados eventos, cobrança mais amiúde de inadimplentes. Essas posturas desagradaram muitos filiados, alguns dos quais acabaram por se desligar e se transferir para o Congresso Ginástico. Esses conflitos explicitaram-se nas eleições para a diretoria de 1876, um debate perceptível nos jornais. Alguém que assina como “Um sócio imparcial” defende a candidatura a presidente de Inácio Ferreira Nunes,67 para ele “competente para fazer cessar certo desequilíbrio que se nota na marcha da associação”.68 No dia seguinte, o mesmo autor publica uma carta ainda mais longa, explicitando os motivos de sua posição, notadamente os avanços que o indicado teria propiciado ao clube quando integrou a direção. Inácio Ferreira Nunes saiu-se vencedor nas eleições e parece ter alcançado boa parte de seus objetivos à frente da direção. No final de sua gestão, ele foi enfaticamente saudado, sendo agraciado, “pelos serviços prestados ao club”, com a “venera do hábito da Conceição de Vila Viçosa”,69 investido pelo próprio barão de Wildik. Em linhas gerais, promoveu um maior investimento nas atividades internas (maior número de reuniões familiares), uma escolha mais cuidadosa dos contatos com outras sociedades, uma maior sofisticação do funcionamento da agremiação, confirmando a tendência de elitização. SILVA, Amado Francisco da. A contabilidade brasileira no século XX – leis, ensino e literatura. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis e Financeiras), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005. 65 O Mequetrefe, n. 99, 1877, p. 6. 66 Desde a fundação do clube, e no decorrer do século, houve sempre apresentações de exercícios ginásticos integrando a programação dos bailes e saraus. 67 Comerciante e fabricante do ramo de cigarros, maçom, já dirigente de outras agremiações portuguesas, como a Caixa de Socorros de D. Pedro V, ocupara anteriormente cargos no Clube Ginástico. 68 Diário do Rio de Janeiro, 9 nov. 1876, p. 3. 69 Gazeta de Notícias, 27 maio 1879. p. 2. Trata-se de uma antiga e honrosa ordem portuguesa. 64 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 242-265, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 257 Associativismo e política no Rio de Janeiro do Segundo Império: o Clube Ginástico Português e o Congresso Ginástico Português Victor Andrade de Melo e Fabio de Faria Peres Vejamos, por exemplo, esse adendo ao anúncio de uma festa de aniversário do clube, um indício dos novos rigores que passaram a cercar o seu funcionamento: AVISO ESSENCIAL A diretoria desejando dar a esta solenidade todo o esplendor que o ato impõe, pede aos Srs. sócios todo o rigor na toillete; assim como reserva-se o direito de proibir a entrada a pessoas agregadas, cavalheiros, ou famílias cujo chefe não seja o designado no cartão apresentado. Não serão também admitidas crianças menores de 5 anos.70 Se a princípio a frequência aos bailes influenciou na gestação de uma nova moda, uma forma de se vestir mais leve e menos formal, posteriormente desenvolveu-se uma série de princípios mais rigorosos para quem frequentasse essas atividades sociais, especialmente para as mulheres. Conforme a cidade se “civilizava” também se desenvolviam preocupações e iniciativas relacionadas ao “bem trajar-se”. Os eventos públicos eram uma ocasião para que se demonstrasse a sintonia com o “bom gosto”, representava de representar uma oportunidade de diferenciação social. Um interessante indício dessas mudanças é a coluna “Modas”, assinada por Jeane Teduar, que ocupava a seção folhetim do Diário Portuguez. Em certa ocasião, inferindo que “minhas formosas leitoras estão se preparando para o próximo baile do Real Club Ginástico Português”,71 ofereceu uma série de sugestões de vestimentas. Mais ainda, no final “ameaça”: “terei ocasião de ver se se dignaram a prestar atenção aos meus conselhos”. As mudanças promovidas a partir de meados da década de 1870 não aplainaram todos os conflitos internos e não resolveram definitivamente os problemas financeiros da agremiação. Parece que, de alguma forma, o Clube Ginástico registrou o impacto da criação do outro grupo de cariz português: o Congresso Ginástico Português. Congresso Ginástico Português O Congresso Ginástico Português foi fundado em 1874, tendo origem nas divergências internas do Clube Ginástico Português. Instalou-se na rua do Núncio, no terreno ao lado da sede do congênere lusitano. Como se pode perceber em seus primeiros estatutos,72 nos momentos iniciais tinha um perfil semelhante ao do clube rival. Com a aprovação dos segundos Id., 27 out. 1881. p. 3. Diário Portuguez, 5 abr. 1885. p. 1. Esse periódico era ligado à colônia portuguesa; seu perfil foi debatido na introdução (ver notas 1, 2 e 4). 72 BRASIL. Decreto no 5.873, de 13 de fevereiro de 1875. Aprova os estatutos da Sociedade denominada Congresso Ginástico Português. Disponível em: <www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-5873-13-fevereiro-1875-549848-norma-pe.html>. Acesso em: 6 jun. 2013. 70 71 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 242-265, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 258 Associativismo e política no Rio de Janeiro do Segundo Império: o Clube Ginástico Português e o Congresso Ginástico Português Victor Andrade de Melo e Fabio de Faria Peres estatutos, em 1879,73 estabeleceram-se de forma mais explícita as diferenças, mantendo-se o Congresso mais fortemente relacionado com os comerciários, uma clara tentativa de evitar (ou mesmo se contrapor a) um processo de elitização. Não se pode com certeza dizer que era “popular” o Congresso, no sentido de garantir o acesso a estratos sociais considerados menos abastados ou de menor prestígio. Deve-se destacar, de toda forma, que em sua trajetória a agremiação não frequentou a mesma esfera social do Cassino Fluminense e do Clube Ginástico, mantendo relações mais próximas com sociedades menos ligadas à grande elite, tais como os Fenianos, os Tenentes do Diabo, os Girondinos e o Congresso Brasileiro. Esse perfil diferenciado por vezes foi sublinhado pelos jornais, como nessa notícia publicada na coluna “Semana Teatral”, no folhetim da Gazeta de Notícias. Ao falar de um sarau no clube realizado, o cronista o considera mais simples, ainda que não menos divertido: “mais democrática e de caráter mais popular, teve a festa do Congresso o encanto da mais bela confraternidade”.74 Outro interessante indicador das diferenças é o perfil das agremiações para as quais o Congresso cedeu seus salões para reuniões, distinto daquelas que utilizavam o Clube Ginástico. Por suas instalações também passaram algumas importantes questões políticas do Segundo Império, todavia houve mais encontros de associações de categorias de trabalhadores bastante ativos, como é o caso do Grêmio Tipográfico e da Sociedade Auxiliadora de Artistas Alfaiates.75 Outra associação semelhante, a Imperial Associação Tipográfica Fluminense, uma das pioneiras entidades sindicais do país,76 no Congresso promoveu uma festa artística, em novembro de 1881,77 em conjunto com a Associação Central Emancipadora, que entre seus integrantes contava com personalidades como André Rebouças e José do Patrocínio.78 Essa sociedade realizou muitos eventos no clube, parte de sua campanha abolicionista. O Congresso também acolheu muitas iniciativas ligadas à abolição da escravatura. A Sociedade Abolicionista Cearense promoveu duas grandes festas nos salões do clube português. Na primeira, em 1883, comemorou-se a libertação dos escravos em Fortaleza.79 No ano seBRASIL. Decreto no 7.533, de 28 de outubro de 1879. Aprova os novos estatutos da sociedade Congresso Ginástico Português. Disponível em: <www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-7533-28-outubro-1879-548806-norma-pe.html>. Acesso em: 6 jun. 2013. 74 Diário do Rio de Janeiro, 21 jun. 1877. p. 1. 75 Para mais informações sobre essas agremiações, ver: LACERDA, David Patrício. Solidariedade entre ofícios: a experiência mutualista no Rio de Janeiro imperial (1860-1882). Dissertação (mestrado em história) — Universidade de Campinas, Campinas, 2011. 76 Para mais informações, ver: MATTOS, Marcelo Badaró. Trabalhadores escravizados e livres na cidade do Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX. Revista Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, v. 12, p. 229-251, 2004. 77 Gazeta da Tarde, 18 nov. 1881. p.1. 78 Para mais informações, ver: ALONSO, Angela. Associativismo avant la lettre, op. cit. 79 Gazeta da Tarde, 21 maio 1883. p. 3. 73 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 242-265, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 259 Associativismo e política no Rio de Janeiro do Segundo Império: o Clube Ginástico Português e o Congresso Ginástico Português Victor Andrade de Melo e Fabio de Faria Peres guinte, os festejos foram ainda maiores: oito dias de celebração pela abolição da escravatura na província do Ceará.80 Nessas cerimônias, o Congresso foi coberto de elogios e saudações por sua ajuda à causa. O clube também acolheu algumas reuniões do Centro Positivista. Em uma dessas ocasiões, em comemoração à independência, foram promovidas conferências de Teixeira Mendes,81 um dos líderes do positivismo no Brasil, movimento que estava engajado na luta abolicionista e construindo condições para a proclamação da república.82 A agremiação chegou a acolher, em 1881, uma conferência de Carlos Augusto do Carvalho, na ocasião candidato à Assembleia Geral Legislativa, republicano que futuramente assumiria importantes cargos governamentais, se destacando por sua atuação na política externa (chegou a ser ministro do Exterior de Floriano Peixoto). Desde 1882, antes, portanto, do que no Clube Ginástico, o Congresso cedia espaço para reuniões dos liberais, convocadas pelo já citado Bezerra de Menezes. Nesse ano, a reunião de avaliação das ações do Partido Liberal contou com a presença de importantes personagens do Império, como Silveira Martins. O debate era sobre que posição adotar diante do governo, alguns propondo explicitar a oposição. Enfim, assim como no Clube Ginástico, ainda que com perfil diferenciado, percebe-se como o Congresso Ginástico esteve imbricado nas interseções entre as causas republicanas e abolicionistas. As duas associações refletiram as divisões políticas do contexto, inclusive internas aos próprios movimentos, sem, no entanto, aderir oficialmente a um partido. Tratava-se, antes de tudo, de uma posição de simpatia e apoio que tinha a ver com o perfil de seus sócios. Se considerarmos a diferença de perfil entre o Congresso e o Clube Ginástico, vale perguntar como teria a nova agremiação se relacionado com a própria colônia portuguesa. Em vários momentos, nos primeiros anos de existência, sua forma de funcionamento causou surpresas. Um exemplo pode ser observado quando do falecimento do escritor Alexandre Herculano, fato que causou consternação entre os lusitanos que viviam no Rio de Janeiro. Enquanto as sociedades de cariz português fecharam suas portas, em sinal de luto, o Congresso, nas palavras de um sócio, que indignado se desligaria do clube, “cobriu-se de galas e ofereceu um baile aos seus associados!! É vergonhoso, mas é verdade!!”.83 Para o autor da missiva, embora aceitasse sócios de todas as nacionalidades, o Congresso não poderia negar sua ligação com a colônia portuguesa. Nesse sentido, não era aceitável Gazeta de Notícias, 21 mar. 1884. p. 6. Gazeta da Tarde, 7 set. 1881. p. 2. 82 A trajetória do movimento positivista, todavia, não foi unidimensional, havendo várias dissensões. Para um debate, ver: MELO, Rafael Reis Pereira Bandeira de. A militância do Apostolado Positivista do Brasil em favor da abolição da escravidão por intermédio de opúsculos e correspondências (1881-1888). In: ENCONTRO REGIONAL DE HISTÓRIA DA ANPUH-RIO, 15, 2012, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Anpuh, 2012. (Anais eletrônicos). 83 Gazeta de Notícias, 3 dez. 1877. p. 2. 80 81 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 242-265, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 260 Associativismo e política no Rio de Janeiro do Segundo Império: o Clube Ginástico Português e o Congresso Ginástico Português Victor Andrade de Melo e Fabio de Faria Peres tal procedimento. É cruel a sua avaliação sobre as causas da manutenção do baile: “Sei que a totalidade dos sócios dessa associação é quase analfabeta e por consequência incapaz de avaliar o mérito do nosso escritor”.84 Dias depois, um associado do Congresso respondeu às acusações, tentando justificar a decisão da diretoria. Mostra-se indignado com o tratamento dado à agremiação, contestando os argumentos do sócio que se desligava. Ele lembrou que o baile já estava programado antes da morte de Herculano, defendendo por isso a manutenção da atividade: “Só nos inspira dó, quem transpôs as regras de civilidade, para fingir sentimentos nobres. Infelizmente os carolas abundam como átomos no espaço”.85 Além disso, recordava que o Congresso integrava uma comissão fundada com o intuito de homenagear o escritor e garantir conforto para a sua família. Vale a pena deslindar o conjunto de temas que se manifestou nessas posições. Inegavelmente, tendo em conta os padrões do momento, quando o luto era algo muito valorizado, manter o baile tratou-se de um procedimento destoante, tanto mais por se tratar de alguém importante para a colônia portuguesa. De outro lado, a reação é um indicador de que preconceitos poderiam cercar o Congresso, em função de uma composição societária mais popular. Além disso, o sócio que se desligou manifestou incômodo diante da postura “pouco lusitana” do Congresso. De fato, tirando os costumeiros apoios beneficentes, durante um bom tempo percebemos uma relação menos intensa com os símbolos portugueses, bem mais tênue do que a observada no Clube Ginástico. De toda maneira, ainda que menos frequentemente do que no Clube Ginástico, personalidades da colônia portuguesa também em algum momento compareceram a alguma atividade pelo Congresso promovida. Além disso, a agremiação chegou a receber certo reconhecimento de alguns veículos ligados a Portugal: “É para nós de subida congratulação a bizarria com que esta benemérita e patriótica sociedade honra nesta o nome português”.86 O Congresso mantinha relações mais próximas com o Retiro Literário Português, enquanto o Clube Ginástico, com o Liceu Literário e com o Real Gabinete Português de Literatura. O Retiro fora fundado em 1859, enquanto o Liceu, a partir de uma dissidência, em 1868. A única referência encontrada acerca de uma suposta rivalidade entre as agremiações literárias portuguesas foi no estudo de Tavares, Silva e Castro Filho.87 O Liceu oferecia uma escola noturna gratuita para portugueses e brasileiros, mas seu grupo societário era mais afeito aos que frequentavam o Clube Ginástico. Talvez seja possível considerar ambos como mais ligados aos estratos economicamente superiores da colônia portuguesa. Ibid. Id., 9 dez. 1877, p. 2. 86 Gazeta Lusitana, 13 e 14 ago. 1884. p. 3. 87 TAVARES, António Rodrigues; SILVA, Pedro Ferreira da; CASTRO FILHO, Manoel Ferreira de. Fundamentos e atualidade do Real Gabinete Português de Leitura. Rio de Janeiro: RGPL, 1977. 84 85 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 242-265, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 261 Associativismo e política no Rio de Janeiro do Segundo Império: o Clube Ginástico Português e o Congresso Ginástico Português Victor Andrade de Melo e Fabio de Faria Peres De fato, entre as agremiações ginásticas muitos foram os episódios de rivalidade. Alguns deles chegaram a se manifestar mesmo em eventos beneficentes, notadamente naqueles promovidos por agremiações da colônia, como ocorreu por ocasião de um dos aniversários da Beneficência Portuguesa, realizado em 1876. O colunista de O Mosquito não deixou passar despercebidos os conflitos: “As eleições, as urnas, o terço liberal e o terço conservador, as mesas e os subdelegados, não se falaria agora em outra cousa, se a propósito de donativos feitos à Beneficencia Portugueza, dois clubs ginásticos não estivessem fazendo gemer os prelos, atirando piadas um ao outro”.88 O cronista elogia os clubes por sua postura, abandonar “momentaneamente o trapézio para irem praticar um ato de generosidade”, mas pondera que “andarem num dize tu, direi eu, que parece quererem engulir-se”, acaba por macular a imagem da ginástica, que, segundo ele, com ironia, começa a ser reconhecida por sua importância: “Com efeito assim o exigem as nossas canelas obrigadas a saltos mortais por quantos bonds, carros e carroções aí nos atropelam por essas ruas, com grande gáudio dos Srs. doutores, que têm onde se entreter enquanto não chega a febre amarela”. Em 1877, as rivalidades de novo chegam aos jornais por meio de mensagens cifradas. Um português, que não assina a nota, recém-chegado ao Rio de Janeiro, observa: “sinto de todo coração que se dê essas cenas lamentáveis entre a família portuguesa”.89 Um anônimo, que depois sabemos ligado ao Clube Ginástico, convocou ironicamente, em tom bélico, um ataque à sede do Congresso.90 Alguns dias depois, outro anônimo, ligado aos Tenentes do Diabo, critica a mensagem e deixa claro: “Os Tenentes não tem nada com a discórdia que existe entre o Congresso e o Club”.91 Essas mensagens tinham em conta a convocatória que a agremiação da rua do Núncio fizera para dois bailes a fantasia, ambos destinados a também arrecadar recursos para vítimas da inundação em Portugal. Essas tensões também se manifestaram ao redor das modalidades esportivas/ginásticas. Por exemplo, quando o Clube de Regatas Guanabarense, um dos mais importantes do remo brasileiro, organizou pela primeira vez um páreo náutico para as sociedades ginásticas, em 1881, a guarnição do Congresso foi eliminada por supostamente ser formada por “profissionais” (marinheiros e catraieiros). Para a diretoria do Congresso, que refutou de forma indignada as acusações, não havia dúvidas de que se tratava de uma intriga do rival português: “É nojento! É asqueroso! Oh, cobardia! Ó inveja, a quanto obrigas!.. (...) Felizmente o Congresso não necessita de puffs para se elevar! O Club que bufe! Que zurre!”.92 O Mosquito, 14 out. 1876. p. 6. Gazeta de Notícias, 24 jan. 1877. p. 3. 90 Id., 4 fev. 1877, p. 2. 91 Id., 8 fev. 1877. p. 2. 92 Id., 9 set. 1881. p. 2. 88 89 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 242-265, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 262 Associativismo e política no Rio de Janeiro do Segundo Império: o Clube Ginástico Português e o Congresso Ginástico Português Victor Andrade de Melo e Fabio de Faria Peres No ano seguinte, o conflito envolveu as aulas de ginástica e o nome do mestre Vicente Casali, que lecionava nas duas agremiações. Alguns sócios do Clube Ginástico denunciaram que o professor os desprestigiava e levava alunos para o rival. Essa tensão já se tornara aparente no início do mês de dezembro, quando, lado a lado, na mesma página da Gazeta de Notícias, fora publicado um grande elogio e uma crítica ao referido docente.93 Pelos jornais se chegou a sugerir que a diretoria do Clube Ginástico deveria demitir Casali. Esse, por sua vez, refutou enfaticamente as acusações, considerando-as maledicências que intentavam prejudicar sua imagem.94 De toda forma, o mestre seguiu atuando no Clube Ginástico até 1885, e no Congresso até 1891. Nos anos finais do Império, o Congresso passou a mais enfaticamente demonstrar sua ligação com a colônia e com os símbolos de Portugal. Na verdade, sempre foi um clube de cariz português; diferente do Clube Ginástico, mas não menos português. Mais do que traços distintos no que tange a demonstrações de fidelidade à pátria de origem, cada associação reunia grupos que, à sua maneira, se arrogavam portadores privilegiados do que consideravam como éthos lusitano. Se a elite portuguesa, conforme aponta Marie-Jo Ferreira,95 se dedicou a desvanecer as diferenças sociais, políticas e econômicas por meio de um discurso de comunhão em torno de uma suposta identidade nacional portuguesa, a experiência social das agremiações permite entrever cisões e os limites desse discurso. Esses conflitos entre o Congresso e o Clube Ginástico, portanto, nos ajudam a perceber algo pouco discutido: mais do que rivalidades entre brasileiros e portugueses, havia fraturas na colônia lusitana, que se integrava de forma heterogênea ao país que estava nascendo e se forjando como ente independente. À guisa de conclusão Depois de mais de uma década de tensão, nos anos finais do Império estabeleceu-se uma maior relação entre as duas sociedades ginásticas de portugueses. Vemos um indício disso no dia seguinte a um passeio campestre realizado pelos sócios do Congresso no Jardim Botânico. A diretoria publicou nos jornais o seguinte agradecimento: À nossa digna coirmã Real Club Ginástico Português, de quem preconceitos de ocasião que o tempo fez desaparecer nos tornaram indiferentes, o Congresso agradece a inesperada surpresa da prova de confraternização que nos esperava ao passarmos em frente ao seu edifício, Id., 3 dez. 1882. p. 3. Id., 28 e 29 dez. 1882. p. 2. 95 FERREIRA, Marie-Jo. Os portugueses do Brasil, atores das relações luso-brasileiras, fim do século XIX — início do século XX, op. cit. 93 94 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 242-265, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 263 Associativismo e política no Rio de Janeiro do Segundo Império: o Clube Ginástico Português e o Congresso Ginástico Português Victor Andrade de Melo e Fabio de Faria Peres iluminando a sua frente e vindo com seu estandarte ao meio do nosso préstito saudar-nos e estender-nos a mão de amigo, convidando-nos a entrar no seu salão. Que o laço de amizade, selado na mais íntima alegria, perdure, são os votos que fazemos ao agradecer as provas de amizade que recebemos.96 Mais um encontro entre os clubes ocorreria por ocasião do 15o aniversário do Congresso, em 1889,97 uma ocasião muito festejada. Essa confraternização vinha bem a calhar. A República estava para chegar e levaria as relações entre Brasil e Portugal para um dos seus piores momentos,98 algo que traria desdobramentos para a colônia portuguesa no país: É na última década do século XIX e nas duas primeiras do seguinte que se adensam as tensões entre portugueses e nacionais, inscrevendo no imaginário social novas formas de rejeição. Assim, à antiga e desgastada imagem do português, visto pela população brasileira como o explorador/colonizador/patrão, acrescenta-se a de estrangeiro/monarquista/conspirador.99 De toda forma, no decorrer do Segundo Império, a despeito das diferenças entre os dois clubes, houve algumas similaridades, entre as quais um certo ativismo: se não necessariamente uma vinculação direta, pelo menos uma acolhida bem simpática de algumas iniciativas políticas de grande importância na ocasião. Lembremos, aliás, que o Congresso seguiu sendo um local de certa movimentação política. Já no primeiro momento do novo regime, sediou a reunião de um conjunto de personalidades republicanas que desejavam “cooperar nos trabalhos de reconstituição de nossa Pátria e convindo, de modo eficaz e permanente, estabelecer as correntes de opinião, que auxiliem o Governo provisório e o do Estado do Rio de Janeiro na direção dos negócios políticos”.100 A reunião acabou não acontecendo, em função das tensões do momento. Ocorreu sim a do Centro Federativo 15 de novembro, pessoas de “várias nacionalidades”, notadamente estrangeiros que no Brasil viviam, ligados à classe do comércio, que pretendiam homenagear o novo governo, inclusive com a construção de uma estátua para Deodoro.101 Um dos temas tratados foi da “grande naturalização”:102 o novo governo pretendia naturalizar todos os estrangeiros que explicitamente não manifestassem o desejo de manter a nacionalidade de origem. Esse novo cenário talvez tenha sido mesmo um dos responsáveis por encerrar os conflitos entre o Congresso e o Clube Ginástico. De toda maneira, logo surgiriam novas agremiações Diário de Notícias, 10 jul. 1889. p. 3. Diário do Commercio, 18 ago. 1889. p. 2. 98 CERVO, Amado Luiz; MAGALHÃES, José Calvet de. Depois das caravelas, op. cit. 99 SILVA, Maria Manuela de R. de Sousa. Portugueses no Brasil, op. cit. p. 115. 100 Cidade do Rio de Janeiro, 29 nov. 1889. p. 2. 101 Diário de Notícias, 22 dez. 1889. p. 1. 102 Id., 23 dez. 1889. p. 2. 96 97 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 242-265, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 264 Associativismo e política no Rio de Janeiro do Segundo Império: o Clube Ginástico Português e o Congresso Ginástico Português Victor Andrade de Melo e Fabio de Faria Peres recreativas de cariz português, entre as quais uma que será muito reconhecida pelos lusitanos que viviam no Rio de Janeiro: o Vasco da Gama, fundado em 1898. Posteriormente, seriam ainda fundadas importantes congêneres: o Clube de Regatas Guanabara (1899, uma dissidência do Vasco), o Lusitânia Futebol Clube (1915) e a Associação Atlética Portuguesa (1924). Devemos também lembrar que muitas dessas estariam ligadas às diversas regiões de Portugal. Agremiações como a Casa das Beiras, Casa do Minho e Casa dos Poveiros, entre tantas outras, foram importantes por agrupar portugueses no Brasil estabelecidos, mas também, por dividir a colônia, acabaram por enfraquecer os dois clubes ginásticos pioneiros. O Clube Ginástico Português segue vivo e ativo até os dias de hoje. Sua sede atual, na avenida Graça Aranha, é a mesma que foi construída em 1938, no mesmo centro da cidade que sempre o abrigou. Para lá o clube foi quando se incendiou sua sede da rua do Hospício, em 1934. Já o Congresso não resistiu ao tempo. Em 1898, percebemos pelos jornais que já estava com pouca atividade. Em 1899, somente conseguimos uma referência nos periódicos. Em 1900, a Fábrica a Vapor de Caixas de Papelão Cancio & Irmão anuncia que mudara de sede, da rua do Lavradio para o “conhecido palacete do antigo Congresso Ginástico Português”.103 Estava encerrada a trajetória do clube. 103 Cidade do Rio Janeiro, 13 fev. 1900. p. 4. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 242-265, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 265 Histórias de um lugar onde “preconceitos raciais nunca houve”: os negros nas matas do Rio Grande do Sul (1889-1930) Marcio Antônio Both da Silva* RESUMO O lugar, as ações e a inserção social das populações negras no contexto da região de matas do Rio Grande do Sul durante o período da Primeira República são a temática central abordada neste artigo. Com base na atual produção historiográfica produzida sobre o assunto e por meio da análise de situações vividas por homens e mulheres negras descritas em processos-crime movidos nas comarcas dos municípios de Cruz Alta, Palmeira das Missões e Santo Ângelo, busco discutir e conhecer a realidade vivida por tais populações em uma região que na época foi objeto de um intenso processo de povoamento. Palavras-chave: negros; pós-abolição; preconceitos; liberdade; fronteira agrária. ABSTRACT This paper addresses the place, the actions and the social insertion of Black people in the context of the forested area of Rio Grande do Sul, during the period of the First Republic. Based on the current historiographical production on the subject, and through the analysis of some situations experienced by Black men and women, which are described in criminal lawsuits filed in the Counties of Cruz Alta, Palmeira das Missões and Santo Ângelo, I seek to know and discuss the reality experienced by such populations in a region that lived, at the time, an intense settlement process. Keywords: Black people; post-Abolition; prejudices; freedom; agrarian frontier. *** Artigo recebido em 20 de março de 2013 e aceito em 14 de agosto de 2013. * Doutor em história pela Universidade Federal Fluminense, professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Marechal Cândido Rondon, PR, Brasil. E-mail: [email protected]. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 266-286, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 266 Histórias de um lugar onde “preconceitos raciais nunca houve”: os negros nas matas do Rio Grande do Sul (1889-1930) Marcio Antônio Both da Silva Introdução A produção de pesquisas sobre as populações negras no pós-abolição, nas últimas décadas, conheceu um significativo desenvolvimento, sendo considerável o número de teses de doutorado, dissertações de mestrado, artigos acadêmicos e livros produzidos sobre a questão.1 Embora isso não signifique que o assunto tenha sido encerrado e que não existam mais aspectos sobre a problemática para serem pesquisados, a elaboração de estudos sobre o tema encontra alguns obstáculos. Talvez, o principal deles seja aquele que se refere às fontes. De modo geral, é bastante difícil encontrar documentos que possibilitem um conhecimento particular sobre os negros no imediato pós-1888, especialmente porque, como demonstra a historiografia, as referências às populações negras, tanto no Brasil quanto em outros territórios que conheceram o trabalho escravo, diminuíram expressivamente em comparação com o período escravocrata.2 Todavia, essa dificuldade vem sendo superada a partir da utilização de fontes diversas daquelas que tradicionalmente eram usadas até algum tempo atrás (geralmente documentos oficias produzidos pelo Estado ou narrativas de época). Além da utilização de outros tipos de fontes — relatos orais produzidos por descendentes de escravos,3 por exemplo —, alguns questionamentos vêm sendo feitos às fontes tradicionais, a partir da aplicação de novas teorias, produzidas nas últimas décadas, ou com base em interpretações e reinterpretações de abordagens clássicas. Outra questão importante sobre o assunto diz respeito às temáticas que preocupam os pesquisadores. Nesse caso, nos últimos anos também assistimos a um redirecionamento, uma vez que passamos da preponderância de análises que tinham como foco a inserção dos ex-escravos no mundo do trabalho e que tinham como mote principal a situação econômica dos egressos da escravidão, para estudos que passaram a se preocupar com problemas relacionados à cultura, à cidadania, à identidade, à família negra, à resistência e à participação política. Isto não significou um abandono total dos estudos sobre as questões econômicas e sobre os negros e o mundo do trabalho, mas a elaboração de novas abordagens influenciadas por novos referenciais teóricos, como o marxismo de Edward Palmer Thompson.4 Uma amostra, ainda que incompleta, dessa produção será relacionada ao longo do artigo. SCOTT, Rebecca J. Emancipação escrava em Cuba: a transição para o trabalho livre (1860-1899). Rio de Janeiro: Paz e Terra; Campinas: Unicamp, 1991; COOPER, Frederick; HOLT, Thomas C.; SCOTT, Rebecca J. Além da escravidão: investigações sobre raça, trabalho e cidadania em sociedades pós-emancipação. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005; MATTOS, Hebe Maria. Das cores do silêncio: os significados da liberdade no sudeste escravista, Brasil século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998. 3 RIOS, Ana Maria Lugão; MATTOS, Hebe Maria. Memórias do cativeiro: família, trabalho e cidadania no pós-abolição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. 4 Demonstrativo disso são os trabalhos produzidos por Sidney Chalhoub e Marcelo Badaró. 1 2 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 266-286, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 267 Histórias de um lugar onde “preconceitos raciais nunca houve”: os negros nas matas do Rio Grande do Sul (1889-1930) Marcio Antônio Both da Silva Da mesma forma, a atual produção historiográfica também rompeu com a visão do negro em estado de anomia, a qual postulava que os ex-escravos, em função de carregarem a herança da escravidão, necessariamente deveriam ocupar um lugar subordinado e submisso na sociedade. Tal ponto de vista esteve muito presente no Brasil durante o período da abolição e também encontrou ecos em estudos realizados posteriormente por autores como Florestan Fernandes5 e Celso Furtado.6 Os novos estudos produzidos demonstram que os grupos egressos da escravidão não deixaram de lutar por seu reconhecimento e, em vez de agentes passivos da história, foram seus protagonistas diretos. Em outros termos, longe de serem simples vítimas, mesmo na condição de escravos, os negros não deixaram de lutar por seu reconhecimento e sua dignidade, e fizeram isso embasados em concepções próprias de vida, de liberdade e de cidadania. Ainda em relação aos estudos produzidos, outro assunto importante é o do contexto espacial abordado pelas pesquisas. Nesse sentido, uma mirada nos temas das teses, dissertações, dos artigos e livros inicialmente mencionados demonstra que, em sua maioria, o foco das análises está direcionado para as principais cidades brasileiras, geralmente capitais estaduais como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Porto Alegre. Tal fato indica uma lacuna, isto é, a necessidade de avançar mais na perspectiva de entender o pós-abolição nos rincões do Brasil, especialmente naqueles locais em que a presença negra não era tão grande, em comparação com os polos econômicos mais dinâmicos da sociedade brasileira. Diante dessas observações iniciais, o objetivo deste artigo é discutir assuntos relacionados à inserção social dos grupos de egressos da escravidão que viviam em uma região do interior do estado do Rio Grande do Sul, no período da Primeira República. Trata-se de um espaço que tradicionalmente é conhecido como região de matas,7 que se situa na parte norte do estado e que, na época, conformava a última área de fronteira agrária ali existente. Lugar para onde, a partir do final do século XIX, foi direcionado o movimento colonizador, sustentado em políticas de povoamento formuladas pelo recém-implantado Estado republicano, e que tinha como meta ocupar a região com imigrantes europeus e seus descendentes.8 FERNANDES, Florestan. A integração dos negros na sociedade de classes. São Paulo: Ática, 1978. FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1979. 7 No Rio Grande do Sul, as regiões de campo são tradicional e historicamente o lugar da criação de gado e da grande propriedade, enquanto as áreas florestais são o espaço da agricultura e da pequena propriedade. Evidentemente que este registro não pode ser tomado por regra, pois é possível encontrar grandes propriedades na região florestal, assim como pequenas propriedades nas regiões de campo, embora a pequena propriedade, comparativamente às regiões de campo, prepondere nos espaços onde originalmente dominava a floresta. 8 Aqui é importante registrar que o fato de a região ter sido alvo direto da política de colonização com imigrantes europeus no período não significa que ali as relações preconceituosas encontrassem lugar especial para sua realização. Assim, deve-se ter a clareza de que o preconceito de cor estava e, em certo sentido, ainda está disseminado na sociedade brasileira como um todo. Uma discussão interessante e importante sobre esse problema pode ser encontrada em: NOGUEIRA, Oracy. Preconceito de marca: as relações raciais em Itapetininga. São Paulo: Edusp, 1998. 5 6 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 266-286, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 268 Histórias de um lugar onde “preconceitos raciais nunca houve”: os negros nas matas do Rio Grande do Sul (1889-1930) Marcio Antônio Both da Silva Naquilo que diz respeito às fontes, a análise será realizada a partir de indagações feitas ao conteúdo encontrado em alguns processos-crime movidos nas comarcas dos municípios de Cruz Alta, de Palmeira das Missões e de Santo Ângelo. Também farei uso de dados presentes nas mensagens presidenciais encaminhadas à Assembleia Legislativa e nas memórias de João Neves da Fontoura, um literato da Academia Brasileira de Letras que foi importante líder político no Rio Grande do Sul, e que, em alguns momentos de seu livro de memórias sobre o período da Primeira República, deixou impressões sobre a relação entre negros e brancos no estado.9 Dessa forma, o objetivo é produzir uma análise que avance na constituição de conhecimentos sobre os negros no pós-abolição e, especialmente, mostrar a importância dos escravos, ex-escravos e descendentes na parte norte do Rio Grande do Sul, lugar que invariavelmente é apresentado e se autoapresenta como um espaço formado e construído somente pelo trabalho de imigrantes e descendentes de imigrantes europeus. Tratar dessa região no contexto da virada do século XIX para o XX significa discutir sobre um espaço territorial que estava passando por um intenso movimento de adensamento demográfico e de ocupação. Esse processo foi permeado por conflitos, e sua motivação não se restringiu à disputa pela terra, mas decorria do fato de ser um encontro e uma convivência em um mesmo espaço de diferentes grupos sociais (indígenas, negros, imigrantes e nacionais). Somadas às questões étnicas, também existiam as diferenças de classe, pois os confrontos entre latifundiários e camponeses pobres estiveram muito presentes no modo como se organizou e desenvolveu o povoamento. Cabe destacar ainda a atuação de empresas particulares de colonização, bem como o papel exercido pelo Estado no gerenciamento desse processo. Grosso modo e de forma resumida, a parte norte do Rio Grande do Sul, principalmente nas regiões onde há preponderância do bioma Mata Atlântica e em que a presença de florestas é dominante, foi uma das últimas áreas do estado a ser objeto de atenção quanto ao problema da sua ocupação. Longe de ser um “deserto demográfico” como tradicionalmente se postulava, a região foi território indígena de tribos guarani e kaingang. Ao longo dos séculos XVIII e XIX, ela “foi alvo de uma frente colonizadora formada de luso-brasileiros que se estabeleceu nas áreas de campos nativos ali existentes, ocupando as pastagens dos antigos municípios de Lages, de Palmas de Cruz Alta e de Passo Fundo, na forma de grandes propriedades”.10 É dessa frente que se origina o grupo dominante regional, o qual “estava vinculado a um setor produtivo bastante dinâmico que produzia e conduzia tropas de gado e muares do extremo Sul do Brasil para o Sudeste, forçando abertura de novos caminhos, conquistando o espaço dos povos indígenas”.11 FONTOURA, João Neves da. Memórias: Borges de Medeiros e seu tempo. Rio de Janeiro; Porto Alegre; São Paulo: Editora Globo, 1957. 10 SILVA, Marcio Antônio Both da; ZARTH, Paulo Afonso. Religiosidade popular, autoridades e conflitos no Alto Uruguai. In: VALENTINI, José Delmir; ESPIG, Márcia Janete; MACHADO, Paulo Pinheiro. Nem fanáticos, nem jagunços: reflexões sobre o Contestado (1912-2012). Pelotas: Editora da Universidade Federal de Pelotas, 2012. p. 135-136. 11 Ibid. 9 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 266-286, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 269 Histórias de um lugar onde “preconceitos raciais nunca houve”: os negros nas matas do Rio Grande do Sul (1889-1930) Marcio Antônio Both da Silva Juntamente com essa expansão e nas margens dos caminhos construídos para o transporte das tropas “surgiu um campesinato, alimentado demograficamente por tropeiros, aventureiros, soldados desertores, agregados, escravos fugitivos das fazendas de gado e de indígenas destribalizados”.12 Economicamente esse campesinato se sustentava praticando uma agricultura de subsistência associada ao extrativismo de erva-mate, produto que era nativo da região e foi, durante muito tempo, importante item a gerar divisas não só no Rio Grande do Sul, como também no Paraná e em Santa Catarina. Nos anos finais do século XIX, a região ainda foi palco de “uma onda de imigração e colonização de camponeses não ibéricos oriundos de diversos países da Europa”. Processo que causou um “forte impacto social e ambiental no território, modificando profundamente as formas de uso da terra, estreitando radicalmente os espaços para as populações tradicionais”.13 Além disso, deve-se levar em conta que, no desenvolvimento desse processo, “aos antigos grupos dominantes de origem pastoril somar-se-iam empresários de terra, madeireiros e comerciantes. Os velhos caminhos de tropas disputariam com as ferrovias o transporte de mercadorias”.14 Essa breve descrição é demonstrativa da complexa gama de relações sociais que se constituíram com o povoamento da região. No que diz respeito às populações que participaram desse processo, embora os dados não sejam precisos, algumas fontes trazem indícios a partir dos quais é possível desenhar um perfil populacional da região. Em geral, tais informações estão mais presentes em algumas descrições que foram produzidas na época, sendo também possível utilizar os dados dos censos demográficos. Evaristo de Afonso Castro, por exemplo, em 1887, relatava que a população de escravos existentes na “região missioneira” — espaço que compreende outros municípios além dos que são analisados aqui — era de 15 a 20 mil pessoas.15 Segundo os dados do senso de 1872, o número de escravos que viviam em Cruz Alta, Palmeira das Missões, Passo Fundo e Santo Ângelo era de 4.317 pessoas.16 A presença indígena é mais difícil de ser definida, mas segundo relatório da Diretoria de Terras e Colonização, produzido em 1910, o número de índios vivendo nos doze aldeamentos então em funcionamento era de 2.940 pessoas.17 A presença de imigrantes e seus Ibid. Ibid. 14 Ibid. 15 Evaristo de Afonso Castro era promotor público no município de Cruz Alta. Cf. CASTRO, Evaristo de Afonso. Notícia descritiva da região serrana na Província de São Pedro do Rio Grande do Sul compreendendo os municípios de Cruz Alta, São Martinho, Palmeira, Passo Fundo, Santo Ângelo, São Luiz, Boqueirão, São Borja, São Francisco de Assis, São Vicente e Itaqui. Cruz Alta: Tipografia do Comercial, 1887. 16 Para uma análise mais detida sobre esses números, bem como sobre a distribuição desses escravos em diferentes atividades, ver: SILVA, Marcio Antônio Both. Campesinato negro nas matas do Rio Grande do Sul. In: ZARTH, Paulo Afonso (Org.). História do campesinato na Fronteira Sul. Porto Alegre: Letra & Vício; Chapecó: UFFS, 2012. p. 172-194. 17 GONÇALVES, Carlos Torres. Relatório da Diretoria de Terras e Colonização. In: GODOY, Candido José de. Relatório da Secretaria de Estado dos Negócios das Obras Públicas apresentado ao Exmo. Sr. Dr. Carlos 12 13 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 266-286, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 270 Histórias de um lugar onde “preconceitos raciais nunca houve”: os negros nas matas do Rio Grande do Sul (1889-1930) Marcio Antônio Both da Silva descendentes já é mais significativa e aumenta na medida em que o século XIX avança em direção ao XX. Um fato demonstrativo disso é que, segundo os dois censos demográficos de 1872 e 1920, a população que vivia nos territórios formados pelos municípios de Cruz Alta, Palmeira das Missões, Passo Fundo e Santo Ângelo neste período aumentou de 34.822 habitantes para 284.777, isto é, cresceu mais de oito vezes o seu número inicial.18 Com respeito à população formada por ervateiros, posseiros pobres e agregados, Hemetério Veloso da Silveira destacava, ao tratar dos habitantes da região em 1909, que uma grande multidão de homens pobres, procedente da fronteira sul e de outros pontos, atraídos pela notícia da extraordinária abundância e superioridade da erva-mate; para aí concorreu, procurando arranchar-se como agregados das grandes propriedades rurais, ou dentro dos matos baldios, ou mesmo comprando frações de campos, para criações em pequena escala.19 A presença de grupos e instituições (Estado, Igreja, empresas particulares de colonização etc.) tão diversos, que guardavam formas particulares de compreender o mundo, de se relacionar com o trabalho, com a propriedade, com o espaço e de praticar a agricultura, deu à região o caráter de uma área de fronteira agrária. Dessa maneira, as pessoas que viviam na parte norte do Rio Grande do Sul, na virada do século XIX para o XX, experienciavam uma “situação de fronteira”, para empregar os termos de José de Souza Martins.20 Isto é, viviam em um lugar que era espaço de encontros entre os diferentes. Encontros que poderiam redundar em desencontros que, por seu turno, resultavam em conflitos. Nessa perspectiva, para compreender profundamente a realidade da região deve-se ter em conta também que as pessoas que nela habitavam, além de possuírem inserções sociais e econômicas diferenciadas, viviam em distintas temporalidades históricas, visto que o tempo dos agentes estatais não era o mesmo dos negros e dos indígenas, que era diferente da concepção de tempo e de trabalho dos imigrantes, e assim por diante. Desse modo, ainda nos Barbosa Gonçalves, presidente do Estado do Rio Grande do Sul, pelo secretário de Estado Candido José de Godoy, em 10 de setembro de 1910. Porto Alegre: Livraria do Globo, 1910. p. 93-157 (citação, p. 155). 18 FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA. De província de São Pedro ao estado do Rio Grande do Sul, 1803-1950. Porto Alegre: FEE, 1981; JARDIM, Maria de Lourdes Teixeira; BANDEIRA, Marilene Dias. Um século de população no Rio Grande do Sul (1900-2000). Porto Alegre: FEE, 2001. 19 Hemetério José Velloso da Silveira por muitos anos ocupou o posto de vereador e presidente da Câmara do município de Cruz Alta. SILVEIRA, Hemetério José Velloso da. As missões orientais e seus antigos domínios. Porto Alegre: Companhia União de Seguros Gerais, 1979. p. 326. 20 “A fronteira é essencialmente o lugar da alteridade. É isso o que faz dela uma realidade singular. À primeira vista é o lugar do encontro dos que por diferentes razões são diferentes entre si, como os índios de um lado e os civilizados de outro; como os grandes proprietários de terra, de um lado, e os camponeses pobres, de outro. Mas o conflito faz com que a fronteira seja essencialmente, a um só tempo, um lugar de descoberta do outro e de desencontro. Não só o desencontro e o conflito decorrentes das diferentes concepções de vida e visões de mundo de cada um desses grupos humanos. O desencontro na fronteira é o desencontro de temporalidades históricas, pois cada um desses grupos está situado diversamente no tempo da História.” Ver: MARTINS, José de Souza. Fronteira. A degradação do Outro nos confins do humano. São Paulo: Hucitec, 1997. p. 150-151. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 266-286, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 271 Histórias de um lugar onde “preconceitos raciais nunca houve”: os negros nas matas do Rio Grande do Sul (1889-1930) Marcio Antônio Both da Silva termos de Martins, a região como espaço de fronteira era um lugar de exploração, de revoltas, de resistências, de sonhos e de esperanças. Características que, como veremos, estavam presentes de forma muito visível no cotidiano dos habitantes da região. De maneira geral, foram essas as condições de vida encontradas pelos negros na região. Foi lidando com elas, aos trancos e barrancos, mobilizando relações, disponibilizando sua força de trabalho e atuando como ponta-de-lança no movimento das frentes de expansão da sociedade nacional, que os negros garantiram sua inserção social e lutaram por sua sobrevivência, mesmo enfrentando condições altamente adversas. “Um reino da igualdade”: as visões sobre o preconceito no Rio Grande do Sul e o vivido na região de matas no início do século XX A temática dos negros no pós-abolição ainda não recebeu atenção proporcional à sua importância, e são poucos os estudantes e pesquisadores que se arriscam a propor temas sobre o assunto. Além do problema das fontes mencionado, no caso do Rio Grande do Sul, pesa a existência de uma mítica ideia de que no estado, principalmente nas regiões de colonização, a presença negra é insignificante ou a de que uma suposta e inventada “cultura gaúcha” não dá lugar para a existência de preconceitos entre os habitantes das terras rio-grandenses. Opinião que tinha seus adeptos e divulgadores na época da Primeira República. João Neves da Fontoura, em suas memórias sobre o período, deixa o seguinte registro ao tratar da democracia e da questão do preconceito racial: Inclusive pela nossa ‘insularidade’, a democracia abrangia também a sociedade, que era despretensiosa, mesmo entre os ricos. A índole da nossa formação, os hábitos da ‘campanha’, a necessidade de mútuo auxílio entre o fazendeiro e o peão, a fraternidade das urnas e das armas (cada fazendeiro era o chefe de seu clã político-partidário e, se preciso, o comandante militar de sua gente), tudo contribuía para fazer do Rio Grande um reino da igualdade. Preconceitos raciais nunca houve.21 Essa opinião, que teve e tem vários adeptos no Rio Grande do Sul, é facilmente contestada quando levamos em consideração e partimos do ponto de vista das populações negras e mestiças. Um exemplo disso ocorreu em Santo Ângelo, no dia 17 de fevereiro de 1923. Nesse dia, aconteceu uma festa à fantasia nas dependências do Clube Gaúcho, centro em que se reunia “a alta sociedade” do município. Participava da festa uma mulher negra de nome Perpedigna Rodrigues Camargo, que foi insultada por outras duas mulheres de nomes Clarinda Lourega e Eloyna Lourega Pinheiro. Segundo a queixa-crime feita por Perpedigna, no dia 21 FONTOURA, João Neves da. Memórias, op. cit. p. 50. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 266-286, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 272 Histórias de um lugar onde “preconceitos raciais nunca houve”: os negros nas matas do Rio Grande do Sul (1889-1930) Marcio Antônio Both da Silva do baile, ao ir ao banheiro, encontrou-se com Clarinda e Eloyna. As duas comentavam sobre a sua fantasia, fato que levou Perpedigna a intervir na conversa, daí resultando o seguinte comentário de Eloyna: “Não é conversa contigo, negra à toa!”. Na sequência, Eloyna disse a sua interlocutora que Perpedigna era: “Uma negra sem importância... que, em São Luiz [município situado próximo a Santo Ângelo], não era da Sociedade e é até um desaforo se achar metida na Sociedade desta vila... que era um resto dos negros”.22 A situação vivida por Perpedigna demonstra que a participação no suposto “reino da igualdade” descrito por João Neves da Fontoura dependia de determinados critérios, e a cor da pele era (e, em muitas situações, ainda é) um deles. Em outras palavras, a categoria “ricos”, da qual João Neves da Fontoura fazia parte, não era nada “despretensiosa”, e a “democracia” tinha lá os seus limites. Uma das principais expressões do preconceito na época era a criminalização das populações negras.23 Esse fenômeno não esteve presente apenas no pós-abolição, mas é anterior ao 1888, e ganha significados especiais a partir desta data. Em agosto de 1888, por exemplo, Rodrigo de Azambuja Villanova, que ocupava o cargo de vice-presidente da província, dava a seguinte amostra: se era precária nas condições normais a segurança individual e de propriedade, depois da promulgação da Lei de 13 de maio do corrente ano que declarou livres todos os escravos existentes, e como consequência depôs todos os contratos e obrigações que se basearam em Leis que mantinham o elemento servil, a vida e a propriedade do cidadão ficaram quase sem amparo e defendidas antes pelos recursos pessoais de cada um do que pelo poder social, a cuja sombra embalde procuram os ameaçados acolher-se pedindo garantias.24 A opinião expressa por Villanova não era isolada, mas demonstra a existência de um fenômeno que a historiografia tem denominado de “medo branco”,25 isto é, o pavor que as ações levadas a cabo pelos negros causavam na elite brasileira. Sidney Chalhoub constata que, para o caso do Rio de Janeiro, “o medo branco da cidade negra parece ter aumentado ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (Apergs). Processo-crime n. 1.562. Cartório Civil Crime. Município de Santo Ângelo, 1923. Maço 56. 23 SCHWARCZ, Lilia. Retrato em branco e negro: jornais, escravos e cidadãos em São Paulo no final do século XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 1987; RIBEIRO, Carlos Antônio Costa. Cor e criminalidade: estudos e análises da justiça no Rio de Janeiro (1900-1930). Rio de Janeiro: UFRJ, 1995; CUNHA, Olívia Maria Gomes da; GOMES, Flávio dos Santos (Org.). Quase-cidadão: histórias e antropologias do pós-emancipação no Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2007. 24 VILLANOVA, Rodrigo de Azambuja. Relatório com que o Exmo. Sr. Dr. Rodrigo de Azambuja Villanova passou a administração da província de São Pedro do Rio Grande do Sul a S. Exª o barão de Santa Tecla, 1° Vice-Presidente, no dia 9 de agosto de 1888. 25 AZEVEDO, Célia Marinho de. Onda negra, medo branco. O negro no imaginário das elites (século XIX). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. MACHADO, Maria Helena. O plano e o pânico: os movimentos sociais na década da abolição. Rio de Janeiro: UFRJ; São Paulo: Edusp, 1998. 22 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 266-286, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 273 Histórias de um lugar onde “preconceitos raciais nunca houve”: os negros nas matas do Rio Grande do Sul (1889-1930) Marcio Antônio Both da Silva com o fim da escravidão e da monarquia”.26 Esse medo, somado às leituras feitas sobre o passado escravocrata produzidas na época 27 e à forma como se processou a abolição, tornaram os negros os “suspeitos preferenciais”, e representantes por excelência daquilo que historicamente se convencionou chamar de “classes perigosas”.28 Percepção esta que não se restringia apenas às elites nacionais e às populações urbanas, mas encontrou respaldo em outros setores sociais, inclusive entre as populações de lavradores pobres. Um fato demonstrativo ocorre em 1914, na Freguesia de São Miguel, terceiro distrito de Santo Ângelo, e é registrado em processo-crime movido para apurar os motivos da morte de Antônio Ferreira de Oliveira, ocorrido nas proximidades da residência de Ricardo Antunes Ribas (51 anos de idade, casado, empregado público). Segundo depoimento de Ricardo Ribas, havia quatro ou cinco dias, rondava próximo a sua casa um “indivíduo desconhecido de cor preta, trajando camisa vermelha, calças pretas e chapéu de palha”. O negro, ainda de acordo com Ribas, fora visto pelos seus filhos, por uma “negrinha de um seu vizinho” e pela esposa do falecido Antônio de Oliveira, de nome Vitalina Maria de Melo, e toda vez em que era visto, o negro “corria para o interior do mato”.29 Ricardo Ribas, ao ficar sabendo daquilo que estava acontecendo, “foi tomando sérias desconfianças”, até que resolveu “convidar algumas pessoas para fazer busca e ver se descobriam o tal indivíduo”. Para tanto, convidou seu sobrinho de nome Amado de Souza e seu vizinho Antônio Ferreira de Oliveira (o futuro falecido), os quais combinaram “convidar mais algumas pessoas e fazerem uma busca geral para a descoberta do misterioso negro” (grifos no original). Na noite de 28 de novembro de 1914, Antônio Ferreira de Oliveira, sua mulher e filhos resolveram ir posar (pernoitar) na casa de Ricardo para, na manhã seguinte, realizarem a busca. Nessa mesma noite, estavam reunidos Ricardo, seus filhos, Amado de Souza (peão de Ricardo), Antônio Ferreira (que tocava gaita) e sua mulher, Vitalina. Em um dado momento, Ricardo diz ter ouvido “fortes trombadas na porta da varanda, então chamou que viessem ajudá-lo”. Nisso chegou Antônio, segurando uma espada e uma pistola. Ricardo exigiu que ele cuidasse daquela porta e que reagisse caso alguém quisesse entrar, voltando à sala da casa para prevenir Amado e o peão. No entanto, quando chegou lá, ambos tinham saído. Ricardo voltou à porta onde tinha ficado Antônio e percebeu que este também havia saído. Em seguida aconteceu forte tiroteio, e Ricardo passou a gritar para que parassem de atirar. CHALHOUB, Sidney. Medo branco de almas negras: escravos, libertos e republicanos na cidade do Rio. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 8, n. 16, p. 83-105, p. 104, mar./ago. 1988. 27 Leituras que se pautavam na noção de que, devido à experiência da escravidão, os negros não teriam condições intelectuais e mentais para lidar com a liberdade. Além de apresentarem tendência ao ócio, por perceberem o trabalho como uma maldição, as populações saídas da escravidão eram percebidas como despreparadas para responder aos estímulos econômicos e sem hábitos de vida familiar. 28 CHALHOUB, Sidney. Cidade febril: cortiços e epidemias na corte imperial. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 21-24. 29 Apergs. Processo-crime n. 1.370. Cartório Civil Crime. Município de Santo Ângelo, 1914. Maço 45. 26 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 266-286, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 274 Histórias de um lugar onde “preconceitos raciais nunca houve”: os negros nas matas do Rio Grande do Sul (1889-1930) Marcio Antônio Both da Silva Quando os tiros pararam, Ricardo perguntou o que havia acontecido, ao que Amado Rodrigues respondeu: “Segurei o bandido” (grifos no original). Contudo, quando foram verificar, tiveram a surpresa de que “em vez de ser o suposto bandido, era o cadáver de Antônio Ferreira que se achava com suas armas nas mãos, (...), tendo recebido de Amado dois balaços sendo um no peito e outro no crânio, que morreu instantaneamente”30 (grifos no original). Os envolvidos no fato são interrogados, e todos confirmam a versão descrita aqui. Em consequência, Amado Rodrigues é levado a julgamento, mas o juiz não o pronuncia. A situação descrita no processo-crime evidencia que a associação entre negritude e crime não estava presente apenas nos jornais e na literatura produzidos na época, mas era móvel de determinados comportamentos, pois a presença de uma pessoa de “cor preta” rondando a casa de Ricardo Ribas levou-o a, juntamente com seus vizinhos, tomar toda uma série de prevenções, e, independentemente se o desconhecido fosse ou não um criminoso, Ribas tratou de organizar uma escolta para procurá-lo. Da mesma forma, deve-se levar em conta que a desventura vivida por Antônio Ferreira e Amado Rodrigues teve por base apenas a suposição de que o misterioso negro fosse um bandido, e de que era ele o responsável pelo barulho na porta da casa onde o grupo estava reunido. Os dois casos até agora citados dizem muito sobre o contexto local e evidenciam as facetas que adotou o processo de transição de uma ordem social escravista para outra de trabalho livre. Essa mudança trouxe consigo os germens de conflitos que ganharam contornos singulares no pós-abolição. Da mesma forma, as situações presentes no segundo caso demonstram que o “medo branco de almas negras” não se restringiu às camadas mais bem situadas economicamente da sociedade brasileira, mas encontrou repercussão em diferentes contextos, sendo que a associação entre cor e criminalidade passou a ser acionada nos mais diferentes acontecimentos e com objetivos diversos. Essas ocorrências têm muita relação com o problema da liberdade, ou melhor, os indícios encontrados nas fontes e a bibliografia que tem tratado da questão demonstram que as “visões de liberdade”,31 na passagem da ordem escravocrata para a de trabalho livre tinham lá seus desencontros. Ou seja, para parte significativa da população branca, ou que se considerava branca, a liberdade dos negros se restringia à condição de continuarem exercendo as mesmas funções que antes, na condição de escravos, exerciam. Contudo, para os negros, os significados da liberdade conquistada em 1888 eram mais amplos, exprimiam, entre outras coisas, usufruir da possibilidade de ir e vir sem necessariamente ter de prestar contas a ninguém,32 bem como a liberdade de lutar e defender os seus direitos.33 Ibid. CHALHOUB, Sidney. Visões da Liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na corte. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 32 Para aprofundar esta questão, ver: FONER, Eric. O significado da Liberdade. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 8, n. 16, p. 9-36, mar./ago. 1988. 33 Em Terra de preto, Elione Guimarães apresenta uma série de exemplos ocorridos no vale do Paraíba mineiro 30 31 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 266-286, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 275 Histórias de um lugar onde “preconceitos raciais nunca houve”: os negros nas matas do Rio Grande do Sul (1889-1930) Marcio Antônio Both da Silva Em suma, as populações negras não deixavam de realizar sua liberdade das mais distintas maneiras. Fato que encontrou formas bastante interessantes no contexto da região de matas do Rio Grande do Sul. Em seu estudo sobre os trabalhadores fabris de Ijuí — primeira colônia fundada no Rio Grande do Sul após a Proclamação da República —, Regina Weber analisa o caso de um assassinato ocorrido em baile promovido por um grupo de trabalhadores do principal frigorífico da cidade, evento no qual era proibida a presença de negros. O móvel do crime foi porque, mesmo diante da proibição, um “indivíduo de cor”, usando de sua “liberdade” e do fato de que era sócio da entidade que promovia o evento, resolveu entrar no recinto e, além disso, convidar uma das moças presentes para dançar. Essa atitude não agradou nada aos promotores do baile, especialmente ao namorado da moça. Este acabou brigando com o negro, resultando disso a sua morte.34 O sucedido é demonstrativo das leituras diferenciadas sobre a liberdade, pois para o negro que resolveu entrar no baile, sua condição de livre o autorizava a participar de eventos em qualquer lugar. Contudo, para os organizadores da função festiva, a liberdade dos “de cor” se restringia à porta do local onde ela acontecia. Casos como esse não eram incomuns na região. Mas alternativas existiam. Em 1913, no povoado de Tupanciretã, à época distrito do município de Cruz Alta, também ocorreu um baile em que houve um assassinato. Entretanto, nesse caso, o promotor do bailado era um “preto” de nome Caetano Francisco da Silva. Na denúncia, consta que Caetano fizera o encontro com a intenção de “se divertir com seus comparsas, ou no intento de auferir lucros com os afamados bailes de entrada paga, em que o anfitrião vende as libações”. O autor da denúncia-crime ainda registra que figuravam como frequentadores da reunião dançante “indivíduos de baixa condição social”.35 O motivo do assassinato ocorrido não envolveu questões de cor e preconceito, mas o encontro promovido por Caetano evidencia que, se os negros não poderiam ou não eram bem-vindos nos divertimentos promovidos pelos brancos, nada os impedia de eles mesmos executarem os seus. Não obstante, quando isso acontecia, a recepção não era das melhores, já que, pelo menos, o conteúdo do processo indica que a reunião de tais pessoas gerava preocupação. Outro dado importante é o de que a promoção dessas “afamadas” reuniões dançantes era uma opção utilizada para adquirir algum pecúlio por parte de seus promotores. Além de ser um a partir dos quais demonstra a luta de ex-escravos e seus descendentes para terem seus direitos de acesso à terra legalmente reconhecidos. Em muitos dos casos analisados por Guimarães, as terras eram legadas por antigos proprietários de escravos em testamento e em reconhecimento a serviços prestados. Contudo, devido a certos conchavos e às brechas na legislação, muitos herdeiros negros, alguns dos quais haviam recebido benefícios quando ainda eram escravos, não tiveram seus direitos de acesso a determinados territórios reconhecidos. Ver: GUIMARÃES, Elione. Terra de preto. Usos e ocupação da terra por escravos e libertos (Vale do Paraíba mineiro, 1850-1920). Niterói: Eduff, 2009. 34 WEBER, Regina. Os operários e a colmeia. Trabalho e etnicidade no Sul do Brasil. Ijuí: Unijui, 2002. p. 192-206. 35 Apergs. Processo-crime n. 1.913. Cartório Civil Crime. Município de Cruz Alta, 1913. Maço 125. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 266-286, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 276 Histórias de um lugar onde “preconceitos raciais nunca houve”: os negros nas matas do Rio Grande do Sul (1889-1930) Marcio Antônio Both da Silva ponto de encontro entre os tais “indivíduos de baixa condição social”, provavelmente eram uma alternativa interessante para seus promotores complementarem suas rendas e garantir condições mais dignas de vida.36 Outro aspecto demonstrativo da forma como os negros viviam na região e de como manejavam sua condição social é o da sua relação com as autoridades constituídas, a qual geralmente era perpassada por desentendimentos. Em Palmeira das Missões, no ano de 1902, ocorreu um fato demonstrativo dessa circunstância. Consta no processo-crime que, no dia 9 de abril, o negro José Constantino dos Santos e seu companheiro Paulino Moreira, peões de Leonel Maria da Rocha, estavam em uma casa de negócio, tendo deixado dois cavalos redomões que vinham amansando próximos à venda, e desatados. Acontece que, perto do local onde estavam os cavalos, passou um rapaz de nome Conceição Antunes, que vinha puxando um cargueiro, e esse fato fez com que os cavalos assustados começassem a fugir. Constantino não gostou nada da situação e passou a agredir o rapaz do cargueiro. Contudo, nas proximidades estava um praça de polícia, o qual deu ordem de prisão ao agressor. Conforme o processo, Constantino afirmou “que não se entregava, desconhecendo aqui autoridades e que não só brigava com um como com vinte”.37 Disso resultou forte contenda entre o policial e Constantino, que recebeu dois tiros, dos quais resultou a sua morte. A frase de Constantino ganha sentido ao se levar em conta que o seu patrão — o referido Leonel Maria da Rocha — era uma das principais lideranças da oposição política aos governos do Partido Republicano Rio-Grandense (PRR) na região. Ao PRR eram vinculados os homens que governaram o Rio Grande do Sul durante os primeiros quarenta anos da República. Além disso, como liderança política, Leonel aglutinava em torno de si parte dos grupos subalternos que viviam no município de Palmeiras das Missões e na região como um todo.38 Desse modo, o negro Constantino expressou a opinião do grupo ao qual se ligava, de pessoas que se identificavam com uma determinada posição política. Em outros termos, a participação dos negros no mundo da política se dava por outras formas, diversas às oficiais. Dificilmente seriam candidatos ou pleiteariam cargos públicos, mas ao seu modo exigiam e lutavam pela defesa de seus interesses, e o faziam a partir da maneira como se inseriam na sociedade. Nesse caso, a herança da escravidão e as interpretações raciais têm muito a nos dizer, principalmente se tivermos em mente que o papel das opiniões sobre os negros era garantir a reprodução social, isto é, manter o mundo funcionando da mesma forma como funcionava Sobre as estratégias de sobrevivência que dizem muito sobre o modo de vida e da sociabilidade característica das populações camponesas brasileiras, ver: CANDIDO, Antônio. Parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira paulista e a transformação dos seus meios de vida. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2001. 37 Apergs. Processo-crime n. 52. Cartório Civil Crime. Município de Palmeira das Missões, 1902. Maço 5. 38 Para conhecer mais sobre a liderança política exercida por Leonel Maria da Rocha no contexto do município de Palmeira das Missões e da região, ver: ARDENGHI, Lurdes Grolli. Caboclos, ervateiros e coronéis: luta e resistência no norte do Rio Grande do Sul. Passo Fundo: UPF, 2003. 36 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 266-286, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 277 Histórias de um lugar onde “preconceitos raciais nunca houve”: os negros nas matas do Rio Grande do Sul (1889-1930) Marcio Antônio Both da Silva antes de 1888. Assim, tratar os negros como criminosos em potencial porque no passado haviam sido escravos, ou como social, mental e racialmente inferiores significava abrir a possibilidade de deslegitimar quaisquer ações voltadas e executadas no sentido de efetivamente realizar a liberdade conquistada no 13 de maio, coisa que está muito presente na fala de Eloyna, ao se dirigir a Perpedigna e tratá-la como “um resto dos negros” que não “pertencia à Sociedade”. De maneira um tanto diversa, mas trilhando o mesmo caminho, ao escrever que o Rio Grande do Sul era um “reino da igualdade”, onde “preconceitos nunca existiram”, João Neves da Fontoura jogava para os porões da história as falas e os comportamentos como os de Eloyna. Assim, silenciava os conflitos para, dessa maneira, justificar a dominação. O preço da cor: os negros no imediato pós-abolição Para finalizar, apresento um último fato ocorrido em Santo Ângelo e que ajuda a compreender a vida e as dificuldades enfrentadas pelas populações negras no imediato pós-abolição. Segundo consta nos autos do processo, o crime ocorreu no 3o distrito do município — lugar conhecido como “Rincão dos Antunes” —, na madrugada do dia 6 para 7 de dezembro de 1904, e foi perpetrado por Policarpo Cardoso de Oliveira, Pedro Cardoso de Oliveira (irmão de Policarpo) e João Antônio Felizardo. As vítimas eram Antônia de Oliveira Fucks e sua filha Alcinda de Oliveira, que tinha três anos de idade. As duas foram degoladas, e Antônia, depois de morta, ainda foi estuprada por Policarpo. Antes de discutir a questão da cor e do preconceito presentes no desenrolar do acontecimento e do próprio processo-crime, convém apresentar um pouco mais detidamente, a partir daquilo que a fonte possibilita, os envolvidos na situação. O conjunto das pessoas arroladas ao longo do processo é composto em sua maioria por indivíduos que tinham como “meio de vida e profissão” a agricultura, e se identificavam como lavradores ou jornaleiros que prestavam serviços relacionados à agricultura ou ao manejo com o gado. Policarpo Cardoso de Oliveira, cujo protagonismo no crime está presente ao longo de todo o processo, afirmou, em seus interrogatórios, ter 24 anos de idade, ser solteiro, natural do Rio Grande do Sul, residente e domiciliado no terceiro distrito de Santo Ângelo e ter como “meio de vida e profissão” ser capataz do tenente-coronel Pacífico Correa Dornelles. Pedro Cardoso de Oliveira, irmão de Policarpo, disse ter entre dezessete e dezoito anos de idade, ser solteiro, natural do Rio Grande do Sul, residente no terceiro distrito e ser lavrador. João Antônio Felizardo afirmou ter 32 anos de idade, ser casado, natural do Rio Grande do Sul, residente no terceiro distrito “desde seu nascimento” e que “trabalha em todo serviço como pião (sic)”. Antônia de Oliveira Fucks apenas é identificada como uma mulher que era “casada, porém separada de há muito tempo”, e que vivia com sua filha, “em uma casinha situada no lugar denominado Rincão dos Antunes”. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 266-286, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 278 Histórias de um lugar onde “preconceitos raciais nunca houve”: os negros nas matas do Rio Grande do Sul (1889-1930) Marcio Antônio Both da Silva Conhecidos os qualificativos dos diretamente comprometidos, cabe agora apresentar as circunstâncias em que se deu o crime e as situações relacionadas a ele. Um primeiro ponto que destaco é o de que todos os envolvidos eram conhecidos de há muito tempo e mantinham certas relações, pois eram todos vizinhos e se conheciam mutuamente. Inclusive o sobrenome Oliveira indica o parentesco entre as vítimas e dois dos réus, relação que é confirmada no testemunho de um dos depoentes, o pai de Alcinda (o já citado Pacífico Corrêa Dornelles), que além de patrão de Policarpo, era seu tio em segundo grau. As primeiras suspeitas da autoria do crime caíram sobre Luiza Cardoso, irmã de Policarpo e Pedro, suposição que tinha por fundamento o fato de que era voz corrente que Antônia e Luiza viviam uma relação de inimizade. A animosidade reinante entre as duas tinha por justificativa os ciúmes que uma entretinha pela outra em função de terem se envolvido em certa disputa amorosa. Da mesma maneira, era voz corrente no distrito que Luiza havia prometido matar Antônia e Alcinda. Contudo, ainda na fase de inquérito, Miguel de Oliveira Fucks, irmão e responsável por avisar o delegado sobre a morte de Antônia, ao ser questionado sobre suas suspeitas de quem poderia ter cometido o crime, afirmou que não tinha ideia, contando que, dias antes, sua irmã havia lhe dito que Policarpo Cardoso de Oliveira tinha ido até sua casa e feito propostas, oferecido dinheiro, inclusive, para passar a noite com ela, convite que foi recusado por Antônia. Munido dessas informações e de alguns indícios encontrados no local do assassinato, o delegado passou a inquirir os possíveis suspeitos do crime. Na primeira fase do inquérito, o delegado tomou o depoimento de dezesseis pessoas, dentre elas alguns membros da família Cardoso de Oliveira, vizinhos, parentes e amigos de Antônia Fucks. Os indícios coletados ao longo desses depoimentos levaram o delegado a chegar a Policarpo, Pedro e João Felizardo, e este último, quando inquirido, resolveu quebrar o pacto estabelecido entre os três e confessar sua participação na execução do crime. Em seu depoimento, João contou que, na passagem dos dias 6 para 7 de dezembro de 1904, retornava para sua residência ainda de madrugada quando, no caminho, encontrou com Policarpo e Pedro, os quais estavam próximos à casa de Antônia Fucks. Ao avistar os dois irmãos, João perguntou o que estavam fazendo e eles responderam que andavam caçando tatu. Na sequência, Policarpo ofereceu um trago de cachaça a João, que aceitou a oferta. Após tomar o trago, os irmãos Cardoso convidaram João a matar Antônia Fucks, e este disse ter recusado o convite. Mas Policarpo e Pedro insistiram e também ofereceram dinheiro e um cavalo para João, que, diante da oferta, assentiu. A partir disso, os três se dirigiram à casa de Antônia, que, em princípio, hesitou em atender às batidas na porta, mas Policarpo disse ser João Germano. Diante dessa identificação, ela abriu a porta, sendo, em seguida, ameaçada à espada por Policarpo que entrou porta adentro perseguindo-a e ao entrar gritou para ele respondente e Pedro que chegassem, eles chegando já encontraram a mulher caída na cama e Policarpo apertando-a Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 266-286, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 279 Histórias de um lugar onde “preconceitos raciais nunca houve”: os negros nas matas do Rio Grande do Sul (1889-1930) Marcio Antônio Both da Silva disse a ele respondente que ajudasse a segurar, então ele respondente chegou e apertou-a nas pernas e Policarpo degolou-a. A filhinha pequena que dormia na mesma cama com sua mãe acordou-se com a luta que tiveram ao assassinarem sua mãe e começou a chorar muito, então Pedro agarrou-a e disse-lhe: agora tu pestinha vai passar pela mesma forma e, passando por cima da mãe que estava morta, foi e degolou-a.39 João ainda conta que, após matar Antônia, o algoz abusou sexualmente dela. Esse comportamento não era incomum em Policarpo, pois seu cunhado, José Giordani, em depoimento, contou que, quando o acusado trabalhou como capataz na fazenda de Pacífico Corrêa Dornelles, havia seduzido e engravidado uma moça, a qual, devido à gravidez, suicidou-se. No dia do velório, Policarpo, “um tanto embriagado”, a “todo transe tentou violar o cadáver para saciar desejos libidinosos, o que foi impedido pelas pessoas que estavam presentes”. Após a confissão de João Felizardo e de ter revelado a atuação de Policarpo e Pedro, os irmãos foram inquiridos pelo delegado e apresentaram suas versões sobre o fato. Ao ser interrogado, Policarpo disse que, diante da circunstância de que um de seus companheiros, que com ele havia jurado “nunca revelar o crime nem mesmo sujeitando-se à morte”, tinha quebrado a promessa, resolveu declarar a verdade. Nesse primeiro depoimento, prestado ainda na fase de inquirição, Policarpo confessou o crime, e disse que havia dois meses, mais ou menos, antes de cometê-lo, tinha ido à casa de Antônia e oferecera a ela a quantia de 4 mil-réis para pernoitar com ele, oferta que foi recusada. Diante da recusa, Policarpo ofereceu à Antônia uma nota de 50 mil-réis para que ela trocasse e pegasse quanto quisesse, mas mesmo assim ela não aceitou a proposta e ele ficou “um tanto indignado e disse-lhe: tu hás de arrepender-te mais do que eu de não querer dormir comigo em tua casa hás de pagar”. Contudo, um tempo depois, quando Policarpo foi interrogado, na fase de julgamento, negou sua participação no crime, afirmando que, no dia em que Antônia foi assassinada, estava doente e de cama, na casa de seu irmão José Cardoso de Oliveira. Além disso, construiu uma nova versão sobre o desentendimento que teve com ela, no momento anterior ao crime. Ao ser perguntado se ele esteve na casa de Antônia e se tinha oferecido dinheiro para com ela pernoitar, Policarpo responde que um mês antes esteve em casa da referida Antônia e que ele interrogado querendo retirar-se porque vinha chuva que, nessa ocasião, Antônia ofereceu-lhe a casa para pousar e ele interrogado não aceitando, Antônia respondeu que ele não pousava lá porque não tinha um mil-réis para dar para uma mulher branca e ia dar para uma Negra (sic) duzentos réis e que ele interrogado um pouco incomodado com aquelas palavras tirou do bolso a quantia de cinquenta e quatro mil-réis dizendo que tinha dinheiro e que não era só duzentos réis40 (grifos meus). 39 40 Apergs. Processo-crime n. 2.904. Cartório Civil Crime. Município de Santo Ângelo, 1904. Maço, 78. Ibid. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 266-286, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 280 Histórias de um lugar onde “preconceitos raciais nunca houve”: os negros nas matas do Rio Grande do Sul (1889-1930) Marcio Antônio Both da Silva Não é possível saber quais das duas versões apresentadas por Policarpo é mais fiel à discussão travada entre ele e Antônia, embora a primeira esteja mais próxima daquela apresentada pelas testemunhas que tinham ficado sabendo do atrito entre os dois por meio da própria Antônia, antes de ela ser assassinada. Não obstante, o que chama atenção nesse segundo depoimento de Policarpo, além de ele ter negado a autoria do crime, é o ato de ter apresentado como possível justificativa de sua indignação a versão de que Antônia tinha dito que ele, devido a sua condição financeira, teria de procurar uma mulher negra. O problema não está em descobrir qual a versão mais fiel ao acontecimento e sim perceber e compreender o peso da questão da cor no modo como se constituíam as relações sociais, visto que, ao apresentar o argumento em uma situação pública, diante do tribunal, Policarpo, mesmo que estivesse inventando o conteúdo da discussão, estava lidando dentro dos parâmetros do possível, socialmente falando. A cor definia lugares e status sociais naquele contexto, circunstância que fica visível na intenção de Policarpo em justificar sua indignação com Antônia por ela supostamente ter dito que ele não tinha condições de pagar a uma mulher branca por seus serviços sexuais. Argumento que se materializa e exprime todo um sistema de diferenciações sociais, quando Policarpo expressa que, naquele contexto, os “serviços” sexuais de uma mulher negra eram significativamente menos caros do que os de uma mulher branca. Diante dessas informações, cabe ainda acompanhar um pouco mais o desenrolar do processo-crime, pois há outros momentos em que a cor dos comprometidos no caso vai encontrar espaço de realização. Uma análise profunda do processo revela o quanto, na época, a cor dos envolvidos em determinadas questões poderia se tornar um argumento jurídico altamente incriminador. Situação que está muito presente no modo como a atuação de João Felizardo, um negro, é retratada e tratada ao longo do processo, desde a inquirição até o julgamento final, chegando inclusive a ter presença no pedido de liberdade condicional solicitada pelos irmãos Cardoso, em 1923, isto é, vinte anos depois de ter ocorrido o crime e os três terem sido condenados a trinta anos de prisão. Como já mencionei, João Felizardo foi o primeiro a confessar o crime e a contar os detalhes sobre como ele aconteceu; diante dessa confissão, os irmãos Cardoso também assumiram sua participação, coisa que negaram quando do julgamento, especialmente a partir do momento em que passaram a ser assistidos por um advogado. Desse momento em diante, a cor de João foi constantemente invocada na perspectiva de ser considerado o único culpado. João, por sua vez, não conseguiu contratar um advogado para defendê-lo, e, assim, foi assistido por pessoa nomeada pelo juiz durante o julgamento, mas a presença desse defensor é quase nula ao longo do processo. É perceptível nos depoimentos das testemunhas e das respostas dadas pelos irmãos Cardoso que, após a nomeação do advogado de defesa, a estratégia montada era a de responsabilizar unicamente o “crioulo” João Felizardo pelo crime, mas o plano acabou não funcionando. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 266-286, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 281 Histórias de um lugar onde “preconceitos raciais nunca houve”: os negros nas matas do Rio Grande do Sul (1889-1930) Marcio Antônio Both da Silva Diante da falha dessa estratégia inicial, o advogado dos irmãos Cardoso resolveu apelar da decisão, e, nesse momento, passou a representar a João Felizardo também. Todavia, tanto em segunda quanto em terceira instância, o pedido de revisão da pena não foi aceito, e Pedro, Policarpo e João foram encaminhados para cumprir sua condenação na cadeia de Porto Alegre. A partir desses dados, visualiza-se que a inserção de João no conjunto de relações que constituíam a realidade social em que participava era bastante subordinada, mais até do que a de seus companheiros de crime, que, como ele, se declararam homens pobres que realizavam atividades vinculadas à lavoura ou ao manejo com o gado. Tais diferenças vêm à tona na circunstância de que Policarpo e Pedro conseguiram, via seus contatos, ser atendidos por um advogado. Além disso, apresentaram como testemunhas de defesa pessoas que eram consideradas importantes na esfera local e que mobilizavam certo capital simbólico. Em outras palavras, eram pessoas cujo peso das palavras alcançava maior legitimidade diante do tribunal e seus depoimentos davam força à defesa apresentada pelos irmãos Cardoso orientados por seu advogado.41 Isso fica evidente na circunstância de que o principal argumento da defesa escrita, juntada aos autos, propõe que, ao envolver Policarpo e Pedro no crime, João, orientado por algumas pessoas de Santo Ângelo, buscava atingir diretamente a “honra e respeitabilidade” do tenente-coronel Pacífico Corrêa Dornelles, patrão e parente em segundo grau de Policarpo e Pedro. Por sua vez, a estratégia de culpar somente a João pelo crime e os modos utilizados para realizá-la, em última análise, acabavam por legitimar a posição social que os irmãos Cardoso ocupavam, bem como davam uma realidade toda concreta ao preconceito racial. Entretanto, esse não é um processo simples, pois é preciso se ter em mente que a combinação e realização desses fatores só foram possíveis porque os discursos e posições adotados durante o julgamento se adequavam e eram expressão fiel da realidade social em que o fato julgado e o próprio julgamento aconteceu. Da mesma forma, em 1923, quando os irmãos Cardoso solicitam sua liberdade condicional, juntaram aos autos cartas e documentos que atestavam sua boa conduta antes de perpetrarem o crime, produzidos por pessoas que se apresentaram e foram apresentadas como importantes na esfera local, um dos quais disse ter sido chefe de polícia em Santo Ângelo. Em outros termos, os irmãos Cardoso conseguiram mobilizar um capital social impossível de ser manejado pelo “crioulo” João Antônio Felizardo, e, muito embora tal manejo não tenha sido eficiente no sentido de isentá-los da punição, garantiu-lhes acesso a “benefícios”, aos quais João Felizardo, devido a sua posição e inserção social, não teve acesso. Por sua vez, e é importante insistir de novo, ao utilizarem desses recursos, inconscientemente, os irmãos Nos termos do Pierre Bourdieu: “o poder simbólico é um poder de fazer as coisas com palavras. É somente na medida em que é verdadeira, isto é, adequada às coisas, que a descrição faz as coisas. Nesse sentido, o poder simbólico é um poder de consagração ou de revelação, um poder de consagrar ou de revelar coisas que já existem”. Cf. BOURDIEU, Pierre. O campo econômico: a dimensão simbólica da dominação. Campinas: Papirus, 2000, p. 166-167. 41 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 266-286, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 282 Histórias de um lugar onde “preconceitos raciais nunca houve”: os negros nas matas do Rio Grande do Sul (1889-1930) Marcio Antônio Both da Silva Cardoso estavam dando força e reproduzindo uma série de relações e estruturas sociais que muito certamente eram as principais responsáveis por aquilo que estavam vivendo. Outra característica presente no conteúdo dos depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa é que elas carregam na tinta quando buscam responsabilizar unicamente João pelo crime. O tenente-coronel Pacífico Corrêa Dornelles (quarenta anos de idade, viúvo, criador), no início de seu depoimento, informou que, além de parente dos dois réus, era pai da menina Alcinda. Conta que, logo que ficou sabendo do crime, saiu em direção à casa das assassinadas, onde encontrou algumas autoridades locais, de quem exigiu rigor na descoberta do possível assassino, e que lá também estava o acusado Pedro Cardoso. Segundo Pacífico, Pedro “se achava em seu estado natural sem nenhuma alteração pela qual revelava-se a autoria do trucidamento daqueles dois cadáveres que se achavam na sua presença”. Policarpo, de acordo com Pacífico Dornelles, estava em casa de sua cunhada doente e “guardando cama”. Diante disso, declara que supunha ser falsa a acusação de que Pedro e Policarpo haviam se envolvido no crime. Em relação a João Felizardo, Dornelles afirmou que era voz corrente que ele “é acostumado a tentar contra a honestidade de mulheres casadas”, que ele era “gatuno e ladrão”, e logo que soube do crime conjecturou que o autor era João. A primeira impressão causada pelo depoimento do tenente-coronel Pacífico causa estranheza, pois, como pai da menina assassinada, ele parece fazer um esforço bastante grande para livrar os irmãos Cardoso da acusação. A pergunta que fica é: a que se deve tal postura? Responder a esse questionamento é bastante difícil, pois o processo não traz muitas informações sobre como era a relação dos envolvidos antes do crime; contudo, fica claro que todos, com exceção de João, mantinham relações muito íntimas, de parentesco inclusive. Assim, Pacífico Dornelles era pai de Alcinda, que vivia com sua mãe Antônia, apresentada como separada. Consequentemente, é possível crer que a relação entre Pacífico e Antônia não fosse das mais harmônicas. Dois dos assassinos eram da família que tinha lá seus atritos com a vítima, uma vez que a irmã (Luiza Cardoso) de Pedro e Policarpo era inimiga confessa de Antônia, não esquecendo que Policarpo era sobrinho em segundo grau e empregado de Pacífico (pai de Alcinda). Para complicar ainda mais esse conjunto de relações, Policarpo e Antônia tinham discutido, supostamente porque ela não havia aceito a proposta de passar a noite com ele, e havia mandado procurar uma negra. Essa miríade de relações leva à conclusão de que a morte de Antônia e Alcinda não foi um fato isolado ou somente obra dos instintos perversos daqueles que executaram o crime (como o processo-crime, especialmente no conteúdo do texto da sentença, dá a entender). Na verdade, o crime, o julgamento dos envolvidos, a forma que adotou o julgamento e o seu resultado são expressão de um tipo específico de sociabilidade que se constituiu no e a partir do processo de povoamento da região. Processo que, por seu turno e por ser local, não estava desvinculado de uma realidade mais ampla e que dizia respeito ao Brasil do início do século XX. Cabe ainda perguntar qual o lugar do “crioulo” João Antônio Felizardo em meio a tudo isso. Em suas próprias palavras, ele era um homem casado, que “trabalhava em todo serviço Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 266-286, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 283 Histórias de um lugar onde “preconceitos raciais nunca houve”: os negros nas matas do Rio Grande do Sul (1889-1930) Marcio Antônio Both da Silva como pião (sic)”, e que morava no terceiro distrito de Santo Ângelo, desde seu nascimento. Afirmou que aceitou participar do crime porque Policarpo e Pedro lhe ofereceram cachaça, dinheiro e cavalo para fugir, caso algum “caipora” resolvesse delatar o fato. Aos olhos da maior parte das testemunhas, João era um negro turbulento e de maus costumes. Muito provavelmente João tenha sido sincero ao alegar que o único motivo que tenha levado a participar do crime foram as ofertas realizadas pelos irmãos Cardoso, pois no processo não há qualquer indício que demonstre uma possível razão anterior que tenha levado João a querer matar Antônia e sua filha. Dessa maneira, é provável que seu sim ao convite tenha como justificativa o fato de ter pouco a perder, e muito a ganhar, na sua participação, afinal, ele era um homem com fama de turbulento e, além disso, era negro, em um contexto em que a cor de pele era móvel de inserções e relações sociais. Muito provavelmente, no momento do convite tenha sido convencido de que não seriam descobertos, e talvez tenha atuado em favor do convencimento a circunstância de que, na noite em que ocorreu o crime até o seu encontro com os irmãos Cardoso, estava em uma venda bebendo com alguns amigos e conhecidos, isto é, estava com seu juízo alterado. João também conta que, no momento em que Pedro degolou Alcinda e em que Policarpo abusou do corpo de Antônia, estarrecido diante da cena, fugiu para sua casa. Talvez o remorso e a repercussão do fato o tenham movido a, já no primeiro interrogatório, contar os detalhes do crime e quebrar a promessa que haviam feito. Quanto aos irmãos Cardoso, como já escrevi, tinham lá seus atritos em relação à Antônia. Contudo, cabe indagar sobre os motivos que os levaram a convidar João a ajudar na realização do assassinato, pois os dois sozinhos tranquilamente poderiam dar conta do objetivo. Uma hipótese forte é a de que a presença de João naquele local e horário foi inusitada, logo, convidá-lo a participar seria uma forma de evitar que, no futuro, ele viesse a testemunhar que, na noite do crime, havia encontrado com os irmãos Cardoso nas proximidades da casa de Antônia. Contudo, ainda fica a curiosidade de saber se, caso João tivesse mantido sua recusa inicial, os irmãos Cardoso mudariam os seus planos. Por fim, em 2 de maio de 1904, após julgamento e manifestação dos jurados sobre os quesitos, os três réus foram condenados a trinta anos de prisão, e houve apelação, sem sucesso, para segunda e terceira instâncias. Como já grifei, por volta do ano de 1923, os irmãos Cardoso pediram liberdade condicional, no que foram atendidos. Nesse pedido, continuaram afirmando que o único culpado pelo crime tinha sido o negro João Antônio Felizardo, o qual havia falecido na Casa de Correção de Porto Alegre, no dia 6 de setembro de 1918, vitimado por enterite tuberculosa. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 266-286, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 284 Histórias de um lugar onde “preconceitos raciais nunca houve”: os negros nas matas do Rio Grande do Sul (1889-1930) Marcio Antônio Both da Silva Considerações finais O conjunto de situações e relações apresentadas a partir da leitura dos processos-crime discutidos ao longo do texto permite conhecer muito sobre a sociabilidade das populações que viviam na região de matas do Rio Grande do Sul. Espaço geográfico que, na época, compunha uma das últimas áreas de fronteira agrária do estado. Lugar para onde, juntamente com a Proclamação da República, foi direcionado o movimento colonizador que teve por principais agentes imigrantes provindos da Europa e descendentes de imigrantes que vinham das áreas de colonização antigas do Rio Grande do Sul — São Leopoldo e Caxias do Sul, por exemplo. Todavia, esse movimento não foi levado a cabo apenas por imigrantes e seus descendentes, pois é preciso dar a devida importância para a atuação e a presença de outros grupos sociais, cuja importância é igual ou maior do que a dos imigrantes. Neste texto, busquei analisar, a partir dos dados presentes em alguns processos-crime, a presença, a inserção social e a importância dos grupos egressos da escravidão no contexto do povoamento. As análises aqui produzidas evidenciam que a realidade vivida pelos negros na região não era muito diferenciada daquela vivida pelas populações negras que residiam nos grandes centros urbanos e em outros territórios do Brasil. Isto é, o preconceito racial estava disseminado na sociedade brasileira como um todo e perpassava as diferentes realidades sociais e econômicas. Perceber e analisar isso em termos da região de matas do Rio Grande do Sul, por um lado, significa trazer à tona um assunto ainda pouco discutido. Por outro, pensar tal problema tomando como ponto de partida fontes que possibilitam dar voz às populações que viveram esse processo significa conhecer, mesmo que a partir de uma realidade local, uma face ainda pouco explorada da história do Brasil. Assim, se no último processo-crime analisado a condição econômica de Policarpo, Pedro e João era mais ou menos semelhante, uma vez que eles se apresentaram como homens pobres que tinham como meios de vida e profissão serem lavradores (caso de Pedro e da maior parte das testemunhas chamadas a depor no processo) e peões (caso de Policarpo e João), a cor de João foi constantemente utilizada com o objetivo de culpá-lo pelo assassinato de Antônia e sua filha Alcinda. Diferentemente de João, Pedro e Policarpo conseguiram mobilizar um conjunto de relações que foram estrategicamente utilizadas ao longo do julgamento e também após a condenação, lembrando que João morreu preso, e os irmãos Cardoso conseguiram sua liberdade condicional. Os outros processos-crime analisados também indicam o quão difícil era a vida das populações negras, e, sobretudo, demonstram que mesmo perante tais dificuldades elas lutaram e encontraram espaços para realizar sua liberdade, fato que se materializou quando Perpedigna prestou queixa e um processo-crime foi instaurado para apurar as ofensas a ela feitas, no baile do Clube Gaúcho de Santo Ângelo. De maneira semelhante, temos exemplo disso quando o negro José Constantino, diante da ordem de prisão emanada pelo subdelegaTopoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 266-286, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 285 Histórias de um lugar onde “preconceitos raciais nunca houve”: os negros nas matas do Rio Grande do Sul (1889-1930) Marcio Antônio Both da Silva do de Palmeira das Missões, disse que ali não reconhecia autoridade alguma. Acontecimento não muito diverso ocorreu quando, diante da proibição expressa da entrada de negros no baile organizado por alguns funcionários do Frigorífico Serrano, em Ijuí, um negro resolveu participar do evento, e ainda convidou uma das moças ali presentes para dançar. Os processos-crime também mostram quão ousadas eram essas pessoas, pois suas atitudes invariavelmente eram alvo da violência, tanto física quanto moral. O que se evidencia na situação vivida por João Felizardo, que morreu na prisão, pelo negro que entrou no baile dos brancos em Ijuí, por José Constantino, que recebeu dois tiros ao resistir à voz de prisão, pelo misterioso negro que não foi alvo direto da violência, mas que esteve sob a mira atenta de Ricardo Ribas e seus vizinhos, e por Perpedigna, que, no banheiro do Clube Gaúcho, foi alvo de uma série de ofensas. Como é perceptível, a maioria desses casos ocorreu em momentos em que os negros participavam de situações ou estavam em lugares que, “por serem negros”, não deveriam estar. Todavia, mesmo diante dos perigos que sua presença em tais locais e situações representava a si próprios — muito provavelmente eram sabedores disso —, eles não se isentavam de lá estar e, assim, de romper o silêncio. Enfim, estavam longe de serem os vadios e “retardados” mentais que se buscava fazer crer que eram, e, da mesma forma, o Rio Grande do Sul estava mais longe ainda de ser o “reino da igualdade”, sem preconceitos, que até hoje muitos buscam fazer crer que é. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 266-286, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 286 Os lugares do crime: topografia criminal e imaginário social em Paris no século XIX* Dominique Kalifa** RESUMO Em Paris, como em vários outros lugares, os locais ocupam um lugar decisivo na apreensão das realidades e do imaginário do crime. No entanto, a cidade foi, ao longo do século XIX, o objeto de amplas transformações sociais e urbanas, sintetizadas pelos projetos de Haussmann, o que afetou profundamente a topografia do “vício” e da delinquência. São essas evidências, os deslocamentos da violência e da criminalidade pelo espaço urbano, e especialmente a densidade dessa topografia, que este artigo procura analisar. Apoiado por um corpus essencialmente literário, formado por textos de grande difusão (romances, folhetins, crônicas parisienses, folhetos e materiais baratos) que dão tanta importância à questão do crime e que desempenham um papel decisivo na transmissão da memória dos lugares, este texto observa como o imaginário social se adapta a essas transformações, bem como analisa a memória de lugares, com destaque para a forte autonomia das representações de Paris. Palavras-chave: imaginário social, literatura, violência. ABSTRACT In Paris as in other cities, “scenes” play an essential part in the appraisal of crime realities and crime imaginary. In the nineteenth century, the great social and urban changes that can be synthesized as haussmannisation deeply modified the topography of “vice” and delinquency in the capital. This article studies the evidence, the unwieldiness, and the shifting of that topography. Based on a corpus of widely distributed texts (feuilletons, dime and “popular” novels, Parisian columns, broadsheets), it shows how social imaginary adapted to the disruptions and played with the memory of places, pointing out the strong autonomy of Paris representations. Artigo originalmente publicado como: Les lieux du crime: topographie criminelle et imaginaire social à Paris au XIXe siècle. Sociétés & Représentations, n. 17, p. 131-150, 2004/1. Uma primeira versão desse artigo foi publicada em inglês em French Historical Studies com o título “Crime scenes: criminal topography and social imaginary in nineteenth century Paris”, v. 27, n. 1, 2004. Tradução de Deivy Ferreira Carneiro. ** Professor de história contemporânea na Université Paris 1 Panthéon — Sorbonne e diretor da École doctorale d’histoire e do Centre d’histoire du XIXe siècle. Paris, França. E-mail: [email protected]. * Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 287-307, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 287 Os lugares do crime: topografia criminal e imaginário social em Paris no século XIX Dominique Kalifa Keywords: social imaginary; literature; violence. *** Assim como os meios, as circunstâncias ou os autores do crime, os “lugares” desempenham um papel essencial na construção das realidades criminais. Ruas, praças ou becos: muitas vezes é na topografia urbana que se cristaliza o medo ou a obsessão do crime. Como sinalizou Balzac em Ferragus (1833), existem as ruas “assassinas”, e a identidade dos lugares e dos não lugares do crime possui um lugar decisivo na expressão de insegurança. Mas esses lugares não se contentam apenas em causar medo; eles contribuem também para tornar o crime inteligível. A posição do cadáver, a localização de indícios e traços diversos ocupam uma função crescente nos procedimentos de investigação criminal do início do século XIX. Observamos então a multiplicação de esboços, de planos, de placas e de cortes; fontes de uma nova atenção topográfica que acelera a passagem para uma racionalidade judiciária.1 Ligando cada crime a seu ambiente e cada cadáver a seu cenário, as fotografias de identificação forense acentuam ainda mais esse processo no fim do século. Em torno dos lugares do crime se estabelece enfim uma última intriga, mais cultural e social. Muitas vezes investidos de significados pelos vizinhos ou familiares que ali chegam para comentar o que se passou; por vezes transformados em lugares de visitação ou até mesmo de peregrinação,2 eles desempenham um papel crucial na apropriação social do espaço. Preocupada, animada ou indignada, a memória da cidade moldada por esses lugares, e que mais tarde sustentará uma prolixa literatura criminal (folhetins, reclamações ou causas célebres), revela-se muitas vezes uma operadora ativa de coesão e de solidariedade.3 Evidentemente, tal fenômeno encontra uma situação ideal na Paris do século XIX. Devemos nos perguntar aqui: como a capital, transformada pelo crescimento demográfico, pelas recomposições sociais e pela agitação política, fez do crime uma das suas principais obsessões?4 “Cada calçada de nossa boa cidade de Paris está vermelha”, escreveu em 1863 um Ver PORRET, Michel. La topographie judiciaire à Genève. Sociétés & Rerésentations, n. 6, p. 191-209, 1998. Ver também: CHAUVAUD, Frédéric. Les Criminels du Poitou au XIXe siècle. Les monstres, les désespérés, les vouleurs. Poitiers: Geste Éditions, 1999. 2 Assim como o “champ Langlois”, onde o assassino Troppmann cometeu seus crimes em 1869, que se encontra investido de significados pelos vendedores ambulantes, pelos milhares de espectadores que visitam o local e imortalizado pelas fotografias. Ver: PERROT, Michelle. “L’affaire Troppmann”, publicado inicialmente em 1981 e republicado em Les ombres de l’ histoire. Crime et châtiment au XIXe siècle. Paris: Flammarion, 2001. p. 283-298. 3 Refiro-me a este ponto em meu texto: “Crime, fait divers et culture populaire à la fin du XIXe siècle”. Genèses. Sciences Sociales et Histoire, n. 19, p. 68-92, 1995. Ver também MAFFESOLI, Michel; PESSIN, Alain. La violence fondatrice. Paris: Éditions du Champ, 1978. 4 Inauguradas pela obra fundadora de Louis Chavalier (Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant la première partie du XIXe siécle. Paris: Plon, 1958), essas questões conheceram recentemente uma renovação. Ver principalmente: KALIFA, Dominique. L’encre te le sang. Récits de crimes et société à la Belle Époque. 1 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 287-307, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 288 Os lugares do crime: topografia criminal e imaginário social em Paris no século XIX Dominique Kalifa historiador da capital,5 resumindo adequadamente o sentimento geral. Ao mesmo tempo transgressão da norma, produção cultural e argumento político, o crime e a delinquência saturam o espaço público parisiense. Do interminável discurso social que resulta dessa situação, emerge uma geografia do “vício” e da periculosidade. São as evidências, a gravidade e os movimentos dessa topografia que este artigo pretende estudar. Porque o crime, como todas as outras atividades sociais, foi profundamente afetado pelo processo de haussmannização, que vasculhava e desafiava os locais tradicionalmente perigosos, onde atuavam os estranguladores. Sem dúvida a delinquência violenta, o “ataque noturno” ou o assassinato, dos quais trataremos aqui, constituem, em última análise, não mais que um aspecto marginal dos eventos criminais, mas que encarnam sua face visível; aquela que, tanto ontem como hoje, polariza os discursos e os temores. Gostaríamos então de discutir como a memória dos lugares se acomodou à formidável bulevarização que transformou a capital e como e com quais resistências as representações do perigo foram pouco a pouco haussmannizadas. Apoiado por um corpus essencialmente literário, formado por textos de grande difusão (romances, folhetins, crônicas parisienses, folhetos e materiais baratos) que dão tanta importância à questão do crime e que desempenham um papel decisivo na transmissão da memória dos lugares, este estudo topográfico gostaria de interrogar a surpreendente autonomia das representações de Paris e a capacidade da “ville de papier” seguir o curso do seu próprio destino. Os teatros criminais da Paris romântica Inscritos numa tradição fortemente estabelecida, romancistas e cronistas da Monarquia de Julho assinalavam a esmagadora dominação criminosa do velho centro histórico e de suas margens adjacentes. O crime, principalmente na Île de la Cité, está “num emaranhado de ruas obscuras, estreitas, tortuosas que se estendem desde o Palais-de-Justice até a Notre-Dame”6. A convergência de representações é absoluta e apresentam as antigas vielas da ilha, a rua des Cargaisons ou a rua du Marché Neuf, a rua de la Calandre, a rua aux Fèves ou o beco Saint-Martial como um “vasto Tribunal dos milagres”,7 onde não faltam ladrões, prostitutas e vagabundos. Esta reputação transborda da Cité propriamente dita até a margem direita do Sena, no perímetro dos Halles, entre o Palais-Royal e o Temple e, na margem esquerda, no bairro Montagne Sainte-Genevière, na praça Maubert, na rua Galandre e na Paris: Fayard, 1995; CRAGIN, Thomas. Cultural continuity in modern France. The representation of crime in the popular press of nineteenth century Paris. Tese (Ph.D.) — Indiana University, 1996; DELATTRE, Simone. Les douze heures noire. La nuit à Paris au XIXe siècle. Paris: Albin Michel, 2000; SHAYA, Gregory K. Mayhem for moderns. The culture of sensationalism in France, c. 1900. Tese (Ph.D.) — University of Michigan, 2000; e DEMARTINI, Anne-Emmanuelle. L’affaire Lacenaire. Paris: Aubier, 2001. 5 MAILLARD, Firmin. Le Gibet de Mautfaucon (étude sur le vieux Paris). Paris: Auguste Barby, 1863. p. 3. 6 SUE, Eugène. Les mystères de Paris [1842]. Paris: Pauvert, 1963. p. 8. 7 VIRMÂITRE, Charles. Paris qui s’efface. Paris: Savine, 1887. p. 71. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 287-307, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 289 Os lugares do crime: topografia criminal e imaginário social em Paris no século XIX Dominique Kalifa rua Muffetard; lugares sinistros e perigosos, sempre retratados como antros de pilantras e trapaceiros. A estreiteza desse espaço permitia a paradoxal proximidade entre os lugares do crime e os da repressão. “Não é estranho, ou melhor, fatal que haja uma irreversível atração que faça sempre que estes criminosos gravitem em torno do formidável tribunal que os condena à prisão, ao trabalho forçado e ao cadafalso!”,8 nota maliciosamente Eugène Sue, que sabia, é claro, explorar o potencial romanesco dessas histórias. De um lado, antros, cabarés e redutos de malfeitores, cujas descrições tornaram-se rapidamente um dos virtuosismos de toda uma literatura criminal (o Lapin Blanc e o Paul Niquet, situados na rua aux Fèves; o Chat-noir, na rua de la Vieille Draperie; o Bordier, na rua Aubry-le-boucher; o Hôtel d’Anglaterre, na rua Saint-Honoré; o Épice-scié no bulevar du Temple; o Château-Rouge e o Pére-les-lunettes na rua Galande). Do outro lado, os principais órgãos da ordem: o Palais-de-Justice, a Conciergerie, a delegacia de polícia, cujo sórdido depósito se abria para a rua de Jérusalem, um “beco estreito, escuro e barrento onde o sol nunca penetra a não ser de forma dissimulada”;9 a sede da segurança pública, na rua Sainte-Anne; a praça de Grève, lugar de todas as execuções do Consulado em 1832, sem esquecer o necrotério, no cais do Marché-Neuf, assiduamente visitado pelos parisienses. Não muito longe dali, a prisão “de la Force”, na rua do Roi-de-Sicile e a prisão de Sainte-Pélagie, acessível somente pela sinistra rua de la Clef e que acolhia a maioria dos detentos, com exceção das mulheres, enviadas ao convento das Madelonnettes,* perto do Temple, antes da abertura de Saint-Lazare em 1834, na rua de faubourg Saint-Denis. Preciosa vizinhança em um tempo onde a estratégia policial consistia principalmente em se infiltrar no mundo do crime para neutralizá-lo. Múltiplos fatores explicam essas localizações. Sem romper com o modelo do Antigo Regime, o centro da capital, irrigado pelo Sena, continua ainda em 1840 a ser a Paris viva e popular, a Paris do trabalho, abarrotada, aquecida, entrelaçada de espaços de habitação, de trabalho, de distração, onde a violência da rua constituía um componente inerente à sociabilidade popular.10 As grandes mudanças demográficas e econômicas que se aceleraram na França da primeira metade do século XIX acentuaram esse fenômeno. Mais do que nunca, o centro da cidade tornou-se o lugar de aglomeração, de superlotação, de miséria material e moral — portanto, do crime, fato este que os observadores sociais descreviam incansavelmente. Mas a preocupação com o pitoresco tem também um papel, para muitos, na construção desse enfoque excessivo: trata-se da memória dos assassinos medievais e dos Tribunais de Milagres,** estando o maior destes “situado em um dos bairros mais sujos, mais remotos SUE, Eugène. Les mystères de Paris, op. cit. p. 8. DUMAS, Alexandre. Les mohicans de Paris [1854-1859]. Paris: Gallimard, 1998. p. 246. * Convertido em prisão a partir de 1793. (N.T.) 10 Ver para os períodos precedentes: FARGE, Arlette; ZYSBERG, André. Les théâtres de la violence à Paris au XVIIIe siècle. Annales ESC, n. 5, p. 984-1015, 1979. Ver Também PEVERI, Patrice. Les pickpockets à Paris au XVIIIe siècle. Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine. n. 29-1, p. 150-173, 1982. ** Em francês, “Cours de Miracles”. Termo utilizado na França para caracterizar os bairros miseráveis de Paris, ou as ruelas sujas, barrentas e sombrias onde os migrantes rurais desempregados e pobres se juntavam, por falta de condições, aos indivíduos de conduta suspeita ou criminosa. (N.T.) 8 9 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 287-307, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 290 Os lugares do crime: topografia criminal e imaginário social em Paris no século XIX Dominique Kalifa e mais mal concebidos da cidade de Paris, entre a rua Montorgueil, o convento des Filles-Dieu e a rua Neuve-Saint-Sauveur”.11 Aos olhos de numerosos contemporâneos, a Paris da Monarquia de Julho tendia “a se tornar aquela da Idade Média, com suas emboscadas, com seus assassinatos de becos”.12 Presente tanto na imprensa quanto nas enquetes sociais e nas fisiologias dos romances de folhetins, estas representações construíram um modelo coerente e persistente, que fez da Île de la Cité e de suas margens um espaço quase natural do crime. Capital do século XIX, Paris consolida essas imagens aterradoras tanto aos olhos de observadores estrangeiros quanto aos olhos de sua estarrecida província. Não é nessa Paris que Edgar Poe situa a ação de três célebres histórias que inauguram a narrativa da detecção?13 Se o cavaleiro Dupin* continua na “rua Dunot, n. 33, terceiro andar, faubourg Saint Germain”; a rua Morgue se situa bem no coração da velha Paris criminal: “É uma das miseráveis passagens que liga a rua Richilieu à rua Saint-Roch”; Marie Roget mora na rua Pavée Sanit-André e trabalha com um perfumista do Palais-Royal. Por mais fantasiosa que seja (“Eu preciso advertir a propósito da rua Morgue, da passagem Lamartine etc., que Edgar Poe nunca veio à Paris”, escreveu Baudelaire),14 esta topografia salienta a importância da Paris pré-haussmanniana no imaginário criminal do século XIX. No entanto, nesta primeira metade do século XIX, é perceptível um primeiro e duplo deslocamento, que abandona pouco a pouco os espaços abarrotados do centro. Presente no transcorrer de um longo período,15 a transferência para além das bordas dos espaços da periculosidade urbana tornou-se mais intensa durante a Monarquia de Julho. Em direção norte, onde os bairros de Porcherons e de la Courtille são percebidos como lugares inseguros desde o século XVIII,16 são relatados inúmeros bolsões de violência: o canal Saint-Martin e os terrenos baldios que o circundam, onde bandos de desordeiros jogam suas vítimas nas águas do mesmo; Belleville, Ménilmontant e a barreira du Combat, covil de inúmeros malfeitores. “Era lá seu quartel general, onde eles estavam constantemente em massa e onde a desgraça os viria encontrar”17, escreveu Vidocq em suas Mémoires. Antigo local de enforcamento, um vasto espaço espremido entre o bulevar e a la Butte Chaumot, o Montfaucon, que servia às vezes de local de despejo e de esgoto, era ainda percebido como um lugar de SAUVAL, Henri. Histoire et recherche des antiquités de la ville de Paris. Paris: Moette, 1724. La Chronique de Paris, 18 oct. 1836. Citado por DEMARTINI, Anne-Emmanuelle. L’affaire Lacenaire, op. cit. p. 150. 13 The murders in the rue Morgue (1841), The purloined letter (1842), The mystery of Marie Roget (1850). * Detetive criado por Edgar Allan Poe que aparece pela primeira vez na obra Os assassinatos da rua Morgue e figura nas três obras citadas na nota acima. (N.T.) 14 Ver BENJAMIN, Walter. Le Paris du Second Empire chez Charles Baudelaire [1938]. Paris: Payot, 1979. 15 Ver GEREMEK, Bronislaw. Les marginaux parisiense aux XIVe et XVe siécles. Paris: Flammarion, 1976. Ver também: MERRIMAN, John M. The margins of the city life. Explorations on the French Urban Frontier, 1815-1851. Nova York: Oxford University Press, 1991. 16 FARGE, Arlette; ZYSBERG, André. Les théâtres de la violence à Paris au XVIIIe siècle, op. cit. 17 VIDOCQ, Eugène François. Mémoires [1828]. Paris: Laffont, 1998. p. 293. 11 12 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 287-307, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 291 Os lugares do crime: topografia criminal e imaginário social em Paris no século XIX Dominique Kalifa grande periculosidade. Mas é sobretudo para além das bordas periféricas do sul que as representações, especialmente as literárias, se movem. Altamente simbólica, a decisão tomada em 1832 de deslocar a guilhotina da praça de Grève para a barrière Saint-Jacques acompanha esse movimento. Os bairros que formavam o então décimo segundo distrito* (Saint-Marcel, Saint-Jacques, L’Observatoire) estavam entre os mais pobres da capital. Covis de trapaceiros, verdadeiros “antros de infecção”, de acordo com Alexandre Parent-Duchâtelet, eles formavam sinistros bolsões de violência. Foi lá, na rua Croulebarbe, no lugar conhecido como campo de l’Alouette, que o jovem Ulbach assassinou a pastora de Ivry, em maio de 1827, gerando um célebre fait diver. Também considerada perigosa era a barrière d’Italie, de onde se seguia para os subúrbios do sul, bem como Bicêtre, situada uma milha no caminho para Fontainebleau, onde os condenados a morte esperavam o dia de sua execução; e também o cemitério de Ivry, no qual se enterravam os sentenciados a morte. A identidade criminal que tornava esses bairros locais excêntricos deve muito à literatura. Se é na rua aux Féves que tem início o livro Os mistérios de Paris, é na barrière Saint-Jacques que ele tem sua conclusão, assinalando o vigor dessa transferência espacial. Observamos o mesmo n’Os moicanos de Paris de Alexandre Dumas, profundamente enraizado no bairro de Saint-Jacques e, sobretudo Os miseráveis, de Victor Hugo, verdadeiro romance dessas bordas do sul; Italie, Gobelins ou d’Enfer. É no bulevar de L’Hôpital que se encontra o casebre Gorbeau** e é “nas estepes adjacentes à Salpêtrière” que atua, durante a noite, o bando de Patron-Minette. Mas a esse deslocamento topográfico soma-se outro movimento, verticalizado, que mergulha fundo nas entranhas da capital, até as pedreiras, as catacumbas e os esgotos. Os fornos de gesso de Clichy, as pedreiras de Montmartre ou d’Amérique na margem direita do Sena; a imensa escavação que se estende, na margem esquerda, de Grenelle e Montrouge até os Jardin des Plantes, formam, de acordo com alguns, um verdadeiro país subterrâneo, criminoso por natureza, que qualquer um acessa por uma das numerosas escadas situadas em Val-de-Grâce, na borda do Maine, na Puits-qui-parle ou ainda na praça d’Enfer. Recusada na temática tradicional do submundo*** ou naquela metáfora hugoliana das “partes inferiores” e da caverna social, a existência de uma imensa Paris subterrânea e criminal constitui, portanto, um clichê generalizado que romancistas populares como Élie Berchet ou Pierre Zaconne encarregaram-se de espalhar.18 No original: XIIème arrondissement. Optamos por traduzir o termo arrondissement por distrito e o termo quartier por bairro. (N.T.) ** Local de suma importância na obra Os miseráveis, de Victor Hugo. (N.T.) *** O termo utilizado pelo autor é bas-fonds, sem tradução adequada para o português, mas que pode significar algo próximo daquilo que entendemos em português por submundo; lugar do populacho onde reina a miséria e a criminalidade. Sempre que o termo submundo aparecer no texto refere-se então a este conceito de bas-fond. (N.T.) 18 BERTHET, Élie. Les catacombes de Paris. 1854; ZACCONE, Pierre. Les Dames des catacombes. Paris: Ballay Ainé, 1863; IMBERT, Pierre-Léonce. Les catacombes de Paris. Paris: Librarie international, 1867; Les * Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 287-307, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 292 Os lugares do crime: topografia criminal e imaginário social em Paris no século XIX Dominique Kalifa Deslocamento, recuo, retrocesso Bulevarizando a topografia, a sociologia e a economia da capital, a haussmannização evidentemente muda toda a cidade. Se as ambições atreladas a esse processo não dizem respeito explicitamente à delinquência, elas buscam, entretanto, a redução de uma “crise” e a diminuição das disfunções urbanas, entre as quais a criminalidade, que, nesse momento, anda lado a lado com o medo social. A destruição dos cortiços que margeavam a Notre-Dame, os novos avanços e a anexação dos distritos suburbanos são entendidos imediatamente pelos contemporâneos como eventos de uma importância capital para percepção da localização do risco criminal. Uma nova cartografia da delinquência emana daí e recebe rapidamente o suporte das representações literárias. As inflexões da topografia criminal que registram então os romancistas e cronistas constituem uma série de movimentos desordenados, às vezes contraditórios, mas cuja evolução desenha, ao longo de meio século, uma trajetória finalmente coerente que podemos resumir nas três figuras entrelaçadas do deslocamento, do recuo e, então, do retrocesso. Acompanhando o movimento da haussmannização, a primeira figura é a mais evidente. A destruição da Cité é uma realidade da qual os romancistas e cronistas tomam ciência imediatamente. O próprio Haussmann conseguiu especificar essa questão na sua própria ação: “Desmantelando os antigos tijolos, desembaraçando a marretadas estes novelos de ruas insalubres, fazendo o ar e o sol penetrá-las violentamente, não trazemos apenas a salubridade; moralizamos estes bairros miseráveis, pois perseguimos os malfeitores neste grande dia de terror e eles não mais se esconderão nestes vastos espaços onde antes ficavam seus barracos deteriorados”, declara ele diante do conselho municipal.19 A partir da década de 1860, multiplicam-se os textos que assinalam os feitos desses trabalhos sobre a criminalidade: “O métier de assassino torna-se a cada dia mais e mais impraticável e os gatunos começam a se expatriar”, escreveu Alfred Delveau em 1862.20 Mais comedido, du Champ escreve alguns anos mais tarde: “O próprio desenvolvimento da cidade coloca obstáculos aos delitos das pessoas desagradáveis que abundam entre nós”.21 A destruição da velha Paris necrosada pelo crime se deu de uma forma tão proveitosa que permitiu reviver as imagens do submundo. “A Cité, a hedionda Cité, desmantelada pelas picaretas dos demolidores, viu desaparecer com ela suas redes de ruelas infames, de casebres desprezíveis, onde fervilhava uma população Mémoires de M. Claude, chef de la police de sûreté sous le Second Empire (1881) evoca uma outra rede “criminal” subterrânea, situada entre a barrière des Bonshommes e os hauteurs du Trocadéro. (reed. Club Français du Livre, 1962. p. 57) 19 Declaração do prefeito Haussmann diante do conselho municipal de Paris. Citado por LEMOINE, Yves. Paris sur crime. L’impossible histoire. Paris: Jacques Bertoin, 1993. p. 131-132. 20 DELVEAU, Alfred. Histoire anecdotique des cafés et cabarets de Paris. Paris: Dentu, 1862. p. 100. Citado por DELATTRE, Simone. Les douze heures noires, op. cit. p. 510. 21 DU CHAMP, Maxime. Paris. Ses organes, ses fonctions et sa vie dans la second moitié du XIXe siècle. Paris: Hachette, 1872. v. 1, p. 427. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 287-307, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 293 Os lugares do crime: topografia criminal e imaginário social em Paris no século XIX Dominique Kalifa imunda. A rua aux Fers e o cabaré Lapin Blanc não existem mais, o Tribunal dos Milagres não passa de uma lenda”, escreveu neste sentido o jornalista e folhetinista Georges Grison.22 Deslocada assim do coração da capital, a periculosidade criminal vai, a partir de então, se ancorar em dois novos espaços. O primeiro deles é formado por aquilo que Ponson du Terrail chama de “novos bairros”, que compreendem os distritos estendidos a oeste e a noroeste parisiense e que resultaram dos trabalhos de Haussmann. “Os crimes se adaptam com vertiginosa velocidade no lado oeste de Paris”, nota o antigo chefe de segurança Gustave Macé.23 Ao “austero faubourg Saint-Germain” símbolo até então de belos bairros sempre ameaçados por algum complô criminal, se sobrepõem pouco a pouco os luxuosos hotéis do oitavo e nono distrito (Paul Féval, Les habits noirs, 1865)24, a Madeleine e a estrada d’Antin, a rua de la Pompe e os Champs-Élysées, Montmartre e “os novos bulevares” (Ponson du Terrail, Les dames de Paris, 1857-1870). O romance judicial, que floresceu depois de 1870, fez parte igualmente dessas novas topografias. Émile Gaboriau nos fornece alguns exemplos. M. Lecoq, seu detetive, mora na “rua Montmartre, n....”, e suas investigações o levam à Saint-Lazare, no décimo terceiro distrito, ou até Batignolles, onde foi assassinado o aposentado Pigaureau.25 Do Drame de la rue de la paix (Adolphe Belot, 1875) ao Crime de l’opéra (Fortuné du Boisgobery, 1879) e também ao Mystère d’Auteuil (Jules de Gastyne, 1904), praticamente não resta nenhum bairro desta nova Paris que escape da atenção dos romancistas. O espaço situado entre La Concorde e Le Bois se torna um dos lugares principais do romance criminal, e também não é muito perspicaz andar à noite entre o Sena e l’Étoile: “Os ladrões podiam atuar nesses espaços mais tranquilamente que na floresta de Bondy”, escreveu Boisgobery.26 Emancipam-se igualmente os órgãos ligados às novas funções da cidade haussmanniana, estações de trem e hipódromos, onde atuam desenfreadamente os batedores de carteira; os bosques de Boulogne e de Vincennes, abarrotada de assediadores e, é claro, o metrô, rapidamente transformado em teatro de novas violências.27 Esse mesmo desencanto do antigo centro atinge também os bairros novos que se desenvolvem na periferia leste e sul parisiense. “O mundo dos ladrões passou em massa para o lado das antigas bordas, para bairros recentemente anexados e que parecem não ter nada além de uma ligação administrativa com a antiga Paris”, escreveu du Camp em 1872.28 Mas entre esses novos espaços do crime e da delinquência se estabelece uma hierarquia. Os bairros densos do cinturão operário como Ménilmontant, Belleville, Bercy ou la Butte-aux-cailles são descritos com cada vez mais frequência como lugares de desvio e violência, como bem GRISON, Georges. Paris horrible et Paris original. Paris: Dentu, 1882. p. 1. MACÉ, Gustave. Crimes impunis. Paris: Dentu, 1882. p.1. 24 LELIONNAIS, François. Le Paris des habits noirs. Le Magazine Littéraire, p. 58-64, out. 1972. 25 GABORIAU, Émile. L’affaire Lerouge. Paris: Dentu, 1866; Monsieur Lecoq. Paris: Dentu, 1867 e Le petit vieux des Batignolles. Paris: Dentu, 1870. 26 BOISGOBERY, Fortuné du. Le coup d’oeil du monsieur Piédouche [1883]. Paris: Rivages, 1999. p. 36. 27 SALLES, Pierre. Le crime du métro, folhetim publicado no La Petite République, jun./set. 1912. 28 DU CAMP, Maxine. Paris, op. cit. v. 3, p. 55. 22 23 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 287-307, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 294 Os lugares do crime: topografia criminal e imaginário social em Paris no século XIX Dominique Kalifa afirmam os refrãos das canções “realistas”. A respeito de Montmartre se constrói uma representação específica onde o crime está em parte ligado ao mundo das letras e das artes.29 É preciso também levar em conta a Bastille, marcada pela sinistra presença da rotatória de la Roquette, onde desde 1852 está instalada a guilhotina, trancada em um galpão da rua de la Folie-Régnault; outro ponto de aglomeração frequentemente evocado. Mais abaixo, próximo à rua Sainte-Marguerite, encontra-se a Paris dos migrantes da região de Auvergne, mas também o local de prostituição e de danças, onde triunfam as tavernas La Boule Rouge ou Gravilliers, “um reduto de pilantras e aproveitadores”.30 Mas nesta segunda metade do século XIX o momento não é mais das “classes perigosas”, e é nas suas margens, tanto sociais quanto geográficas, que a Paris operária se revela criminosa. Os espaços mais sinistros são aqueles que margeiam os bulevares exteriores: la Villette, la Chapelle ou o décimo quinto distrito, próximo a Saint-Charles, Javel ou Grenelle, locais “sombrios, propícios a emboscadas que dão a sensação de um lugar de vício e de crime”.31 Nas proximidades dos bulevares exteriores e nos entornos das fortificações a ameaça se intensifica, como se as muralhas fossem utilizadas para deter e impedir o inimigo interior. Entre o caminho de ferro do pequeno cinturão e as muralhas se estendem de fato espaços inquietantes, marcados por uma violência mais consolidada que em outros lugares. Os bandidos e as garotas que perambulam à noite nessas regiões desertas estão entre os piores da capital. “É ao lado das fortificações que não vemos pessoas descentes”, canta Bruant.32 Certos cantos são mais sinistros do que outros: o bulevar Lannes, o bulevar Berthier e toda a região que se estende de Clichy a Bagnolet. Mas o verdadeiro perigo está ao sul, próximo de Gentilly, Châtillon ou perto de berges du Point du Jour, em Billancourt, “onde não era possível aventurar-se sem estar armados”.33 Do outro lado das muralhas, as representações são mais sutis. Emaranhado de barracos e esconderijos, de terrenos baldios e também de galinheiros, a “zona” é um lugar mais pitoresco que perigoso, que passa a ser retratado de uma forma bastante benevolente por toda uma literatura das margens.34 Quanto às comunas vizinhas, elas veem sua imagem se degradar pouco a pouco. O espetacular sucesso que conheceu o crime de Pantin em 1869 chegou de fato a ampliar a forte identidade criminal dos subúrbios. São descritos por sua periculosidade, sobretudo devido à insuficiência de policiais que aparecem apenas para deter os vagabundos e proibir a permanência destes no local. Certos lugares do norte e do leste parisiense, como Clichy, Les Lilas, Bagnolet, também adquirem uma sinistra reputação. Os Ver CHAVALIER, Louis. Montmartre du plaisir et du crime. Paris: Laffont, 1981; SEIGEL, Jerrold. Bohemian Paris. Culture, politics and the boundaries of bourgeois life, 1830-1890. Nova York: 1986. 30 LORRAIN, Jean. La maison Philibert [1904]. Paris: Christian Pirot, 1992. p. 116. 31 SOUVESTRE, Pierre; ALLAIN, Marcel. L’arrestation de Fantômas. Paris: Fayard, 1912. p. 275. 32 “À Saint-Ouen”, coletado no volume Dans la rue, Paris, 1889. 33 SOUVESTRE, Pierre; ALLAIN, Marcel. L’arrestation de Fantômas, op. cit. p. 259. 34 Por exemplo HIRSCH, Charles-Henri. Le tigre et coquelicot. Roman de fortifs et des boulevards. Paris: Librairie universelle, 1905; e MACHARD, Alfred. L’ épopée au faubourg. Paris: Mercure de France. 29 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 287-307, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 295 Os lugares do crime: topografia criminal e imaginário social em Paris no século XIX Dominique Kalifa Outre-fortifs* “são locais vermelhos, nos quais se sente a morte e o sangue”, escreveu em 1904 Delphi-Fabrice, cujas Impressions de banlieue se equiparam a “Pantin-le-Raisiné” ou a “Vincennes-la-Cabriole”.35 Mas essas percepções são tardias, raras antes da Belle Époque, figurando apenas em obras breves e fugazes. Pois, para os romancistas de folhetim e os cronistas, o essencial está em outro lugar. Um movimento estranho e paradoxal de reorientação acompanha esses deslocamentos evocados até aqui. Mesmo toda a destruição e remodelação pela qual passaram a Cité e a velha área do crime no centro da cidade não foram suficientes para impedir sua retomada por seus antigos habitantes: assassinos, prostitutas e cafetões. “Logo que os grandes bulevares, as ruas largas, as praças e casas magníficas foram construídas, canalhas de todas as espécies, portadores de instintos selvagens próximos aos dos animais que facilmente encontram seus covis, retomaram rapidamente todos os cortiços que permaneceram de pé”, escreveu Gustave Aimard.36 Para a maior parte das narrativas populares ou pitorescas que relatam a delinquência parisiense, esse retorno às origens é geral. Os Halles e suas “ruelas insalubres”; as proximidades do Temple, de Saint-Merri e de Arts-et-Métiers; os cortiços de la Cour de Rome ou da praça Maubert reocupam então o centro das representações. Com algumas nuances, é a Paris de Sue e de Frégier que ressurge sobre a Paris de Haussmann. Ao longo da Belle Époque, é ainda o Halles (bulevar Sébastopol, os bairros des Innocents du Temple ou des Innocents) que forma o epicentro da Paris-Apache.** Alguns raros autores se dão ao trabalho de denunciar essas representações anacrônicas: “os ladrões vêm dos bairros periféricos de Grenelle, Montrouge, Clichy e Belleville. Eles não têm mais seus covis aqui. Esta é uma grande piada que nos querem fazer acreditar. O Caveau des Halles, o Père Lunette, o Pére Jules, o Château Rouge são hoje cabarés inofensivos”. Mas a maioria se esforçava para justificar esse fenômeno: “se o perigo se modificou, não podemos dizer que ele desapareceu totalmente”, explica Pierre Zaccone.37 “Muitas ruas insalubres e condenadas permaneceram intocadas, e foram conservadas sem razões plausíveis”,38 acrescenta Gustave Aimard. Denunciar essas “ruas crapulosas”, tais como a rua des Anglais, “resquício dessa velha Paris que permaneceu de pé após as demolições e transformações”,39 constitui um reflexo natural para muitos observadores. Novas “cidades de maltrapilhos” surgiram a dois passos das antigas.40 Alguns se esforçavam Antigas fortificações parisienses que, após sua demolição em meados do século XIX, foram transformadas em cortiços pela população depauperada. (N.T.) 35 DELPHI-FABRICE. Outre-fortifs. Paris: Malot, 1904. 36 AIMARD, Gustave. Les peaux-rouges de Paris. Paris: Dentu, 1888. p. 260. ** Paris-Apache é um termo empregado para descrever a capital francesa no final do século XIX e início do XX, tomada por gangues de jovens que aterrorizavam o imaginário da boa sociedade. Apache era o termo utilizado para descrever tais gangues. (N.T.) 37 ZACCONE, Pierre. Les nuits du boulebard. Paris: Dentu, 1876. Citado por DELATTRE, Simone. Les douze heures noires, op. cit. p. 527. 38 AIMARD, Gustave. Les peaux-rouges de Paris, op. cit. p. 260. 39 WOLF, A. Mémoires d’un parisien. L’ écume de Paris. Paris: s.n., s.d. p. 38. 40 E também “cité des singes”, apresentado por Pierre Delcourt, L’Agence Taboureau. Paris: Rouff, 1881. * Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 287-307, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 296 Os lugares do crime: topografia criminal e imaginário social em Paris no século XIX Dominique Kalifa para denunciar qualquer edifício que havia escapado das picaretas dos demolidores, onde “o crime espreita e se abriga”.41 Desse modo “o conjunto de casas localizadas entre o bulevar Saint-Germain e o cais de Montebello abriga ainda alguns espécimes curiosos dos velhos pilantras de outrora”.42 Celebra-se o Lapin Blanc e o Paul Niquet,43 e todos aqueles antigos cabarés que permaneceram de pé ou foram reconstruídos. Tais locais foram promovidos a pontos centrais do turismo parisiense pela famosa Tournée des Grands Ducs,* apontados pelos guias,44 ou revisitados pela literatura, como o Château Rouge da rua Galandre.45 A esta resistência ao velho centro da cidade soma-se aquela de alguns outros espaços tradicionais de representação: o canal Saint-Martin, já apaziguado, mas que continuava a inspirar os romancistas, assim como o Carrières d’Amériques e seus velhos esconderijos de vagabundos, situados perto de Montfaucon. Transpassados por novas artérias, metade delas cobertas pelo parque Buttes Chaumont, esses esconderijos “perdiam a cada dia a fisionomia que sua triste fama lhes deu” e o ataque noturno não fazia mais suas vítimas, escreveu um cronista em 1876.46 Mas tal fato pouco importava aos romancistas que continuavam a povoar tais locais com sinistros bandidos.47 O mesmo vale para a Paris subterrânea das catacumbas e dos esgotos, indispensável a toda representação da delinquência. Tal representação também servia para alimentar o estereótipo de uma nação clandestina e da contrassociedade do submundo. Eram então nos esgotos da Cité que sempre se reuniam à noite os bandos de assassinos e andarilhos;48 nos seus labirintos que os gênios do crime, tais como Zigomar ou Fantômas, organizavam seus complôs ou torturavam seus prisioneiros; era lá que prosperavam os estranhos clãs criminosos, como os “talpas”, os “ japistes” ou os “Grouilleurs”.49 Entre o centro e o submundo estabelecia-se uma relação de natureza orgânica. Esse “mundo subterrâneo” não sobreviveria, de fato, se prejudicasse o coração da cidade; e o submundo, com seus cabarés e bordéis, é nada mais do que o outro lado da moeda; essa é a contradição sobre a qual se fez Paris. DU CAMP, Maxime. Paris, op. cit. v. 3, p. 52. Ibid., p. 59. 43 La Maison du Lapin Blanc et les boulettes du Lapin-Blanc. Paris: Chez Mauras, 1859. * Referência às viagens de diversão dos grandes duques russos a Paris no final do século XIX e início do XX. (N.T.) 44 Cortiços e pocilgas são assinalados pelo Guide des plaisirs de la nuit, 1905; ou pelo Dictionnaire géographique et administratif de la France de Paul Joanne (Hachete, 1899, t. 5). Ver a este respeito: CSERGO, Julia. Dualité de la nuit, duplicité de la ville. Sociétés & Représentations, n. 4, p. 105-120, 1997. 45 GORON, Françóis-Marie (Dir.). L’amour à Paris. Paris: Flammarion, s.d. t. 4.; ou LORRAIN, Jean. Contes d’un buveur d’ éther. Paris: Ouendorf, 1900. 46 IMBERT, Pierre Léonce. À travers Paris inconnu. Paris: Georges Decaux éditeur, 1876. p. 252. 47 LABOURIEU, Théodore. Les Carrières d’Amérique. Le Journal de Dimanche, abr. 1879. 48 GUÉROULT, Constant et COUDEUR, Pierre de. Les etrangleurs de Paris. Paris: Chappe, 1859. 49 LEROUX, Gaston. La double vie de Théophraste Longuet. Paris: Flammarion, 1904; SOUVESTRE, Pierre; ALLAIN, Marcel. Le bouquet tragique. Paris: Fayard, 1912; Le voleur d’or. Paris: Fayard, 1913. 41 42 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 287-307, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 297 Os lugares do crime: topografia criminal e imaginário social em Paris no século XIX Dominique Kalifa De fato, tudo se passava como se os romancistas, incapazes de emancipar-se desses lugares que assombravam o imaginário do crime, acabassem por se dedicar a reinventar tais locais sem cessar. Esse excesso de representações se tornou muito estereotipado, mas mesmo assim sua relação com o real tendia a aumentar. Essas mesmas se instalam sobretudo na temporalidade, alimentando um imaginário que cruzou o limiar do século XX. Em 1927, Pierre Mac Orlan retorna à história já batida e recontada mais de uma centena de vezes do Lapin Blanc, dos cortiços e dos covis de bandidos,50 ao passo que repórteres e romancistas continuavam a divulgar a mesma imagem do centro de Paris, “os bares horríveis da rua Simon-le-Franc ou da rua Aubry-le-boucher”. Eis aqui, a título de exemplo, como Guy de Téramond apresenta, em 1929, alguns bairros do centro: Em pleno dia, mesmo sob o sol reconfortante, a rua Brise-Miche, a rua Simon-le-Franc ou algumas partes da rua Quincampoix já apresentam uma hedionda e assustadora imagem onde o perigo espreita em cada buraco tenebroso aberto em tijolos pegajosos, de onde ouvimos gritos, risadas, falatório; de onde sentimos o odor de álcool no ar e sentimos a possibilidade eminente de uma emboscada. A noite e o nevoeiro surgem e pensamos se dessa fossa abominável a vadiagem, com seus trapos, orgias e crimes, não havia se espalhado pelas redondezas. O sinistro bando de la Coquille cujo líder canta suas façanhas; os batedores de carteira, os assassinos, os rufiões, os bruxos e os bandidos de outrora se achavam à vontade nessas ruelas que pouco haviam mudado ao longo do tempo, nas quais os sentinelas do rei colocaram para correr um sombrio exército do crime apenas diferente do de hoje, nesse submundo onde relutamos em acreditar que ainda podem respirar e viver seres que têm algo de humano.51 Tais descrições, onde o espaço e o tempo parecem transcorrer para celebrar “o charme mórbido da velha Paris”,52 não estão isoladas. Nós as encontramos frequentemente no período entre guerras, sob a pena dos cronistas e repórteres,53 descritas como se nenhuma encenação da Paris delinquente ou desviante fosse capaz de se livrar dessas representações anacrônicas. Sem dúvidas, não se pode exagerar a importância desse recuo que, como vimos, saturou o imaginário topográfico do crime. Ela, no entanto permaneceu viva e não desapareceu de fato até o êxito da terceira inflexão, que podemos qualificar como retrocesso. O melhor exemplo sobre isso pode ser fornecido pela série Fantômas (1911-1913), esse surpreendente romance de mais de doze mil páginas, cujo essencial não foi escrito, mas gravado pelos autores, ORLAN, Pierre Mac. Nuits aux bouges. Paris: Flammarion, 1929. TÉRAMOND, Guy de. Les bas-fonds. Paris: Ferenzi, 1929. p. 142. 52 PYAT, Félix; MORPHY, Michel. Le chiffonnier de Paris. Paris: Fayard, 1887. p. 12. 53 Dois exemplos podem ser citados, dentre outros: CHAMPSAUR, Félicien. L’empereur des pauvres. Épopée sociale en six époques. Paris: Ferenczi, 1922; e LE FÈVRE, Georges. Je suis un gueux. Paris: Baudinière, 1929. 50 51 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 287-307, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 298 Os lugares do crime: topografia criminal e imaginário social em Paris no século XIX Dominique Kalifa em um tipo de operação de escrita automática onde transparece toda a doxa do imaginário da Belle Époque.54 Se essa versão moderna dos Tableaux de Paris não ignora nenhum recanto da capital, ela privilegia, todavia, os espaços urbanos anexados nos anos 1860, observando as novas topografias parisienses.55 O deslocamento dos bons bairros em direção a oeste é geral: é entre la Concorde e le Bois que reside, daí em diante, a Paris chique e abastada. Quanto à Paris delinquente, como exceção de alguns locais tradicionais destinados a mostrar que o cordão umbilical não foi rompido, ela se dirige quase que inteiramente em direção à periferia (Montmartre, Belleville, La Chapelle, La Villete Bercy, Grenelle) e muitas vezes para além das fortificações, rumo a Saint-Ouen, Châtillon, Bagneux etc. Mais precisamente, este deslocamento é excessivo; quase suspeito. Ele revela, é claro, os movimentos reais da sociologia parisiense, mas assinala sobretudo uma realidade simbólica: se a Cité não é mais Paris, então Paris não é mais nada, sobretudo o centro do mundo que a cidade encarnou ao longo de todo o século XIX.56 Por meio deste processo radical de afastamento do centro se liga um tipo de descapitalização do espaço parisiense, que parece perder sua substância e sua supremacia. Toda uma série assinala essa situação: desloca-se então de um universo monocêntrico em direção a um mundo notadamente policêntrico. Telégrafo, telefone, TSF, navios e transcontinentais fazem de Fantômas um grande viajante que percorre a Escócia, a Rússia, o México, a Colômbia, Natal etc. Paris, portanto, não é mais este centro absoluto e sonhado: a cidade se dilui num espaço mundializado, ameaçada sobretudo pela emergência de novos centros. Porque a série, exemplar por muitas razões, indica também a crescente importância de um novo centro, os Estados Unidos, cujo imaginário impregna o romance: bilionários e detetives, boxeadores e “Tios da América”, circo Barzun e a estética serial, de acordo com Nick Carter. A ideia, a propósito, estava no ar há muito tempo: a haussmannização traz nela mesma a americanização de Paris e o “ianqueísmo”.57 Restrições sociais, restrições narrativas Esse complexo vaivém dos locais do crime não se explica a não ser por múltiplas razões. Em primeiro lugar, é preciso refletir a respeito das práticas efetivas da delinquência parisienSobre a importância de Fantômas no imaginário parisiense ver: Fantômas. Europe, n. 590-591, 1978; KALIFA, Dominique (Dir.). Nouvelle revue des études fantômassiennes. Paris: Joëlle Losfeld, 1993; WALZ, Robin. Pulp surrealism. insolent popular culture in early twentieth-century Paris. Berkeley: University of California Press, 2000. 55 Ver VAREILLE, Jean Claude. Le Paris de Fantômas: du pittoresque à l’inquiétant. Nouvelle Revue des Etudes Fantômassiennes, Paris, p. 69-94, 1993. 56 BENJAMIN, Walter. Paris, capitale du XIXe siècle. Le livre des passages. Paris: Le Clerf, 1989. Ver também as atas do colóquio Paris au XIXe siècle. Aspects d’um mythe littéraire. Lyon: Presses universitaires de Lyon, 1984. 57 Sobre estes pontos ver: BERNARD, Jean-Pierre A. Les deux Paris. Les représentations de Paris dans la seconde moitié du XIXe siècle. Paris: Champ Vallon, 2001. p. 217-219. 54 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 287-307, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 299 Os lugares do crime: topografia criminal e imaginário social em Paris no século XIX Dominique Kalifa se. Mesmo as representações literárias sendo incapazes de retratar o “real”, elas registram, talvez de uma maneira mecânica ou involuntária, os fenômenos objetivos. Esse processo amplo de saída e retorno da criminalidade em direção ao centro da cidade coexiste ao longo da segunda metade do século XIX. Sem dúvida, o fenômeno principal foi a transferência da delinquência em direção à periferia. Esvaziando o velho centro industrial dos tipos mais pobres e suspeitos,58 a haussmannização concentrou nas margens da cidade os elementos mais instáveis e mais violentos das classes populares e acabou por acelerar um processo iniciado há algum tempo.59 Estudando os domicílios dos indivíduos processados pela corte de assises* durante o Segundo Império, Luc Passion percebe a rápida transferência dos velhos bairros do centro para os distritos mais excêntricos, em especial o décimo-oitavo e o décimo-nono.60 A análise dos domicílios daqueles condenados pelo tribunal correcional por cometerem delitos durante os anos 1888-1894 sublinha igualmente a predominância dos bairros operários, dos grandes Carrières até Charonne, bem como na parte sul da cidade, entre Grenelle e Bercy.61 A esses dados sociológicos juntam-se elementos de natureza mais topográfica. Apesar dos decretos imperiais que, em novembro de 1853 e depois em dezembro de 1859, reformam e reorganizam a polícia; os bairros periféricos e os subúrbios sofrem de um evidente subenquadramento, de modo que a parte alta do vigésimo distrito padece de insegurança por muito tempo devido à ausência de um comissariado.62 Mesmo durante a Belle Époque, a denúncia de insuficiência policial nos subúrbios alimenta os discursos sobre segurança. Construções, terrenos baldios e espaços suspeitos nas margens da cidade favorecem igualmente o exercício da violência. É nesse cinturão sombrio que circula a cidade que se encontram os fait divers mais sanguinários: estupros, ajustes de contas, “ataques noturnos”.63 É nas valas das antigas muralhas da cidade que são descobertos cadáveres ou detritos macabros; é um pouco mais longe que, ao longo do Segundo Império, ressoam os grandes crimes, como aqueles de Troppmann, na planície de Pantin, ou aquele menos conhecido de Jean Charles que estupra, mata e degola o contramestre Duguet, encontrado em junho de 1867 no marché de la Chapelle. O assassino morava nas redondezas e a morte ocorreu numa casa isolada de Levallois-Perret.64 Ver GAILLARD, Jeanne. Paris, la Ville. 1852-1879. Paris: L’Harmattan, 1999, p. 16 e ss. Ver especialmente: MERRIMAN, John. The margins of city life, op. cit. 60 PASSION, Luc. Conjoncture et géographie du crime à Paris sous le Second Empire. Fédération des Sociétés Historiques et Archéologiques de Paris et de l’Ilê de France, 1982. p. 187-224. * Jurisdição departamental francesa encarregada de julgar pessoas acusadas de haver cometido um crime. (N.T.) 61 DEMIER, Francis; FARCY, Jean-Claude. Regards sur la délinquance parisienne à la fin du XIXe siècle. Rapport de recherche sur le jugements du tribunal correctionnel de la Seine (1888-1894). Université Paris X, 1997. p. 38-42. 62 LAZARE, Louis. La France et Paris. Paris: Publications Administratives, 1872. 63 KALIFA, Dominique. L’attaque nocturne. Sociétés & Représentations, n. 4, p. 121-138, 1997. 64 Archives de Paris, D2U8/7. 58 59 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 287-307, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 300 Os lugares do crime: topografia criminal e imaginário social em Paris no século XIX Dominique Kalifa Em processo de diminuição nos velhos bairros do centro, as violências noturnas se multiplicavam, por outro lado, nos distritos periféricos, após 1860 (sobretudo nos décimo quinto e vigésimo distritos, novos locais de degola), e na parte oriental da cidade que totalizava então mais de 62% das agressões.65 As ruas Botzaris, des Plâtiers ou de la Mouzzaia são frequentes teatros de fait divers sangrentos e a violência dos jovens é famosa em Belleville, onde nascem os Apaches na primavera de 1900.66 É em Charonne, entre la Courtille e les Orteaux que estoura, em 1902, o caso Casque d’or. Percebe-se o mesmo cenário em relação aos roubos (simples ou qualificados), que diminuem de 25 a 16% nos quatro distritos que formam o centro da cidade, entre a primeira e a segunda década do Segundo Império, em benefício da margem esquerda (rive gauche) e, sobretudo, dos bairros periféricos.67 As infrações cometidas fora dos limites administrativos da cidade aumentam também, acima de 12% do total nos anos 1890, especialmente no perímetro Saint-Ouen, Sant-Denis, Bagnolet, bem como em direção ao sudeste de Paris.68 Em muitos aspectos, portanto, a haussmannização do crime segue a haussmannização da cidade. Mas esse movimento não impede que certas partes da velha Paris continuem perigosas. A expulsão dos populares do centro não obteve efeito nem imediato nem sistemático, e essa região da cidade continuou a atrair, devido à concentração de certas atividades fundamentais (Les Halles, o grande mercado da capital, ficava nesta região), toda uma sorte de pequenos profissionais de renda precária. Assim, os bairros de Saint-Merri, Saint-Gervais, os entornos da Sorbonne ou de la Halle aux vins forneciam frequentemente seu contingente de réus aos tribunais correcionais de la Seine.69 E é aqui que registramos igualmente a mais forte densidade de hotéis e espeluncas populares e, apesar dos fechamentos operados por Haussmann, um grande número de bares,70 locais de bailes e guinguettes.* Mas é sobretudo devido à existência de uma densa rede de débitos de bebidas (o fiado), cuja cartografia se superpõe estreitamente àquela do crime, que se pode explicar a perenidade dos velhos bairros do centro. Era impossível de fato, para tais estabelecimentos, se passarem por bistrôs de Halles, únicos a se beneficiar de um privilégio administrativo que os autorizava a abrir durante toda a noite. Ao anoitecer, prostitutas e proxenetas deixavam a periferia para tomar seus lugares no coração da cidade. Por volta de 1900, a delinquência mais visível permaneDELATTRE, Simone. Les douze heures noires, op. cit. p. 358-359 e p. 517-518. JACQUEMENT, Gérard. La violence à Belleville au début du XXe siècle. Bulletin de la Societé d’Histoire de Paris et d’Ilê-de-France, p. 141-167, 1978. Ver também: KALIFA, Dominique. L’encre et le sang, op. cit. p. 152-164. 67 CARBONNEL, Chantal. Les lieux du crime à Paris sous le Second Empire. Mestrado (história) — Université Paris VII, 2001. 68 Regards sur la délinquance parisienne, op. cit, p. 36-38. 69 Ibid. 70 GASNAULT, François. Guinguettes et lorettes. Bals publiques à Paris au XXe siècle. Paris: Aubier, 1986. * Estabelecimentos populares de Paris que poderiam servir como restaurante e local de bailes, mas realmente especializados na oferta de bebidas alcoólicas. Locais de lazer popular. (N.T.) 65 66 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 287-307, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 301 Os lugares do crime: topografia criminal e imaginário social em Paris no século XIX Dominique Kalifa cia sempre localizada no centro da cidade: bairro des Halles, especialmente no entorno da praça des Innocents ou do Sébasto’, Palais-Royal, Saint-Gervais e, na margem esquerda, os bairros de la Maub’ ou de la Mouff’. Se o caso do Casque d’or* estoura em Charonne, é no lugar denominado Contrescarpe que a prostituta Amelie encontrou Manda e é no lugar l’Ange Gabriel, nos Halles, que a trama se estabeleceu. Em janeiro de 1910, o caso Liabeuf — o assassinato de um policial pelo sapateiro Liabeuf — fez da rua Aubry-le-boucher um símbolo desta Paris-Apache. As cartas endereçadas para a prefeitura (em 1882 quando instalavam os alertas sonoros e em 1912-1913 por ocasião dos projetos de reorganização dos serviços)71 revelam esta dupla localização do risco criminal: a periferia operária da cidade bem como o bairro de Halles ou a praça Maubert. A estes fatores externos somam-se as restrições e críticas editoriais e literárias próprias da representação do crime, cujo jogo converge para preservar a imagem tradicional da Cité. O princípio de nostalgia em relação a esse lugar é particularmente ativo. Os últimos trinta anos do século XIX foram marcados pela multiplicação de obras pitorescas, assinadas por cronistas, repórteres e autores de folhetins que se queixam longamente sobre a Paris que desaparece.72 Como as imagens de Marville (1858-1878), milhares de páginas se empenham em agrupar os vestígios reais e fantasiosos da capital. Um gênero se instala, com seu estilo e seus autores, onde a mediação sobre a perda se conjugava ao problema do pitoresco e à propensão para a lamentação. Emana a certeza da existência de uma outra cidade, indestrutível, inalterável. “Paris muda! Mas nada na minha melancolia/ Mudou! Novos palácios, andaimes, blocos,/ Velhas periferias, tudo se torna alegórico pra mim./ E minhas prezadas lembranças são mais pesadas que rochas”, escreveu Charles Baudelaire em um poema (Le cygne) que ele dedicou a Victor Hugo em 1859. Essas variações sobre o desaparecimento se revelam assim mais produtivas do que aquelas que fazem concessão às necessidades específicas do texto “popular”. Este é, de fato, regido pelo princípio da “repetição”,73 que opera ao mesmo tempo sobre os planos narrativos, temáticos e ideológicos. Para os autores obrigados a publicar muito e rápido, escrever é sempre reescrever, ainda mais com um estoque limitado de modelos e esquemas.74 A imagem da Personagens do filme francês Casque d’or, de 1952, dirigido por Jacques Becker. A história gira em torno do triângulo amoroso entre a prostituta Amélie Élie e os líderes Manda e Leca, da gangue Apache. (N.T.) 71 APP/DB38; APP/DB35. 72 VIRMAÎTRE, Charles. Paris qui s’efface. Paris: Savine, 1887. Alguns títulos entre muitos outros: COLL. Paris qui s’en va. Paris: Cadart, 1859; DE PENE, Henri. Paris mystérieux. Paris: Dentu, 1861; VIRMAÎTRE, Charles. Paris oublié. Paris: Dentu, 1866; VIRMAÎTRE, Charles. Les curiosités de Paris. Paris: Lebigre-Duquesne, 1868; ANONYME. Paris nouveau jugé par un flâneur. Paris: Dentu, 1868; GRISON, George. Paris horrible et Paris original, op. cit.; BELLON, Paul; PRICE, Geroges. Paris que passe. Paris: Savine, 1883. 73 NATHAN, Michel. Le ressassement, ou ce que peut le roman populaire. In: GUISE, René; NEUSCHÄFER, Hans-Jörg (Dir.). Richesses du romain populaire. Nancy: Centre de recherchers sur le roman populaire, 1986. p. 235-250. 74 Ver os trabalhos de Jean-Claude Vareille, especialmente L’ homme masqué, le justicier et le détective. Lyon: Press Universitaires de Lyon, 1989; e Le Roman populaire français (1789-1914). Idéologies et pratiques. Li* Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 287-307, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 302 Os lugares do crime: topografia criminal e imaginário social em Paris no século XIX Dominique Kalifa Cité criminal é deles. Esse fenômeno se acentua profundamente durante a segunda metade do século XIX, sob o efeito de uma crescente demanda de jornais, de editores e de público. Resulta daí um imenso intertexto, cuja repetição junta simultaneamente uma cultura e uma comunidade de leitores. A isto se soma a incapacidade frequente do romance de folhetim de se desprender do imaginário romântico. Nascido em 1836, em um momento onde a divisão entre literatura legítima/literatura popular estava ainda apenas em gestação, este aproveitador do romantismo permanece muito ligado a este momento onde a indignidade não se prendia a suas páginas. Mas o romantismo pesa também pelos seus temas e motivos, a começar pelo tema da cidade. É no século XIX que se inventa, de fato, o olhar sobre a cidade: aquele nascido da literatura, como espaço, como personagem, como texto.75 Para Balzac, por exemplo, a cidade não é um simples elemento decorativo, ela tem uma personalidade que envolve o romance e a vida. “As ruas de Paris possuem qualidades humanas, e nos revelam por sua fisionomia certas ideias contra as quais nós não possuímos defesa”, escreveu ele na obra Ferragus.76 O contexto médico, dominado então pelo neo-hipocratismo, acentua essa tendência: os lugares têm “temperamentos” que atribuem atividades e controlam os tipos sociais; asseguram as topografias médicas que se multiplicam nessa mesma época. Estudando a prostituição parisiense nos anos 1830, Alexandre Parent-Duchâtelet conclui que “é dos negócios específicos de certos bairros (...) que vivem da reputação que foram transmitidas a todos aqueles que as têm mantido”.77 As coisas se tornam evidentemente diferentes após 1850, onde prevalece o ideal de circulação, mas a estética folhetinesca sofre em extrair as representações geradas no primeiro século XIX. Numerosos são aqueles que transportam a Monarquia de Julho para a Terceira República, reiterando as causas célebres78 ou algum “mistério da velha Paris”79 que repetem as mesmas imagens do submundo e dos barracos. Esta é a situação, por exemplo, de L’affaire de la rue du Temple de Constant Guéroult, que traz à tona em 1880 um crime célebre de 1836. No coração deste sistema irradia Les mystères de Paris, texto mítico e fundador que constitui um tipo de matriz ilimitada, reativada sem cessar não apenas nas reedições que se sucedem, fazendo com que este romance não conheça jamais o ocaso: 14 edições ao longo da vida de E. Sue, que morre em 1857, e 19 reedições a partir desta data até 1914, frequentemente em coleções de grande tiragens (Rouff, Fayard), sem contar os periódicos departamentais, as adaptações teatrais, as canções etc. Mas esse romance suscita também moges: Presses Universitaires de Limoges, 1994. 75 HAMON, Philippe. Voir la ville. Romantisme, n. 83, p. 5-7, 1994. Ver também STIERLE, Karlheinz. La capitale des signes. Paris et son discours. Paris: Éd. de la MSH, 1993. 76 BALZAC, Honoré. Histoire des treize [1833]. Paris: Albin Michel, 1953. p. 9. 77 PARENT-DUCHÂTELET, Alexandre. De la prostituition dans la ville de Paris, considéréé sous le rapport de l’ hygiène publique, de la morale et de l’administration. Paris: Baillière, 1836. 2 v. Ver também o comentário proposto por Alain Corbin: Prostituition à Paris au XIXe siècle. Paris: Le Seuil, 1981. p. 9-15. 78 LABOURIEU, Théodore. Lacenaire, le tueur de femmes. Paris: Rouff, 1885. 79 PONT-JEST, René de. Sang maudit. Paris: Librarie Nationale, s.d. [1880]. Prologue. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 287-307, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 303 Os lugares do crime: topografia criminal e imaginário social em Paris no século XIX Dominique Kalifa uma quantidade enorme de imitações, de avatares, de plágios (Vrais mystères de Paris, Mystères du vieux Paris, Nouveaux mystères de Paris, Mystères du nouveau Paris etc.),80 de paródias (Les mystères de Passy)81 ou de séries paralelas (Les drames de Paris, de Ponsol du Terrail; Les tragédies de Paris, de Xavier de Montépin).82 Nesse sentido, cabe uma questão: sua estética e seu imaginário dominavam a tal ponto a sensibilidade folhetinesca do século que era difícil para os autores não reescreverem incansavelmente Les mystères de Paris? Do romantismo, estas imagens da Paris criminal herdam ainda o gosto da Idade Média.83 Por que a cidade do crime representada pelos romancistas e cronistas populares deve muito àquela reinventada por Hugo, Dumas, Féval e outros. Eles tomam emprestado um estilo, especialmente aquele das cidades góticas, seus labirintos de becos, bem como seus “Tribunais de Milagres”, mas também tomam uma parte de seus personagens e de suas referências criminais. “é o reino de Argot da Idade Média, modificado, alterado e corrigido de acordo com as exigências do progresso moderno”, escreveu um romancista para apresentar “exército itinerante” dos anos 1880.84 A cidade medieval impõe igualmente sua estrutura em muitos folhetins: suas ruelas, seus labirintos, seus trocadilhos moldando os contornos da história, controlando sua narrativa intercalada, seus enredos, seus setores e seus impasses sucessivos. Procurando apresentar um “mundo especial” e muitas vezes atemporal do crime ou da delinquência, os folhetinistas revivem assim a cidade gótica, sua topografia e seu imaginário. Mas esses textos são governados também pelas lógicas sociais que os atravessam. O romance criminal supõe geralmente uma sociologia simplificada, polarizada aos extremos para melhor opor as elites e os inferiores; a Paris aristocrática e aquela do submundo. Altamente produtiva no plano do romance, tal oposição exige, entretanto, uma topografia adaptada; e é por isso que transitamos tão frequentemente da opulência dos belos bairros ao pavor gerado pelas imagens do submundo. Nada melhor para evocar esse horror do que mergulhar o mais profundo possível nas representações: esta será então a Cité, seus cortiços ou o que resta deles; melhor ainda a Paris de ponta-cabeça, oculta, a Paris subterrânea das grutas e das catacumbas. Objeto de tantas inquietudes, de fantasmas e de investimentos diferentes, a Paris do crime não poderia ser unívoca, e parte dessas imagens vistas aqui não esgotam a complexidade do fenômeno. Elas indicam, no entanto, um quadro que se manteve estranhamente estável Ver o ensaio de René Guise por ocasião do aniversário de 150 anos do Les mystères de Paris. Bulletin des amis du roman populaire, n. 17, 1992. 81 Parodie-vaudeville en onze tableaux, cinq actes, avec prologue et épilogue, par MM. Rochefort et Dartois. Paris, 5 mars 1844. 82 PONSON DU TERRAIL, Alexandre. Les drames de Paris (1857-1870), rapidamente seguido por Nouveau drames de Paris de Hippolyte Ruy. Paris: Lambert et Compaigne, s.d.; MONTEPIN, Xavier de. Les tragédies de Paris. Paris: Librarie Sartorius, 1874-1875. 4 v. 83 AMALVI, Christian. Le goût du Moyen Age. Paris: Plon, 1994; DURAND-LEGUERN, Isabelle. Le Moyen Age des romantiques. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2001. 84 AIMARD, Gustave. Les peaux-rouges de Paris, op. cit. p. 289. 80 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 287-307, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 304 Os lugares do crime: topografia criminal e imaginário social em Paris no século XIX Dominique Kalifa ao longo do século XIX. Se outros lugares, como os Estados Unidos, aumentaram sua influência sobre a imaginação criminosa, Paris assegurou seu lugar. Suas margens de delinquentes recuaram ainda mais para aquelas cidades que estão agora nas longínquas periferias, mas seu centro, que não conseguiu se desfazer do topônimo anacrônico de “Halles”, conservou toda sua carga transgressora. E é na conjunção desses dois espaços, ambos cada vez mais americanizados, que reside em larga medida a insegurança contemporânea. No entanto, além da história de Paris, este exemplo também se aplica para aqueles das representações, notadamente as literárias. O material “popular” mobilizado aqui se revela especialmente por meio do confronto de dois princípios de escrita, portadores de duas concepções de mundo, de dois sistemas simbólicos de fato.85 De um lado, a nostalgia chamada por Lukács de a civilização dos bordéis, o conjunto de temas imutáveis que expressam uma espécie de devaneio regressivo ou épico. De outro, a atenção à modernidade, à mudança, ao pensamento historicista que o suporte jornalístico e editorial materializa no cotidiano e que as vicissitudes ou a documentação realista refletem na ordem da narrativa. Constantemente dividida entre topografias opostas, a Paris do crime expõe muito bem esta tensão interna própria do texto popular. Será que isso significa que a literatura popular é de pouca utilidade para o historiador, ansioso em discernir primeiro as transformações sociais? Nada mais falso do que isso, na medida em que esses textos, como qualquer ficção, são úteis também para pensar a experiência, evidenciando as avaliações e os comportamentos. Tanto para o grande público, que pode encontrar ou não a confirmação de suas inquietudes nos textos literários, quanto para a sociedade delinquente à qual fornece referências, modelos ou uma história, as ficções são totalmente constituídas pelos desenvolvimentos sociais. À condição talvez de serem consideradas uma outra fonte, que cruza os conteúdos manifestos com aqueles dos regimes de produção, dos sistemas de restrições, de intenções que lhe são próprios e que modelam profundamente suas representações. 85 Retomo aqui as análises penetrantes de Jean-Claude Vareille. Le roman populaire français, op. cit. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 287-307, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 305 A história social atlântica de Stuart Schwartz Entrevista1 Faz um longo tempo que Stuart Schwartz descobriu o Brasil. Desde os anos 1960, consagrou-se como historiador do período colonial, estudioso da escravidão, da família escrava e da vida nos engenhos, e dos mecanismos do governo colonial como representante dos interesses do império luso. Mas, muito mais do que isso, atuou como articulador dos estudos brasileiros nos Estados Unidos, assumindo a formação de muitos historiadores brasileiros e norte-americanos. Essa múltipla atividade, que realiza hoje desde a Universidade de Yale, fez com que se tornasse uma figura incontornável do debate historiográfico, no Brasil, ao longo de mais de quatro décadas. Stuart Schwartz concedeu a entrevista que se segue aos professores do Programa de Pós-graduação em História Social em junho de 2013. Ela se divide em três blocos. O primeiro deles parte do reconhecimento do grande manejo que Schwartz tem da produção acadêmica e da pesquisa em história do Brasil, consistindo, assim, numa discussão de ordem historiográfica. O segundo bloco é dedicado à polêmica travada, em 2002, com Carmen Bernand e Claude Lévi-Strauss, em torno da publicação da Cambridge history of native peoples of the Americas, coordenada por Stuart Schwartz e Frank Salomon. Se retornamos, pouco mais de dez anos depois, a essa discussão, é por seu caráter revelador de posicionamentos intelectuais e institucionais e pelos efeitos que produziu, cuja repercussão foi bastante curta no Brasil. O terceiro bloco trata de sua agenda de estudos atual, voltada para a confecção de uma história social dos furacões no Caribe, do século XVI ao XIX. Andrea Daher: Stuart Schwartz, você foi considerado um brasilianista, desde os anos 60. No entanto, o sentido do termo parece não ser o mesmo ao longo desses anos. Perguntaria, então, na abertura desta entrevista: o que significa hoje ser brasilianista? Não teria havido, mais do que uma mudança, um esvaziamento do significado do termo? De que modo você vê sua adequação ao qualificativo? Stuart Schwartz: Brasilianista! Eu me lembro muito bem que, quando iniciei meus estudos sobre o Brasil, um número da revista Veja, que apareceu por volta de 1963, estampava na capa: “Grandes figuras do Brasil”. Tiradentes, Rui Barbosa, D. Pedro II apareciam A revisão, a edição final e a apresentação desta entrevista foram feitas por Andrea Daher, professora de história da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 306-324, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 306 A história social atlântica de Stuart Schwartz Andrea Daher com aqueles balões de histórias em quadrinhos, mas suas falas estavam em inglês, como por exemplo, o “Independency or death” de D. Pedro I. E todo o artigo era sobre os brasilianistas e como eles estavam roubando a história do Brasil. Houve um debate naquele momento e alguns historiadores brasileiros se posicionaram de um lado, outros de outro; era um momento interessante. Mas a ideologia “brasilianista” foi um produto da Guerra Fria porque, durante esse período, depois de 1960, era evidente nos Estados Unidos que as relações com a América Latina não estavam muito “de pé”. Então, o governo norte-americano começou a investir na preparação de especialistas que tivessem algum conhecimento da vida, da cultura e da história da América Latina. Havia muitas pessoas que falavam espanhol, mas poucas que falavam português. O estudo do português passou a ser promovido pelo governo norte-americano — tratava-se de um incentivo porque o português era considerado uma língua importante para a posição dos Estados Unidos nas suas relações mundiais. E o resultado foi o surgimento, nas universidades, de um novo interesse pelo Brasil. Entrei na pós-graduação em 1962 com a intenção de estudar o Japão, pois havia, naquele momento, uma preparação, em nível de graduação, em estudos asiáticos. Eu já havia tido a experiência de morar por um tempo no México, falava um pouco de espanhol e havia estudado na Universidade Nacional Autônoma do México. Portanto, me interessava também pela América Latina. Mas quando cheguei ao doutorado, em Columbia, havia vários jovens estudantes interessados no Brasil. Na minha turma estavam Ralph Della Cava, que escreveu um livro sobre o padre Cícero; Joseph Love, que publicou um livro sobre São Paulo; havia também Kenneth Maxwell, Robert Levine e Peter Eisenberg, que veio para o Brasil e foi professor em Campinas. Michael Hall ainda é professor em Campinas. E por que o interesse pelo Brasil? Uma vez Thomas Skidmore disse: “Brasilianistas, somos todos afilhados de Fidel”. Porque foi com a Revolução Cubana que o governo norte-americano se interessou em investir em estudos sobre a América Latina que não existiam antes. É nesse sentido que somos todos “afilhados de Fidel”. Mas, se o governo norte-americano esperava encontrar especialistas para apoiar a sua política na América Latina, o resultado foi exatamente o contrário. As críticas à política do governo que vêm dessa geração não eram aquilo que ele esperava. E também, desde o início, houve problema quanto à definição de “brasilianista”. Peter Eisenberg — que, como disse, é formado nos Estados Unidos e passou toda sua vida como professor no Brasil — é brasilianista? Que tipo de brasilianista é? E os vários professores brasileiros, como Manuela Carneiro da Cunha, que foi para Chicago e passou sua carreira acadêmica lá, como podemos defini-la? Parece-me que há uma troca — algumas pessoas falavam no “rapto dos Sabinos”, porque os brasilianistas chegaram aqui, alguns voltaram aos Estados Unidos e alguns se casaram e ficaram no Brasil. Então, existe uma confusão nesse sentido, pois há muitos historiadores formados nos Estados Unidos que trabalharam no Brasil. Há pessoas como Ana Lugão Rios, brasileira, formada nos Estados Unidos; ou João Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 306-324, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 307 A história social atlântica de Stuart Schwartz Andrea Daher José Reis, outro orientando meu, brasileiro, também formado nos Estados Unidos; John Monteiro é outro bom exemplo. O termo “brasilianista” talvez tivesse, de fato, um sentido diferente nos anos 60, quando os programas de pós-graduação no Brasil ainda não eram muito desenvolvidos. Com eles, mais tarde, foi introduzida uma preparação profissional, outra maneira de pensar e certa liberdade de acesso à documentação, nesse período muito difícil que foi o início da ditadura militar. Eu me lembro de um americano que dirigiu um projeto dentro do Arquivo Nacional, no Brasil. E nós nem pensávamos em aceitar uma posição desta! Deixar um brasileiro de lado para ter um americano dirigindo um projeto dentro do Arquivo Nacional era uma coisa feia! Isso foi um momento. E esse momento passou. É nesse sentido que penso que o termo “brasilianista” hoje não tem o mesmo significado que tinha naquela época. Mas na história do Brasil sempre houve estrangeiros observadores da realidade, desde que os portos se abriram, em 1810. Não se pode pensar na história do Brasil do início do século XIX sem o livro de John Armitage, por exemplo. E quantos mais? Há ainda os franceses. No século XX, houve Pierre Verger. Não se pode pensar a historiografia da Bahia sem Pierre Verger. Braudel esteve no Brasil também. Quanto a Lévi-Strauss, Tristes tropiques foi um livro da minha formação, um livro que me atraiu para o Brasil. Então, acho que se pode falar de dois olhares: o olhar de dentro, do brasileiro; e o olhar de fora, do estrangeiro. Eu lembro muito bem quando era estudante de pós-graduação e li uma história da Inglaterra de meados do século XIX escrita por um francês, uma história muito importante, cujo autor não me lembro. Ele conta na introdução do livro que, através de uma janela da British Library, onde costumava trabalhar, avistou a bandeira inglesa e pensou que qualquer menino, nas ruas de Londres, entendia as coisas melhor do que ele, mesmo depois de tantos anos de estudo. Porque esse menino nascera dentro dessa cultura que ele fazia tanto esforço para compreender, uma cultura que não era a dele. Eu sempre pensei que essa era uma observação muito boa, pois qualquer um de nós, historiadores, que tratamos de estudar uma cultura que não é a nossa, temos o mesmo problema. Como se aproximar para entender essa cultura? Mas o nosso objetivo é sempre o de traduzir aquela cultura para a nossa. Assim, americanos, espanhóis, ingleses têm a possibilidade de conhecer o Brasil e de levar esse conhecimento para a sua própria cultura. Mas eu sempre sonhava também, quando era estudante e fazia minhas primeiras pesquisas aqui, em chegar bastante perto dessa cultura e fazer algo que fosse do interesse dos brasileiros: este foi um sonho meu. Espero que, durante esses quarenta e tantos anos, esse meu sonho tenha se realizado. Monica Grin: Quando você diz que o seu objetivo primeiro era compreender, era estudar o Brasil para comunicar esse Brasil no contexto norte-americano, isso talvez explique o seu interesse muito focado no tema da escravidão. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 306-324, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 308 A história social atlântica de Stuart Schwartz Andrea Daher Stuart Schwartz: Sim. E nesse momento especialmente. Nos anos 60 havia um movimento em prol dos direitos humanos, civis. Então essas questões de racismo, de preconceito racial, estavam diante da minha geração. Nesse sentido, havia muito interesse na escravidão porque, nesse momento também, muitos livros importantes, com análises comparativas, foram publicados. E o Brasil era sempre o grande contraponto dessas análises. Então, por isso foi natural que a minha geração se interessasse tanto pelo tema da escravidão. José Augusto Pádua: Gostaria de perguntar sobre outro aspecto desta mesma questão. Conheço norte-americanos formados como pesquisadores do Brasil que, durante o período da hiperinflação, da crise econômica brasileira, mudaram de tema e foram estudar o México, o Chile, porque se sentiam sem apoio na academia norte-americana, por razões relacionadas à política, à geoeconomia e à geopolítica internacional. Então, a minha pergunta é a seguinte: para você que viveu essa experiência de transpor fronteiras, como é essa relação entre o interesse historiográfico de pesquisa e as questões mais gerais da geoeconomia e da geopolítica que acabam por influenciar essa decisão? Stuart Schwartz: Não sei exatamente como responder, mas acho que é importante vocês entenderem que todos os americanos formados em história do Brasil são parte de um programa de estudos latino-americanos. Para eles, o Brasil é parte da América Latina. Para vocês, o estudo do Brasil é um estudo nacional. Um brasilianista é formado, primeiro, em estudos de América Latina, e o Brasil é a sua especialidade, ou seja, uma parte de sua formação. Eu acho que isso dá uma visão um pouco diferente ao brasilianista. Em relação à outra parte da pergunta sobre a diferença entre a formação acadêmica e a influência da situação política e econômica, isso é mais difícil de saber. Acho que isso depende muito da origem do acadêmico e também das condições de sua universidade na sua formação. Não tenho uma boa resposta para isso, mas é uma boa pergunta. Lise Sedrez: Em 2010, assisti a um evento que celebrava os seus quarenta anos de carreira, no encontro da American Historical Association em San Diego, e algo que me impressionou na época foi a quantidade de pessoas que você orientou. Não é só a quantidade de livros publicados que impressiona, mas também a quantidade de estudantes orientados por você. Ao mesmo tempo, você acompanhou um momento crítico da produção historiográfica brasileira e da transformação do ensino superior no Brasil. Nosso colega José Murilo de Carvalho declarou algumas vezes, em artigos de jornais, que ele acredita que, neste momento de maturidade dos programas de pós-graduação no Brasil, não existe mais muito sentido em enviar estudantes para fazer doutorados em história do Brasil nos Estados Unidos — embora ele sublinhe a importância do intercâmbio e da chamada “bolsa sanduíche”. Nessa perspectiva, como você vê essa mudança no perfil do estudante brasileiro que estuda nos Estados Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 306-324, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 309 A história social atlântica de Stuart Schwartz Andrea Daher Unidos? Para você, ainda tem sentido fazer doutorados completos nos Estados Unidos sobre história do Brasil? Stuart Schwartz: Através dos anos tive vários estudantes brasileiros em nível de mestrado e de doutorado. Mas, nos últimos dez anos, tive muitos orientandos brasileiros com “bolsas sanduíche” (e também de pós-doutorado). Acho isso muito bom, porque eles são formados no Brasil e passam um ano, mais ou menos, nos Estados Unidos, com os nossos recursos de bibliotecas. E é muito bom também para os meus estudantes americanos, para que eles possam ter uma experiência intelectual ao lado de colegas brasileiros (eu sempre aceito esses bolsistas porque também é muito importante para a formação dos meus estudantes de lá). Mas acho que, sim, agora existem programas de pós-graduação de alto nível no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia e em universidades por todo o Brasil. É outro Brasil, outro momento educacional no Brasil. De todo modo, sempre houve pessoas formadas nos Estados Unidos, na França ou na Inglaterra entre nós, o que enriquece os recursos intelectuais do país. Andrea Daher: Para fechar esse bloco, consideremos, por um lado, a sua grande experiência como historiador; e, por outro, o fato de que essa figura do “brasilianista” não é mais operatória na configuração político-disciplinar contemporânea. A partir daí, a pergunta é: como você vê o lugar da sua contribuição para a historiografia brasileira de hoje? Onde ela encontra eco e quais seriam as suas interlocuções mais fortes? Stuart Schwartz: Tenho publicadas três monografias relacionadas à história do Brasil e alguns outros livros. A primeira foi Burocracia e sociedade no Brasil colonial, publicada pela Editora Perspectiva (agora saiu uma nova edição pela Companhia das Letras).2 Este é um livro sobre o Tribunal da Relação da Bahia, o primeiro Tribunal Superior do país. E o título era para mostrar como os desembargadores, representantes do império português naquele momento, quando chegaram ao Brasil, se casaram, tiveram sócios de negócios e serviram, de fato, como agentes dos interesses brasileiros para o império. Esse livro teve um grande impacto, e foi muito citado em outros livros sobre a Relação (Arno Wehling fez um livro sobre a Relação do Rio de Janeiro, utilizando o meu como modelo).3 Mas o interessante é que, nos últimos anos, esse debate entre historiadores do Rio de Janeiro e de São Paulo sobre a natureza do governo como representação dos interesses do império voltou. E eu acho, sem tomar partido na discussão, que ele é uma extensão exatamente do argumento que eu estava tratando de resolver naquele momento, nos anos 60 e início dos 70. Estou muito contente de SCHWARTZ, Stuart B. Burocracia e sociedade no Brasil colonial: o Tribunal Superior da Bahia e seus desembargadores, 1609-1751. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 3 WEHLING, Arno; WEHLING, Maria José. Direito e justiça no Brasil colonial: o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro (1751-1808). Rio de Janeiro: Renovar, 2004. 2 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 306-324, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 310 A história social atlântica de Stuart Schwartz Andrea Daher ver como esta voltou a ser uma pergunta interessante. E, repito, não estou tomando partido no debate, mas acho que é uma questão importante e que é um tipo de espinha dorsal para a história do Brasil: o governo representava ou não os interesses locais? Se tomarmos o livro do jurista Raymundo Faoro, Os donos do poder,4 a questão é exatamente esta. Para Faoro, o governo era sempre algo separado da sociedade. E o meu livro é uma tentativa de mostrar que o governo sempre representa alguns interesses — não todos, mas alguns —, pois não está fora da sociedade, ele é parte dela, é uma arma dentro dela. Bem, esse é o meu primeiro livro. Levei doze anos preparando o segundo livro, Segredos internos.5 Era uma tentativa de pensar a zona açucareira e a sociedade açucareira e, com isso, de retomar Gilberto Freyre sem Gilberto Freyre. E comecei com a ideia de contestá-lo. Mas essa foi uma ideia de juventude que deixei de lado, porque Freyre entende a cultura brasileira muito melhor do que Stuart Schwartz. Eu me concentrei, então, na documentação. Como era montar um engenho? Como era viver, morar, nesse mundo dos engenhos, para os escravos e para os senhores, mas também para os artesãos, os homens livres e os lavradores de cana? Ou seja, para todos aqueles que existiam naquela sociedade, mas que não aparecem em Gilberto Freyre, porque Casa-grande & senzala6 é um livro sobre senhores e escravos, e o resto da sociedade desaparece. Publiquei também uma série de artigos em torno desse livro. Alguns apareceram em Escravos, roceiros e rebeldes,7 que é uma coletânea de ensaios e de artigos que vão nesse sentido. Também fiz muitos estudos sobre a escravidão, sobre a família escrava, sobre compadrio etc. Acho que meu estudo sobre compadrio é o primeiro estudo histórico feito no Brasil sobre esse tema. Agora existem muitos, sobre outras regiões, mas naquele momento havia sido o primeiro. Fiz estudos sobre alforria, utilizando as cartas de alforria. Esse foi um projeto que montei com Kátia de Queiroz Mattoso e com um jovem americano chamado Arnold Kessler que nunca acabou seu doutorado, mas trabalhou na Bahia e fez parte do nosso projeto. Cada um de nós trabalhava com uma cronologia específica: Kátia ficou responsável pelo estudo do século XIX, eu pelos séculos XVII e XVIII, e Kessler de 1850 até o fim da escravidão. Ele não terminou o trabalho, mas Kátia e eu publicamos nossas partes. Esses foram alguns dos primeiros estudos utilizando cartas de alforria de uma forma quantitativa. Sempre penso que esta foi uma boa contribuição. Também foi uma boa contribuição a publicação que fiz de um tratado de paz que escravos fugidos estabeleceram para voltar a serem escravos. Um grupo de escravos fugidos do Engenho de Santana, em Ilhéus, onde a vida deles era muito difícil, preparou esse tratado que continha as condições a partir das quais eles voltariam a ser escravos. Uma coisa impenFAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 3. ed. São Paulo: Globo, 2001 [1958]. 5 SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial 1550-1835. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. 6 FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala. Rio de Janeiro: Record, 2000 [1933]. 7 SCHWARTZ, Stuart B. Escravos, roceiros e rebeldes. Bauru: Edusc, 2001. 4 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 306-324, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 311 A história social atlântica de Stuart Schwartz Andrea Daher sável! Eu descobri esse documento quando estava pesquisando sobre o açúcar, no Arquivo Público da Bahia, numa miscelânea chamada “Cartas ao Governo”. Nela, havia uma carta do juiz da Penitenciária da Bahia ao desembargador ouvidor dizendo que eles tinham um preso há doze anos que queria ter o seu processo finalizado, e como apêndice à carta estava o tratado. Lembro-me que, ao ler este documento, me levantei e comecei a sambar em volta da mesa. Eu estava tão emocionado! Nesse momento, uma arquivista, que vinha da região de Santo Amaro, a região do açúcar, me perguntou: “O que você encontrou?”. Então, mostrei o documento; ela o leu e começou a chorar. Ela entendia muito bem o que aquilo significava. Então, publiquei esse documento e levei uma semana para fazer um pequeno artigo sobre ele, que foi lido por muitos. Jacob Gorender escreveu todo um livro contra o artigo. E eu logo pensei que havia demorado dez anos preparando o livro sobre burocracia e sociedade, e que talvez cinco pessoas o tivessem lido, enquanto o documento, que me levou apenas uma semana de preparação, me deixou famoso. Eu era “o homem do documento”! Bem, depois disso passei para o estudo da tolerância religiosa. Esse foi um estudo mais amplo, a partir da minha formação sobre a América espanhola e sobre a Espanha. E foi com a ajuda de Fernando Bouza que terminei esse livro, que também tem um capítulo específico sobre o Brasil (uma parte do livro, sobre o século XVIII, também trata do Brasil, mas o livro é principalmente sobre o mundo ibérico).8 Depois passei para o meu novo estudo sobre os furacões que é uma história ambiental, social e política. Num certo sentido, com esse novo estudo não deixo de lado os meus antigos interesses porque sempre fui um historiador da história social — esta é a minha própria definição. Mas talvez agora eu dê mais atenção à cultura, enquanto nos anos 70 e 80 eu estava mais envolvido com a economia e com os métodos da história econômica. Sou muito eclético em termos de metodologia. Acho que a metodologia depende da pergunta que se está fazendo: para um determinado tipo de pergunta você precisa do método quantitativo, para outras questões você precisa de outros métodos. Eu não sou “cativo” da metodologia, estou buscando os métodos que mais me facilitem responder as perguntas que me interessam. Andrea Daher: No segundo bloco desta entrevista, passamos para a polêmica travada, no final de 2002 e começo de 2003 — pouco conhecida no Brasil —, em torno da publicação da Cambridge history of native peoples of the Americas,9 dirigida então por você e por Frank Salomon. A publicação causou uma reação muito forte na França, onde um volume da revista Annales foi dedicado a resenhas críticas de historiadores, como Luís Felipe de SCHWARTZ, Stuart. B. Cada um na sua lei: tolerância religiosa e salvação no mundo atlântico ibérico. São Paulo; Bauru: Companhia das Letras; Edusc, 2009. 9 SALOMON, Frank; SCHWARTZ, Stuart B. (Org.). The Cambridge history of the native peoples of the Americas III: South America, Parts 1 & 2. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 8 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 306-324, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 312 A história social atlântica de Stuart Schwartz Andrea Daher Alencastro,10 e antropólogos, como Carmen Bernand.11 Paralelamente, na revista L’Homme, Claude Lévi-Strauss também publicou uma resenha particularmente severa quanto ao direcionamento que foi dado a essa obra coletiva.12 Então, você e Salomon se posicionaram conjuntamente em relação a essas críticas, em particular à de Carmen Bernand que identifica na obra quatro sintomas de uma espécie de “vírus pós-moderno”. Segundo ela, “hostilidade à assimilação, celebração da cultura da diferença, inflação da alteridade e radicalização dos conflitos” seriam as características das contribuições do volume. A resposta, sua e de Salomon, desde o título “Um americano (imaginário) em Paris”,13 sugere que esse americano pós-moderno fosse uma construção francesa, uma alteridade americana ultrarrelativista, multiculturalista, totalmente radicalizada. Por sua vez, na crítica de Lévi-Strauss, a acusação segue no sentido de um revisionismo. E a sua resposta aponta a total estranheza de uma acusação como tal dirigida a autores cujos nomes são Schwartz e Salomon. Mas trata-se, sobretudo, para Lévi-Strauss, de um revisionismo do caráter violento da colonização, de uma espécie de sobrevalorização da nova história indígena em detrimento do caráter propriamente genocida e violento da Conquista. Que consequências podem ser tiradas deste debate, travado num momento pós-estruturalista da antropologia? Quais são as consequências heurísticas para a história e a antropologia dos povos indígenas, passados agora dez anos? Stuart Schwartz: As consequências são difíceis de saber. Todo esse debate e a dificuldade de negociar a nossa resposta com a revista Annales nos custaram muito tempo e muito trabalho. E algumas das acusações feitas nas resenhas eram muito difíceis de entendermos. Por um tempo, carreguei comigo um exemplar da resenha que Carmen Bernand escreveu nos chamando de “pós-modernos”. E eu andava com isso para mostrar aos meus estudantes, porque para eles eu estava muito longe de ser um pós-moderno. Achei uma coisa muito estranha. Penso que, no fundo, houve na França, exatamente nesses anos, no início do século XXI, uma crise nas ciências humanas, especialmente na antropologia, que se pode chamar de pós-estruturalismo. Porque a academia francesa era muito influenciada pelo estruturalismo, especialmente a antropologia, por Lévi-Strauss. E quando aquela interpretação estruturalista perdeu território, a academia francesa não tinha uma ideia clara de para onde iria. O mesmo podemos dizer sobre a revista Annales que durante um período tinha uma linha e que agora tem várias linhas. Um amigo francês antropólogo me disse, na época, que o proALENCASTRO, Luiz Felipe de. L’histoire des amérindiens au Brésil. Annales HSS, v. 57, n. 5, p. 13231335, 2002. 11 BERNAND, Carmen. L’américanisme à l’heure du multiculturalisme. Projets, limites, perspectives. Annales HSS, v. 57, n. 5, p. 1293-1310, 2002. 12 LÉVI-STRAUSS, Claude. SALOMON, Frank; SCHWARTZ, Stuart B., eds., The Cambridge history of the native peoples of the Americas. L’Homme, p. 158-159, avr./sept. 2001. 13 SALOMON, Frank; SCHWARTZ, Stuart B. Un américain (imaginaire) à Paris. Réponse à Carmen Bernand. Annales HSS, n. 2, p. 499-512, mars/avr. 2003. 10 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 306-324, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 313 A história social atlântica de Stuart Schwartz Andrea Daher blema era, de fato, que a antropologia francesa não sabia para onde ia, mas que os franceses estavam seguros de que os americanos não chegariam lá primeiro. Quanto à reação dos antropólogos franceses ao nosso volume, acho que houve um pouco de nacionalismo. Temos que situar isso num contexto maior, porque no mesmo número da revista Annales no qual apareceu a resenha de Carmen Bernand apareceram também outras resenhas, como a de Serge Gruzinski, sobre outros volumes da Cambridge history. Todas elas muito críticas! E todas a partir de uma mesma perspectiva, o que indicava que o problema não era simplesmente o nosso volume, mas uma concepção da vida intelectual norte-americana vista pelos franceses. E por isso o título da nossa resposta é “Um americano (imaginário) em Paris”, baseado no título daquele filme famoso com Gene Kelly, Um americano em Paris. Bem, primeiro, em relação à crítica de Lévi-Strauss, perguntamos: é possível fazer uma história dos índios que não comece em 1492? E mesmo, a partir de 1492, o índio só tem história em confronto com o europeu? Acho que Lévi-Strauss queria que editássemos um volume chamado “A triste Cambridge history dos povos indígenas das Américas”. Porque para ele trata-se disso! Ele não considera, por exemplo, que na Bolívia, agora, há um presidente de origem indígena e movimentos políticos indígenas. No Chile e na Guatemala também. Então, o nosso objetivo era fazer do índio um agente de sua própria história. Isso não nega a existência da violência da Conquista ou do genocídio nas conquistas; não nega a escravidão; não nega o fracasso da integração dos índios dentro das repúblicas nacionais no século XIX. Não nega nada disso! Trata-se simplesmente de dizer que alguns índios também eram agentes da história, porque se não fizermos isso, não é possível explicar como os índios, em vários pontos da América, chegaram a ser caciques ou chegaram a exercer determinada influência. Como responderíamos a questões como a da rebelião de Tupac Amaru? Então, o nosso objetivo era fazer do índio um ator de sua própria história. Para Lévi-Strauss, desde seu curto período de estudo de campo no Brasil, qualquer integração de culturas era uma perda. A cultura que importa era a cultura original e qualquer mudança dessa cultura original é uma perda, é triste. E Tristes trópicos é um exemplo disso. A crítica de Carmen Bernand também dizia que a historiografia francesa não era citada o suficiente. Mas me parece que ela não entendeu que a Cambridge history não tem notas de rodapé e, sim, ensaios bibliográficos. E cada capítulo tem um ensaio bibliográfico (acho que ela não leu os ensaios bibliográficos quando fez a resenha). E quando tratamos de demonstrar isso na nossa resposta à resenha, não nos deixaram publicar esse parágrafo. Lembro que Nathan Wachtel é citado quinze vezes, e Lévi-Strauss dezenove vezes. Isso confirma que ela não tinha lido os ensaios bibliográficos. Seria estranho, por exemplo, fazer uma classificação da origem dos autores que usamos: tantos suíços, tantos canadenses, tantos americanos, como se essa fosse uma chave para entender a escrita. Mas, na base de tudo, é verdade que há uma diferença no modo de se pensar uma nova sociedade de múltiplas culturas, nos Estados Unidos e na França. Penso naquela lei que proíbe o uso do véu islâmico na França, Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 306-324, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 314 A história social atlântica de Stuart Schwartz Andrea Daher por exemplo, que não existe nos Estados Unidos. Essa é a linha francesa, uma linha de integração dentro da república. É uma maneira de se pensar sobre isso. Nos Estados Unidos há pessoas que pensam assim, mas isso não se tornou lei federal, o que demonstra que há uma diferença. Acho que Lévi-Strauss e Bernand estavam projetando sobre os nossos autores esta ideia da cultura americana e sua maneira de integrar outras culturas. Alguns deles eram franceses — foram, inclusive, os únicos que receberam bons comentários nas resenhas. Os únicos! Alguns eram latino-americanos, do Peru e do Brasil, como Manuela Carneiro da Cunha. Então, acho que houve uma reação nacionalista, mas isso gerou um questionamento muito importante em torno de como nós, historiadores, podemos fazer uma história dos vencidos de modo que eles tenham um papel em sua própria história. Não se pode dizer, nesse sentido, que o índio não era um agente da história. Houve períodos de assimilação, períodos de resistência, mas o índio faz parte de sua própria história. A mesma coisa seria dizer que o Holocausto não aconteceu na Europa. Andrea Daher: A obra de Nathan Wachtel é um exemplo de trabalho que reúne, metodologicamente, postura antropológica e procedimento historiográfico, como exemplo irrecusável de uma história indígena nesses moldes. Stuart Schwartz: Sim. Wachtel se sentiu muito incomodado com o nosso debate. Ele achou que era excessiva a crítica e que alguns dos pontos não estavam corretos. Mas o pior não foi a crítica, foi que a revista Annales não queria deixar que fizéssemos a resposta como queríamos e, ao final, eles publicaram a nossa resposta depois de muita negociação. Publicaram nossa resposta com uma página de abertura, ou seja, uma intervenção editorial defendendo as resenhas diante das respostas dos autores. Isso não é comum entre as revistas acadêmicas de história. Monica Grin: O seu livro sobre tolerância também foi objeto de críticas dessa natureza por reforçar, de alguma maneira, uma ideia multiculturalista em relação aos grupos estudados. Stuart Schwartz: Não sei. Mas eu sei que o livro nunca teve uma resenha publicada pela revista Annales (teve outras resenhas e ganhou vários prêmios). Isso me surpreendeu porque tenho vários amigos na École des hautes études en sciences sociales, e mandei vários exemplares do livro, mas nunca chegaram a fazer uma resenha. Meus amigos gostaram: Nathan Wachtel gostou muito e Jean-Frédéric Schaub também (um amigo de muitos anos, que publicou um livro dedicado a mim). Já fui professor visitante na École e não tenho problema nenhum com a academia francesa. Mas o interessante é que este livro nunca recebeu uma resenha que tivesse sido publicada na revista Annales. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 306-324, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 315 A história social atlântica de Stuart Schwartz Andrea Daher Andrea Daher: Passemos para o terceiro bloco de perguntas sobre a sua agenda futura de pesquisas, voltada para a história dos desastres naturais, o caso dos furacões no Caribe. Qual é o sentido de um projeto como este, pensado como uma história social, de longa duração, que do ponto de vista teórico deve enfrentar as questões hoje colocadas, particularmente por vertentes da história ambiental e da antropologia? Stuart Schwartz: Este estudo começou realmente quando eu estava trabalhando sobre o açúcar na Bahia. Nesse período, eu estava lendo muita coisa sobre escravidão, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos e no Caribe. E com essa leitura, me familiarizei com a historiografia do Caribe. E o Caribe tem o que podemos chamar de metanarrativa da escravidão, das plantations, das grandes propriedades, de guerras imperiais — essa região era o centro das guerras entre franceses, holandeses, espanhóis, ingleses etc. Mais tarde, no século XIX, as narrativas se voltaram para a imigração, depois da queda da economia do Caribe. Há mais porto-riquenhos que moram em Nova York do que em Porto Rico. Então, eu queria fazer alguma coisa sobre o Caribe, mas não mais um livro sobre escravidão (depois de quinze anos trabalhando sobre isso). Penso que já disse o que tinha de dizer sobre esse assunto. Então, no verão, eu estava relendo O Mediterrâneo, de Braudel14 — o que sempre me dá um certo prazer —, e notei que, para ele, um fator muito importante era justamente o clima, o ambiente: como as montanhas influenciavam a vida, o mar, as ilhas? Como tudo isso influencia a vida e como isso forjou a cultura do mediterrâneo e os hábitos em relação ao vinho, ao pão, ao cultivo da azeitona etc.? Então, pensei: e o Caribe? O Caribe é um “tipo de Mediterrâneo”, pois é um mundo marcado por sua posição geográfica. E uma característica do Caribe é justamente o furacão. Eu comecei a pensar num mundo atlântico — que, afinal, é o que me interessa —, num mundo centrado em Barbados. Imaginemos um mapa em que o centro não é Jerusalém e, sim, Barbados. Entre 4 e 5 mil quilômetros a oeste está Dakar, na costa da África. A 4 mil e poucos quilômetros a oeste está a Cidade do México. Quatro mil quilômetros ao norte, Washington e a baía do Chesapeake, que era o centro da zona escravista e de fumo nos séculos passados. Mais ou menos a 4 mil quilômetros ao sul, está a baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Mas se colocarmos o compasso em Barbados, no mapa, e fizermos esse circuito, teremos o Atlântico, que, como disse, é o que me interessa. O furacão é um fenômeno exatamente dessa zona, da linha do Equador para o norte. Comecei então a pensar numa história ambiental sobre os furacões. Descobri que o furacão é um fenômeno limitado no calendário anual, ou seja, só acontece entre os meses de junho a novembro, quando as águas do Atlântico são mais quentes e produzem as condições para gerá-los. O primeiro aspecto que me interessou foi que, quando os europeus chegaram, BRAUDEL, Fernand. O Mediterrâneo e o mundo mediterrânico na época de Filipe II. São Paulo: Livraria Martins Fontes, 1984. 2 v. 14 Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 306-324, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 316 A história social atlântica de Stuart Schwartz Andrea Daher encontraram um fenômeno natural que não existia na Europa e não era conhecido. E a primeira coisa que os europeus do século XVI queriam, quando encontravam um fenômeno da natureza, era buscar uma explicação para ele. Dessa forma, recorreram imediatamente às obras clássicas de Ptolomeu, de Aristóteles. Assim, os espanhóis tiveram que observar um fenômeno para o qual não havia explicação nem na Bíblia, nem nas obras clássicas. E alguns marinheiros, visitantes e cronistas começaram a acumular informações sobre isso e falar com os índios para ver o que sabiam sobre esse fenômeno. Já no século XVI houve um início de entendimento desse fenômeno como natural, e não como fenômeno unicamente divino. Porque sempre os padres diziam que os furacões eram uma resposta dos céus originada pelos pecados humanos na Terra. Mas, naquele momento, havia também espanhóis laicos que estudavam e se questionavam: “Se Deus envia um castigo através do furacão, por que ele vem somente em junho? Se a explicação são os nossos pecados, por que o furacão passou sobre nossa ilha e depois sobre outras? Os pecados são iguais?”. Portanto, havia dúvidas sobre a origem divina do fenômeno. Depois, no século XVII, chegaram à região os ingleses e os franceses que leram os textos dos espanhóis e falaram com os índios. Os africanos também tinham um entendimento dos desastres, das enchentes, e construíram, junto com os outros, um conhecimento que podemos chamar de criollo. E cada ilha tem uma variação desse conhecimento criollo. Em Porto Rico, por exemplo, se havia uma boa colheita de abacate, era um sinal de que seria uma temporada dura de furacões. No século XVIII, com o iluminismo, as coisas curiosas foram mudando. No mundo espanhol, no Peru e no Chile, depois dos terremotos ainda se produzia uma literatura, constituída de sermões e de outros gêneros, voltada para os castigos divinos. Isso não acontecia no caso dos vulcões. Havia uma diferença, portanto, na forma em que vulcões e terremotos eram vistos pelas sociedades. Talvez esse fosse o início da necessidade de uma observação mais científica, no século XVIII, com maior interesse nos fenômenos da natureza que tinham uma origem na astrologia e na astronomia (mais baseados na observação). No início do século XVIII foram criados instrumentos, como o barômetro e o termômetro, e observações foram feitas em meados do século, tais como o estabelecimento de medições pluviométricas ou da força do vento. Isso tudo parte do movimento iluminista e do liberalismo: no Caribe, aqueles que se interessavam por isso eram os que mais apoiavam a escravidão. Todos os grandes cronistas do Caribe, os grandes historiadores da Jamaica, por exemplo — a Jamaica tem excelentes historiadores no século XVIII —, são defensores da escravidão. Um pouco como o bispo do Brasil, Azeredo Coutinho, que era um exemplo do iluminismo português e um grande defensor do comércio de escravos. Mais tarde, no Caribe de meados do século XIX, era muito difícil também separar esse tipo de percepção da natureza das ideias de racismo científico. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 306-324, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 317 A história social atlântica de Stuart Schwartz Andrea Daher A história geral dos desastres naturais é muito interessante. Então, se nos séculos XVI e XVII é o pecado do homem que causa o desastre natural, que provoca Deus a dar uma lição, em meados do século XVIII e, especialmente no XIX, surge um entendimento das leis da natureza, no sentido de que é possível que Deus tenha sido responsável pela criação do mundo, mas as leis da natureza possuem suas próprias regras. E, ao chegarmos ao final do século XX e no século XXI, com a ideia de meio ambiente e de que a ação do homem está destruindo a natureza, a culpa é colocada, mais uma vez, no homem. Ao longo de quinhentos anos de história dos desastres naturais, partimos da responsabilidade humana, pelo pecado, para a responsabilidade da natureza e, agora, de novo, os homens assumem a responsabilidade. Acho que a história do ambiente sempre tem, por detrás, uma história do entendimento humano e uma história da ciência que faz parte das mentalidades. O meu projeto está mais concentrado em entender como as sociedades e os governos reagiram diante dos desastres naturais, porque nos séculos XVI e XVII eles não eram responsabilidade do governo. Talvez fossem responsabilidade da Igreja, da sociedade, mas o governo pouco se responsabilizou. Isso só se deu no século XVIII, ao mesmo tempo na França e na Inglaterra e, mais tarde, na Holanda. Os espanhóis assumiram essa responsabilidade mais cedo, no século XVI, mas por outras razões. Então, é um projeto de estudo sobre quinhentos anos de história que trata de entender a relação entre desastres naturais, políticas de governo, responsabilidade e contexto social. Lise Sedrez: Parece-me que, no seu trabalho, o papel das sociedades e dos governos tem grande importância, e que o conceito de “império”, em especial, é central para este projeto. Ou seja, vemos franceses e ingleses compartilhando este mesmo espaço que é o Grande Caribe. Mas, embora os furacões sejam importantes nesta região, há também terremotos, enchentes, tsunamis, um pouco de tudo. Ao mesmo tempo, na pesquisa que desenvolvemos sobre enchentes, estamos chegando à conclusão de que esses grandes modelos de nação ou de império não dão conta completamente do objeto porque “places matter”, como dizia John Opie. Ou seja, os lugares específicos importam e fazem diferença em história ambiental, e os grupos sociais dentro daquelas sociedades “fazem diferença”, ou seja, também experimentam de forma diferente o desastre. Eu sei que você não quer escrever outro texto sobre escravidão, mas como você vai trabalhar com a forma como estes diferentes grupos sociais vivem os desastres? Por exemplo, como os escravos vivem o desastre? E como é a experiência de outros grupos, como os senhores de escravos, os governantes, os comerciantes? Eu imagino que você encontre talvez mais semelhanças entre as experiências dos escravos nas áreas francesas e nas áreas portuguesas do que entre escravos e senhores numa mesma área. Stuart Schwartz: É verdade. O primeiro ponto sobre as diferenças geográficas é importante. No Caribe temos realmente dois tipos de ilhas. Nas ilhas planas, de formação Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 306-324, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 318 A história social atlântica de Stuart Schwartz Andrea Daher geológica sem vulcões, os efeitos dos furacões são diferentes das que têm montanhas. Mas há diferenças também na maneira como a sociedade podia responder esses fenômenos. Nas ilhas montanhosas houve sempre áreas não ocupadas por produção de produtos de exportação. Nestas, os escravos depois da escravidão saíram dos engenhos ou das fazendas e foram constituir um tipo de campesinato. A Jamaica é um exemplo, ou ainda o Haiti. Mas, em ilhas como Barbados, onde isso não existe, os ex-escravos tinham que ficar como trabalhadores nas grandes propriedades porque não havia alternativa senão imigrar para outra ilha. Eram estas as diferenças geológicas que faziam a diferença. Mas você tem razão, os escravos têm mais coisas em comum entre si, quando são de ilhas diferentes, do que os senhores e seus próprios escravos. E o livro trata muito de fazer essa diferenciação entre camadas da população: escravos, senhores e pessoas livres que não eram senhores. Mas é preciso levar em conta que, nas ilhas do Caribe, o percentual de escravos era muito mais alto do que no Brasil. Em muitas das ilhas, no final do século XVIII, a população de escravos era de 85%. Mesmo nas zonas açucareiras do Brasil não havia uma população tão concentrada de escravos. Nesse sentido, o Caribe não tinha a mesma gama de atores no processo histórico. O furacão tem consequências particulares. Como se sabe, todos os impérios tinham leis de exclusivos, que determinavam que a colônia só podia comercializar com a metrópole. Mas depois de passar um furacão, se as pessoas não tivessem o que comer, o governador de uma ilha francesa, por exemplo, iria para a ilha mais próxima, qualquer que fosse sua nacionalidade, negociar comida. O Caribe é uma zona clássica de contrabando e o furacão intensifica, portanto, esse processo. Intensifica o contrabando não só entre os habitantes, mas entre os governos. O governador espanhol sabia que era proibido comercializar com uma ilha francesa, mesmo assim ele podia mandar um barco com uma carta ao governador francês (ao superintendente de Martinica, por exemplo), dizendo que precisava de tantas arrobas de milho. Havia, assim, reações políticas a esses fenômenos naturais que temos que levar em conta. Também o furacão criava um sentido de comunidade em relação aos desastres. Às vezes, isso se dava entre a população daquele espaço, mas também entre inimigos nacionais, mas que, confrontados com a mesma força da natureza, se sentiam como numa mesma comunidade. Tenho uma bela carta de um governador de Terra Nova, Canadá, dirigida ao governador espanhol de Porto Rico, que já era seu conhecido. Com a chegada de um novo furacão, essa carta de simpatia foi enviada com dinheiro para ser distribuído para a população pobre da ilha, em finais do século XVIII. Também há o caso de um governador de Martinica que, depois de uma armada inglesa ser destruída por um furacão nas águas da ilha, ele recupera as vítimas e, ao invés de torná-las prisioneiros de guerra, ele as devolve ao governador inglês dizendo que “diante da natureza todos somos irmãos”. E isso se deu durante a guerra. Pelo visto, é interessante notar como o desastre natural tem esse tipo de influência política e social. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 28, p. 306-324, jan./jun. 2014 | www.revistatopoi.org 319 A história social atlântica de Stuart Schwartz Andrea Daher José Augusto Pádua: Em primeiro lugar, acho interessante registrar que temos no nosso instituto um laboratório de história ambiental. E a história ambiental que vem se desenvolvendo no Brasil das últimas décadas teve uma presença forte de Warren Dean. Stuart Schwartz: Outro brasilianista! José Augusto Pádua: Sim. Você fez o prefácio do livro dele sobre a Mata Atlântica.15 Acho interessante ver que você trabalha agora com os furacões e tem esse diálogo. A pergunta que eu quero fazer é mais teórica. Como trabalhar essas questões de uma forma menos dualista? Há um dualismo na ideia da natureza que gera um impacto, um desastre, e na internalização desses fatos na vida econômica, social e cultural de uma sociedade. Acho que o que é interessante não é o furacão, quando acontece, mas como a sua regularidade ou a sua presença constante afeta a agricultura, a economia, a política, o imaginário. Stuart Schwartz: Na historiografia do Caribe, francesa e inglesa, no século XVIII, há sempre a observação de um fatalismo. Um historiador francês, que conhecia bem a Martinica, escreve que a ideia é fazer riqueza e gastá-la rapidamente porque existe um fatalismo, porque se sabe que, num instante, tudo pode acabar. Ou seja, tudo pode ser tomado pelo furacão. E eu pensei, como filho da história econômica, em medir o efeito, em longo prazo, dos furacões na economia do Caribe. Mas o problema é o seguinte: chegando ao final do século XVIII, os grandes senhores de escravos perceberam que o furacão era uma maneira de renovar a terra, que ele tinha efeitos positivos e, mesmo que a safra de um ou dois anos fosse perdida, em longo prazo era possível que as safras pudessem melhorar. Então, era muito difícil medir os efeitos negativos do furacão porque, em longo termo, o resultado poderia ser benéfico para a agricultura. E tudo isso entrou na mentalidade do Caribe. Outro aspecto que sempre me preocupa — acho que também preocupa vocês que estão trabalhando com meio ambiente — é que é muito difícil evitar o erro clássico do determinismo geográfico, do determinismo ambiental, de considerar que, se uma zona tem terremoto, se tem determinado tipo de clima, tudo acontece de uma mesma maneira. Acho que todos nós que estamos tratando com o ambiente temos o desafio, sempre presente, de evitar esse tipo de determinismo. Quando eu era estudante meu pai me comprou
Baixar