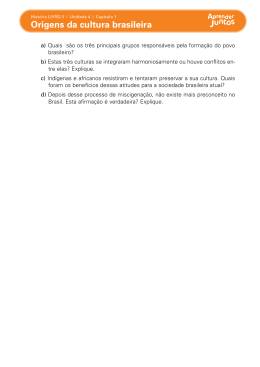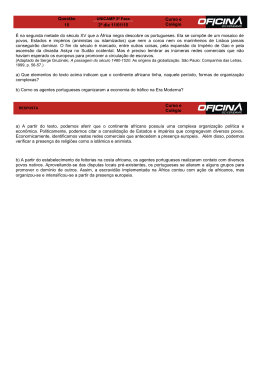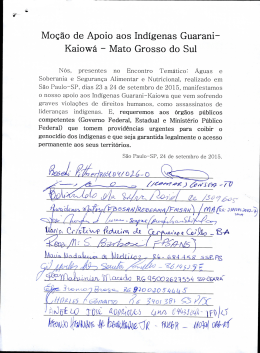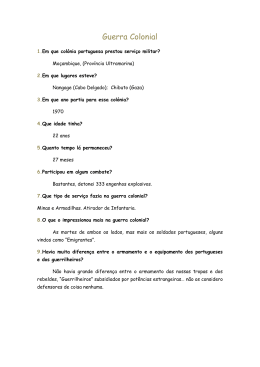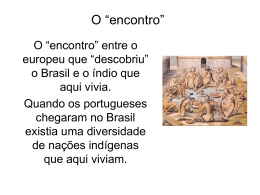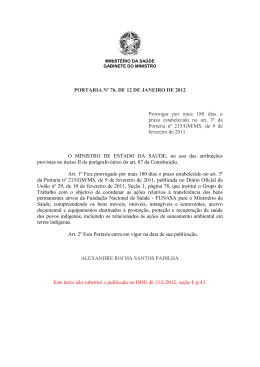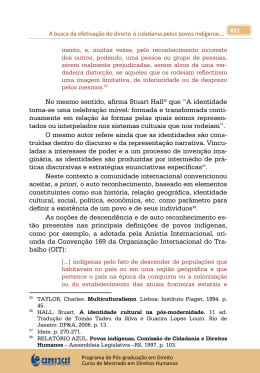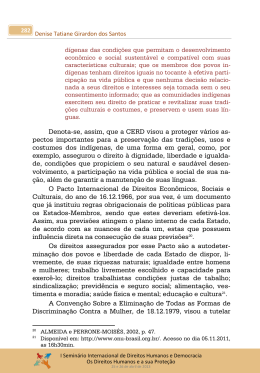Povos indígenas no período holandês: anotações de uma pesquisa Regina Célia GONÇALVES Universidade Federal da Paraíba-Brasil [email protected]/[email protected] Durante todo o mês de outubro de 1645, em plena guerra luso-holandesa, um intenso movimento foi observado entre as tropas Potiguara. Mensageiros iam e voltavam dos acampamentos militares, situados em Pernambuco e Paraíba, portando cartas em que os principais comandantes se esforçavam por convencer os seus oponentes à rendição. De um lado, o Capitão Antonio Felipe Camarão e o Sargento-Mor Diogo Pinheiro Camarão, aliados das forças portuguesas que lutavam pela restauração. De outro lado, o Regedor e Comandante do Regimento de Índios na Paraíba, Pedro Poty e o Regedor de Índios do Rio Grande, Antonio Paraupaba, aliados da Companhia das Índias Ocidentais. Pela primeira vez, desde que suas terras ancestrais haviam sido conquistadas pelos portugueses, os Potiguara se encontravam divididos, em campos opostos na guerra. Este episódio, como muitos outros, revela as relações entre a sociedade colonial e os diversos povos indígenas que habitavam a América antes da conquista européia, e coloca, para os historiadores, o desafio de superar, por um lado, o enfoque tradicional que difundiu o mito da submissão passiva dos nativos aos interesses coloniais, e, de outro, a leitura de uma certa história dos vencidos, que os encarava como vítimas indefesas da ação colonizadora. Os estudos mais recentes, frutos dos contatos entre a história e antropologia, procuram destacar como os povos indígenas foram capazes de se transformarem e de rearticularem seus valores e suas culturas no contato com a sociedade colonial na medida em que esta foi se gestando ao longo dos séculos1. Os povos indígenas deixam, nesta perspectiva, de serem considerados massa de manobra, para, ao contrário, serem vistos como grupos que buscavam obter alguma vantagem diante do caos. No dizer de Almeida (2003), eles, os povos indígenas, se metamorfosearam. Por outro lado, em que pese a capacidade desses povos se transformarem e rearticularem seus valores e suas culturas no contato com a sociedade colonial, não podemos perder de vista que essa foi e continua sendo uma história de luta e de sangue. Um caos 1 Cf., entre outras, as obras de John M. Monteiro (2000), Ricardo Pinto de Medeiros (2000), Maria Regina C. de Almeida (2003) e Cristina Pompa (2003). Congresso Internacional Pequena Nobreza nos Impérios Ibéricos de Antigo Regime | Lisboa 18 a 21 de Maio de 2011 1 Regina Célia GONÇALVES marcado pela violência e pela destruição. Em crônica escrita entre 1646-1648, durante o período da guerra luso-holandesa, Pierre Moreau (1979), ao contrário dos cronistas portugueses que, em sua maioria, desde o primeiro século, diziam ser o Brasil um paraíso terrestre2, tinha, como escreveu José Honório Rodrigues em nota introdutória à obra, “uma visão pessimista e torturada”. Escreve Moreau: Esta rica parte da América, em vez de gozar tranqüilidade, parece estar destinada apenas à carnificina e à crueldade, que sempre viu executadas pelos descendentes dos naturais e dos que a nossa Europa aí conduziu, os quais, dir-se-ia, só foram atraídos ao seu seio para regá-la com o seu sangue. (1979, p.17-18). Seguindo a formulação de Gruzinski (2003), compreendemos que a empresa colonial foi, mais do que um processo de aculturação, um processo de “ocidentalização” do mundo e das populações nativas. No entanto, foi, ao mesmo tempo, atravessado por múltiplos interesses e objetivos, por vezes contraditórios, “que representavam um obstáculo considerável para os projetos de integração à sociedade colonial” (2003, p.409). Portanto, no seio de uma sociedade em conflito que, embora transitoriamente, comportasse acomodações, se construíram as possibilidades de transformação e rearticulação das populações indígenas. O conflito, aliás, era também um problema que marcava a própria inserção dos colonos e colonizadores na sociedade em construção. No caso da conquista, iniciada em 1585, do que viria a ser a Capitania Real da Paraíba, por exemplo, no que se refere à camada dominante local, que açambarcou os principais cargos da estrutura administrativa e as melhores terras – leia-se, as mais adequadas à produção açucareira -, havia pontos de atritos e de disputas que podem ser identificados por evidências, mesmo que indiretas, que aparecem na documentação. Disputas essas que estavam na própria origem da ocupação, feita na época da União Ibérica, e que se traduziu em vários episódios envolvendo comandantes e comandados de forças lusas e espanholas pelo controle dos postos e posições militares, ou entre as autoridades locais vinculadas aos donatários de Itamaracá e Pernambuco e as autoridades centrais provenientes da Bahia. Disputas que estenderam por todo o período do povoamento e do estabelecimento da colonização, a exemplo daquelas que envolveram a obtenção de mercês, como a posse de terras e a nomeação para os cargos na estrutura burocrática da nova capitania e que aparecem, com freqüência, nos requerimentos à Coroa feitos por membros de diferentes grupos familiares; as disputas entre capitães-mores e religiosos pelo controle da força-de-trabalho indígena; aquelas entre as diferentes ordens religiosas pelo mesmo motivo; 2 Diga-se, de passagem que, mesmo entre os cronistas “holandeses”, houve aqueles que descreveram a terra usando as mesmas categorias, é esse, por exemplo, o caso de Elias Herckmans, em sua Descrição Geral da Capitania da Paraíba, escrita em 1639. 2 Congresso Internacional Pequena Nobreza nos Impérios Ibéricos de Antigo Regime | Lisboa 18 a 21 de Maio de 2011 Povos indígenas no período holandês: anotações de uma pesquisa as que ocorreram entre governadores e capitães-mores e o governo-geral do Estado do Brasil e, finalmente, conflitos entre grandes proprietários e senhores contra as autoridades em geral (GONÇALVES, 2007). Assim, este quadro de conflitos no seio das camadas dominantes, ao mesmo tempo permitiu que as populações indígenas “respirassem”, pois se tornaram necessários sucessivos ajustes e adaptações para consertar as “redes furadas” da sociedade colonial. Esses ajustes e adaptações variaram de acordo com a região, os grupos sociais e as épocas em que se realizaram, mas foram sempre presentes e deles “emergiram experiências individuais e coletivas que mesclavam interpretação, improvisação e cópia fascinada” (GRUZINSKI, 2003, p.410-411). Inventaram-se combinações que tomaram as mais diferentes formas. No caso da Paraíba, por exemplo, é notável a trajetória de Zorobabé que, de chefe dos Potiguara da Copaoba, líder da guerra contra os portugueses até a paz de 1599, passou, depois do “descimento”, a prestar-lhes serviços de guerra, embora nunca tenha se convertido ao cristianismo. Foi enviado a combater os Aimoré na Bahia e, no retorno à Paraíba, atacou o quilombo do rio Itapucuru, em Sergipe D’El Rey, onde matou a maior parte dos negros, desobedecendo as ordens recebidas. Nessa mesma ocasião, tomou alguns deles como escravos, vendendo-os durante o caminho de volta para comprar roupas, armas e bandeiras que lhe atribuíssem a honra destinada aos chefes militares brancos. Nos parece que o caso de Zorobabé pode ser entendido como uma experiência na “rede furada” da sociedade colonial, a expressão desse “enfrentamento constantemente redefinido entre as populações indígenas e as exigências, oscilações e retomadas hesitantes da dominação colonial” (GRUZINSKI, 2003, p.410). Assim, esta história de luta e de sangue, essa história de violência, a mortandade central no processo de conquista e colonização, é fato essencial para compreendermos a redefinição constante do enfrentamento entre os indígenas e a sociedade colonial. Como diz Gruzinski (2003, p.411), “As mortes em massa tiveram um impacto considerável sobre as memórias, as sociedades e as culturas e produziram rachaduras e confusões por vezes irremediáveis”. Esse impacto é bastante visível, a partir da década de 1630, nas ações e nos discursos de Pedro Poty e Antonio Paraupaba, durante a ocupação da W.I.C., a Companhia das Índias Ocidentais das Províncias Unidas. Nesse momento, marcado pela participação dos Potiguara na guerra luso-holandesa, que se estendeu de 1630 a 1654, é possível perceber a redefinição nas formas de enfrentamento entre as sociedades indígenas e a colonial. No caso dos Potiguara, isso nos parece claro ao pensarmos e analisarmos a trajetória dos Camarões, Antonio Felipe e Diogo Pinheiro e de Pedro Poty e Antonio Paraupaba, que é possível observar a Congresso Internacional Pequena Nobreza nos Impérios Ibéricos de Antigo Regime | Lisboa 18 a 21 de Maio de 2011 3 Regina Célia GONÇALVES partir das as cartas trocadas por eles, entre agosto de 1645 e março de 1646, a que nos referimos na abertura deste artigo3. Cremos que, entre os Potiguara, apesar do longo processo de desestruturação de seu mundo, produzido pela força da espada, da foice e da cruz dos conquistadores brancos, a liturgia da guerra de vingança, elemento fundamental de sua cultura, não foi esquecida. Sempre que possível, ao contrário, ela foi acionada contra os portugueses, seus inimigos mortais. Episódio central ocorre em 1625, quando os holandeses, em debandada da Bahia, depois de terem sido derrotados pelas forças luso-espanholas, aportam na Baía da Traição (Capitania da Paraíba) e são tratados como aliados pelos Potiguara das aldeias ali localizadas. Também expulsos da área pelos portugueses, a frota holandesa parte rumo à Europa, enquanto os Potiguara da Baía da Traição foram dizimados. O que não morreram foram escravizados. Alguns fugiram rumo a Ibiapaba, varando a Copaoba e o sertão semiárido, território dos Tapuia, buscando guarida entre os seus parentes. Outros foram levados pelos holandeses e na Holanda foram educados e convertidos ao cristianismo sob a fé da igreja reformada. Entre eles, estava Pedro Poty (e Gaspar Paraupaba) que voltaria, em 1634, acompanhando os holandeses que invadiram a capitania da Paraíba, com a missão de promover o levante dos Potiguara contra os portugueses. Seu argumento mais forte, por mais recente, era justamente o tratamento recebido pelos seus na Baía da Traição, em 1625. Embora esse não fosse o único motivo a mobilizá-los em busca da vingança, a memória da repressão, da destruição das aldeias, da escravidão, da fuga e da morte, permanecia viva entre aqueles Potiguara. Dessa forma, representativo contingente de índios dessa nação, sob o comando de Poty e de Antonio 3 Grande parte deste ensaio resulta do desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado Povos Indígenas no Período do Domínio Holandês: Uma Análise dos Documentos Tupis (1630-1656), financiado pelo PIBIC/CNPq/UFPb e executado entre os anos de 2007 e 2009. Nele procedemos à análise desse conjunto de fontes de origem indígena, escritas por índios Potiguara em sua língua nativa, o Tupi, que são pouco conhecidas e/ou discutidas pela historiografia brasileira. Através delas, e a partir da argumentação sustentada em princípios religiosos e políticos, buscávamos perceber a perspectiva dos indígenas em relação às alianças estabelecidas com os europeus durante a guerra luso-holandesa (1630-1654). Ainda no século XVII foram enviadas para a Holanda, aos cuidados dos administradores da Companhia das Índias Ocidentais (WIC) no intuito de que fossem traduzidas por algum dos religiosos protestantes que estiveram em missão no Brasil e que, portanto, tivessem conhecimento da língua Tupi. Por fim, coube ao pastor Johannes Eduardus fazer a tradução. Encontradas, na década de 1880, no arquivo da WIC em Haia, pelo pesquisador pernambucano José Higino Duarte, que as fez copiar, algumas dessas cartas, traduzidas do tupi para o português, foram, em 1906, publicadas pelo historiador Pedro Souto Maior, na Revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano (v.XII) sob o título “Cartas Tupis dos Camarões”. Em nossa pesquisa usamos também a edição de Darcy Ribeiro e Carlos Moreira Neto (1992). A partir de inferências que faz com base nas Atas Diárias do Governo Holandês do Recife, Frans Schalkwijk (2004) afirma que, além das publicadas por Souto Maior, existiriam outras cartas (dez no total), parte delas traduzida para o holandês, nos arquivos da Holanda. Foram bolsistas do projeto, Halisson Seabra Cardoso, graduando em História/UFPB e João Paulo Costa Rolim Pereira, atualmente mestrando em História do PPGH/UFPB, sob nossa orientação. A maior parte das considerações aqui apresentadas deriva do nosso diálogo permanente ao longo desse tempo. Sem a contribuição e a dedicação fundamental de ambos esse trabalho não teria sido possível. Os resultados a que chegamos estão publicados em Gonçalves; Menezes e Oliveira (2009). 4 Congresso Internacional Pequena Nobreza nos Impérios Ibéricos de Antigo Regime | Lisboa 18 a 21 de Maio de 2011 Povos indígenas no período holandês: anotações de uma pesquisa Paraupaba (filho de Gaspar), engrossaram as fileiras da W.I.C. A elas se juntariam, também, os Janduí que habitavam terras do Rio Grande e da Paraíba. A participação dos nativos seria fundamental para o sucesso dos holandeses, assim como, anos mais tarde, a retirada do apoio dos Janduí, seria fatal e determinante na derrota militar que se seguiria. Os episódios de 1625, ao colocarem sob suspeição a real submissão do povo Potiguara à sociedade colonial, provocaram, por parte desta, repressão e controle ainda maiores sobre estas populações, inclusive, as já aldeadas no litoral, provenientes de outras áreas que não a Baía da Traição. Certamente foi dentre esses grupos já convertidos ao cristianismo sob a fé católica que as forças coloniais recrutaram os regimentos que passaram a integrar suas tropas. Enquanto Poty e Paraupaba eram nativos de Acejutibiró (a Baía da Traição), os dois Camarão, seus parentes próximos, eram de aldeias Potiguara do Rio Grande ou de Pernambuco. Expressão clara dessa divisão dos Potiguara é sua participação, em campos opostos, na guerra luso-holandesa, da qual as cartas trocadas por suas lideranças, são documento importante. Antonio Felipe Camarão ofereceu-se para lutar ao lado de Matias de Albuquerque, ainda na fase da guerra da resistência. Não se sabe ao certo em que ano e local nasceu, mas, educado pelos padres, foi batizado em 1612, quando recebeu o nome cristão. Durante a guerra, por suas “proezas e valorosos feitos”, recebeu de El Rey o Hábito de Cristo e o título de Dom, que se estendeu aos seus herdeiros, passando a chamar-se D. Antonio Felipe Camarão. Tornou-se, de fato e de direito, súdito do rei, cristão e fidalgo. Segundo Lopes Santiago (1984, p.40), ... era principal pessoa entre os índios, a que eram muito obedientes, e sua gente muito destra em atirar as flechas, e o elegeram seu maioral, por animoso e esforçado. Este tomou a sua estância em lugar arriscado, fazendo grande dano ao inimigo, usando de muitos ardis de guerra; e foi sempre muito leal aos portugueses, e teve com os holandeses famosos encontros, desbaratando-os muitas vezes; e tanto que chegou a dizer o mestre de campo Cristóvão Artichofsky, soldado velho e experimentado, de nação, polaco, que um só índio tinha poder para o fazer retirar muitas vezes. Em sua carta a Poty, de 22 de outubro de 1645, Diogo Pinheiro Camarão4 insiste: Sois um bom parente. Sai desse lugar, que é como o fogo do inferno. Não sabeis que sois cristão? Por que vos quereis perverter? (...) Se os Portugueses têm êxito na guerra é porque, sendo cristãos, o Senhor Deus não permite que fujam ou se percam, 4 Sobrinho de D. Antonio Felipe Camarão, D. Diogo o acompanhou, como Sargento-Mor de seu terço, durante toda a guerra. Também na sua companhia viajou a Portugal e Espanha. Após a morte daquele, em 1648, assumiu a chefia do terço dos índios e continuou a lutar pela restauração ao lado de Francisco de Barreto Menezes. Seu filho, D. Sebastião Pinheiro Camarão, o substituiu nessa chefia e, nas últimas décadas do século XVII, destacouse na guerra contra os “bárbaros” do sertão, ainda a serviço dos portugueses. Sobre o assunto, consultar MELLO (1940). Congresso Internacional Pequena Nobreza nos Impérios Ibéricos de Antigo Regime | Lisboa 18 a 21 de Maio de 2011 5 Regina Célia GONÇALVES por isso desejamos muito que vos passeis para nós, e isso garantido pela palavra do grande capitão Antônio Philippe Camarão e de todos os capitães dos Portugueses (RIBEIRO; MOREIRA NETO, 1992, p.229). A resposta de Poty, datada de 31 de outubro, não poderia ser mais clara. Reafirmou a sua convicção de que era melhor cristão do que seu interlocutor: só acreditava em Cristo, sem macular a religião com a idolatria. Garantiu sua fidelidade irrestrita aos holandeses, de quem havia recebido “tantos benefícios”, e sobre os quais jamais se tinha ouvido falar que houvessem escravizado algum índio ou, em qualquer tempo, “assassinado ou maltratado algum dos nossos”, e declarou: Em todo o país se encontram os nossos, escravizados pelos perversos Portugueses, e muitos ainda o estariam, se eu não os tivesse libertado. Os ultrajes que nos têm feito mais do que aos negros e a carnificina dos da nossa raça, executada por eles na Baía da Traição, ainda estão bem frescos na nossa memória. (RIBEIRO; MOREIRA NETO, 1992, p.229-230. Grifos nossos). Capturado pelos portugueses durante a segunda batalha dos Guararapes, em 1649, Poty viveria, na pele, os suplícios que denunciava. Aprisionado durante seis meses em um forte do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, “foi barbaramente tratado por aqueles algozes (...), era constantemente açoitado, sofreu toda espécie de tormentos; foi atirado, preso por cadeias de ferros nos pés e mãos, a uma enxovia escura, recebendo por alimento unicamente pão e água”5 e, finalmente, morto, sem que mudasse de lado na guerra e sem que renunciasse à profissão da fé reformada. Se lermos estes documentos de maneira menos cuidadosa, ou de uma forma mais literal, poderíamos concluir que Poty e Camarão, incorporaram de tal maneira a cultura cristã européia, que acabaram por professar sua fé e sua lei para si. Contudo, havia algo na cultura Tupi que abria a possibilidade de adesão às novas formas de interações, e isso, de certa maneira, possibilitou a articulação com outros povos, o que lhes permitiu, inclusive, resistirem na luta em defesa do seu território. Segundo Eduardo Viveiros de Castro (2002), a cultura Tupi assim se coloca, pois é receptiva à presença do outro, e quanto a isso é bastante diferente da cultura cristã para a qual este é uma ameaça constante e precisa ser transformado. Nesse sentido, quando aqueles líderes utilizam um discurso com elementos alheios à sua cultura, estão interagindo e dialogando com aquela a partir da sua própria. Portanto, ao lermos os documentos, temos que ser sensíveis para perceber que ali se encontra o produto de contatos culturais complexos, rearticulados através de anos de convivência – quase sempre não pacífica, muito pelo contrário, em que ambos os lados se transformam e são transformados. 5 Cf. “Segunda Exposição de Paraupaba, em 1656”. In: RIBEIRO e MOREIRA NETO, 1992, p.231. 6 Congresso Internacional Pequena Nobreza nos Impérios Ibéricos de Antigo Regime | Lisboa 18 a 21 de Maio de 2011 Povos indígenas no período holandês: anotações de uma pesquisa Vários estudiosos, dentre eles, Florestan Fernandes (1970), John Manuel Monteiro (2001) e Eduardo Viveiros de Castro (2002) ressaltaram que, pelo menos os Tupi, o grupo que é melhor conhecido por nós, emergem, desde os primeiros relatos dos cronistas quinhentistas, como portadores de um cultura especialmente atenta à lógica de outros povos. Viveiros de Castro no ensaio “O mármore e a murta: sobre a inconstância da alma selvagem”, aprofunda a análise desta característica indígena e nos fornece a chave para o entendimento da autoconstrução da identidade indígena (especialmente dos Tupi), a partir da análise do Sermão da Sexagésima de Antonio Vieira (1655), em que o pregador se refere aos índios comparando-os à murta, que não se deixa esculpir, a não ser aparentemente e por breve tempo, nem pelo mais competente dos jardineiros. Tal como a murta, afirma um desalentado Vieira, os “brasis” se deixam evangelizar para, logo em seguida, retomarem os antigos hábitos, o seu ancestral modo de vida, esquecendo todos os ensinamentos dos soldados de Cristo (VIEIRA, 2001, p.53-70). Neste sermão, o jesuíta faz uma comparação entre a murta e o mármore, que representam, respectivamente, o indígena do Brasil e o nativo do Oriente. Essa analogia se refere à aparente “facilidade” com que os missionários catequizavam os índios, assim como o jardineiro trabalharia uma escultura de murta. Buscando desvendar essa dita inconstância Viveiros de Castro levanta a tese de que os Tupi tinham uma maneira totalmente diferente do modo ocidental de se relacionar com outras culturas. Enquanto, para os ocidentais, a sociedade tem que se preservar para não perder sua identidade, para os Tupi, a lógica é inversa. Ela pressupõe a interação com o outro. A alteridade é uma constante para essa sociedade; nesse sentido são povos abertos a novas formas, assimilam e incorporam práticas e costumes do outro, mas isso não os torna menos si próprios, ao contrário, agindo assim, reafirmam a sua cultura: Nossa idéia de cultura projeta uma paisagem antropológica povoada de estátuas de mármore, não de murta (...) entendemos que toda sociedade tende a perseverar no seu próprio ser (...), mas, sobretudo, cremos que o ser de uma sociedade é seu perseverar: a memória e a tradição são o mármore identitário de que é feita a cultura. Estimamos, por fim, que, uma vez convertidas em outras que si mesmas, as sociedades que perderam sua tradição não têm volta (...) talvez, porém, para sociedades cujo (in)fundamento é a relação aos outros, não a coincidência de si mesmas, nada disso faça o menor sentido (VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p.195). Essa “inconstância” indígena no tocante à guerra também impressionava os europeus, que tinham dificuldade para compreender a facilidade com que os grupos se aliavam para guerrear e, ao mesmo tempo, desfaziam tais alianças se unindo a outros para lutarem contra os “ex-aliados”. Apesar disso, no entanto, os europeus souberam utilizar astutamente esta característica dos Tupi a seu favor ao longo da colonização. O espanto do europeu diante dessa “inconstância” é, por exemplo, ainda visível dezenove anos depois do contato com os holandeses, quando o Alto Conselho do governo da WIC no Brasil se refere a seus aliados, Pedro Poty e Antônio Paraupaba, como sendo “mais perversos e selvagens na maneira de viver do que os outros brasilianos” (In: HULSMAN, 2006, p.43), ou ainda que os cronistas do Congresso Internacional Pequena Nobreza nos Impérios Ibéricos de Antigo Regime | Lisboa 18 a 21 de Maio de 2011 7 Regina Célia GONÇALVES século XVII (inclusive catequizadores católicos) se referindo aos índios aliados dos portugueses, não cansem de mencioná-la porque continua a dificultar o bom andamento da conversão deste gentio. Talvez o mais interessante na discussão sobre as cartas tupi seja o fato de que seus autores escrevem como “membros” inseridos na sociedade colonial, inclusive usando as regras de conduta da mesma para se comunicarem. Apesar disso, no entanto, é possível perceber evidências da tradição indígena que revelam um entendimento claro, por parte dessas lideranças, do que significava a estrutura social que se implantava nas terras da “América portuguesa” depois da conquista e da colonização européia. Poty expressa a visão indígena: “Vinde, pois, enquanto é tempo para o nosso lado afim de que possamos com o auxílio dos nossos amigos viver juntos neste paiz que é a nossa pátria e no seio de toda a nossa família”, ou ainda mais esclarecedor, “Mantenhamo-nos com os extrangeiros que nos reconhecem e tratam bem na nossa terra”, diz Poty falando dos holandeses (In: RIBEIRO e MOREIRA NETO, 1992, p.230. Grifos nossos). O fato é que, nessa passagem de Poty, é possível perceber um dos aspectos da visão indígena em relação aos holandeses, a de que esses seriam aliados “estrangeiros”, externos, portanto. Um novo aliado que conhecia e respeitava os direitos indígenas e que estava disposto a ajudar a expulsar os portugueses e, ao mesmo tempo, viver em paz na terra. Logo, a intenção era unir-se com estes “estrangeiros” “afim de que possamos com o auxílio dos nossos amigos viver juntos neste paiz que é a nossa pátria” (In: RIBEIRO e MOREIRA NETO, 1992, p.230). A posse da terra seria, então, dos detentores de direito, isto é, os que aqui estavam antes mesmo da chegada de qualquer caravela. Este era um argumento muito forte. Nestes documentos encontramos mais do que as impressões destes indivíduos sobre o conflito ou sua conjuntura. Neles observamos uma retórica peculiar pautada em argumentos de diferentes naturezas, nos quais podemos perceber elementos culturais dos agentes envolvidos na guerra. Para nós, tal presença expressa o profundo contato, quase nunca pacífico, que os indígenas da região em que ocorreu o conflito tiveram com os portugueses ao longo de um século, desde o início da colonização na década de 1530, e com os holandeses, desde o início da guerra, em 1630. Procuramos, assim, o entrelaço dos elementos culturais dos agentes envolvidos, para perceber de que maneira a cultura do outro foi sendo incorporada e rearticulada conforme se intensificavam os contatos e, conseqüentemente, os conflitos. É possível observar no discurso elaborado por lideranças indígenas que estavam diretamente ligadas às esferas de comando, e que, portanto, tinham o conhecimento das conjunturas interna e externa dos acontecimentos, as rearticulações simbólico-culturais que fundamentaram a política de alianças que estabeleceram com os europeus6. Além de nos darem uma idéia de como aqueles agentes conheciam bem toda a conjuntura da guerra, tecendo argumentos de variada natureza para convencerem seus interlocutores, os documentos nos revelam aspectos dos mais diversos a respeito da relação entre nativos, portugueses e holandeses. Ao lermos esse material nos saltam aos olhos várias passagens em que os autores fazem uso de expressões provenientes, por exemplo, da doutrina cristã – seja católica, como a dos portugueses, ou 6 Sobre este tema consultar, entre outros trabalhos: Pompa (2003) e Gonçalves (2007). 8 Congresso Internacional Pequena Nobreza nos Impérios Ibéricos de Antigo Regime | Lisboa 18 a 21 de Maio de 2011 Povos indígenas no período holandês: anotações de uma pesquisa reformada, tal qual a dos holandeses. Perceber isso é imprescindível para compreendermos o contato estabelecido entre os agentes, atentando para a dinâmica de suas relações. Considerando essa relação, analisamos o discurso cristão/ocidental presente na documentação, observando de que maneira aqueles indígenas se apropriaram de argumentos dos seus aliados, declarando a todo o momento a fé do outro para si, rearticulando-os a partir de elementos da sua própria cultura, criando um discurso próprio. Nesse sentido, questionamos o mito da passividade indígena, recorrente durante longo tempo na historiografia brasileira, mas que, infelizmente, ainda está presente na cultura histórica de grande parte da nossa sociedade. Buscamos mostrar que, ao contrário do papel de coadjuvantes atribuído aos povos indígenas por aquela historiografia, não apenas na ocasião dessa guerra, mas também em toda a formação histórico-social do Brasil, na nossa perspectiva, estes são agentes, e como tais, ativos em todo o processo. São sujeitos que operam e continuam a operar com certo grau de autonomia e capacidade de decisão, tanto que, dependendo do posicionamento tomado por eles, como podemos verificar em diversos momentos do período que estudamos, alguns episódios estariam fadados ao sucesso ou ao fracasso. Assim, os aspectos característicos da religião cristã, contidos nos documentos, ao contrário do que à primeira vista possa parecer, não significam simplesmente mais um modo de submissão indígena à cultura européia, mas, também, podem ser lidos como um artifício usado para firmarem alianças que lhe fossem úteis, tanto com os católicos portugueses quanto com os reformados batavos Desta forma, aquilo que pareceria estritamente argumento ou simples retórica religiosa, para nós, marca um posicionamento político dessas lideranças indígenas frente ao conflito que ocorre em suas terras ancestrais. Os resultados a que chegamos convidam à continuidade da análise de inúmeros outros documentos do período colonial, muitos deles já exaustivamente usados em diferentes trabalhos da historiografia nacional e estrangeira, em busca das pistas que permitam uma releitura da condição desses povos como agentes históricos. Este esforço está apenas começando, mas é urgente, principalmente quando consideramos que muitos deles, dentre os quais os Potiguara, continuam vivos, lutando por sua afirmação étnica e pelo reconhecimento de seus territórios não apenas pelo Estado nacional, mas por toda a sociedade brasileira. Nesse sentido, o tempo corre célere e os historiadores não podem perder o compasso. Congresso Internacional Pequena Nobreza nos Impérios Ibéricos de Antigo Regime | Lisboa 18 a 21 de Maio de 2011 9 Regina Célia GONÇALVES Referências Bibliográficas: ALMEIDA, Maria Regina C.. Metamorfoses Indígenas. Identidade e Cultura nas Aldeias Coloniais do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 2003. CASTRO, Eduardo Viveiros de. A Inconstância da Alma Selvagem e Outros Ensaios de Antropologia. São Paulo, Cosac Naify, 2002. GONÇALVES, Regina Célia. Guerras e Açúcares. Política e Economia na Capitania da Paraíba (1585-1630). Bauru, Edusc, 2007. GONÇALVES, R. C.; MENEZES, M. V.; OLIVEIRA, C. M. S. (org). Ensaios sobre a América Portuguesa. João Pessoa, Universitária/UFPB, 2009. GRUZINSKI, Serge. A Colonização do Imaginário. São Paulo, Companhia das Letras, 2003. HERCKMANS, Elias. Descrição Geral da Capitania da Paraíba (1639). João Pessoa, A União, 1984. HULSMAN, Lodewijk. Índios do Brasil na República dos Países Baixos: as representações de Antônio Paraupaba para os Estudos Gerais. In: Revista de História. n.154. São Paulo: USP, 2006. MEDEIROS, Ricardo Pinto de. O Descobrimento dos Outros. Povos Indígenas do Sertão Nordestino no Período Colonial. Tese de Doutoramento em História/UFPE, Recife, 2000. MELLO, José Antonio Gonsalves de. D. Antonio Filipe Camarão. Capitão-Mor dos Índios da Costa do Nordeste do Brasil. Recife, Universidade do Recife, 1940. MOREAU, Pierre. História das Últimas Lutas no Brasil entre Holandeses e Portugueses. Belo Horizonte, Itatiaia; São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 1979. MONTEIRO, John M. Monteiro. Negros da Terra. Índios e Bandeirantes nas Origens de São Paulo. São Paulo, Cia.das Letras, 2000. POMPA, Cristina. Religião como Tradução. Missionários, Tupi e Tapuia no Brasil Colonial. Bauru, Edusc, 2003. RIBEIRO, Darcy e MOREIRA NETO, C. de A. A Fundação do Brasil. Testemunhos: 15001700. Petrópolis: Vozes, 1992. SANTIAGO, Diogo Lopes. História da Guerra de Pernambuco. Recife, Fundarpe, 1984. SCHALKWIJK, Frans. Igreja e Estado no Brasil Holandês. 3ed. São Paulo: Cultura Cristã, 2004. SOUTO MAIOR, Pedro. Cartas Tupis dos Camarões. Revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano (v.XII), 1912. VIEIRA, António. Sermões. Org. Alcir Pécora. São Paulo, Hedra, 2001. 10 Congresso Internacional Pequena Nobreza nos Impérios Ibéricos de Antigo Regime | Lisboa 18 a 21 de Maio de 2011
Baixar