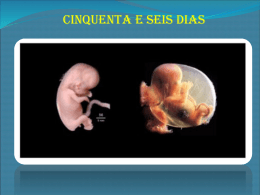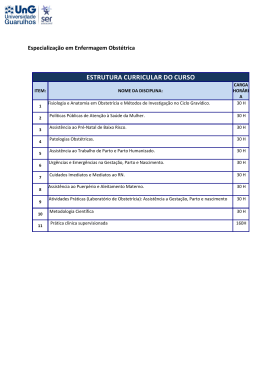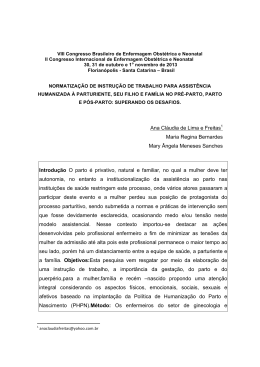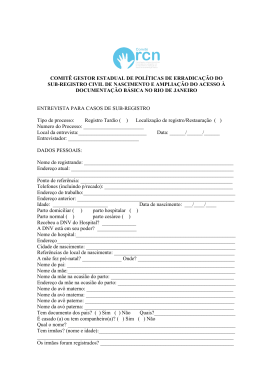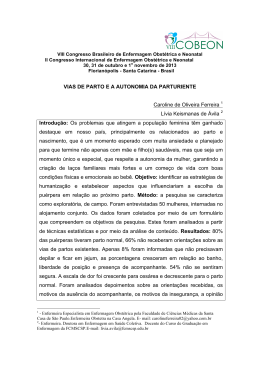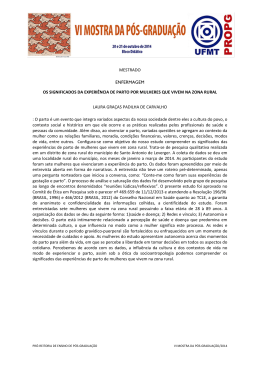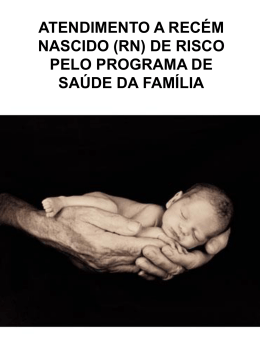VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: ETNOGRAFIA DE UMA COMUNIDADE NO FACEBOOK Clarissa Sousa de Carvalho1 RESUMO O presente artigo discute a questão da violência obstétrica como violência de gênero e suas imbricações com a construção simbólica do corpo feminino e dos processos de gravidez e parto nas sociedades ocidentais contemporâneas. Partindo do entendimento de que o gênero é uma forma de distribuição de poder na sociedade e de que essa distribuição repercute no acesso e na utilização dos serviços de saúde, bem como nas determinações do sistema saúde/doença, cabe ressaltar a questão da violência obstétrica como uma violência de gênero e, principalmente, como uma violência que muitas vezes passa despercebida pelas vítimas, que entendem procedimentos e técnicas aplicados a seus corpos como “naturais” e necessários. O termo, cunhado no meio acadêmico em 2014, pelo presidente da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia da Venezuela, Dr. Rogelio Pérez D’Gregorio, refere-se a um tipo de violência que ocorre em ambiente hospitalar, principalmente, mas não apenas, no momento do parto. Esse tipo de violência se caracteriza por qualquer ato exercido por profissionais de saúde no que cerne ao corpo e aos processos reprodutivos das mulheres, expresso através de uma atenção desumanizada, abuso de ações intervencionistas, medicalização e transformação patológica dos processos de parturição fisiológicos, bem como a negação do direito de ser informada e de opinar em relação aos procedimentos a serem exercidos em seu corpo. Realizou-se pesquisa etnográfica na comunidade “Vamos falar sobre violência obstétrica?”, no Facebook. Foram analisados relatos de violência obstétrica e os comentários relativos a eles. Para melhor entender o fenômeno da violência obstétrica, foi preciso situar o parto como evento produzido na e pela cultura, inscrevendo-o historicamente no processo de disciplinarização dos corpos e de produção de um saber científico sobre o corpo. Para tanto, buscou-se o aporte teórico de autores como Foucault (1985, 1995, 2009), Martin (2006), Meyer (2005) e Tornquist (2004), dentre outros. 1 Bacharel em Comunicação Social/Jornalismo (UFPI/2003), Mestra em Antropologia e Arqueologia (UFPI/2012), Doutoranda em Comunicação Social (PUC/RJ). Professora do curso de Comunicação Social (UESPI/Picos). E-mail: [email protected] Palavras-chave: violência obstétrica; parto; parturição. O presente ensaio busca discutir a questão da violência obstétrica como violência de gênero e suas imbricações com a construção simbólica do corpo feminino e dos processos de gravidez e parto nas sociedades ocidentais contemporâneas. O entendimento da gravidez e do parto como fenômenos patológicos é fruto de desenvolvimentos históricos. Para entender a institucionalização desse evento, que a partir do século XX passou a exigir saberes científicos, e não mais empíricos, passando das mãos de parteiras mulheres a médicos homens, é preciso situar o parto como evento produzido na e pela cultura. Até o século XVI o conhecimento sobre o corpo feminino se detinha, sobretudo, quanto à sua capacidade reprodutora. O partejar era de domínio exclusivo das mulheres, não apenas por ser do âmbito do privado mundo feminino como principalmente por ser considerado de pouca importância para que dele se ocupassem os homens (AGUIAR, 2010, p.39). Badinter (1980) defende que, no último terço do século XVIII, inicia-se uma revolução das mentalidades. Ocorre uma transformação nas práticas de cuidados dispensados à crianças, que passam a ter valor inestimável. As mulheres são alçadas à posição de interlocutoras entre o Estado e a família, e responsáveis pela nação. Marilyn Yalom (1997) refere-se à “politização do seio feminino” para descrever o processo que posicionou a mulher, como mãe, no centro das politicas de gestão da vida nas sociedades ocidentais modernas. Nesse contexto, há um processo de educação e medicalização dos corpos das mulheres em nome de sua responsabilidade na criação de filhos saudáveis para a salvação da sociedade. A medicalização do corpo das mulheres acontece dentro de um contexto maior de medicalização da vida privada, através de mecanismos de biopoder (FOUCAULT, 2009) que visam o controle populacional, a disciplinarização da força de trabalho e a higienização dos espaços e das relações sociais. Para Michel Foucault, a partir do século XVII, opera-se um intenso processo de politização dos corpos, através do qual desenvolve-se a organização do poder sobre a vida. Nos processos em que se exerce o biopoder, acontece, ao mesmo tempo, uma extensa produção de saber. A produção de um saber científico sobre o corpo se dá concomitantemente à politização do corpo, que passa a ser objeto de controle. Nesse contexto, se processa uma medicalização minuciosa dos corpos e do sexo das mulheres em nome da responsabilidade que elas teriam em relação à saúde de seus filhos, à solidez da instituição familiar e à salvação da sociedade como um todo (FOUCAULT, 2009). É ainda no século XVIII que a Medicina se configura como área de saber técnico-científico, de domínio exclusivamente masculino. A medicalização social ocorre como dispositivo biopolítico, redescrevendo eventos fisiológicos até então considerados como naturais. Diante da nova condição de responsáveis pelo bem-estar dos filhos – pela população, portanto - as mulheres, assim como as crianças, são atingidas prioritariamente pela medicalização de seus corpos. A necessidade de controlar as populações, aliada ao fato de a reprodução ser focalizada na mulher, transformou a questão demográfica em problema de natureza ginecológica e obstétrica, e permitiu a apropriação do corpo feminino como objeto de saber (COSTA et.al., 2006, p.368-369). Assim, ao longo dos séculos XIX e XX, emergem vários discursos sobre cuidados a serem dispensados aos corpos femininos, principalmente aos corpos de mulheres-mães. Meyer (2005) entende que a rede discursiva de cuidados específicos com os corpos das mulheres-mães que se intensifica no Ocidente leva a uma politização da maternidade, que “atualiza, exacerba, complexifica e multiplica investimentos educativo-assistenciais que têm como foco mulheres-mães” (p.82), instituindo lugares específicos para essas mulheres. A medicalização do corpo das mulheres se mostrou de forma especial nos processos relativos à gravidez e parto. “Centradas, inicialmente, em uma visão bastante pessimista da natureza feminina, a obstetrícia e a ginecologia justificarão toda uma série de inovações científicas (...) que tornaram a mulher um corpo passivo” (TORNQUIST, 2004, p.72). Emily Martin (2006) argumenta que a partir do emergência do capitalismo, o corpo passou a ser visto como uma máquina, uma força de produção. O parto passa a ser entendido como uma linha de montagem, nos moldes tayloristas, onde seriam produzidos humanos. A mulher deixa de ser a protagonista do próprio parto, que agora é comandado pelos médicos. Os saberes femininos relacionados à gestação e parto são rechaçados em favor dos saberes médico-científicos. Parteiras e comadres, que assistiam parturientes baseadas em saberes construídos pela experiência própria e pela tradição, são proibidas de partejar. O fórcepis permite a intervenção masculina e se torna instrumento de um novo paradigma do parto, agora entendido como um evento patológico e que deve ser controlado pelo médico homem. O parto assistido por parteiras passa a ser visto como sinônimo de atraso e rusticidade, enquanto o parto medicalizado é associado à civilidade. O declínio da parteira e a ascensão do parto mecanicamente manipulado e assistido por homens seguiu de perto a grande aceitação cultural da metáfora do corpo-como-máquina no Ocidente e a aceitação da metáfora do corpo feminino como uma máquina defeituosa – uma metáfora que afinal formou a fundação filosófica da obstetrícia moderna (DAVIS-FLOYD, 2003, p.51)2. Assim, percebe-se, a partir do século XX, a transformação do parto, que era entendido como evento fisiológico, natural, feminino e empírico, “em um evento patológico, que necessita, na maioria das vezes, de tratamento medicamentoso e cirúrgico, predominando a assistência hospitalar no parto, tornando-o, a partir daí, institucionalizado” (CRIZÓSTOMO; NERY; LUZ, 2007, p.99), e deslocando a mulher da posição de sujeito à de objeto do parto. Vieira (2002) afirma que a medicalização do corpo feminino, objetificado como corpo reprodutor, naturaliza um papel social de mãe, que é tomado como seu destino biológico. Para isso, foi preciso construir um ideal de natureza feminina: 2 Tradução minha. No original: The demise of the midwife and the rise of the male-attended, mechanically manipulated birth followed close on the heels of the wide culturally acceptance of the metaphor of the body-as-a-machine in the West and the accompanying acceptance of the metaphor of the female body as a defective machine – a metaphor that eventually formed the philosophical foundation of modern obstetrics. A ideia de “natureza feminina” baseia-se em fatos biológicos que ocorrem no corpo da mulher – a capacidade de gestar, parir e amamentar, assim como também a menstruação. Na medida em que essa determinação biológica parece justificar plenamente as questões sociais que envolvem esse corpo, ela passa a ser dominante, como explicação legítima e única sobre aqueles fenômenos. Daí decorrem ideias sobre a maternidade, o instinto maternal e divisão sexual do trabalho como atributos “naturais” e “essenciais” à divisão de gêneros na sociedade (VIEIRA, 2002, p.31). A fim de entender a construção do corpo feminino a partir de sua capacidade reprodutora, recorremos à categoria gênero, de Joan Scott (1995). A autora afirma que “o gênero é um elemento constitutivo das relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos” (p.86). Por outro lado é, também, “uma forma primária de dar significado às relações de poder” (p.86). Como elemento constitutivo das relações sociais implica símbolos culturalmente disponíveis, que evocam representações simbólicas; conceitos normativos, que expressam interpretações dos significados desses símbolos, expressos nas doutrinas religiosas, educativas, científicas e que afirmam o significado do masculino e do feminino; inclusão de uma noção de política assim como uma referência às instituições e à organização social nas análises de gênero; e a identidade subjetiva, que analisa como são construídas e a relação com organizações sociais e representações culturais. Gênero é “um campo primário no interior do qual, ou por meio do qual, o poder é articulado” (SCOTT, 1995, p. 89). Embora não seja o único campo, parece ter constituído uma forma persistente de possibilitar a significação do poder no ocidente, nas tradições judaico-cristãs e islâmicas. Baseando-se em Pierre Bourdieu, a autora afirma que, à medida que as diferenças de gênero estruturam a percepção e a organização simbólica de toda a vida social e estabelecem distribuições de poder (controle ou acesso diferencial a recursos materiais e simbólicos), o gênero se articula à concepção e à construção do próprio poder. BARATA (2012) chama a atenção para a utilização do conceito de gênero na área de saúde para marcar características próprias aos comportamentos de grupos de sujeitos sociais e para estabelecer o contraste entre masculino e feminino, mas, prinmcipalmente, para enfocar as relações que se estabelecem entre masculino e feminino no âmbito social e que apresentam repercussões para o estado de saúde e para o acesso e utilização dos serviços de saúde (p.73). Partindo do entendimento de que o gênero é uma forma de distribuição de poder na sociedade e de que essa distribuição repercute no acesso e na utilização dos serviços de saúde, bem como nas determinações do sistema saúde/doença, cabe ressaltar a questão da violência obstétrica como uma violência de gênero, como violência contra a mulher e, principalmente, como uma violência que muitas vezes passa despercebida pelas vítimas, que entendem procedimentos e técnicas a ela aplicados como “naturais” e necessários. Mas é preciso, primeiro, esclarecer o que queremos dizer com “violência obstétrica”. O termo refere-se a um tipo de violência contra a mulher que ocorre em ambiente hospitalar, principalmente, mas não apenas, no momento do parto. Podemos dizer que esse tipo de violência se caracteriza por qualquer ato exercido por profissionais de saúde no que cerne ao corpo e aos processos reprodutivos das mulheres, expresso através de uma atenção desumanizada, abuso de ações intervencionistas, medicalização e transformação patológica dos processos de parturição fisiológicos, bem como a negação do direito de ser informada e de opinar em relação aos procedimentos a serrem exercidos em seu corpo (JUAREZ et al; 2012). O termo foi cunhado no meio acadêmico em 2014, pelo presidente da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia da Venezuela, Dr. Rogelio Pérez D’Gregorio, em editorial do Journal of Gynechology and Obstetrics. É, portanto, um termo novo que nomeia um tipo de violência bastante antigo, mas que passa, ou passava, despercebido devido ao entendimento cultural do corpo feminino como destinado ao sofrimento no momento do parto, o que justifica diversas práticas médicas que vieram a reboque da hospitalização do parto. Em 2013, o Estado venezuelano reconheceu em lei3 a existência deste tipo de violência, tipificando-o e determinando pena específica para os perpetradores de violência obstétrica. No Brasil, os debates sobre o assunto têm acontecido principalmente no âmbito do Movimento pela Humanização do Parto e do Nascimento. A publicização de casos de violência obstétrica compõe a agenda de movimentos pelos 3 Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a uma vida libre de violência. direitos reprodutivos e sexuais principalmente a partir da divulgação de pesquisa4, em 2010, em que foi constatado que uma em cada quatro mulheres brasileiras relatam ter sofrido maus-tratos durante trabalho de parto e parto (PULHEZ, 2013). Embora seja ainda pouco conhecido, o termo tem ganhado espaço nas mídias sociais, como Facebook e blogs maternos e já começa a chamar atenção também de instituições públicas responsáveis pela garantia de direitos dos cidadãos e também pela saúde pública. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, reconhecendo esse tipo de violência, lançou em 2014 uma cartilha educativa sobre assunto. Embora a violência obstétrica não exista de forma tipificada na lei brasileira, esse é um importante passo para seu reconhecimento jurídico. O material, desenvolvido pelo Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria, pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e pela Ong Artemis, caracteriza a violência obstétrica como: Apropriação do corpo e dos processos reprodutivos das mulheres por profissionais de saúde, através de tratamento desumanizado, abuso de medicalização e patologização dos processos naturais, causando a perda da autonomia e capacidade de decidir livremente sobre seus corpos na sexualidade (p.1) O parto medicalizado como evento ritualístico – a eficácia simbólica da tecnologia médica Robbie Davis-Floyd (2003) recorre à concepção de rito de passagem do antropólogo Van Gennep (2011) para analisar o parto hospitalar. A partir do entendimento de que a ciência, a medicina e a tecnologia são também sistemas de crença, Davis-Floyd defende que, ao invés de haver eliminado os aspectos ritualísticos do parto, a medicalização do mesmo levou a um exagero desses aspectos: Ao contrário, eu sugiro que o deslocamento do nascimento para o hospital resultou na proliferação de rituais em torno desse evento 4 Fundação Perseu Abramo & SESC. Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e Privado, 2010. natural fisiológico mais elaborados que qualquer um conhecido até hoje no mundo “primitivo”. Esses rituais, também conhecidos como “procedimentos padrão para parto normal”, trabalham para efetivamente transmitir os valores centrais da sociedade americana em relação ao parto (DAVIS-FLOYD, 2003, p.3)5. Os valores chave da sociedade tecnocrática e industrial seriam reforçados no parto hospitalar: a separação corpo e mente, a submissão da mulher, a priorização da tecnologia em detrimento de outras formas de assistência, o caráter patológico do parto. A cesariana seria a forma mais completa de ilustrar esses valores, uma vez que neste caso a mulher se submete a uma cirurgia da qual não participa enquanto sujeito, sendo apenas um objeto na mão dos cirurgiões, e todas as etapas do ritual estão carregadas dos símbolos da sociedade tecnocrática (TORNQUIST, 2004, p.300). Sheila Kitzinger (1996) argumenta que as maternidades modernas, assim como as comunidades camponesas, têm sua cultura própria e seus rituais. Segunda a autora, a relação médico-paciente é sempre assimétrica, uma vez que o detentor dos conhecimentos que possibilitarão o parto é o médico, ao qual a mulher se submete de forma passiva, ao contrário do que acontece nas sociedades pré-industriais. O ritual de parto começa com a admissão da mulher no hospital: marido e mulher são separados, e a mulher passa pela preparação que consiste por um lado no registro de dados clínicos sobre a mulher e o feto, e por outro lado, em “ritos predominantemente cerimoniais: rapar os pelos púbicos, clister, banho, vestir a camisola de noite impessoal do hospital e ir para a cama”(KITZINGER, 1996, p.129). A separação da mulher e sua despersonalização a partir da rotina de tirar suas roupas e adereços fazem parte do ritual moderno de parto hospitalar. A rotina médica de raspar os pelos pubianos é entendida por Kitzinger (1996) e outros estudiosos de antropologia do parto, como Tornquist (2004) e Davis-Floyd (2003), como uma forma de assexuar a paciente, justificando sua execução como ato meramente ritual, uma vez que “(...) que não há qualquer prova de que rapar o períneo reduza a quantidade de 5 Tradução minha. No original: On the contrary, I suggest that the removal of birth to the hospital has resulted in a proliferation of rituals surrounding thus natural physiological event more elaborate than any heretofore known in the “primitive” world. These rituals, also known as “Standard procedures for normal birth”, work to effectively convey the core values of American society to birthing women. bactérias da pela mas, na realidade, há indícios de que a possibilidade de infecções secundárias aumentem porque a lâmina raspa as células da superfície, permitindo assim a introdução de bactérias” (KITZINGER, 1996, p.130-131). Outra forma de despersonalização da área genital da mulher é a rotina de isolar a parte de baixo de seu corpo com panos, de forma que a vagina fica visível apenas para o médico e demais profissionais envolvidos no parto, e não para a mulher. A ideia de que, ao isolar a parte de baixo do corpo da mulher, cria-se um campo esterilizado para manipulação médica é visto por Kitzinger (1996) como uma “ficção conveniente, por meio da qual ele assegura os seus direitos e insiste em que a mulher não toque no seu próprio corpo, que lhe fica fora do alcance” (p. 131). O uso de tecnologia de imagem é também rotina nos hospitais modernos, com monitoramento das condições da parturiente e do feto, através de aparelhos que medem a intensidade das contrações, batimentos fetais e outros sinais da evolução do trabalho de parto. Os sinais que obstetras e demais profissionais recebem e interpretam não vêm diretamente da mulher, mas de monitores e outras máquinas. Não só as máquinas se tornaram o centro da atenção, mas também imobilizaram a parturiente, que não se pode pôr de pé e caminhar, ou mesmo mudar de posição na cama; pelo contrário nas sociedades préindustriais as parteiras encorajam-nas a adoptar várias posições e a moverem-se a fim de facilitarem a descida da cabeça do bebé. Na nossa sociedade, as modificações de comportamento durante o parto foram aceites como necessárias devido à maquinaria, sem que houvesse qualquer investigação sobre os possíveis efeitos dessas transformações (KITZINGER, 1996, p. 134). A posição tradicionalmente adotada pela mulher no parto hospitalar ocidental é sintomática da relação entre obstetra e paciente. “Só na nossa civilização tecnológica do Ocidente a parturiente tem de ficar deitada de costas com as pernas no ar, numa posição psicologicamente desvantajosa pra fazer força” (KITZINGER, 1996, p.134). A posição deitada favorece a intervenção do obstetra, mas dificulta o processo fisiológico de parir, que se dá de forma mais fácil e rápida em posição vertical ou de cócoras. O uso rotineiro de episiotomia – incisão feita no períneo para alargar a via de passagem do bebê – é também uma forma de facilitar o parto para a equipe médica, que pode apressar a expulsão do bebê, resultando em pontos e em uma cicatrização frequentemente dolorosa. É uma mutilação ritual pela qual tem de passar a maioria das mulheres na nossa sociedade, a fim de serem mães. Embora seja evidente que algumas mulheres precisam dessa intervenção e que alguns bebés têm que nascer depressa, a episiotomia de rotina praticada em 100% das mulheres, tal como acontece hoje em dia nos Estados Unidos, é efectuada por ser o obstetra que comanda o parto e porque ele quer o trabalho acabado tão rápida e eficientemente quanto possível, sem perder tempo nem confiar nos caprichos da natureza, ou em ritmos biológicos que não se conjugam com horários hospitalares (KITZINGER, 1996, p. 134). Para Davis-Floyd (2003) a prática rotineira de episiotomia em parturientes se justifica em parte pelo fato de que a cirurgia é o núcleo central da medicina ocidental: “a legitimação da obstetrícia necessitou da transformação do parto em um procedimento cirúrgico” (p.130)6. A rotinização dessa prática se justifica também por reforçar a mensagem de que o corpo feminino é uma máquina defeituosa que não pode fornecer o produto (bebê) sem a ajuda do homem e da tecnologia. Internet como esfera pública: relatos de violência obstétrica Embora ainda não haja no Brasil uma tipificação jurídica desse tipo de violência, a exemplo de países como Argentina e Venezuela, percebe-se nos ambientes de internet uma publicização de casos e um questionamento de práticas rotineiras da assistência à gravidez e parto. Pode-se pensar a internet como uma esfera pública digital, onde anseios, reivindicações e demandas são expostas e compartilhadas. Sem desconsiderar que o acesso à internet e aos saberes dos quais dependem seu uso não acontece de forma democrática, principalmente em se tratando de países em vias de desenvolvimento, como o Brasil, torna-se relevante perguntar de que maneiras grupos organizados se utilizam dessa infraestrutra tecnológica, ou mesmo se organizam através dela, para publicizar discursos que não encontram espaço nas mídias tradicionais 6 Tradução minha. No original: (…) the legitimization of obstetrics necessitated the transformation of childbirth into a surgical procedure. e debater demandas sociais de grupos específicos com pouco ou nenhum espaço na agenda pública. Para Massimo Di Felice (2012), “o que se manifestou foi a assunção, através do uso de uma nova tecnologia comunicativa, de um novo protagonismo sociopolítico emerso da descentralização das redes” (p. 35). Rousiley Maia (2014) destaca que na sociedade contemporânea emergem variadas possiblidades democráticas de representação na esfera civil, a fim de defender interesses e anseios de grupos étnicos ou de minorias de gênero ou sexuais, entre outros. (...)novos vocabulários precisam ser criados, a fim de problematizar o que antes não era reconhecido como problema, no contexto social. (...) Particularmente em casos em que não há direitos garantidos, algo moralmente relevante, porém ainda não tematizado, precisa ser mostrado, revelado como injustiça enraizada nas regras de convivência ou nos arranjos institucionais mais gerais da sociedade (MAIA, 2014,p. 83). A apropriação do ciberespaço, de forma organizada nas diferentes estruturas, orquestrada com outras ações de natureza política, parece ser uma maneira que grupos minoritários encontram para se fazer visíveis e levar suas demandas e necessidades para a esfera política de decisão. É a partir dos discursos construídos pelas experiências cotidianas de pessoas que se consideram afetadas por algum tipo de injustiça que se constroem formas de representação legítima. No entanto, a experiência subjetiva dos indivíduos não é suficiente para a justificação na esfera pública. (...)é preciso criar discursos abstratos e gerais de justificação que possam, inclusive, ser representados politicamente em ambientes legislativos e executivos. Defendo o argumento de que a geração de legitimidade deve ser buscada, sobretudo, através de práticas discursivas contínuas (MAIA, 2014, p.81). A autora entende ainda que os representantes informais são os que desenvolvem recursos e uma estrutura de oportunidades para sustentar o debate na esfera pública. Dessa forma, buscam dar visibilidade para questões até então negligenciadas de modo a exercer influência contra ou dentro do Estado. A partir do entendimento dos grupos pró humanização do parto como minoritários em relação a uma cultura de assistência ao parto hegemônica (medicalizada, intervencionista, patologizante, tecnocrática), aventamos que a comunidade do Facebook “Vamos falar sobre violência obstétrica?” se organiza de forma política, em busca de trazer visibilidade às suas causas e promover mudanças nas esferas decisórias relativas à saúde reprodutiva feminina. Daí a importância de se buscar o entendimento dos discursos sustentados por esse grupo e das possibilidades de influência nas esferas decisórias. Carneiro (2011) chama atenção para a importância do ciberespaço no Movimento de Hukanização do Parto e do Nascimento. Entre suas informantes, frequentadoras de cursos de preparação para o parto humanizado, a maioria tinha ouvido falar de parto humanizado pela internet, por meio de sites, blogs e redes sociais. O mundo cyber parecia operar como difusor e aglutinador de adeptas de outros modos de parir e, somado ao letramento e ao acesso ao mundo digital, vinha também um “capital cultural” ou “capital crítico”, no sentido da existência de uma postura crítica perante o sistema de saúde do país, modelo médico, sistema político e resguardo dos direitos sociais e individuais (p.80). Cabe questionar, portanto, se o ciberespaço não seria locus de expressão e construção de discursos, ao nível do indivíduo, a partir das trocas de experiências e saberes, e também ao nível coletivo, ao facilitar a articulação dessas demandas com as agendas públicas relativas à saúde reprodutiva feminina. Ao entender, com Castells (1999), que há um novo espaço que adquire importância cada vez maior na estruturação das relações sociais, um espaço como uma instância de fluxos que se organiza a partir de conexões e não localizações, defendemos que “o campo da etnografia poderia converter-se no estudo dos espaços de fluxos, e estruturar-se em torno das conexões mais que sobre lugares concretos e delimitados” (HINE, 2000, p. 77).7 No entanto, as peculiaridades das interações que se operam no ciberespaço trazem desafios metodológicos à aplicação da etnografia. Para Christine Hine (2000) a metodologia de uma etnografia é inseparável dos contextos/objetos específicos e por isso deve ser considerada a partir de uma perspectiva adaptativa que reflete sobre o método. Ao pesquisar cibercultura, é preciso adotar uma postura etnográfica que faça “justiça à riqueza e complexidade da Internet, uma vez que advoga pela experimentação dentro de um gênero que responde a situações inteiramente inovadoras” (HINE, 2000, p. 23).8 A autora sustenta, assim, que a etnografia virtual deve problematizar o uso próprio da internet. “O status da rede como forma de comunicação, como objeto dentro da vida das pessoas e como lugar de estabelecimento de comunidades, sobrevive através dos usos, interpretados e reinterpretados, que se fazem dela” (HINE, 2000, p.80).9 Assim, busca-se apreender não apenas os processos de significação dos conteúdos postados na página em estudo, mas também problematizar o uso da internet como meio de divulgação, discussão e deliberação democráticas, e como locus de compartilhamento de experiências relativas ao poder de decisão de mulheres nos processos relacionados à gestação e parto. Compartilhamento de experiências e criação de uma gramática da violência na comunidade “Vamos falar sobre violência obstétrica?” A página “Vamos falar sobre violência obstétrica”, do Facebook, se propõe a receber relatos de maus tratos durante situações de gravidez e parto. O header da página, bem como avatar, aponta para o propósito do protagonismo da mulher nos processos reprodutivos femininos. 7 Tradução minha. No original: “(…) el campo de la etnografía podría convertirse en el estudio de espacios de flujos, y estructurarse alrededor de las conexiones más que sobre lugares concretos y delimitados” 8 Tradução minha. No original: “(...) justicia a la riqueza y complejidade de Internet, a La vez que aboga por la experimentación dentro de um género que responde a situaciones enteramente novedosas” 9 Tradução minha. No original: “El estatus de la Red como forma de comunicación, como objeto dentro de La vida de lãs personas y como lugar de establecimiento de comunidades, pervive a través de los usos, interpretados y reinterpretados, que se hacen de ella” Figura 1 – Header e avatar da página Na descrição curta, lê-se: “Página dedicada a dar visibilidade e combater a violência obstétrica. Publique aqui seu relato, assinado ou de forma anônima”, o que mostra a intenção clara de ser um fórum de compartilhamento de experiências entre mulheres vítimas de V.O. A descrição longa traz uma explanação sobreviolência obstétrica e exemplos de procedimentos que constituem V.O. Além disso, aponta para a alta incidência de casos no Brasil: Problema que atinge uma em cada quatro mulheres, a Violência Obstétrica está presente rotineiramente nos hospitais. Essa violência, sofrida durante a gestação, o parto e o período pós parto, fere a autonomia da mulher sobre seu próprio corpo e o direito de ser protagonista no próprio parto. (...) A violência obstétrica se caracteriza por ações e omissões que envolvem o tratamento desumanizado, o abuso de medicalização, a patologização de processos naturais e a perda da autonomia e da capacidade das mulheres de decidir livremente sobre seus corpos. A ideia de que a relação entre médico e paciente é uma relação de obediência a torna ainda mais sujeita à impunidade, fator que tira o protagonismo da mulher sobre o próprio parto e contribui para a perda de seu empoderamento, além de permitir que más condutas deixem de ser questionadas, como a imposição desnecessária da cesárea ou a prática da episiotomia de rotina. (Grifo nosso) Percebe-se no trecho acima a ênfase na questão da autonomia e poder de decisão da mulher sobre o próprio corpo e seus processos, apontando claramente para uma questão de gênero. No trecho abaixo, fica ainda mais claro o entendimento de que uma cultura machista se impõe sobre os corpos das mulheres, subjugando-as e levando-as a acreditar nas violências sofridas como “naturais” ou “normais”, através de uma operação discursiva que institui um lugar específico (e subalterno) para a mulher-mãe: Apesar do alarmante número de ocorrências, o de denúncias ainda é baixo. Assim como acontece em casos de estupro, a vítima é culpabilizada pela violência que sofreu. O parto ainda é visto por muitos como um momento de penitência ou sofrimento pelo sexo praticado, pensamento baseado em noções patriarcais. O machismo, novamente, tenta controlar o corpo da mulher, nesse caso interferindo na medicina e em nossos partos e gestações. A comunidade se propõe a ser um local de compartilhamento de experiências entre mulheres, incentivando-as a denunciar casos de V.O, mesmo que anonimamente. A partir dos relatos, é possível destacar algumas das práticas apontadas em documentos como a cartilha da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, citado anteriormente. Na comunidade “Vamos falar sobre violência obstétrica?”, ao narrar um caso de diagnóstico equivocado de abortamento, uma mulher relata ter sido submetida à tricotomia: Antes fui vitima das violências "costumeiras" como por exemplo da enfermeira que me trouxe um barbeador e exigiu que eu me depilasse, pois isso seria cobrado deles pelo outro hospital, sem dar a mínima aos meus argumentos de que eu estava sangrando muito e em risco de perder o bebê, e que por tanto não queria ficar em pé por muito tempo (Marina Fraga). A separação da mulher de pessoas de sua confiança (companheiro, mãe, etc.) também é relatada em um caso, embora exista uma lei10 no Brasil que garante o direito a acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, em vigor desde 2005. Fomos logo informadas de que minha mãe não poderia ficar ali (...).Minha mãe não pode ficar comigo e eu fui deixada sozinha, olhando para aquela mesa de parto e todo aquele lugar fechado que me lembrava uma cela. (...)Na manhã seguinte, tentei falar com o médico ou as técnicas sobre como seria o procedimento, a que horas seria, se eu poderia ver minha mãe, ligar para minha família, queria saber ate que horas seria seguro comer, etc. depois de muitas perguntas sem respostas, eis que o medico vem e me da uma bronca, pois eles estavam sendo muito legais e pacientes comigo e eu estava dando 10 Lei nº 11.108, de 7 de abril de 2005. muito trabalho toda hora querendo coisas e informações. Que eu deveria ficar calma e confiar no trabalho dele, que ele sabia o que estava fazendo, que eu comeria normalmente e que ia deixar minha mãe entrar rapidamente, pra eu parar de reclamar, mas que depois não poderia mais vê-la (Marina Fraga). Outros procedimentos, como manobra de Kristeller, que figura nas recomendações da Organização Mundial da Saúde como “conduta frequentemente utilizada de forma inapropriada” são denunciados na página: Ele me abriu e mandou a assistente subir em mim pra empurrar a bebê com a famosa manobra de Kristeller...ela saiu depois de muito sofrimento e uma enorme episiotomia que eu senti bem... E a placenta ficou presa. Aí ele resolveu me cortar novamente enquanto tentava tirar a placenta com a mão, que era enorme (disse ele) que ainda continuou: "olha vc não deve ter mais filhos não, viu, filha... seu parto é muito difícil". Deixaram minha bebê longe o tempo todo, eu nem vi a cor dela. Ele me costurou sem anestesia e me mandou pro quarto (Anônima). No relato acima, há também o uso de episiotomia, sem anestesia, procedimento cuja utilização rotineira é entendida por Davis-Floyd (2003) como peça ritual que reforça a simbologia do corpo feminino como defeituoso e necessitado da ajuda do homem e da tecnologia para funci0onar a contento. Todos os relatos analisados apresentam reclamações de negação do alívio da dor, que, na opinião das parturientes, era subestimada pelo corpo médicohospitalar: (...) mas meus pesadelos estavam apenas começando, a sala lotou e eu implorei por algo para a dor mas riram de mim e uma das enfermeiras falou que em todos seus anos atuando em partos era a primeira vez que alguém pedia por medicamentos pra dor (Anônima). Eu disse que doía aí ele pegou um vidro de iodo e enquanto ele me abria o canal da vagina com uma mão jogava o iodo pra dentro com a outra. Eu senti queimar tudo nessa hora e gritei de dor. Ele dizia "nãooo filha assim não".... Quando ele resolveu terminar a seção tortura, bateu sarcasticamente na minha perna e disse, tá de alta viu, pode ir pra casa...Eu pensei, ué, pari ontem as 22:10 e agora são 7:00, como vou pra casa com essa dor? (Anônima). Os comentários feitos aos relatos de V.O., pelas usuárias da página do Facebook, mesclam palavras de solidariedade e encorajamento. Frequentemente há menção à possibilidade de reparo judicial e o reforço à caracterização dos procedimentos como violência contra a mulher. Também aparecem dúvidas sobre termos utilizados nos relatos e sobre sua eficácia. A partir de tais interações, percebe-se a construção de uma gramática da violência obstétrica que começa a ser apropriada pelas usuárias da página, que nomeiam e reconhecem práticas obstétricas rotineiras como violentas e desnecessárias. Algumas considerações Percebe-se que direitos sexuais e reprodutivos estão em disputa no campo das políticas de saúde pública. Aguiar (2010) discute a autoridade médica nos serviços de saúde e as bases para o exercício do poder na relação entre o profissional de saúde e a paciente, enfatizando que tal relação é sempre atravessada por questões de gênero. Entendemos, com Foucault (1995), que o poder se exerce de forma relacional, nas ações de uns sobre os outros, em meandros. No âmbito das práticas de saúde, este poder é exercido numa relação hierárquica por definição – a relação profissional de saúde/paciente. No topo desta hierarquia está o médico que é aquele quem dá a última palavra, ou, dito de outra forma, é quem detém a maior autoridade sobre o corpo, a saúde, o cuidado e o tratamento do paciente. Essa autoridade é, por assim dizer, a fonte do poder médico (AGUIAR, 2010, p.33-34). Os movimentos que reivindicam para a mulher o controle sobre o próprio parto colocam o poder do médico em disputa, ao questionarem práticas obstétricas rotineiras, classificando-as como violência obstétrica. Entendemos que essa disputa por direitos reprodutivos e sexuais está perpassada por questões de gênero, uma vez que a assistência (rotineiramente violenta) ao parto no Brasil se assenta em um saber/poder sobre o corpo feminino que foi construído historicamente como corpo defeituoso, que necessita do saber e da autoridade médicas para funcionar a contento. A patologização dos processos naturais de gestação e parto e a medicalização do corpo feminino aconteceram ao longo do processo de construção simbólica do corpo feminino como fundamentalmente reprodutor, instituindo um lugar específico para as mulheres na sociedade. A operação discursiva que coloca as mulheres na posição de mães “por natureza” também as inscreve como naturalmente dispostas à dor e ao sofrimento que são entendidos como naturais do parto. Daí a dificuldade de se reconhecer em determinadas práticas intervencionistas perpetradas por profissionais da área de saúde casos de violência obstétrica. Nesse contexto, pode-se pensar na impossibilidade do saber/poder obstétrico de abarcar (encarcerar) todas as possiblidades e potências dos corpos: Uma existência racional não pode desenrolar-se sem uma “prática de saúde” – hugieine pragmateia ou techne – que constitui, de certa forma, a armadura permanente da vida cotidiana, permitindo a cada instante saber o que e como fazer. Ela implica uma percepção, de certa forma médica, do mundo ou, pelo menos, do espaço e das circunstâncias em que se vive. Os elementos do meio são percebidos como portadores de efeitos positivos ou negativos para a saúde (...) (FOUCAULT, 1985, p. 107) Ao mesmo tempo em que se vem construindo uma prática de saúde obstétrica baseada em uma assistência costumeiramente violenta à gravidez e parto, pode-se bem pensar que a internet proporciona, em seus diversos ambientes, fóruns de questionamento e ressignificação dessas práticas por parte de mulheres que desejam outro tipo de relação com seus corpos e seus processos de gravidez e parto. O termo “violência obstétrica”, ainda novo e carente de definições, talvez esteja sendo delineado e burilado a partir das interações de mulheres, em ambientes de internet, a respeito de suas experiências cotidianas. O corpo da parturiente violentado, escamoteado, revestido por dentro pelo panóptico médico com toda sorte de seus fluxos biopolíticos – como o corpo do louco, amarrado à sua camisa de forças; corpo patologizado, encerrado e cansado pelo propalado obstétrico - talvez “humanizar” o parto seja algo da ordem de uma resistência frente à violência dos maníacos dos bisturis, um guerrilha, uma fuga desse corpo criado e revestido pelo patológico: Somos como personagens de Beckett, para os quais já é difícil andar de bicicleta, depois, difícil de andar, depois, difícil de simplesmente se arrastar, e depois ainda, de permanecer sentado. Como não se mexer, ou então, como se mexer só um pouquinho para não ter, se possível, que mexer durante um longo tempo? É, sem dúvida, o problema central dos personagens de Beckett, uma das grandes obras sobre os movimentos dos corpos, movimentos de si e entre os corpos. (LAPOUJADE, 2002, p.82) Seguindo Peter Pál Pelbart, na esteira de Lapoujade, a questão seria desse corpo cansado da máquina-civilizatória, máquina-médica, máquina-adestramento – corpo farto de “(...) sua docilização por meio das tecnologias disciplinares” (PELBART, 2011). Controle dos fluídos, de práticas outras, dos desejos, dos ruídos – encarceramento da vida, ou como prefere Agamben: uma vida nua, maquiada pelo espetacular saber científico-médico e sua maquinaria de saber-poder. Referências AGUIAR, Janaína Marques de. Violência insitucional em maternidades públicas: hostilidade ao invés de acolhimento como uma questão de gênero. Tese (Doutorado). Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2010. BADINTER, Elisabeth. Um amor conquistado: o mito do amor materno. São Paulo: Círculo do Livro, 1980. BARATA, Rira Barradas. Como e por que as desigualdades sociais fazem mal à saúde. Rio de Janeiro: FOICRUZ, 2009. CARNEIRO, Rosamaria Giatti. Cenas de Parto e Políticas do Corpo: uma etnografia de práticas femininas de parto humanizado. [Tese de Doutorado]. Campinas: Unicamp, 2011. CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede - a era da informação: economia, sociedade e cultura. São Paulo: Paz e Terra, 1999 COSTA, Tonia et. al .Naturalização e medicalização do corpo feminino: o controle social por meio da reprodução. Interface – Comunicação, Saúde, Educação,Botucatu, v.10, n.20, p.363-380, jul-dez 2006. CRIZÓSTOMO, Cilene; NERY, Inez; LUZ, Maria Helena. A vivência das mulheres no parto domiciliar e hospitalar. Esc Anna Nery R Enferm,v.1, n.11, p.98-104, mar 2007. DAVIS FLOYD, Robbie. Birth as an American Rite of Passage. Berkeley / Los Angeles: University of California Press, 2003. DEFENSORIA Pública do Estado de São Paulo. Violência Obstétrica: você sabe o que é? São Paulo, 2014. DI FELICE, Massimo. Netativismo: novos aspectos da opinião pública em contextos digitais. Famecos, Porto Alegre, v.19, n.1, p.27-45, jan./abr.2012. FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 1: a vontade de saber. 19. ed. Rio de Janeiro: Graal, 2009. ____. O sujeito e o poder. In; Rabinow P.; Dreyfuss H.L.; Foucault, M. Uma trajetória filosófica para além do estruturalismo e da hermenêutica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995. ____. História da sexualidade 3: o cuidado de si. Rio de Janeiro: Graal, 1985. FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO & SESC. Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e Privado, 2010. GENNEP, Arnold Van. Os ritos de passagem. 2.ed. Petrópolis: Vozes, 2011. HINE, Christine. Etnografia Virtual. Barcelona: UOC, 2000. JUÁREZ, DIANA Y OTRAS. Violencia sobre las mujeres: herramientas para el trabajo de los equipos comunitarios. Buenos Aires: Ministerio de Salud de la Nación, 2012. KITZINGER, Sheila. Mães: um estudo antropológico da maternidade. 2.ed. Lisboa: Presença, 1996. LAPOUJADE, David. O corpo que não aguenta mais. IN: LINS, Daniel. GADELHA, Sylvio.Nietzsche/Deleuze: que pode o corpo. Rio de Janeiro: Relumé Dumará. Fortaleza: Secretaria da Cultura e do Desporto, 2002. MAIA, Rousiley C.M. Representação política de atores cívicos e esfera pública. In: SOUSA, Mauro Wilton; CORRÊA, Elizabeth Saad (orgs.). Mutações no espaço público contemporâneo. São Paulo: Paulus, 2014. MARTIN, Emily. A mulher no corpo: uma análise cultural da reprodução. Rio de Janeiro: Garamond, 2006. MEYER, Dagmar E. Estermann. A politização contemporânea da maternidade: construindo um argumento. Gênero. Niterói, v.6, n.1, p. 81-104, 2.sem. 2005. PERLBART, Peter Pál. Vida Capital: ensaios de biopolítica. São Paulo: Iluminuras, 2011. PULHEZ, Mariana Marques. A “violência obstétrica” e as disputas em torno dos direitos sexuais e reprodutivos. Anais do Seminário Fazendo Gênero 10. Florianópolis, 2013. SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e Realidade, Porto Alegre, v.20, n.2, p.71-99. Jul./dez. 1995. Disponível em: http://www.archive.org/ stream/scott_gender#page/n0/mode/2up. TORNQUIST, Carmem Susana . Parto e poder: O movimento pela humanização do parto no Brasil. Tese (Doutorado em Antropologia Social). Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina, 2004. VIEIRA, E.M. A medicalização do corpo feminino. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2002. YALOM, Marilyn. A história do seio. Lisboa: Teorema, 1997.
Download