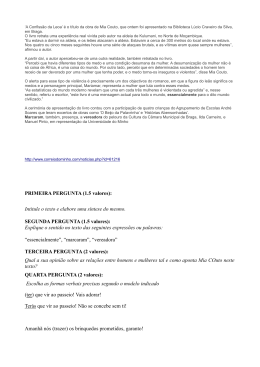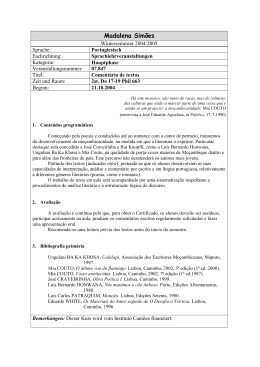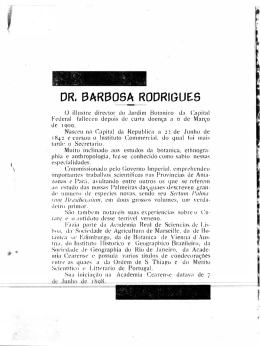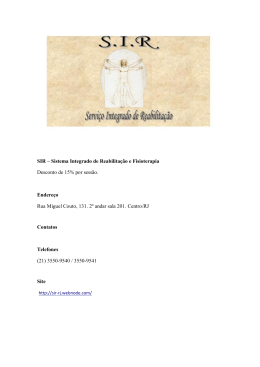Revista ÉPOCA - 09/01/2012 10h16 - Atualizado em 09/01/2012 - 22h23 A língua que somos, a língua que podemos ser O que é pior: ser visto como um clichê ou ser ignorado? Como os outros não nos veem – e como nós não vemos os outros de nós. Uma reflexão sobre o Brasil, a literatura e o poder ELIANE BRUM A alemã Anja Saile é agente literária de autores de língua portuguesa há mais de uma década. Não é um trabalho muito fácil. Com vários brasileiros no catálogo, ela deparase com frequência com a mesma resposta de editores europeus, variando apenas na forma. O discurso da negativa poderia ser resumido nesta frase: “O livro é bom, mas não é suficientemente brasileiro”. O que seria “suficientemente brasileiro”? Anja (pronuncia-se “Ânia”) aprendeu a falar a língua durante os anos em que viveu em Portugal (e é impressionante como fala bem e escreve com correção). Quando vem ao Brasil, acaba caminhando demais porque o tamanho de São Paulo sempre a surpreende e ela suspira de saudades da bicicleta que a espera em Berlim. Anja assim interpreta a demanda: “O Brasil é interessante quando corresponde aos clichês europeus. É a Europa que define como a cultura dos outros países deve ser para ser interessante para ela. É muito irritante. As editoras europeias nunca teriam essas exigências em relação aos autores americanos, nunca”. Anja refere-se ao fato de que os escritores americanos conquistaram o direito de ser universais para a velha Europa e seu ranço colonizador – já dos brasileiros exige-se uma espécie de selo de autenticidade que seria dado pela “temática brasileira”. Como se sabe, não estamos sós nessa xaropada. O desabafo de Anja, que nos vê de fora e de dentro, ao mesmo tempo, me remeteu a uma intervenção sobre a língua feita pelo escritor moçambicano Mia Couto, na Conferência Internacional de Literatura, em Estocolmo, na Suécia. Ele disse: - A África tem sido sujeita a sucessivos processos de essencialização e folclorização, e muito daquilo que se proclama como autenticamente africano resulta de invenções feitas fora do continente. Os escritores africanos sofreram durante décadas a chamada prova de autenticidade: pedia-se que seus textos traduzissem aquilo que se entendia como sua verdadeira etnicidade. Os jovens autores africanos estão se libertando da “africanidade”. Eles são o que são sem que se necessite de proclamação. Os escritores africanos desejam ser tão universais como qualquer outro escritor do mundo. (...) Há tantas Áfricas quanto escritores, e todos eles estão reinventando continentes dentro de si mesmos. Esta conferência de Mia Couto faz parte de um livro de ensaios belíssimo chamado “E se Obama fosse africano?” (Companhia das Letras). Indico com vários pontos de exclamação. Os ensaios de Mia Couto são tão inspiradores quanto seus romances. E o que ele diz sobre a África talvez pudesse ser dito sobre o Brasil, este país que é também um continente. E sobre todo um pedaço do planeta do qual se espera que seja de uma determinada forma. Se ler um livro é ousar se abrir para o outro, exigir que o outro seja como você o imagina é o avesso da experiência literária. Se os editores europeus esperam que sejamos os outros que querem que sejamos, já não somos os outros, mas o estrangeiro domesticado que mora dentro deles. E assim, com um estrangeiro de estimação habitando o seu imaginário, já não precisam nos estranhar. E com isso perdemos todos. Os leitores europeus – que como nós nada têm de homogêneo e contêm tantas diferenças quanto possível – porque abrem mão de estranhar. E nós porque perdemos a chance sempre rica de que nos estranhem. Nos Estados Unidos, apenas 3% de todas as obras publicadas foram escritas em outras línguas que não o inglês. Esta ínfima parcela abarca todos os outros idiomas e todos os gêneros, de livros técnicos à ficção. Se formos pensar apenas em literatura e poesia, o porcentual baixa para 0,7%. Não sei se existem estatísticas sobre qual é a fatia da língua portuguesa neste quase nada, mas parece evidente que é insignificante. Na tentativa de reverter o que chama de “shame” (vergonha), a Universidade de Rochester criou, em 2007, um site chamado Three Percent , para debater e divulgar todos esses universos literários que têm quase tanta dificuldade de ultrapassar as fronteiras dos Estados Unidos quanto os imigrantes ilegais. E, mesmo quando superam as barreiras, pouco ou nenhum espaço encontram na imprensa americana. Uma língua não é apenas um amontoado de palavras que serve para se comunicar, mas um jeito de ser e de estar, de compreender o mundo e a si mesmo, o fora e o dentro. Em cada língua há um universo inteiro, e cada falante a recria a partir de sua experiência. É por isso que a língua é viva e mutante. Se o português falado no Brasil tivesse permanecido o mesmo de cem anos atrás é porque já estaríamos todos mortos. Como disse Fernando Pessoa, nós não habitamos um país, mas uma língua. E aqueles que são os últimos falantes de uma língua morta, porque para ser viva é preciso de um outro que também more nela, tem de renascer em outro idioma para que a vida seja possível. Ninguém vive para além das fronteiras da linguagem. Saber que apenas 3% dos livros publicados nasceram em imaginários outros diz mais dos Estados Unidos do que de todos aqueles que não são vistos por eles. Na grande potência mundial – ainda que em crise – não se trata apenas de uma exigência de estereótipos, como na Europa, já que não há nem mesmo o interesse pelo clichê do outro. No caso dos Estados Unidos, não é necessário fingir estranhamento, já que parecem desconhecer que estranhar é preciso. A experiência de se abrir para a experiência do outro é ignorada. Ignorada como um não saber que há algo ali que vale a pena. Mesmo que faça todo o sentido por qualquer ângulo que se olhe, de Hollywood à política externa americana, ainda assim me parece espantoso que a língua que se impõe sobre o mundo seja também aquela que é fechada para o mundo de (quase) todos os outros. E isso, com certeza, explica muita coisa. Não saberia dizer o que é pior: se a exigência de um clichê de Brasil também na literatura – o “suficientemente brasileiro” com que Anja Saile se depara no contato com os editores europeus – ou a indiferença até mesmo pelo clichê. Acho que a segunda realidade é mais nefasta, porque ao buscar o outro, ainda que seja pelo lugar comum, existe ao menos o risco de encontrar algo que subverta as expectativas e vire os mundos de ponta-cabeça. E aqui, mais um pouco de Mia Couto: - O mesmo processo que empobreceu o meu continente está, afinal, castrando a nossa condição comum e universal de contadores de histórias. (...) O que fez a espécie humana sobreviver não foi apenas a inteligência, mas a nossa capacidade de produzir diversidade. Essa diversidade está sendo negada nos dias de hoje por um sistema que escolhe apenas por razões de lucro e facilidade de sucesso. Os autores africanos que não escrevem em inglês – e em especial os que escrevem em língua portuguesa – moram na periferia da periferia, lá onde a palavra tem de lutar para não ser silêncio. Quem já viajou à Europa e aos Estados Unidos sabe que é quase impossível encontrar um guia de cidade, museu ou local histórico em português. É preciso se virar com o espanhol, se não souber inglês. No final de 2011, a imprensa deu destaque ao fato de que os brasileiros gastam o dobro do que os outros turistas em Nova York, e muitas lojas já mantêm um vendedor que fala português para facilitar a venda a clientes tão promissores. A economia está colocando a nossa língua pelo menos na boca de garçons e balconistas pelos circuitos turísticos do mundo rico em tempos de crise. Será que o lugar de potência emergente conquistado pelo Brasil vai aumentar o interesse pela nossa literatura ou pelo nosso modo de ser? A nova posição do país no cenário internacional já começa a produzir novos clichês não só do mundo sobre o Brasil – mas do Brasil sobre si mesmo. O marketing e a propaganda estão aí para provar como se transforma imagem em verdade. Acredito que o estudo dos novos clichês que estão sendo produzidos fora e dentro do Brasil, sobre o Brasil, seja um caminho bem fascinante para compreendermos o momento vivido. Isso me faz virar o olhar pelo avesso para que possamos enxergar melhor. Como qualquer um sabe, não somos apenas um Brasil, mas muitos. Só de Amazônias temos dezenas, talvez centenas e até milhares. Não há um semiárido, mas uma profusão deles. Assim como são muitos e diversos os Rios de Janeiro e é necessário mais de uma vida para alcançar todas as São Paulo só para descobrir que elas mudaram. Me parece que o Brasil se mantém unido pela sua diversidade – e pela forma de olhar para a sua diversidade. Neste percurso, a música foi bem mais importante do que a literatura. Me preocupa, porém, a forma com que temos olhado para os outros de nós em um momento com tantas decisões em curso. Em geral, a partir do próprio umbigo e com as fronteiras eletrificadas. Uma parte significativa do que chamamos de brasileiros parece misturar o olhar europeu e o olhar americano, aqui explicitados pela literatura, ao se relacionar com tudo o que compreendemos como o outro. Sejam os miseráveis do Bolsa Família, classificados por uma categoria de renda que anularia suas diferenças; sejam os índios, que são vistos como se fossem todos iguais e, em geral, como um “entrave ao progresso”. Talvez os indígenas sejam a melhor forma de ilustrar essa miopia, forjada às vezes por ignorância, em outras por interesses econômicos localizados em suas terras. Parte da população e, o que é mais chocante, dos governantes, espera que os indígenas – todos eles – se comportem como aquilo que acredita ser um índio. Portanto, com todos os clichês do gênero. Neste caso, para muitos os índios não seriam “suficientemente índios” para merecer um lugar e para serem escutados como alguém que tem algo a dizer. Outra parte, que também inclui gente que está no poder em todas as instâncias, do executivo ao judiciário, finge que os indígenas não existem. Finge tanto que quase acredita. Como não conhecem e, pior que isso, nem mesmo percebem que é preciso conhecer, porque para isso seria necessário não só honestidade como inteligência, a extinção progressiva só confirmaria uma ausência que já construíram dentro de si. O modelo de desenvolvimento com que vamos alcançar o futuro depende de como olhamos para os outros de nós e de que lugar ocuparão os outros de nós. Se não acolhermos a diversidade e a usarmos para sermos um Brasil mais igualitário – onde todos sejam igualmente diferentes – não acredito que exista muito futuro para nós, mesmo que o presente pareça promissor. O “Milagre Econômico” da ditadura militar também parecia muito promissor à parcela da sociedade brasileira que dele se beneficiou – e sabemos muito bem como isso terminou. Para sermos grandes – com um conceito de grandeza que não se mede apenas em cifras – será vital inaugurarmos um jeito de olhar diferente tanto para o nosso próprio continente – onde começamos a nos impor como uma espécie de “Estados Unidos da América do Sul”, como ouço com tristeza cada vez que coloco os pés nos países vizinhos – como na forma como olhamos para dentro de nossas fronteiras. Inaugurar não um olhar condescendente – mas um olhar de quem sabe que tem algo a aprender com o outro. O que seremos, me parece, será definido pela resposta que daremos a três impasses: 1) Se vamos conseguir construir um modelo de desenvolvimento baseado no século XXI – e não no século XX, como me parece que é o atual; 2) Se vamos acolher os conflitos e dialogar com as culturas dos vários Brasis que nos compõem ou vamos exterminá-los à força, ainda que seja pela força da manipulação da lei; 3) Se vamos conseguir vencer o desafio da educação, mas não só isso: se a inclusão pela escrita será capaz de abarcar a riqueza da nossa oralidade em lugar de silenciá-la. O que o Brasil será vai depender da sua capacidade – ou não – de incluir todos os outros de si. No desafio que nos espera, é preciso lembrar que nós não temos língua – somos língua. Como disse Mia Couto, de forma magistral, na conferência já citada: - O que advogo é um homem plural, munido de um idioma plural. Ao lado de uma língua que nos faça ser mundo, deve coexistir uma outra que nos faça sair do mundo. De um lado, um idioma que nos crie raiz e lugar. De outro, um idioma que nos faça ser asa e viagem. Para “ser asa e viagem” é preciso acolher todos os outros de si. Não tolerar o outro, mas ser o outro. Veremos. (Eliane Brum escreve às segundas-feiras.) Revista ÉPOCA - 09/01/2012 10h16 - Atualizado em 09/01/2012 - 22h23 A língua que somos, a língua que podemos ser O que é pior: ser visto como um clichê ou ser ignorado? Como os outros não nos veem – e como nós não vemos os outros de nós. Uma reflexão sobre o Brasil, a literatura e o poder ELIANE BRUM A alemã Anja Saile é agente literária de autores de língua portuguesa há mais de uma década. Não é um trabalho muito fácil. Com vários brasileiros no catálogo, ela deparase com frequência com a mesma resposta de editores europeus, variando apenas na forma. O discurso da negativa poderia ser resumido nesta frase: “O livro é bom, mas não é suficientemente brasileiro”. O que seria “suficientemente brasileiro”? Anja (pronuncia-se “Ânia”) aprendeu a falar a língua durante os anos em que viveu em Portugal (e é impressionante como fala bem e escreve com correção). Quando vem ao Brasil, acaba caminhando demais porque o tamanho de São Paulo sempre a surpreende e ela suspira de saudades da bicicleta que a espera em Berlim. Anja assim interpreta a demanda: “O Brasil é interessante quando corresponde aos clichês europeus. É a Europa que define como a cultura dos outros países deve ser para ser interessante para ela. É muito irritante. As editoras europeias nunca teriam essas exigências em relação aos autores americanos, nunca”. Anja refere-se ao fato de que os escritores americanos conquistaram o direito de ser universais para a velha Europa e seu ranço colonizador – já dos brasileiros exige-se uma espécie de selo de autenticidade que seria dado pela “temática brasileira”. Como se sabe, não estamos sós nessa xaropada. O desabafo de Anja, que nos vê de fora e de dentro, ao mesmo tempo, me remeteu a uma intervenção sobre a língua feita pelo escritor moçambicano Mia Couto, na Conferência Internacional de Literatura, em Estocolmo, na Suécia. Ele disse: - A África tem sido sujeita a sucessivos processos de essencialização e folclorização, e muito daquilo que se proclama como autenticamente africano resulta de invenções feitas fora do continente. Os escritores africanos sofreram durante décadas a chamada prova de autenticidade: pedia-se que seus textos traduzissem aquilo que se entendia como sua verdadeira etnicidade. Os jovens autores africanos estão se libertando da “africanidade”. Eles são o que são sem que se necessite de proclamação. Os escritores africanos desejam ser tão universais como qualquer outro escritor do mundo. (...) Há tantas Áfricas quanto escritores, e todos eles estão reinventando continentes dentro de si mesmos. Esta conferência de Mia Couto faz parte de um livro de ensaios belíssimo chamado “E se Obama fosse africano?” (Companhia das Letras). Indico com vários pontos de exclamação. Os ensaios de Mia Couto são tão inspiradores quanto seus romances. E o que ele diz sobre a África talvez pudesse ser dito sobre o Brasil, este país que é também um continente. E sobre todo um pedaço do planeta do qual se espera que seja de uma determinada forma. Se ler um livro é ousar se abrir para o outro, exigir que o outro seja como você o imagina é o avesso da experiência literária. Se os editores europeus esperam que sejamos os outros que querem que sejamos, já não somos os outros, mas o estrangeiro domesticado que mora dentro deles. E assim, com um estrangeiro de estimação habitando o seu imaginário, já não precisam nos estranhar. E com isso perdemos todos. Os leitores europeus – que como nós nada têm de homogêneo e contêm tantas diferenças quanto possível – porque abrem mão de estranhar. E nós porque perdemos a chance sempre rica de que nos estranhem. Nos Estados Unidos, apenas 3% de todas as obras publicadas foram escritas em outras línguas que não o inglês. Esta ínfima parcela abarca todos os outros idiomas e todos os gêneros, de livros técnicos à ficção. Se formos pensar apenas em literatura e poesia, o porcentual baixa para 0,7%. Não sei se existem estatísticas sobre qual é a fatia da língua portuguesa neste quase nada, mas parece evidente que é insignificante. Na tentativa de reverter o que chama de “shame” (vergonha), a Universidade de Rochester criou, em 2007, um site chamado Three Percent , para debater e divulgar todos esses universos literários que têm quase tanta dificuldade de ultrapassar as fronteiras dos Estados Unidos quanto os imigrantes ilegais. E, mesmo quando superam as barreiras, pouco ou nenhum espaço encontram na imprensa americana. Uma língua não é apenas um amontoado de palavras que serve para se comunicar, mas um jeito de ser e de estar, de compreender o mundo e a si mesmo, o fora e o dentro. Em cada língua há um universo inteiro, e cada falante a recria a partir de sua experiência. É por isso que a língua é viva e mutante. Se o português falado no Brasil tivesse permanecido o mesmo de cem anos atrás é porque já estaríamos todos mortos. Como disse Fernando Pessoa, nós não habitamos um país, mas uma língua. E aqueles que são os últimos falantes de uma língua morta, porque para ser viva é preciso de um outro que também more nela, tem de renascer em outro idioma para que a vida seja possível. Ninguém vive para além das fronteiras da linguagem. Saber que apenas 3% dos livros publicados nasceram em imaginários outros diz mais dos Estados Unidos do que de todos aqueles que não são vistos por eles. Na grande potência mundial – ainda que em crise – não se trata apenas de uma exigência de estereótipos, como na Europa, já que não há nem mesmo o interesse pelo clichê do outro. No caso dos Estados Unidos, não é necessário fingir estranhamento, já que parecem desconhecer que estranhar é preciso. A experiência de se abrir para a experiência do outro é ignorada. Ignorada como um não saber que há algo ali que vale a pena. Mesmo que faça todo o sentido por qualquer ângulo que se olhe, de Hollywood à política externa americana, ainda assim me parece espantoso que a língua que se impõe sobre o mundo seja também aquela que é fechada para o mundo de (quase) todos os outros. E isso, com certeza, explica muita coisa. Não saberia dizer o que é pior: se a exigência de um clichê de Brasil também na literatura – o “suficientemente brasileiro” com que Anja Saile se depara no contato com os editores europeus – ou a indiferença até mesmo pelo clichê. Acho que a segunda realidade é mais nefasta, porque ao buscar o outro, ainda que seja pelo lugar comum, existe ao menos o risco de encontrar algo que subverta as expectativas e vire os mundos de ponta-cabeça. E aqui, mais um pouco de Mia Couto: - O mesmo processo que empobreceu o meu continente está, afinal, castrando a nossa condição comum e universal de contadores de histórias. (...) O que fez a espécie humana sobreviver não foi apenas a inteligência, mas a nossa capacidade de produzir diversidade. Essa diversidade está sendo negada nos dias de hoje por um sistema que escolhe apenas por razões de lucro e facilidade de sucesso. Os autores africanos que não escrevem em inglês – e em especial os que escrevem em língua portuguesa – moram na periferia da periferia, lá onde a palavra tem de lutar para não ser silêncio. Quem já viajou à Europa e aos Estados Unidos sabe que é quase impossível encontrar um guia de cidade, museu ou local histórico em português. É preciso se virar com o espanhol, se não souber inglês. No final de 2011, a imprensa deu destaque ao fato de que os brasileiros gastam o dobro do que os outros turistas em Nova York, e muitas lojas já mantêm um vendedor que fala português para facilitar a venda a clientes tão promissores. A economia está colocando a nossa língua pelo menos na boca de garçons e balconistas pelos circuitos turísticos do mundo rico em tempos de crise. Será que o lugar de potência emergente conquistado pelo Brasil vai aumentar o interesse pela nossa literatura ou pelo nosso modo de ser? A nova posição do país no cenário internacional já começa a produzir novos clichês não só do mundo sobre o Brasil – mas do Brasil sobre si mesmo. O marketing e a propaganda estão aí para provar como se transforma imagem em verdade. Acredito que o estudo dos novos clichês que estão sendo produzidos fora e dentro do Brasil, sobre o Brasil, seja um caminho bem fascinante para compreendermos o momento vivido. Isso me faz virar o olhar pelo avesso para que possamos enxergar melhor. Como qualquer um sabe, não somos apenas um Brasil, mas muitos. Só de Amazônias temos dezenas, talvez centenas e até milhares. Não há um semiárido, mas uma profusão deles. Assim como são muitos e diversos os Rios de Janeiro e é necessário mais de uma vida para alcançar todas as São Paulo só para descobrir que elas mudaram. Me parece que o Brasil se mantém unido pela sua diversidade – e pela forma de olhar para a sua diversidade. Neste percurso, a música foi bem mais importante do que a literatura. Me preocupa, porém, a forma com que temos olhado para os outros de nós em um momento com tantas decisões em curso. Em geral, a partir do próprio umbigo e com as fronteiras eletrificadas. Uma parte significativa do que chamamos de brasileiros parece misturar o olhar europeu e o olhar americano, aqui explicitados pela literatura, ao se relacionar com tudo o que compreendemos como o outro. Sejam os miseráveis do Bolsa Família, classificados por uma categoria de renda que anularia suas diferenças; sejam os índios, que são vistos como se fossem todos iguais e, em geral, como um “entrave ao progresso”. Talvez os indígenas sejam a melhor forma de ilustrar essa miopia, forjada às vezes por ignorância, em outras por interesses econômicos localizados em suas terras. Parte da população e, o que é mais chocante, dos governantes, espera que os indígenas – todos eles – se comportem como aquilo que acredita ser um índio. Portanto, com todos os clichês do gênero. Neste caso, para muitos os índios não seriam “suficientemente índios” para merecer um lugar e para serem escutados como alguém que tem algo a dizer. Outra parte, que também inclui gente que está no poder em todas as instâncias, do executivo ao judiciário, finge que os indígenas não existem. Finge tanto que quase acredita. Como não conhecem e, pior que isso, nem mesmo percebem que é preciso conhecer, porque para isso seria necessário não só honestidade como inteligência, a extinção progressiva só confirmaria uma ausência que já construíram dentro de si. O modelo de desenvolvimento com que vamos alcançar o futuro depende de como olhamos para os outros de nós e de que lugar ocuparão os outros de nós. Se não acolhermos a diversidade e a usarmos para sermos um Brasil mais igualitário – onde todos sejam igualmente diferentes – não acredito que exista muito futuro para nós, mesmo que o presente pareça promissor. O “Milagre Econômico” da ditadura militar também parecia muito promissor à parcela da sociedade brasileira que dele se beneficiou – e sabemos muito bem como isso terminou. Para sermos grandes – com um conceito de grandeza que não se mede apenas em cifras – será vital inaugurarmos um jeito de olhar diferente tanto para o nosso próprio continente – onde começamos a nos impor como uma espécie de “Estados Unidos da América do Sul”, como ouço com tristeza cada vez que coloco os pés nos países vizinhos – como na forma como olhamos para dentro de nossas fronteiras. Inaugurar não um olhar condescendente – mas um olhar de quem sabe que tem algo a aprender com o outro. O que seremos, me parece, será definido pela resposta que daremos a três impasses: 1) Se vamos conseguir construir um modelo de desenvolvimento baseado no século XXI – e não no século XX, como me parece que é o atual; 2) Se vamos acolher os conflitos e dialogar com as culturas dos vários Brasis que nos compõem ou vamos exterminá-los à força, ainda que seja pela força da manipulação da lei; 3) Se vamos conseguir vencer o desafio da educação, mas não só isso: se a inclusão pela escrita será capaz de abarcar a riqueza da nossa oralidade em lugar de silenciá-la. O que o Brasil será vai depender da sua capacidade – ou não – de incluir todos os outros de si. No desafio que nos espera, é preciso lembrar que nós não temos língua – somos língua. Como disse Mia Couto, de forma magistral, na conferência já citada: - O que advogo é um homem plural, munido de um idioma plural. Ao lado de uma língua que nos faça ser mundo, deve coexistir uma outra que nos faça sair do mundo. De um lado, um idioma que nos crie raiz e lugar. De outro, um idioma que nos faça ser asa e viagem. Para “ser asa e viagem” é preciso acolher todos os outros de si. Não tolerar o outro, mas ser o outro. Veremos. (Eliane Brum escreve às segundas-feiras.)
Download