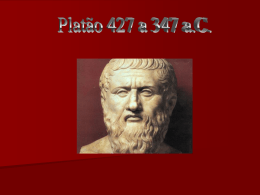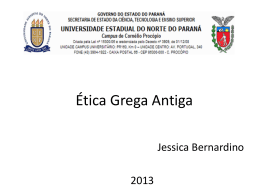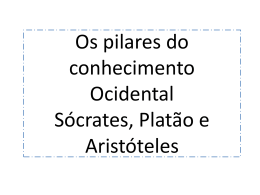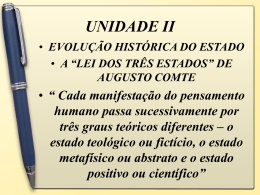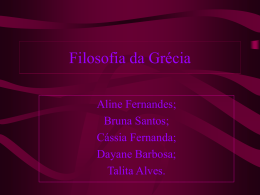Índice-controle de Estudo Unidade I Introdução à Filosofia Aula 1 O que é Filosofia? Aula 2 Mito e Filosofia Aula 3 Sócrates e o nascimento da Filosofia Unidade II Teoria do Conhecimento Aula 4 Platão e o mundo das Ideias Aula 5 Aristóteles e o mundo sensível Aula 6 As ciências 1 Aula O que é Filosofia? Para pensar À primeira vista, é muito fácil definir o que é Filosofia, basta lembrar das origens gregas do termo: philos (amigo) + sophia (sabedoria). Porém, bem mais difícil é tentar explicar para que ela serve. De fato, a Filosofia não visa a resultados práticos ou imediatos. Ao contrário, ela abre espaço justamente para perguntas como: por que todas as coisas devem ter uma finalidade prática? Observe a imagem: Meret Oppenheim. Object. 1936. Xícara, pires e colher forrados com pele. Muitos artistas do século XX deslocaram objetos cotidianos de seu contexto habitual, colocando-os em outros, muitas vezes inusitados. Com isso, conseguiram, entre outras coisas, chamar a atenção para o fato de que existem outras realidades além da aparente e de que nem tudo deve ser observado somente em termos de sua utilidade prática. A Filosofia é um tipo de conhecimento que se justifica por si mesmo. Por isso, não se deve cobrar dela uma aplicação imediata. Faz parte de nossa cultura pensar no conhecimento como um instrumento para a realização de coisas materiais. Porém, essa ideia nem sempre acompanhou o homem, ela foi fruto, principalmente, das mudanças decorrentes da Revolução Industrial, que transformou o conhecimento em técnica, por sua vez utilizada na produção de objetos em larga escala. Esse processo de tal forma afetou nossa vida e mudou nossos hábitos, que passamos a considerar a utilidade prática como única função do conhecimento. A Filosofia não despreza a realidade concreta, mas também não se limita a ela: constitui-se em busca constante por explicações e tem no seu horizonte o desafio de levar o indivíduo ao conhecimento de si mesmo. Criando problemas “Os homens começaram a filosofar movidos pelo espanto”. Essa frase, do filósofo grego Aristóteles (384 – 322 a.C.), resume bem o sentido da Filosofia: ancorada em nossa capacidade de problematizar, ela ajuda-nos a enfrentar questões fundamentais para as quais normalmente não encontramos respostas em nosso cotidiano. Isso inclui o questionamento sobre si mesmo. Sócrates (470 – 399 a.C.), pensador grego, considerado por muitos uma espécie de “pai da Filosofia”, tinha como um de seus princípios a máxima: “Conhece-te a ti mesmo”. Para atestarmos a complexidade dessa tarefa, imaginemos o seguinte: quando você acorda pela manhã, uma de suas primeiras experiências é olhar-se ao espelho. E, durante o dia, muitas vezes você usa a expressão “eu”. Quando alguém pergunta “quem é você?”, você diz seu nome. Ao mesmo tempo, identifica seu nome com aquela imagem do espelho à qual está acostumado. Mas o que apenas um nome e uma imagem dizem sobre você? Certamente, existem muitos outros atributos (virtudes e defeitos). Será que você sabe exatamente quais são? Você alguma vez já se surpreendeu quando alguém disse que você era uma coisa que você nunca imaginou que fosse? Em outras palavras: quanto de você mesmo você conhece? E mesmo quando alguém diz que você é “inteligente” ou “bonito”, ou quando alguém diz “somos amigos”, o que isso significa realmente? O que é inteligência, beleza? O que é amizade? O sentido dessas palavras é sempre o mesmo ou muda de pessoa para pessoa ou mesmo ao longo do tempo? A Filosofia não oferece respostas prontas para esse tipo de questão, ou seja: não é um conjunto pronto e acabado de conhecimentos que se aprende. Ela é uma forma de encarar o mundo, uma busca e um questionamento permanentes. Conceito, reflexão e crítica O conceito é a base do pensamento filosófico. Criamos conceitos para nos referirmos mais precisamente a objetos, ideias ou sentimentos. Para isso, é necessário que cada coisa seja designada naquilo que lhe é fundamental. Em outras palavras, conceitos são abstrações, modelos abstratos que podem ser usados sempre que tentarmos identificar ou entender os diversos aspectos da realidade (e de nós mesmos). Pode-se dizer que a Filosofia é essencialmente a atividade de criar conceitos. Outra característica do pensamento filosófico é que ele depende de um procedimento ou método baseado na reflexão, que deve ser entendida como algo mais do que um simples pensamento. Conhecemos a palavra reflexão do nosso vocabulário de uso cotidiano ou do vocabulário da Física. Simplificando um pouco, o reflexo é a imagem que o espelho nos devolve. Em Filosofia, reflexão significa um pensamento que tem a capacidade de voltar-se contra si mesmo. Isso quer dizer que a Filosofia procura sempre questionar aquilo que já foi pensado. Dessa forma, não se prende a dogmas (ou seja, a ideias indiscutíveis). Mas, ao mesmo tempo em que rejeita o dogmatismo (a crença inegável num sistema), o pensamento filosófico quase sempre rejeita o ceticismo (no sentido da impossibilidade de se chegar a alguma certeza). Por isso se diz que a reflexão filosófica é crítica. Na linguagem cotidiana, costumamos ligar a palavra crítica ao ato de “falar mal” ou “ver defeitos”: esse não é o sentido filosófico. “Fazer a crítica” significa examinar minuciosamente e, sobretudo, com critério e rigor, sem extremismos e considerando a diversidade de opiniões. Se alguém diz “Não gostei daquele filme”, estará simplesmente emitindo uma opinião, “criticando” (no sentido vulgar da palavra). Mas, se disser “Não gostei daquele filme porque o roteiro não é original e os atores foram pouco convincentes”, estará fazendo um exame mais minucioso, a partir de critérios mais precisos. Estará, portanto, sendo rigoroso e crítico. Exercícios 1. Para responder à pergunta que segue, considere a afirmação do filósofo francês Merleau Ponty (1908 – 1961): “A verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo.” Em sua opinião, como a Arte e a Filosofia conseguem nos fazer repensar nossa maneira de ver e entender o mundo, as pessoas e a nós mesmos? 2. Diga qual é a explicação histórica para o fato de buscarmos uma utilidade prática para tudo e aponte as consequências desse tipo de postura. 3. “Pensamento e discurso são, pois, a mesma coisa, salvo que é ao diálogo interior e silencioso da alma consigo mesma que chamamos de pensamento.” (Platão, Sofista.) Como sugere Platão, o pensamento é um tipo de discurso com características muito particulares. Com base no texto da aula, diga quais são as principais especificidades do pensamento filosófico. 4. Defina brevemente, com suas palavras, ceticismo e dogmatismo e procure ilustrar, com exemplos da realidade concreta, os perigos de uma postura extremada. Tarefa Mínima O filósofo grego Sócrates foi acusado de “corromper a juventude ateniense”, e seu julgamento foi descrito pelo discípulo Platão, no texto Apologia de Sócrates. No fragmento abaixo, Sócrates, após saber de sua condenação, dirige-se aos juízes, rejeitando a pena alternativa de expulsão da cidade e propondo o pagamento de uma multa irrisória. Sem alternativa, os juízes confirmaram a sentença de morte. SÓCRATES: Algum de vós talvez pudesse contestarme: Em silêncio e quieto, ó Sócrates, não poderias viver após ter saído de Atenas? Isso seria simplesmente impossível. Porque se vos dissesse que significaria desobedecer ao deus e que, por conseguinte, não seria possível que eu vivesse em silêncio, não acreditaríeis e pensaríeis que estivesse sendo sarcástico. Se vos dissesse que esse é o maior bem para o homem, meditar todos os dias sobre a virtude e acerca de outros assuntos que me ouviste discutindo e examinando a mim mesmo e aos outros, e que uma vida não examinada não é digna de ser vivida, se vos dissesse isso, acreditar-me-iam menos ainda. Contudo, é isto que vos digo, ó atenienses, porém é difícil convencer-vos. Por outro lado, não estou habituado a considerar-me merecedor de mal algum. Se possuísse dinheiro, poderia ter-me aplicado uma multa que conseguisse pagar, porque, assim, não teria me infligido mal algum. Mas não possuo dinheiro e não posso fazer isso, exceto se desejeis multar-me de uma quantia que eu tenha possibilidade de pagar. Poderei pagar-vos apenas uma mina de prata, portanto multo-me em uma mina de prata. (Platão, Apologia de Sócrates.) De acordo com Sócrates, qual a finalidade da Filosofia? Indique o trecho da fala de Sócrates que justifica sua resposta. Tarefa Complementar Leia o trecho do texto “O Inutensílio”, do poeta Paulo Leminski, e responda: por que o autor afirma que as coisas inúteis são a própria finalidade da vida? O indispensável in-útil As pessoas sem imaginação estão sempre querendo que a arte sirva para alguma coisa. Servir. Prestar. O serviço militar. Dar lucro. Não enxergam que a arte (a poesia é arte) é a única chance que o homem tem de vivenciar a experiência de um mundo da liberdade, além da necessidade. As utopias, afinal de contas, são, sobretudo, obras de arte. E obras de arte são rebeldias. A rebeldia é um bem absoluto. Sua manifestação na linguagem chamamos poesia, inestimável inutensílio. As várias prosas do cotidiano e do(s) sistema(s) tentam domar a megera. Mas ela sempre volta a incomodar. Com o radical incômodo de uma coisa in-útil num mundo onde tudo tem que dar um lucro e ter um por quê. Pra que por quê? (Paulo Leminski, Anseios Crípticos, 1986.) Leitura complementar A Grécia e a Filosofia A civilização grega foi talvez a primeira, na Antiguidade, a agrupar um conjunto de características muito peculiares, que se relacionam ao surgimento da Filosofia. Em primeiro lugar, o desenvolvimento da navegação no mar Mediterrâneo. Vivendo em uma terra pobre e em contato com o mar, os gregos se dedicaram a viagens marítimas, voltadas para o comércio e possibilitando amplo deslocamento da população. Nessas viagens, os gregos jamais encontraram os deuses e as criaturas fabulosas que existiam nas lendas e mitos, tanto as suas quanto as de outros povos. Pelo contrário, foram percebendo que a Natureza sempre segue as mesmas “regras”, não importando o local onde estivessem. Foi também o comércio com locais distantes e povos diversos que estimulou o emprego da moeda e a disseminação da escrita. Ao substituir a troca entre mercadorias, a moeda ajuda a desenvolver o raciocínio abstrato, para a elaboração de cálculos de valor. A escrita fonética, em que cada letra representa um som, faz com que as palavras percam seu caráter mágico de representação de um objeto ou uma ideia (palavra = coisa) e passem a ser apenas o seu signo (palavra = signo), dessacralizando o uso da escrita e estimulando o raciocínio. A riqueza trazida pelo comércio e a utilização em larga escala de escravos, tornou possível o ócio, o tempo livre, que podia ser dedicado à atividade contemplativa, estimulando o espírito de observação. Da mesma forma, o aperfeiçoamento do calendário, baseado na observação da Natureza (repetição das estações do ano, das fases da lua), que deu ao tempo um caráter natural e não divino. Tais condições, sozinhas, não explicam por que a Filosofia nasceu na Grécia Antiga, mas certamente contribuíram para que isso ocorresse. Brevemente, cite algumas condições específicas que favoreceram o desenvolvimento da Filosofia na Grécia Antiga? 2 Aula Mito e Filosofia Para pensar Muitas vezes, acreditamos em algumas coisas e não sabemos bem por quê. Em outras palavras, acreditamos, sem questionar, naquilo em que todos acreditam. Você é capaz de identificar se já teve (ou tem) alguma dessas crenças? Quem as ensinou? Essas crenças tinham (ou têm) alguma finalidade, ou seja, elas faziam (ou fazem) você agir de determinada forma? Observe a imagem: Peter Paul Rubens e Jan Brueghel, o Velho. O jardim do Éden e a queda do homem, 1614-15. A cena, retratada pelos artistas Peter Paul Rubens (1577 – 1640) e Jan Brueghel (1568 – 1625) no início do século XVII, remonta ao mito que está na base da cultura ocidental: o da existência de um paraíso do qual o homem foi expulso após cometer o pecado original. Apesar de muitos de nós questionarmos a existência do éden, a noção de paraíso é tão forte em nossa cultura que até hoje ela é recorrente em nosso cotidiano: está, por exemplo, na publicidade, no cinema e nas canções populares, e nos referimos a ela sem notar que, na realidade, trata-se de um mito. Mas o que é exatamente um mito? Origens do mito Na aula anterior, falamos brevemente sobre as origens gregas da Filosofia. Afirmar que a Filosofia foi criada pelos gregos significa dizer que eles foram os primeiros a propor que o mundo existia e as coisas aconteciam não apenas devido à ação dos deuses. Em outras palavras, os gregos explicaram o mundo a partir do logos, da palavra racional. O mito, por sua vez, é uma forma de explicação da realidade anterior à Filosofia e que não se baseia na racionalidade. Todas as culturas – inclusive a grega – criaram seus mitos, associando a origem do mundo, os fenômenos da Natureza e os grandes acontecimentos da vida à atuação de forças exteriores à realidade concreta. O mito se originou do medo e do espanto do homem diante de uma Natureza potencialmente hostil. Por isso, mais do que para explicar o mundo, o mito serviu para acalmar a ansiedade humana em relação aos mistérios da criação. Características do mito Ao contrário da Filosofia, que se funda na racionalidade, o mito se baseia, sobretudo, na intuição, e incorpora ao mesmo tempo imaginação e emotividade. Vejamos um exemplo de mito proveniente do Egito Antigo: Osíris Osíris foi um antigo governante egípcio, filho de Geb (deus da terra) e Nut (deusa do céu). Ele ensinou aos homens a agricultura e a domesticação dos animais. Seu irmão Set, governante do deserto e invejoso da prosperidade e riqueza das terras de Osíris, planejou seu assassinato: ofereceu a ele um jantar, no qual o presenteou com um rico sarcófago, e, auxiliado por setenta e dois conspiradores, acabou trancando Osíris no caixão, jogando-o no rio Nilo, de onde foi parar no mar. Ísis, irmã e mulher de Osíris, saiu em busca de seu amado. Encontrou-o em Biblos, porto do mar Mediterrâneo, e resgatou seu corpo, levando-o de volta ao Egito. Quando Set soube do retorno do corpo de Osíris, ordenou sua apreensão e esquartejamento em catorze pedaços, que foram espalhados por todo o Egito. Ísis, mais uma vez, saiu em busca dos restos de Osíris e acabou por juntá-los, o que tornou possível sua ressurreição. Ísis e Osíris se uniram e tiveram um filho, Hórus, que derrubou Set e tornou-se governante de todo o Egito. Osíris passou a governar o mundo dos mortos. Algumas características dessa narrativa permitem sua identificação como um mito. Em primeiro lugar, o fato narrado ocorreu em um tempo passado indeterminado, em que deuses habitavam a terra, ou seja, em um tempo fundamentalmente diferente do nosso. Em segundo lugar, a narrativa mítica baseia-se na imaginação e na capacidade humana de construir símbolos; por isso quase sempre assume um caráter de exagero e de inverossimilhança em relação à realidade concreta. Finalmente, o mito está ligado aos fenômenos da natureza: assim como houve a ressurreição de Osíris, haverá a “ressurreição” da terra a cada ano, em razão do regime de cheias do rio Nilo. Assim, o culto religioso a Osíris era também a festa da colheita. O fenômeno da cheia do rio é explicado, ainda que metaforicamente, como fruto de iniciativas e intrigas dos deuses. A Filosofia, ao contrário do mito, aborda coisas que ocorrem em um tempo conhecido e possível, bem como sua permanência e mudança. Ao mesmo tempo, não admite o incompreensível, buscando sempre explicações racionais, ao alcance de qualquer indivíduo. Dessa forma, explica a natureza dentro dessa mesma perspectiva: racional e acessível. Ruptura ou continuidade? Até que ponto a passagem do mito à Filosofia na Grécia Antiga significou uma ruptura? A Filosofia nascente buscou, a partir do pensamento e da especulação racional, formular respostas para questões que também eram abordadas pelo mito, como a da origem do mundo. Além disso, as propostas racionais de explicação dos filósofos muitas vezes tinham espantosa semelhança com as formulações míticas. Por exemplo, de acordo com o filósofo Tales de Mileto (624? – 558? a.C.), a água é a origem de todas as coisas. Já para a mitologia grega, o deus Oceano originou a vida. Nesse sentido, pode-se falar em uma continuidade entre mito e Filosofia, uma vez que os problemas abordados continuam sendo basicamente os mesmos. A novidade está na abordagem, já que a Filosofia busca um princípio racional de explicação. Exercícios 1. Tradicionalmente, as religiões sempre se utilizaram dos mitos. Em sua opinião, que característica do pensamento mítico permitiu isso? Tarefa Mínima Aquele que ouve o mito, independente de seu nível cultural, enquanto está ouvindo o mito, esquece de sua situação particular e é projetado em outro mundo, em outro universo que não é mais o seu pequeno e humilde universo do dia a dia… Os mitos são verdadeiros porque são sagrados, porque eles falam sobre criaturas e eventos sagrados. Em consequência, recitando ou ouvindo o mito, recuperase o contato entre o sagrado e o real, e assim fazendo, supera-se a condição profana, a “situação histórica”. Em outras palavras, pode-se ir além da condição temporal e da autossuficiência entorpecente que é o fardo de cada ser humano simplesmente porque cada ser humano é “ignorante” – no sentido de que ele se identifica, e a Realidade, com sua situação particular. E a ignorância é, em primeiro lugar, essa falsa identificação da Realidade em que cada um de nós parece estar ou possuir. (M.Eliade, Imagens e símbolos.) A partir do fragmento de texto do filósofo romeno Mircea Eliade (1907–1986), responda: por que existe a crença em mitos ainda hoje? Cite exemplos de mitos contemporâneos, que nos retiram “do universo do dia a dia” e nos colocam em contato com o sagrado. Tarefa Complementar O desenvolvimento da Filosofia e da especulação racional em geral (por exemplo, nas ciências da natureza), acabou por criar um novo sentido à palavra mito: hoje, muitas vezes usamos essa palavra para identificar uma ideia falsa ou sem correspondência com a realidade. Em outras palavras, muitas vezes em nosso cotidiano usamos “mito” como sinônimo de “mentira”. 2. Quais as principais diferenças entre mito e Filosofia? 1. Cite exemplos, extraídos do seu cotidiano, do emprego da palavra “mito” no sentido exposto acima. 3. Apesar das diferenças entre os dois tipos de pensamento, pode-se dizer que existe alguma semelhança entre mito e Filosofia? Justifique. 2. Explique a frase do intelectual norte-americano Joseph Campbell (1904 – 1987): “Mitologia é o nome que damos às religiões dos outros”. Leitura complementar Importância do pensamento mítico Não devemos considerar o mito apenas uma narrativa “inocente” e que foi definitivamente superada pela Filosofia. Ao incluir elementos como a intuição e a emotividade, o mito é uma forma de conhecimento válida, porém diferente daquela que chamamos racional. Geralmente associa-se o mito à religião e acredita-se que sua força advém do fato de muitas vezes ser transmitido por um narrador que tem algum tipo de autoridade (por exemplo, um religioso). Mas deve-se lembrar que, embora durante muito tempo eles tenham se confundido, o pensamento mítico transcende o religioso. Se não fosse isso, como explicar a força com que certos mitos emergem na contemporaneidade? O mito do herói, por exemplo, costuma levar multidões ao cinema. Outra prova de que o mito não é apenas um tipo de narrativa ou interpretação de mundo ultrapassado é o fato de que até hoje existe a tendência de “mitificar” os indivíduos e acontecimentos: com a ajuda da mídia, tomamos como verdadeiras certas características das pessoas ou certas explicações das coisas, sem que tenhamos exatamente uma motivação racional para isso. E os mitos criados pela cultura pop são muitos: de cantores de rock a celebridades instantâneas. Diferentemente de uma simples crença, o mito tem uma finalidade: ajuda a definir modelos de comportamento, expressando valores comuns a uma sociedade. 3 Aula Sócrates e o nascimento da Filosofia Para pensar Vivemos numa sociedade que estimula a busca por prazeres e a afirmação das individualidades. Porém, será que a realização pessoal é suficiente para uma vida feliz? Por exemplo, é possível ter prazer saboreando um lanche se, ao lado, vemos uma pessoa faminta? Em outras palavras: é possível ser indiferente à situação do outro e conviver passivamente com as injustiças? Observe a imagem: Jacques-Louis David. A morte de Sócrates, óleo sobre tela, 1787. A pintura, produzida mais de 2.000 anos após a morte do filósofo grego, retrata a dor e o desespero de seus amigos diante da arbitrariedade de sua condenação. Mas a injustiça cometida contra Sócrates não os deixou indiferentes; pelo contrário, pode-se dizer que fortaleceu os ideais defendidos pelo filósofo e estimulou a atividade de novos pensadores, dentre eles Platão, cujo pensamento está na base da cultura ocidental. Quem foi Sócrates? Sócrates foi um ateniense que viveu no século V a.C., período conhecido como a “Idade de Ouro” de Atenas. Não deixou nenhum escrito; o que sabemos de suas ideias deve-se a citações, sobretudo daqueles que o conheceram, como seu discípulo Platão (428 – 347 a.C.). Desapegado de bens materiais, tinha o hábito de caminhar pela cidade propondo diálogos aos cidadãos. Esses diálogos giravam em torno de assuntos aparentemente triviais, mas, a partir deles e por meio de hábeis perguntas, Sócrates acabava por abordar questões complexas, que costumavam deixar seus interlocutores perplexos. Sócrates é considerado o “pai da Filosofia”, pois buscou atingir uma verdade a partir da prática filosófica, do diálogo com os demais cidadãos. No centro de sua busca pelo conhecimento verdadeiro, estavam as questões humanas, como a amizade, o belo e a virtude. Isso distanciou Sócrates dos filósofos gregos anteriores a ele, que se limitaram a explicar a natureza ou a praticar a retórica. Método socrático No diálogo Teeteto, de Platão, Sócrates define a função do filósofo como sendo semelhante à de uma parteira: seu objetivo seria dar à luz ideias. Chama-se maiêutica o método socrático de obtenção da verdade segundo o qual cada pessoa seria capaz de atingi-la, cabendo ao filósofo apenas facilitar esse encontro, por meio de perguntas. Sócrates acreditava que o primeiro passo para se chegar a essa verdade era o reconhecimento da própria ignorância, ideia expressa pelo lema: “Só sei que nada sei”. Nas conversas, ele abusava da ironia como forma de abalar crenças constituídas e expor a fragilidade das argumentações. Ainda no diálogo Teeteto, Sócrates apresentou uma metáfora para ilustrar sua luta contra a passividade e o adormecimento intelectual da sociedade ateniense: Atenas era uma égua preguiçosa, e ele um pequeno mosquito, que mordia seus flancos para provocar alguma reação. É importante frisar que há um princípio ético na base do pensamento de Sócrates. Uma vez que o homem é racional, ele teria a capacidade de conhecer a verdade, que não se encontra somente nele, mas também na natureza. Como o homem faz parte da natureza, pode-se dizer que participa da verdade e pode ter acesso a ela pelo pensamento. Sócrates dizia ouvir uma voz divina que o levava a fazer o que era certo e, para isso, era necessário o conhecimento, ou seja, a conexão com a verdade expressa pela natureza – um pré-requisito para se fazer o bem. Com o conhecimento, o homem ganha autonomia, isto é, a capacidade de determinar sua própria conduta e suas próprias regras. Por isso Sócrates dava tanta importância à consciência ética: ao determinar sua conduta, o homem deveria, necessariamente, considerar sua relação com a verdade. A mais importante contribuição de Sócrates para a nascente Filosofia foi a identificação do homem com sua psyche, ou “alma”, caracterizada ao mesmo tempo como centro da racionalidade, da personalidade e da consciência ética. Sofistas e Pré-Socráticos Sócrates é considerado o pai da Filosofia, mas ele não foi o primeiro filósofo grego. Antes dele, outros tentaram explicar o mundo a partir da razão e não do mito: os chamados pré-socráticos. Também conhecidos como “filósofos da natureza”, sua reflexão estava voltada, sobretudo, para a explicação da origem do mundo físico, sua composição e suas mudanças. Tales de Mileto, por exemplo, afirmava ser a água a origem de todas as coisas; já Demócrito de Abdera dizia que todas as coisas eram formadas por átomos. O desenvolvimento da democracia em Atenas e a prática das discussões públicas sobre assuntos de interesse dos cidadãos levaram ao surgimento dos filósofos sofistas, que negavam a possibilidade de um conhecimento verdadeiro e enfatizavam o uso da retórica e das técnicas de persuasão: a verdade de um discurso estaria na sua adequação a um fim desejado. Portanto, não existiria uma verdade a ser atingida pela razão, mas várias opiniões que poderiam convencer ou não, dependendo da habilidade do orador. Sócrates criticava os sofistas quando eles aceitavam pagamento por seus ensinamentos, pois isso era considerado perda de autonomia. Exercícios 1. Apesar de não ser o primeiro filósofo grego, Sócrates é considerado o pai da Filosofia. Como eram chamados os filósofos que o precederam e qual a novidade do pensamento socrático em relação ao desses filósofos? 2. “Uma vida não examinada não é digna de ser vivida.” Sócrates Pode-se afirmar que Sócrates lutou contra a indiferença e a passividade dos cidadãos atenienses. Para isso, desenvolveu um método, a maiêutica. Diga no que consistia esse método e qual a principal arma usada pelo filósofo para desconstruir ideias preconcebidas. 3. Explique por que se pode afirmar que há um princípio ético na base do pensamento socrático. Tarefa Mínima SÓCRATES - Acredito, e já o disse muitas vezes, que não deve ir o sapateiro além do sapato. Não creio em versatilidade. Recorro ao sapateiro quando quero sapatos e não ideias. Creio que o governo deve caber àqueles que sabem, e os outros devem, para seu próprio bem, seguir suas recomendações, tal como seguem as do médico. Sua liberdade de expressão parte do pressuposto de que as opiniões de todos os homens têm valor e de que a maioria constitui melhor guia que a minoria. Mas como podem jactar-se* de sua liberdade de expressão quando desejam silenciar-me? Como podem ouvir as opiniões do sapateiro ou do curtidor quando discutem sobre a justiça na assembleia, porém fazer-me silenciar quando manifesto as minhas, embora toda minha vida tenha sido dedicada à busca da verdade, enquanto os senhores cuidam de seus assuntos particulares? (Libânio – séc. IV, Apologia de Sócrates.) * jactar-se: vangloriar-se; gabar-se. Indique as críticas à democracia ateniense presentes no fragmento. Tarefa Complementar Claudia Andujar. Sem título, da série Yanomami, realizada entre 1982 e 1990 e exposta na XXVII Bienal de São Paulo. A atuação do filósofo Platão teve início com uma reação à injustiça cometida contra Sócrates. Como Platão, muitas pessoas se dedicam a denunciar aquilo que consideram uma grande injustiça. Claudia Andujar é um exemplo disso: fotógrafa suíça radicada no Brasil, viveu muitos anos entre os índios ianomâmis e, além de fotografá-los, atuou de maneira efetiva na luta pelo reconhecimento dos direitos indígenas e pela demarcação de suas terras. Agora é sua vez: pense em sua realidade. Dentre as muitas injustiças que presencia, qual mais o(a) incomoda? Procure denunciar isso. Você poderá realizar essa tarefa de várias formas: elaborando um cartaz, escrevendo um texto, fazendo um desenho, uma pintura, uma colagem, ou mesmo tirando uma foto. O importante é que você consiga deixar clara sua indignação e tente despertar no outro o mesmo sentimento. LEITURA COMPLEMENTAR O julgamento de Sócrates No ano de 399 a.C., Sócrates foi julgado por um tribunal de cidadãos, sob a acusação de “corromper a juventude” ateniense e introduzir o culto a novos deuses na cidade. Os detalhes do episódio foram narrados por seu discípulo, Platão, em A Apologia de Sócrates. Durante o julgamento, Sócrates procurou convencer os acusadores do seu equívoco e tentou, sem sucesso, extrair deles o significado do que seria, exatamente, “corromper a juventude”. Na sua defesa, afirmou que seu amigo Querofonte, ao consultar o Oráculo de Delfos, ouviu dos deuses que “Sócrates é o mais sábio dos homens”. Por isso mesmo teria iniciado a sua busca por alguém mais sábio: sua atividade seria fruto dessa “missão divina”. Apesar de apresentar uma argumentação sólida durante todo o julgamento, Sócrates foi considerado culpado e condenado à morte. Conforme a tradição, ele teria o direito de propor uma pena alternativa, mais branda. E, como sua condenação havia sido obtida por uma apertada votação entre os 500 cidadãos sorteados para fazer parte do tribunal, tudo indicava que a pena mais branda seria de fato aceita. Mas Sócrates recusou-se a fazê-lo. Afirmou que pedir qualquer pena, por mais branda que fosse, seria reconhecer a culpa, algo que para ele seria impossível. Assim, preferiu constranger os cidadãos de Atenas e seus juízes, obrigando-os a condená-lo à pena de morte. A forma como a Atenas democrática executou aquele que era talvez seu mais brilhante cidadão chocou vários atenienses, dentre os quais o discípulo de Sócrates, Platão. Inconformado com a morte do mestre, Platão começou a escrever, e um de seus primeiros escritos – que quase sempre apresentam a forma de diálogos e nos quais Sócrates aparece como personagem – foi justamente a Apologia de Sócrates. Inicialmente o objetivo de Platão foi defender a memória de seu mestre agora morto. Ele queria “consertar” o que a seu ver foi uma injustiça e, para isso, seus escritos deveriam conter uma argumentação que pudesse provar a verdade sobre Sócrates: não apenas uma opinião que pudesse ser debatida, mas um conhecimento verdadeiro. 4 Aula Platão e o mundo das Ideias Para pensar Imagine que você está sentado na sala de aula, e uma bola entra pela janela, pula pelas carteiras, faz alguns estragos. Quase automaticamente, você faz uma série de operações de pensamento: de onde veio a bola, quem pode ter arremessado, onde ela vai parar? Essas operações são estratégias para se chegar ao conhecimento da situação. Todos são capazes de conhecer. Mas qual seria a gênese, ou seja, a origem do conhecimento? Na história da Filosofia, diversos pensadores tentaram desenvolver uma Teoria do Conhecimento, buscando indicar a fonte de um conhecimento verdadeiro e as condições em que é possível estabelecê-lo. Observe a imagem: Mark Rothko, Sem título, 1953. Como veremos a seguir, para Platão a busca pelo conhecimento verdadeiro deve ser entendida como a busca pela essência – aquilo que é eterno e imutável. Esse pensamento teve – e ainda tem – grande alcance no Ocidente. Pintores abstratos, por exemplo, concentraram seu trabalho na busca por aquilo que eles pensavam ser a essência da pintura. No caso de Mark Rothko, essa essência estaria na cor. A importância do pensamento socrático Já sabemos que os primeiros escritos de Platão foram uma resposta à injusta condenação de Sócrates. Mas a influência de Sócrates sobre seu discípulo não se limitou a esse impulso inicial. Para Platão, o discurso não é mera expressão de uma opinião, devendo estar fundamentado naquilo que de fato existe ou existiu; naquilo que é, portanto, verdadeiro. Por isso pode-se dizer que Platão incorporou e desenvolveu os ensinamentos socráticos. Na tentativa de reproduzir as conversas que Sócrates mantinha, criou a forma do “diálogo”. Com ele pretendia mostrar que o conhecimento verdadeiro só pode ser atingido por meio da troca de ideias e do debate, incluindo a maiêutica e o uso da ironia. A palavra dialética refere-se a essa busca da verdade pelo jogo do diálogo. Segue trecho do livro A República, de Platão, no qual Sócrates explica em que consistiria exatamente a tarefa do filósofo de “amar o espetáculo da verdade”. (…) SÓCRATES: Acontece a mesma coisa com o justo e o injusto, o bom e o mau e todas as outras formas: cada uma delas, tomada em si mesma, é uma; porém, dado que entram em comunidade com ações, corpos e entre si mesmas, elas se revestem de mil formas que parecem multiplicá-las. GLAUCO: Tens razão. SÓCRATES: É neste sentido que eu diferencio, de um lado, os que amam os espetáculos, as artes e são os homens práticos; e, de outro, aqueles a quem nos referimos no nosso discurso, os únicos a quem com razão podemos denominar filósofos. No trecho, a personagem Sócrates afirma que existem o justo e o injusto, o bom e o mau, e cada uma dessas coisas, apesar de “se revestir de mil formas diferentes”, de fato é uma só. Em outras palavras, existe algo a que se chama Bom, e esse algo assume diversas características, na medida em que “entra em comunidade” com outras coisas, quer dizer, na medida em que caracteriza pessoas, objetos ou ações. Dessa forma, temos o homem bom, a ação boa, o cavalo bom. Em todos esses casos, o “bom” sempre existe, independentemente dos diversos itens que caracteriza. Chama-se a isso de forma: a forma Bom é única e eterna. Para Sócrates, algumas pessoas admiram as artes e os espetáculos, ou seja, os diversos modos como a realidade se apresenta, e se entretêm com eles. O filósofo, por sua vez, busca conhecer as formas e sua essência. O mundo das Ideias As formas platônicas são uma expansão da forma socrática e se caracterizam, entre outros, pelo fato de não se aplicarem somente a conceitos abstratos como bom e mau, justo e injusto, mas também a seres e objetos da realidade concreta, como, por exemplo, as plantas e os animais. Pensemos num cão. Nenhum cão é igual. Apesar de existirem cães da mesma raça, da mesma cor e até do mesmo tamanho, sempre haverá algo que os diferencia. Além disso, cada cão individual tem uma determinada idade e, conforme o tempo passa, ele envelhece e se transforma, até um dia deixar de existir. Porém, há algo em todo cão que nos permite identificá-lo como tal. Trata-se da forma cão. Outro exemplo: se pedirmos para quarenta pessoas pensarem em uma rosa, certamente todas pensarão de fato em uma rosa. Das quarenta rosas imaginadas, talvez nenhuma seja igual: terão diferentes cores, tamanhos, quantidades de pétalas e folhas. Porém, apesar da diversidade, cada rosa imaginada será uma representação individual da forma rosa. Existe, portanto, uma diferença entre os objetos materiais (que se transformam, mudam) e as formas (ao mesmo tempo eternas e imutáveis). As coisas materiais são percebidas pelos homens através dos órgãos dos sentidos (visão, audição, tato, etc.), enquanto as formas só podem ser entendidas pelo pensamento (ou pela “alma”). Em outras palavras, existe um mundo concreto, percebido pelos sentidos, com todas as suas imperfeições; mas além dele existe outro, o mundo das Ideias, que contém as formas imutáveis e perfeitas. A tarefa do filósofo seria conhecer esse mundo. Platão defendia a superioridade do mundo das ideias sobre o mundo material. Isso se deve não só ao fato de a realidade concreta estar sempre mudando (e nunca poderemos ter um conhecimento seguro sobre algo que hoje “é de um jeito” e amanhã é “de outro”), mas também ao fato de nossos sentidos nos enganarem (muitas vezes pensamos ter visto ou ouvido uma coisa, que na verdade era outra). O ser humano carrega essa dualidade: é ao mesmo tempo corpo (que se transforma e acaba por morrer) e aquilo que não é corpo e podemos chamar de alma (considerada imortal e sede do pensamento). Se a alma é eterna, pertence ao mundo das ideias; portanto, sempre existiu e sempre existirá, antes e depois daquele intervalo de tempo em que ocupou o corpo de um indivíduo. Por possuir uma alma, cada homem já nasce com uma vaga noção das formas. Segundo Platão, guardamos dentro de nós a reminiscência, isto é, a lembrança das formas perfeitas com as quais nossa alma estava em contato antes de se juntar a um corpo. Quando vemos um cão, nossa alma identifica essa criatura com a forma cão que já existe em nosso pensamento. Ou seja, as ideias são inatas (já nascemos com elas); os que amam o conhecimento (os filósofos) simplesmente aproximam-se delas, aprimorando o conhecimento que já possuem. Quando Platão se refere a Eros – o amor ao conhecimento e o desejo de se aproximar do imortal (para aprofundar, leia texto da Leitura Complementar) –, trata desse desejo da alma de alcançar o mundo das ideias, de retornar ou de entrar em comunhão com sua morada original. A alma desejaria se libertar da prisão imperfeita que é o corpo. A alegoria da caverna No livro VII de A República, Platão relata o mito ou a alegoria da caverna. Mais uma vez dando voz a Sócrates, descreve o seguinte cenário: uma caverna, no fundo da qual estão vários prisioneiros, acorrentados, imobilizados, com as cabeças presas na direção de uma parede. Em suas costas, desfilam figuras, espécies de marionetes, que têm suas sombras projetadas na direção da parede e se movimentam com a ajuda de algumas pessoas. Os prisioneiros, que só veem as sombras, acham que elas são seres verdadeiros e que as vozes ouvidas são delas. Certo dia, um dos prisioneiros consegue se libertar. Ele dá as costas à parede para onde olhava até então. Inicialmente, fica ofuscado pela luz, uma vez que até então só vira sombras, mas logo vê as marionetes sendo manipuladas e a chama que projetava as sombras na parede. Em seguida, o prisioneiro, agora liberto, caminha para fora da caverna e, finalmente, contempla o sol. A luz quase o cega, mas ele acaba aprendendo a lidar com tanta claridade e começa a ver as coisas verdadeiras. Ele percebe que elas são muito mais belas e claras que as sombras no fundo da caverna. Conclui que a luz do sol é a origem de toda beleza que existe. Sabendo que ainda existem várias pessoas acorrentadas, o ex-prisioneiro decide voltar para a caverna para libertá-las. Voltando à escuridão, tem dificuldade de ver nas sombras (uma vez que agora já se acostumou à luz). Mesmo assim, tenta convencer as pessoas de que aquilo que elas veem não é a realidade, mas uma cópia muito imperfeita dela. Os demais prisioneiros não conseguem conceber que exista algo além das sombras: eles riem e, caso o prisioneiro liberto tente libertar mais alguém, correrá o risco de ser morto. Com a alegoria da caverna, Platão descreve a forma como se origina o conhecimento, ou seja, a forma como o filósofo deixa para trás o mundo das coisas visíveis, materiais e imperfeitas, e chega até o mundo das ideias, que brilham diante de nós até quase nos cegar. Há no texto uma crítica aos habitantes de Atenas, que, ao condenarem Sócrates à morte, agiram como os prisioneiros no fundo da caverna, que se negaram a caminhar para a luz, ou para o conhecimento, que estava sendo apontado por Sócrates. Dessa alegoria ainda se depreende que o filósofo deve ter a coragem de seguir o difícil caminho de sair da caverna (o que pode trazer sofrimento) e, ao mesmo tempo, tem a obrigação de apontar o caminho do conhecimento às outras pessoas, apesar de, com isso, correr riscos. Exercícios 1. Por que Platão costuma ser considerado o criador da razão ocidental? Platão descreveu o conhecimento do divino como algo implícito em todas as almas, embora esquecido. A alma, imortal, sentiria o contato direto e íntimo com as realidades anteriores ao nascimento, mas a condição pós-nascimento do aprisionamento corporal faria a alma esquecer a verdadeira situação. A meta da filosofia seria libertar a alma dessa condição ilusória na qual ela é enganada pela finita imitação e encobrimento do eterno. (Adaptado de R.Tarnas, A Epopeia do Pensamento Ocidental.) Explique a seguinte frase do segundo parágrafo: “A meta da filosofia seria libertar a alma dessa condição ilusória na qual ela é enganada pela finita imitação e encobrimento do eterno”. 2. “Sócrates: Admitamos, pois – o que me servirá de ponto de partida e de base – que existe um Belo em si e por si, um Bem, um Grande, e assim por diante. Se admitirmos a existência dessas coisas, se concordares comigo, esperarei que elas me permitirão tornar-te clara a causa que assim descobrirás, que fez com que a alma seja imortal”. (Platão, Fédon.) Ao falar do Belo, do Bem e do Grande, Sócrates está se referindo às formas. O que é forma e qual a principal característica da forma platônica? Tarefa Complementar Para responder às questões, tome por base a imagem e o comentário que seguem. 3. Platão estabeleceu a distinção entre dois mundos. Quais são eles e como se caracterizam? Tarefa Mínima Para Platão, a realidade última não teria natureza apenas racional e ética, mas também estética: o Bem, a Verdade e o Belo estariam realmente unidos no supremo princípio criativo, impondo ao mesmo tempo afirmação moral, fidelidade intelectual e rendição estética. A Beleza – a mais acessível das Formas, atraindo o filósofo para a visão do conhecimento do Verdadeiro e do Bom. Com isso Platão mostrava que a visão filosófica mais elevada só seria possível a quem tivesse o temperamento de um amante. O filósofo deveria se permitir ser agarrado pela mais sublime forma de Eros: aquela paixão universal de reconstituir a unidade anterior, de superar a separação com o divino e tornar-se uno com ele. Praxíteles. Hermes e o jovem Dioniso, c. 340 a.C. A escultura de Praxíteles ilustra o quanto a arte grega, principalmente a do período clássico (séc. V e IV a.C.), esteve preocupada com certo ideal de beleza. Isso se deve ao fato de que os gregos desenvolveram uma concepção de estética ligada ao conceito de Belo. Baseados na mimese – imitação da natureza –, criaram um naturalismo idealista, em que aspectos da realidade são “disfarçados”, em favor daquilo que se considera belo. Platão, todavia, tinha profunda desconfiança da arte, afirmando que a obra de arte era apenas a cópia de um objeto do mundo real que, por sua vez, era cópia imperfeita do mundo das ideias. 1. Estabelecendo as possíveis relações entre as concepções estéticas gregas e as ideias de Platão sobre arte, comente a afirmação do historiador da Arte E. H. Gombrich: “(...) suas obras [dos gregos] nunca se parecem com espelhos onde se refletem todos os recantos, ainda os mais insólitos, da natureza. Elas ostentam sempre o cunho do intelecto que as criou.” 2. Passados muitos séculos, o ideal de beleza continua sendo uma preocupação das sociedades contemporâneas. Seria possível afirmar que, também nesse sentido, somos herdeiros dos gregos? Fale sobre os perigos de uma valorização exagerada dos padrões de beleza. LEITURA COMPLEMENTAR O Banquete O Banquete é talvez o mais conhecido escrito de Platão. Esse diálogo narra um encontro na casa do poeta Ágathon, onde diversas pessoas se reúnem para uma festa, um banquete. Nesse encontro, conversam sobre Eros, o amor. Quando Sócrates toma a palavra para falar, muitos já haviam proferido belos discursos. “Não seria capaz de proferir um discurso tão bonito”, afirma Sócrates. Em seguida, diz que irá buscar a verdade sobre o amor, “sem eloquência”. É quando cita Diotima. Diotima fala da origem de Eros, afirmando que ele não é um deus, nem é um homem, mas um daimon, ou seja, um “gênio” ou um “espírito” que torna possível a ligação entre os homens e os deuses. Nesse sentido, eros é como logos, a palavra racional que, segundo os gregos, também é capaz de estabelecer essa ligação. Diotima conta qual teria sido a origem mitológica de Eros: filho de Penia (a pobreza) com Poros (o estratagema), nasceu no mesmo dia em que Afrodite (a beleza). Por isso mesmo, Eros ama a beleza, mas vive miserável, sem lar (como a mãe), apesar de ter a argúcia e ser capaz de dizer coisas belas (como o pai). Por meio de um mito, Diotima ilustra seu conceito de amor. Por não ser um deus e por não ser ingênuo, Eros ama a sabedoria (se fosse deus, ele já a teria; se fosse ingênuo, já se acharia sábio). Percebemos que, ao falar dos deuses, Diotima na verdade está dando voz aos conceitos de Platão que se aplicam ao homem. Portanto, Eros, o Amor, desperta nos homens o desejo pelo belo, que é ao mesmo tempo o desejo por almas belas e por corpos belos. Aparentemente, esses dois desejos vêm juntos, mas Platão sugere uma hierarquia entre eles: Sócrates, ao que tudo indica, era bem pouco belo, mas despertava paixões nas pessoas devido à beleza de sua alma, ou seja, de sua sabedoria. O desejo pelos corpos belos nos leva a buscar uma aproximação com aqueles que são proporcionais, atraentes e harmônicos, e o resultado da atração dos corpos é a reprodução, a perpetuação da espécie humana. Já o desejo pelas almas belas é basicamente o desejo pelo conhecimento, identificado por Platão como o desejo pelo bem, uma vez que as almas belas são justamente aquelas capazes de produzir ações belas e pensamentos belos (como o são todos os pensamentos verdadeiros). É nessa busca que se encontra a virtude a que todo homem aspira. O desejo desperto por Eros aproxima o homem da imortalidade, seja por meio da reprodução, seja pela obtenção do conhecimento verdadeiro. O que Platão está afirmando, nas palavras de Diotima, é que existe algo de perfeito e imortal na alma humana, que se manifesta através da razão, do logos. Esse seria o maior de todos os bens. A Filosofia é o desejo de chegar até esse saber de que a alma humana é capaz, portanto a Filosofia é o próprio Amor (philos + sophia). Segundo a filósofa Marilena Chauí, em sua Introdução à História da Filosofia, “na contemplação da beleza-bondade – isto é, da ideia do Bem e da Beleza – os humanos alcançam a ciência ou o saber, por meio do qual concebem, engendram e dão nascimento às virtudes e por meio delas se tornam imortais”. Agora, responda: por que Platão considera que na Filosofia se encontra a virtude? 5 Aula Aristóteles e o mundo sensível Para pensar Pense sobre o paradoxo de Zenon: Aquiles, herói grego, decide apostar uma corrida de 100 metros com uma tartaruga. A velocidade de Aquiles é 10 vezes superior, portanto a tartaruga pode começar a corrida com 80 metros de vantagem. Após a largada, Aquiles percorre 80 metros, e a tartaruga 8. O problema é que, quando Aquiles houver percorrido mais 8 metros, a tartaruga terá andado mais 80 centímetros e assim indefinidamente. Ou seja: não importa o espaço percorrido pelo herói grego, porque a tartaruga estará sempre à sua frente. Agora, observe a gravura A cascata, do artista holandês Maurits C. Escher (1898 –1972). Na imagem, a água está subindo ou descendo? Em sua opinião, o que a imagem e o paradoxo têm em comum? Maurits C. Escher. A cascata, 1961. A sensação de estranhamento que experimentamos ao ler o paradoxo e ao observar a imagem certamente se deve ao fato de que ambos parecem nos enganar, constituindo-se em verdadeiros desafios à razão e aos sentidos. Fugir do engano, do erro foi a principal meta dos filósofos gregos, que em geral valorizaram muito o papel da razão para conseguir isso. Platão, por exemplo, associou o mundo sensível ao engano, propondo a superação desse mundo em favor de outro – o mundo das Ideias perfeitas e imutáveis. Mas o pensamento platônico, embora muito difundido, encontrou a resistência de um discípulo de Platão que também teve profunda e duradoura influência sobre o Ocidente: Aristóteles. Quem foi Aristóteles? Aristóteles (384 – 322 a.C.) foi um pensador originário de Estagira, cidade macedônica intensamente helenizada (isto é, influenciada pela cultura grega). Antes dos 20 anos, mudou-se para Atenas e ingressou na Academia de Platão. Seu pai era médico, o que parece ter influenciado Aristóteles, principalmente no que diz respeito à sua capacidade de observação e de tentar obter informações ou desenvolver modelos teóricos a partir dos “sintomas” que se apresentam diante dos sentidos. Por ser um meteco (estrangeiro vivendo em Atenas), Aristóteles não possuía os direitos políticos dos cidadãos atenienses. Dessa forma, sua relação com a democracia grega se limitou à especulação teórica. Mas isso não diminuiu sua importância política, já que, devido à sua origem e à proximidade entre sua família e os governantes da Macedônia, Aristóteles foi escolhido para ser preceptor do jovem príncipe Alexandre, que mais tarde iria conquistar um vasto império e o governaria com o título de Alexandre, o Grande (356 – 323 a.C.). Em Atenas fundou uma escola chamada Liceu, que rivalizaria com a Academia de Platão. Por essa época, seus discípulos eram chamados de peripatéticos (que significa “os que passeiam”), devido ao hábito de realizar debates enquanto caminhavam. Foi autor de extensa obra, e muitos dos seus escritos chegaram até nós, seja de forma fragmentada ou integral. Dentre eles, destacam-se o Organon (que inclui os textos sobre Lógica); Ética a Nicômaco (sobre Ética e Política); Política; Física (sobre o mundo natural); e Poética (que inclui suas ideias sobre Estética). A oposição a Platão O pensamento de Aristóteles se opõe ao de Platão em diversos aspectos. O principal deles certamente é a importância dada aos sentidos (visão, olfato, tato, etc.) para se alcançar o conhecimento. Platão afirmava a superioridade do mundo das ideias sobre o mundo das coisas: o que vemos à nossa volta seria reflexo das formas eternas e imutáveis que podem ser conhecidas porque também existem em nossa alma. Para Aristóteles, dá-se exatamente o contrário: as imagens que formamos em nosso pensamento surgem a partir de um contato prévio com as coisas materiais, que são captadas pelos órgãos dos sentidos. Além disso, Platão dizia que as ideias eram inatas. Para Aristóteles, a razão era inata: todos os homens nascem com a razão, que lhes dá a capacidade de ordenar e classificar todas as coisas do mundo conforme são percebidas pelos sentidos. Portanto, Aristóteles preocupava-se, sobretudo, com a natureza, com a sua observação e com a classificação de seus fenômenos. De acordo com Aristóteles, as coisas apresentam diversos modos de ser. Um touro, por exemplo, é ao mesmo tempo: forte, preto, bravo, touro. Ou seja, ele pode ser caracterizado por diversas categorias. Dessas, a mais substancial é o touro em si, pois é da sua existência ou da sua individualidade que derivam as demais. Nesse caso, o touro é uma substância (uma categoria), sua cor preta é uma qualidade (outra categoria), sua força é uma quantidade (outra categoria). Aristóteles definiu dez categorias, ou seja, dez formas de se caracterizar a substância (o sujeito individual): substância, quantidade, qualidade, relação, tempo, lugar, situação, ação, paixão e possessão. Dessa forma, o mundo seria composto de substâncias distintas, mas que são caracterizadas por categorias comuns a outras substâncias. Segundo Platão, essas qualidades comuns derivavam de uma Ideia transcendente (por exemplo, a ideia de Belo, a ideia de Branco); já para Aristóteles, essas qualidades eram apenas categorias universais percebidas pela razão no mundo concreto. O mundo material Segundo Aristóteles, as substâncias apresentam certas peculiaridades. Uma substância não é apenas certa quantidade de matéria; ela também apresenta uma forma. A matéria é um suporte passivo que precisa de uma forma para tornar-se uma coisa; já a forma é algo que pode ser percebido pela razão a partir da observação. A substância touro só é percebida como tal porque conhecemos a forma touro. Mas a forma é também um princípio de funcionamento, que faz com que as coisas estejam sempre mudando e se aperfeiçoando. Assim, a forma árvore está contida na semente, o adulto está contido na criança. Nesses exemplos, a árvore e o adulto representam a essência de uma forma. Todas as coisas existem em potência e em ato: enquanto uma coisa em potência é uma coisa que tende a ser outra (semente), a coisa em ato é algo que já está realizado (árvore). Nesse sentido, cada forma específica contém uma dinâmica interior, um movimento que faz com que ela passe da potencialidade à realidade. Mas de onde viria essa dinâmica interior ou movimento? Ora, cada potencialidade surgiu necessariamente de uma causa externa, ou seja, de uma forma já desenvolvida: a semente surgiu de uma árvore; a criança surgiu de um casal de adultos. A causa é tudo aquilo que contribui para que um ser se torne real. Aristóteles distinguiu: • causa material: o material de que algo é feito (madeira, mármore, carne e osso); • causa formal: referente à forma (árvore, homem, touro); • causa eficiente (ou motora): responsável por realizar a potencialidade de uma matéria; • causa final: objetivo ou finalidade do desenvolvimento de uma forma. Essa divisão ficou conhecida como a teoria das quatro causas. O movimento da potencialidade à realidade ocorre tanto na natureza quanto nas ações humanas. Aristóteles ilustra isso com o exemplo de um escultor (causa eficiente) de uma estátua de mármore (causa material), que representa o deus Hermes (causa formal) com a intenção de criar uma forma bela (causa final). No que se refere à natureza, surge a questão de qual seria a causa eficiente e qual seria a causa final dos movimentos observados no universo. É nesse ponto que se chega ao conceito de Deus – a Causa Primeira de tudo o que existe (para aprofundar, leia texto da Leitura Complementar). Exercícios 1. Com base no trecho que segue, diga qual a importância da razão e dos sentidos para Aristóteles. “Todos os homens, por natureza, desejam conhecer Sinal disso é o prazer que nos proporcionam os nossos sentidos; pois, ainda que não levemos em conta sua utilidade, são estimados por si mesmos; e, acima de todos, o sentido da visão. (…) Por outro lado, não identificamos nenhum dos sentidos com a sabedoria, se bem que eles nos proporcionem o conhecimento mais fidedigno do particular. Não nos dizem, contudo, o porquê de coisa alguma.” (Aristóteles, Metafísica.) 2. “Na definição de cada ser está contida sua substância.” (Aristóteles, Metafísica.) Como você conceituaria substância e qual a diferença entre ela e as demais categorias definidas por Aristóteles? 3. Aristóteles resolveu muito satisfatoriamente uma questão que preocupou muito os filósofos anteriores a ele: a da mudança. Afirmou que um objeto pode mudar e continuar “sendo” e apontou quatro causas para o movimento interior que resulta nas transformações da matéria. Quais seriam essas causas? Dê um exemplo de cada uma delas. Tarefa Mínima Que diferenças entre os pensamentos de Platão e Aristóteles são apontadas pelo texto que segue? Essa compreensão foi obtida através da ideia aristotélica de “potencialidade” – ideia essa excepcionalmente capaz de proporcionar uma base conceitual para a mutação e para a continuidade, ao mesmo tempo. Parmênides não permitira a possibilidade racional de mudança real, porque algo que “é” não pode se transformar em algo que não é, porque “não é” não pode existir, por definição. Platão, também atento ao ensinamento de Heráclito de que o mundo natural está em fluxo constante, havia, por conseguinte, localizado a realidade nas Formas imutáveis que transcendiam o mundo empírico [isto é, o mundo percebido pela experiência]. Mostrou, no entanto, uma distinção verbal que lançou luz no problema de Parmênides. Este não fazia distinção entre dois significados claramente diferentes da palavra “é” – de um lado pode-se dizer que uma coisa “é” no sentido de que ela existe, enquanto que do outro pode-se dizer que “é quente” ou “é um homem” no sentido afirmável de um predicado. Baseado nessa importante distinção, Aristóteles afirmou que uma coisa pode mudar e tornar-se outra se houver uma substância sucessora que sofra a mudança de um estado real, determinado pela forma inerente a essa substância. Desse modo, Aristóteles movia-se para a reconciliação com as Formas platônicas através de fatos empíricos de processos dinâmicos naturais e sublinhava mais profundamente a capacidade do intelecto humano em reconhecer esses padrões formais no mundo sensível. (Adaptado de R.Tarnas, A Epopeia do Pensamento Ocidental.) as causas formais e finais. Essa afirmação nos faz pensar sobre a importância de uma atuação consciente no mundo, já que o homem é também um criador de formas e deveria refletir sobre a finalidade e adequação de suas criações. Tendo isso em vista, observe as imagens da artista ítalo-brasileira Anna Maria Maiolino em ação e leia trecho que trata de seu trabalho escultórico. “Todos esses objetos têm a marca da mão. É a mão que faz, modela, compacta, aperta, amassa, estica. A mão faz, é o molde. Em geral, tudo que a mão realiza no dia a dia tende a desaparecer sem nos darmos conta. Até mesmo no próprio momento em que agimos. Ela age e nos esquecemos daquilo que ela toca, apanha, pega, puxa, entre tantas outras ações. (…) Na sociedade industrial moderna, a repetição está associada à divisão social do trabalho e à alienação. O trabalho repetitivo domina os indivíduos sem que eles sejam capazes de totalizar o seu sentido. Suas ações permanecem sempre um fragmento desarticulado. Esta situação universal também tende a impregnar o cotidiano, tornando-o cada vez mais mecânico e programado. Daí, frequentemente, não nos darmos conta das mãos e das ações. Elas parecem ter adquirido uma independência que as coloca, em última instância, além da consciência. Tornam-se meros instrumentos operativos e especializados.” (Paulo Venâncio Filho, “A mão que faz”, texto que integra o catálogo da mostra itinerante lnside the Visible, Kanaal Art Foundation, Kortrijk, Bélgica.) Agora, reflita: em sua opinião, qual a importância do “fazer” para o homem e quais as possíveis consequências de uma atuação pouco consciente sobre a realidade? Leitura complementar Tarefa Complementar A valorização do mundo material foi uma grande contribuição do pensamento aristotélico. Segundo Aristóteles, para se obter o conhecimento do universo, deve-se estudar as causas materiais das coisas e, a partir delas, buscar uma aproximação entre O Deus Aristotélico Aristóteles dividiu o universo físico em duas partes: a região sublunar e a região supralunar. A região sublunar é constituída de quatro elementos: terra, água, ar e fogo, e cada um deles tem seu lugar natural. Assim, terra e água, que são corpos pesados, têm seu lugar natural embaixo: uma vez jogados, tendem a cair. Já o fogo e o ar são leves; seu lugar natural é em cima. Cada coisa tende a permanecer em um lugar estático no universo, em repouso, e só é retirada desse lugar por meio de um movimento violento. Para que esse movimento se realize, é necessário que um motor se una ao objeto que é retirado do repouso. Esse motor pode ser entendido como o cavalo que puxa uma carroça ou como a mão que arremessa a pedra. Já a região supralunar é constituída pelo éter e se caracteriza pelos movimentos circulares e contínuos (ao contrário da região sublunar, onde predomina o movimento retilíneo e descontínuo). Daí a perfeição da região, uma vez que o círculo, que dá forma ao movimento dos corpos celestes, é a figura mais perfeita. O mundo supralunar seria constituído de uma sucessão de esferas, cada qual funcionando como motor da esfera que está abaixo. Ao final dessa sucessão de esferas se encontraria o primeiro motor, um Ato Puro movimentando o universo como sua causa final. Aristóteles chama o primeiro motor de Deus. Trata-se de um Ser eterno e imóvel, uma Forma perfeitamente realizada e sem existência física: dotálo de existência física seria colocá-lo no fluxo de mudanças, limitando, portanto, sua perfeição. Sem participar do processo de transformações e realizações, o Deus de Aristóteles é pensamento autocontemplativo, “um pensamento que se pensa a si mesmo”. Ao se referir ao mundo supralunar, Aristóteles acabou por abordar um objeto que estava além do mundo material, ou seja, além da física. Nesse sentido, surgiu a expressão “metafísica”, que se refere a tudo aquilo que está além da experiência dos sentidos (por exemplo, a ideia de “deus”). 6 Aula As ciências Para pensar “Saber é poder”, afirmou o pensador Francis Bacon no século XVI. Com isso, ele quis dizer que o conhecimento científico da natureza permite “domála”, ou seja, utilizá-la em benefício do homem. A Filosofia, uma ciência humana, distingue-se das ciências da natureza por não estar voltada exatamente para o domínio dos recursos naturais. Em sua opinião, a afirmação de Bacon de que “saber é poder” também se aplicaria às ciências humanas (por exemplo, à História e à Geografia)? Observe a imagem: Leonardo da Vinci. Homem vitruviano, 1492. O Homem no centro do Universo pode ser considerado o pilar da nova mentalidade que se inaugura no período histórico conhecido como Renascimento. É também o tema do desenho de Leonardo da Vinci, baseado no tratado de Vitruvio – arquiteto romano do século I a.C. Por apresentar um cânone das proporções do corpo humano com base num raciocínio matemático e na divina proporção, o trabalho é considerado por muitos o símbolo do espírito renascentista, e seu autor, misto de artista e cientista, o arquétipo do homem do Renascimento. Renascimento cultural e nascimento das ciências Já falamos sobre a importância das concepções de Platão e Aristóteles para o desenvolvimento do pensamento ocidental. Porém, a partir do século IV, o triunfo do cristianismo no Ocidente resultou em um deslocamento das perspectivas sobre o saber, não cabendo mais à Filosofia a busca de um conhecimento verdadeiro, que, nesse novo contexto, passou a ser dado pela Sagrada Escritura. As correntes de pensamento dominantes no período conhecido no Ocidente como Idade Média (séculos V a XV) subordinaram a especulação filosófica à religião e tinham como foco a questão da salvação da alma. Com o Renascimento, a partir do século XIV, originaram-se novas formas de saber independentes da Igreja e do pensamento teocêntrico. Desse processo de renovação cultural e intelectual resultou o desenvolvimento de uma nova forma de explicação da natureza, separada da religião, que passou a ser conhecida como ciência. Uma consequência do Renascimento e do estabelecimento do método científico foi a definição de um campo de saber específico chamado de ciência moderna, cujo desenvolvimento deixou de estar necessariamente vinculado à Filosofia. Por exemplo, a Física, assim como outras ciências, tem seu objeto de estudo claramente delimitado e métodos específicos para lidar com ele. Nesse sentido, apresenta duas características da ciência moderna: é particular, pois estuda apenas seu objeto; mas é também geral, pois o conhecimento que produz trata de fenômenos que se repetem a natureza, podendo caracterizar-se como leis. Galileu Galilei e o método científico Um dos mais importantes pensadores do Renascimento ligados ao desenvolvimento do conhecimento científico foi Galileu Galilei (1564 – 1642). Viveu na Itália e foi influenciado por Nicolau Copérnico (1473 – 1543), defensor do heliocentrismo – concepção segundo a qual a Terra gira em torno do Sol. Ao desenvolver o telescópio, Galileu ampliou o alcance das observações de Copérnico, validando suas conclusões. Dessa forma, contrariou a Igreja católica, que defendia o geocentrismo. Galileu foi julgado pelo tribunal da Inquisição em 1533 e foi obrigado a desmentir suas teorias. Além de ter realizado descobertas específicas no campo da Física e da Matemática, foi responsável pelo desenvolvimento de um novo olhar sobre a realidade, de uma nova forma de abordar os fenômenos do mundo natural. Esse novo olhar pode ser resumido pelos três princípios de seu método científico: 1) observação rigorosa dos fenômenos, livre da influência de ideias preestabelecidas e tidas como verdadeiras. 2) experimentação, por meio da qual fenômenos podem ser reproduzidos para serem mais bem observados. A experimentação deve servir como “prova”, legitimando certa teoria. 3) regularidade matemática observável na repetição dos fenômenos que, dessa forma, podem ser expressos por meio de equações. “Ao investigar um fenômeno da natureza, primeiro concebo com a mente”, escreveu Galileu. Essa afirmação refere-se àquela que talvez seja a etapa mais árdua da investigação científica, o estabelecimento de uma hipótese – uma explicação dos fenômenos concebida com base na reflexão e a partir da qual se fará a observação, visando à sua verificação. Nesse contexto, a experimentação só tem sentido quando subordinada à razão. Em outras palavras, a teoria (sob a forma de modelos matemáticos), orienta a maneira como o mundo natural será questionado e como as respostas serão interpretadas. Ciência ou fé? O físico inglês Isaac Newton (1642 – 1727) deu um importante passo na explicação do mundo natural, ao conceber a Lei da Gravitação Universal e apresentar os fundamentos da chamada mecânica clássica. As leis formuladas por Newton se aplicam a todo o universo, servindo, inclusive, para explicar os movimentos dos planetas e das estrelas. As teorias de Newton abalaram fortemente a visão da Igreja católica, baseada na separação entre “céu” e “terra”. Porém, o próprio Newton afirmou que suas descobertas haviam reforçado sua fé, pois somente um Deus seria capaz de criar leis tão perfeitas. Nesse contexto, nasceu a concepção de Deus como “relojoeiro universal”, capaz de criar um universo complexo, bem como as leis que o mantêm em funcionamento, sem a necessidade de intervenção na vida terrena dos homens. Ciência e realidade O crescente conhecimento científico da natureza possibilitou a exploração cada vez mais ampla e intensa dos recursos naturais. A Revolução Industrial, a partir do final do século XVIII, acentuou o desenvolvimento da tecnologia, isto é, a aplicação do conhecimento científico à produção em geral. Por meio dela, o mundo transformou-se rapidamente. Prova dessa transformação é a quantidade de objetos tecnológicos que empregamos no cotidiano (automóveis, televisão, microcomputador, livros impressos por meios mecânicos, roupas produzidas por máquinas, etc.). Mas, apesar dos muitos benefícios gerados pelo desenvolvimento tecnológico, a aplicação do conhecimento científico coloca em cheque a neutralidade da ciência. Se esse tipo de conhecimento é obtido por meio de métodos universais e chega a leis também universais, deveria ser neutro, não cabendo a ele nenhum sentido econômico ou político. Mas isso não é o que se observa na realidade. Vejamos um exemplo: a física pura do átomo não pode ser considerada neutra, uma vez que está inevitavelmente ligada à possibilidade de seu emprego tecnológico. Esse emprego inclui o desenvolvimento, entre outros, de armas nucleares, tornando-se primordial a questão política da posse desse conhecimento. Nesse sentido, não existe ciência neutra. Por isso a importância da reflexão sobre a finalidade da pesquisa científica e se ela beneficiará a todos. As ciências humanas Os progressos da explicação racional da natureza, sobretudo após o impacto das descobertas de Newton, influenciaram a reflexão sobre os fatos humanos. Em consequência disso, no final do século XVIII e, principalmente, durante o século XIX, perguntava-se se haveria uma teoria geral do homem, assim como um método adequado para o seu desenvolvimento. Com a obra A Riqueza das Nações, de autoria de1 ‘Adam Smith (1723 – 1790), nasceu a primeira das ciências humanas: a Economia. No século XIX, desenvolveram-se a Sociologia e a História (para além da mera narração de fatos passados), tendo havido algumas tentativas de se estabelecer um método preciso e adequado às suas finalidades. Num primeiro momento, essas disciplinas copiaram métodos das ciências naturais (Física, Química e Biologia) ou das ciências formais (Matemática e Lógica): tratava-se de uma maneira de garantir o estatuto de “científico”. Porém, as ciências humanas têm certas peculiaridades que as afastam das ciências da natureza. A principal delas é o fato de o objeto de pesquisa se confundir com o seu sujeito (o próprio pesquisador), o que impossibilitaria a objetividade e o distanciamento fundamentais para a atividade de pesquisa. Outra diferença é a complexidade dos fenômenos humanos, bem como a dificuldade (ou mesmo impossibilidade) de uma formalização nos moldes de ciências mais “exatas”. Além disso, há restrições no que se refere à prática da experimentação: não é possível (com raras exceções) reproduzir o comportamento humano em laboratório, por exemplo. Tarefa Complementar Exercícios 1. Levando-se em consideração a afirmação de Bacon de que “saber é poder” (veja a Leitura Complementar), pode-se afirmar que o Renascimento se caracteriza como um momento histórico de “retomada do poder” pelo homem? Justifique sua resposta. 2. Em sua opinião, quais as vantagens e os perigos do intenso desenvolvimento tecnológico em meio ao qual vivemos? (Leonardo da Vinci, Estudos de embriões, 1509-1514.) 3. Você acha que as ciências humanas podem contribuir na discussão das questões geradas pela tecnologia? Dê exemplos. Tarefa Mínima Depois de ler o fragmento, responda: qual a importância do conhecimento matemático para Galileu? Parece-me também perceber em Sarsi sólida crença que, para filosofar, seja necessário apoiar-se nas opiniões de algum célebre autor, de tal forma que o nosso raciocínio, quando não concordasse com as demonstrações de outro, tivesse de permanecer estéril e infecundo. Talvez considere a filosofia como um livro e fantasia de um homem, como a Ilíada e Orlando Furioso, livros em que a coisa menos importante é a verdade daquilo que apresentam escrito. Sr. Sarsi, a coisa não é assim. A filosofia encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se abre perante nossos olhos (isto é, o universo), que não se pode compreender antes de entender a língua e os caracteres com os quais está escrito. Ele está escrito em língua matemática. O livro da natureza está escrito em língua matemática, os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível entender humanamente as palavras; sem eles nós vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto. (Galileu Galilei, O Ensaiador.) Leonardo da Vinci costuma ser considerado um homem à frente de seu tempo. Muitos séculos antes de ser possível captar imagens do interior do útero materno, fez desenhos de fetos que demonstravam seu profundo conhecimento sobre a anatomia humana. Para chegar a esse conhecimento, Leonardo participou de várias dissecações de corpos e realizou diversos estudos anatômicos, apesar do risco de ser acusado de heresia pela Igreja, que condenava essa prática, hoje aceita desde que realizada dentro de certos parâmetros. Assim como Leonardo, cientistas frequentemente se colocam à frente de seus contemporâneos, o que costuma gerar intensos debates, uma vez que as mudanças propostas pela ciência muitas vezes se chocam com a visão de mundo estabelecida. Daí muitos defenderem a necessidade de um amplo debate ético não só sobre as descobertas científicas e sua aplicação, mas também sobre os métodos científicos. Faça uma pesquisa sobre alguma descoberta que tenha provocado discussões desse tipo. Tente identificar as diversas opiniões sobre o assunto e, depois, posicione-se: afinal, a pesquisa científica deve ou não estar pautada por princípios éticos? Leitura complementar Francis Bacon (1561 – 1626) O inglês Francis Bacon não propôs um sistema filosófico abrangente, tendo se preocupado, sobretudo, com a questão do método. O ponto de partida de seu pensamento é a crítica ao pensamento aristotélico, visto por Bacon como capaz de grandes construções intelectuais desprovidas de finalidade. Ou seja, todo pensamento filosófico até então, por mais sofisticado que fosse, não havia apresentado nenhum resultado prático para a vida dos homens. “Saber é poder”, dizia Bacon, fazendo referência ao que ele considerava ser a finalidade do conhecimento: sua utilização para a melhoria da qualidade de vida do homem. Nesse sentido, Bacon é considerado um dos precursores do utilitarismo. A crítica à tradição aristotélica – e à Filosofia anterior como um todo – também incluía a rejeição ao conhecimento obtido apenas através da especulação racional e de proposições lógicas: para Bacon, era fundamental a experiência prática, o empirismo. A partir daí, propôs um método fundado na teoria da indução. Bacon defendia a análise atenta da natureza, seja por meio de observações ocasionais, seja por meio da realização de experimentos. Os dados coletados deveriam ser submetidos a uma série de procedimentos experimentais, conforme minuciosamente detalhados nas “tábuas de investigação” que Bacon apresenta em sua obra Novum Organum. Bacon foi um dos principais ideólogos da futura Revolução Industrial e do desenvolvimento tecnológico, uma vez que exaltava não só o emprego prático da ciência, como a dominação da natureza e sua utilização em benefício do homem. Para Bacon, a ciência era capaz de desvendar todos os segredos do universo, não restando nenhum “mistério” a ser resolvido e nenhum fenômeno inexplicado. O movimento intelectual chamado Iluminismo, a partir do século XVIII, compartilhava diversos aspectos do pensamento de Bacon, notadamente a ideia de que o conhecimento científico iria emancipar o homem. No seu livro inacabado Nova Atlântida, Bacon descreveu uma sociedade ideal, baseada em princípios científicos, onde predominavam a harmonia e a felicidade entre os homens. Agora, leia o fragmento que segue para responder à questão: Qual a ideia dos autores sobre o pensamento de Bacon e sobre a neutralidade da ciência? Apesar de seu alheamento à matemática, Bacon capturou bem a mentalidade da ciência que se fez depois dele. O casamento feliz entre o entendimento humano e a natureza das coisas que ele tem em mente é patriarcal: o entendimento que vence a superstição deve imperar sobre a natureza desencantada. O saber que é poder não conhece nenhuma barreira, nem na escravização da criatura, nem na complacência em face dos senhores do mundo. Do mesmo modo que está a serviço de todos os fins da economia burguesa na fábrica e no campo de batalha, assim também está à disposição dos empresários, não importa sua origem. Os reis não controlam a técnica mais diretamente do que os comerciantes: ela é tão democrática quanto o sistema econômico com o qual se desenvolve. A técnica é a essência desse saber, que não visa conceitos e imagens, nem o prazer do discernimento, mas o método, a utilização do trabalho dos outros, o capital (…) O que os homens querem aprender da natureza é como empregá-la para dominar completamente a ela e a outros homens. Nada mais importa. Sem a menor consideração consigo mesmo, o esclarecimento eliminou com seu cautério o último resto de sua autoconsciência. (…) Poder e conhecimento são sinônimos. Para Bacon, como para Lutero, o estéril prazer que o conhecimento proporciona não passa de uma espécie de lascívia. O que importa não é aquela satisfação que, para os homens, se chama “verdade”, mas a “operation”, o procedimento eficaz. Pois não é nos “discursos plausíveis, capazes de proporcionar deleite, de inspirar respeito ou de impressionar de uma maneira qualquer, nem em quaisquer argumentos verossímeis, mas em obrar e trabalhar e na descoberta de particularidades antes desconhecidas, para melhor prover e auxiliar a vida” [Bacon] que reside o verdadeiro objetivo e função da ciência. Não deve haver nenhum mistério, mas tampouco o desejo de sua revelação. (Theodor Adorno e Max Horkheimer, Dialética do Esclarecimento.)
Download