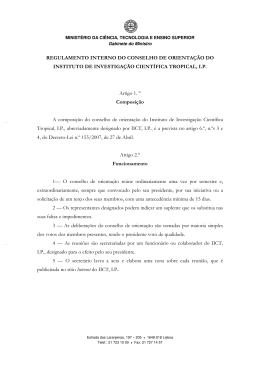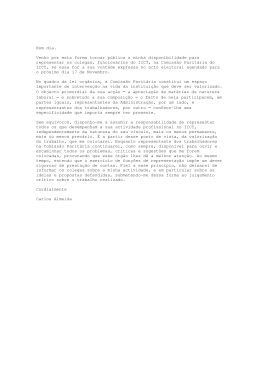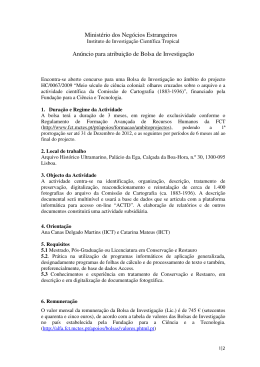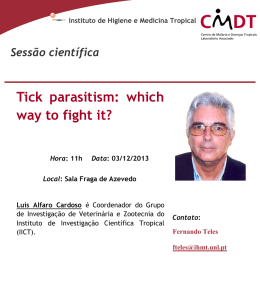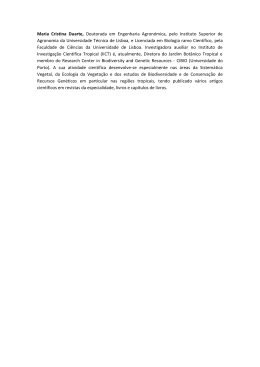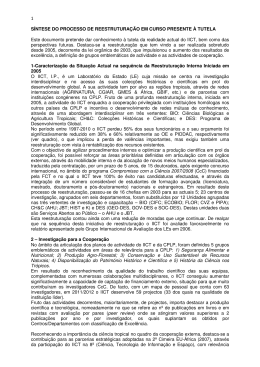O IICT e a História – Adenda 1 Ainda que já tenha terminado o prazo de discussão pública das orientações emanadas do Conselho de Ministros de 29 de Junho, o texto “História: investigação, difusão e divulgação”, da autoria do Doutor Miguel Jasmins coloca diversas questões pertinentes a respeito da forma como a História pode ser encarada no IICT e merece ser discutido, mesmo num âmbito mais amplo. Aliás, o próprio autor acentua a necessidade de aproveitar esta “janela de oportunidade” para promover o debate das questões de fundo e uma “reflexão crítica sectorial” não apenas sobre o “trabalho realizado” mas também sobre as “formas de organização” desse trabalho. É portanto, num âmbito sectorial — que, no caso, remete para a História — que eu gostaria de corresponder ao apelo do meu colega Jasmins, participando na discussão de algumas das suas ideias. Começo por assinalar que o Doutor Jasmins tem razão quando sublinha que existem nas “componentes históricas” do IICT dois campos de trabalho que, ainda que complementares, importará distinguir: um deles ligado à acessibilidade ao património, o outro centrado na investigação. Virá a propósito lembrar que essa distinção foi devidamente assegurada no relatório sobre a reestruturação da competência MEM, quando aí se introduziu uma importante separação conceptual entre “projectos técnicos de apoio à investigação” e “projectos científicos”. Parecem-me igualmente úteis e pertinentes as recomendações que faz para a criação de forums de debate e outras formas de divulgação a públicos mais amplos do trabalho que o IICT realiza na área da Ciências Humanas. Todavia, alguns problemas relativos à divulgação e, também, os que se prendem com a conciliação entre “interesse público” e liberdade do historiador, suscitam-me apreciações diferentes das do meu colega Jasmins. Aqui e agora tratarei apenas deste último aspecto, deixando os problemas da divulgação para uma segunda adenda. Na parte final do seu texto, o meu colega Jasmins propõe uma solução de equilíbrio, no seio do IICT, entre o “interesse público” e a “liberdade de investigação”, e, de caminho, tece críticas à “persistência do individualismo” entre os historiadores. Convirá aqui relembrar que o que estava em discussão era o “interesse político”, na esteira da recomendação do GIARLE para que o IICT fizesse mais “in support of Portuguese external relations”. O Doutor Jasmins prefere falar em “interesse público” e o que propõe a esse respeito fica algures entre Cila e Caribde. O conceito de “interesse público” é, aliás, difícil. Que significará precisamente neste contexto? Será o que interessa à sociedade? Deverá a investigação histórica ser orientada pelo “interesse” da sociedade no seu conjunto? E conhecerá o meu colega Jasmins casos de produção historiográfica de qualidade determinada por um “interesse público” assim definido? Terá Braudel, por exemplo, escrito La Méditerranée et le Monde Méditerranéen a l'époque de Philippe II por imposição desse “interesse”? Julgo que não, e julgo também que o Doutor Jasmins nos coloca perante um falso problema. O que sucede é que a História é de “interesse público” (sobretudo se for boa). Dito de outra maneira, o “interesse público” é intrínseco à disciplina e La Méditerranée é, obviamente, de “interesse público”. Porquê? Porque contribui para educar, informar, esclarecer e, num Estado moderno, isso é de “interesse público”. Inversamente, uma qualquer determinação ou imposição que subordine a História aos ditames do momento não o é — e as historiografias de países ditatoriais constituem bons exemplos do ermo a que pode conduzir uma investigação historiográfica determinada pelo “interesse público”. Como referi no texto que abriu o debate neste site, é importante que o IICT mantenha um espaço de segunda linha no qual a investigação histórica deve ser livre (circunscrita apenas pela identidade, competência e missão do próprio Instituto). O que não quer dizer que essa investigação seja feita em roda livre. Como é óbvio, caberá aos responsáveis por cada programa garantir que as linhas de investigação seguidas são pertinentes, bem fundamentadas e férteis. E poderão ser individuais? Eis uma pergunta que nos leva ao ataque desferido pelo Doutor Jasmins contra o “individualismo” que — alegadamente — permite “que cada investigador trabalhe sobre o que melhor lhe apeteça, sem quaisquer preocupações de retorno para com a sociedade que o remunera”. Trata-se de uma acusação forte que tende a conotar negativamente os historiadores do IICT e que deve ser devidamente esclarecida. Haverá no Instituto historiadores que trabalhem sobre o que melhor lhes apetece sem preocupações para com a sociedade que lhes paga? É evidente que cada qual falará por si e pelo que conhece mas, pela parte que me toca, devo dizer que cheguei ao IICT em finais de 1987 e fui confrontado com a necessidade de abandonar por completo as investigações que até então fizera para me dedicar a um tema inteiramente novo relacionado com a história colonial portuguesa no século XIX, pois esse era o desejo do próprio IICT. Dediquei ao tema que então me foi imposto 18 anos da minha vida intelectual, com os resultados que são públicos. Conheço casos de outros investigadores que não foram “forçados” a mudar as suas investigações porque o Instituto considerou que as áreas que já estudavam se enquadravam nos objectivos que visava. Não conheço casos de historiadores que trabalhem sobre o que lhes apetece, sem quaisquer preocupações de retorno para com a sociedade que os remunera. E que dizer do “individualismo” contra o qual o meu colega Miguel Jasmins eleva a voz? Não é, aliás, o único a fazê-lo. Há, neste momento, um preconceito arreigado contra o investigador isolado — que quase tem de pedir desculpa por existir — e uma concomitante insistência na palavra “equipa”, assim se sugerindo que a investigação em História é necessária ou desejavelmente colectiva. Ora, é justamente o contrário que se passa. E não se trata aqui de manifestar a minha preferência pessoal ou de esgrimir uma mera opinião — que seria tão válida como a do meu colega Jasmins —, mas de uma pura e simples constatação de facto, facilmente verificável por qualquer pessoa. A História é um tipo de conhecimento que não nasceu ontem. Enquanto género, tem mais de 2 mil anos. Ao longo desse tempo quantas grandes obras foram produzidas em “equipa”? Não precisamos sequer de fazer uma pergunta tão ampla nem de sair do país: quantas grandes obras em “equipa” produziram os historiadores portugueses? Haverá 10? Duvido muitíssimo. Mas admitindo que as haja, então forçoso será reconhecer que por essas 10 haverá 100 produzidas pelo historiador individual. O que não deverá espantar-nos. O trabalho do historiador implica uma investigação bibliográfica, documental e a redacção de um texto. A História — ou, para ser mais rigoroso, a historiografia — é uma narrativa e aproxima-se mais da novela do que da química. Quantas novelas haverá escritas em “equipa”? É claro que em História poderá haver trabalho em “equipa” mas tal só se justifica quando o objecto de estudo é demasiado amplo para ser coberto por um só investigador num prazo razoável de tempo. Um exemplo? O dicionário parlamentar português. Fazer a biografia de centenas de parlamentares parece de facto demais para o investigador isolado. Nesse caso faz sentido o estabelecimento de “equipas” que dividam o trabalho de investigação entre si, ainda que seja duvidoso que o produto desse trabalho colectivo represente um ganho em termos de qualidade — em História, as “equipas” implicam geralmente perda de coerência interna porque olhar para um texto não é o mesmo que olhar para um termómetro ou uma tabela numérica (sem qualquer desprimor para essas operações). Mas, se há objectos que, pela sua extensão, poderão justificar ou aconselhar o trabalho em “equipa”, forçoso se torna reconhecer que boa parte do que aparece assim etiquetado não passa de um estratagema para corresponder aos ditames da moda científica. Haverá até alguns casos — nos quais não incluo, obviamente, o Doutor Jasmins — em que a opção pela constituição de “equipas” constitui o refúgio dos medíocres ou preguiçosos, dos que temem aparecer por si sós e sujeitar os seus trabalhos ao crivo analítico e crítico dos pares. Deverá ser esse crivo — e não a “forma de organização” do trabalho, seja ela colectiva ou individual — o critério último da validação do trabalho realizado. Os historiadores devem ser avaliados não pelo número de redes ou de “equipas” em que estão inseridos mas pela qualidade do que produzem e pela constância com que produzem. Ao nível da investigação histórica essa deverá ser, em minha opinião, a aposta do IICT. João Pedro Marques Membro do GPAV-IICT
Download