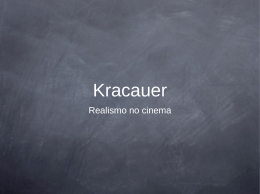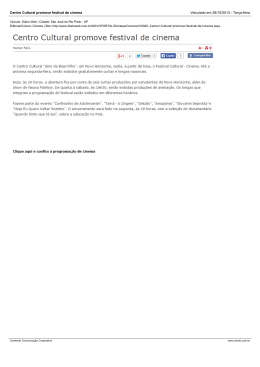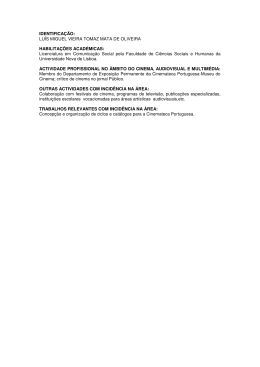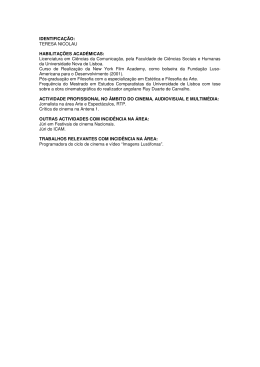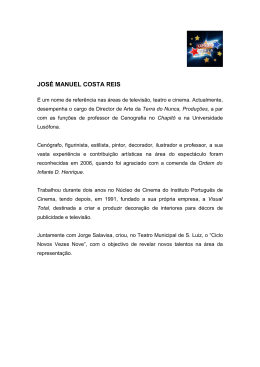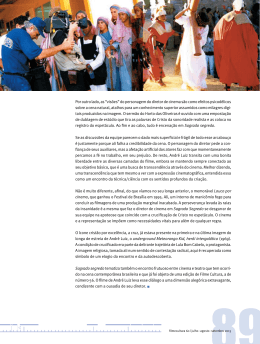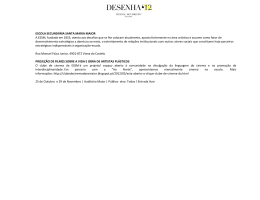UM DIÁLOGO ENTRE O CINEMA E O ENSINO DA HISTÓRIA NO LONGAMETRAGEM CRUZADA, DO CINEASTA RIDLEY SCOTT. Alexandre Coelho PINHEIRO[1] [email protected] Universidade Estadual de Santa Cruz Palavras – chave: Cinema, Ensino da História, Cruzada (Kingdom of Heaven). Durante o século XX, diversas metodologias historiográficas foram inauguradas. O documento escrito não é mais a única fonte para as pesquisas, como outrora. Aos poucos foram sendo incorporados ao instrumental do historiador, novos meios e novos objetos como: fotografia, música, televisão, artes plásticas em geral. Para os antigos historiadores o conhecimento histórico se baseava na observação indireta dos fatos históricos através dos testemunhos conservados. Havia uma verdadeira obsessão por parte dos historiadores para com as fontes, chegando a uma espécie de fetichismo do documento. Para Langlois: A história se faz com documentos. ... Porque nada substitui os documentos: onde não há documentos não há História. [2] A Escola dos Annales ampliou a noção de documento, segundo Le Goff [3] a História Nova substituiu a história de Langlois e Seignobos por uma história baseada numa multiplicidade de documentos. Há que tomar a palavra 'documento' no sentido mais amplo, documento escrito, ilustrado, transmitido pelo som, a imagem ou de qualquer outra maneira. [4] A história nova destacou a necessidade da crítica ao documento, Le Goff afirma que "o documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o poder. Só a análise do documento permite à memória coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo cientificamente, isto é, com pleno conhecimento de causa". Para ele o documento seria um monumento, resultado do esforço das sociedades históricas para impor ao futuro a imagem de si próprias. Dessa forma, todo documento é digno de veracidade e depende apenas do historiador a condição de analisar sem ingenuidades as condições de produção desses documentos-monumentos. Le Goff afirma: O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o poder. Só a análise do documento permite a memória coletiva recuperá-lo e ao historiador usa-lo cientificamente, isto é, com pleno conhecimento de causa. [5] Michel Foucault encara essa questão declarando que os problemas da história são resolvidos ANAIS do III Encontro Estadual de História: Poder, Cultura e Diversidade – ST 02: História e Imagem. 1 através do questionamento ao documento, e recorda que esse tipo de fonte não é o feliz instrumento de uma história que seja em si própria e com pleno direito, memória: mas é certa maneira de uma sociedade dar estatuto e elaboração a uma massa documental de que se não separa. [6] Na historiografia tradicional o documento falava por si mesmo, mas os novos discursos historiográficos nós permite entender que as fontes são como testemunhas que dão os subsídios necessários para que o historiador possa pensar e fazer as perguntas certas para desenvolver o seu trabalho. De acordo com Ciro Flamarion[7] as fontes históricas são todos os tipos de informação acerca do devir social no tempo, são fontes históricas as redações que nos chegaram em papiros, tijolos de barro, paredes de monumentos, pergaminhos, papeis, objetos materiais diversos, registros gravados em áudio e vídeo e até mesmo o cinema. Langlois e Seignobos descrevem o documento como sendo os traços deixados pelos pensamentos dos homens. Isso nos dá margem para entender como documento uma infinidade de opções, logo a diversidade dos testemunhos é quase infinita, tudo quanto o homem diz ou escreve, tudo quanto fabrica tudo quanto toca resulta em dados documentais. Há uma classificação dos documentos quanto ao caráter subjetivo dos testemunhos; testemunhos involuntários (monumentos, vestígios arqueológicos, usos e costumes) e os testemunhos voluntários (memórias, crônicas e anais, obras dos próprios historiadores, as chamadas fontes narrativas). Temos também as fontes escritas, orais, e os monumentos etc. Destarte com o surgimento da História das Mentalidades e do imaginário a iconografia obteve importância como fonte histórica. O estudioso Michel Vovelle[8] vai considerar o filme como um documento histórico e chega a saudar a aproximação dos historiadores com a semiologia e a psicanálise como forma de proceder a uma renovação metodológica. Com essa abertura no campo da História o filme passa a adquirir um estatuto de fonte preciosa para a compreensão dos comportamentos, das visões de mundo, identidades, ideologias, e dos valores de uma sociedade ou de um momento histórico. Portanto é nessa ampliação do conceito de documento causado pela Escola dos Annales que o cinema vem encontrar seu espaço na historiografia recente. Dentre os pioneiros desse estudo estão Pierre Sorlin, Robert Rosenstone, e Marc Ferro o pioneiro na utilização do termo “cinemahistória”, começando a difundir o uso do cinema nas academias historiográficas a partir dos anos sessenta. Em 1968, o historiador publica na revista Annales um artigo: "Société du XXe siècle et histoire cinématographique", nesse trabalho o francês faz referência ao culto excessivo ao documento escrito, e conclui que isso levou os historiadores a utilizarem técnicas de pesquisa ultrapassadas, alertando para a disposição de novos tipos de documentos que traziam uma nova ANAIS do III Encontro Estadual de História: Poder, Cultura e Diversidade – ST 02: História e Imagem. 2 linguagem e uma nova dimensão ao conhecimento do passado. Nos anos 70 o historiador francês aumentou sua produção historiográfica sobre a relação cinema-história entendendo que por se tratar de um novo tipo de documento histórico o filme requer uma nova técnica de análise. Atualmente nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN’s de Geografia e História a definição de documento histórico é a seguinte: Assim, os documentos são entendidos como obras humanas que registram, de modo fragmentado, pequenas parcelas das complexas relações coletivas. São interpretados, então, como exemplos de modo de viver, de visões de mundo, de possibilidades construtivas (...). São cartas, livros, relatórios, diários, pinturas, esculturas, fotografias, filmes, músicas, mitos, lendas, falas, espaços, construções arquitetônicas ou paisagísticas, (...). São, ainda, os sentidos culturais, estéticos, técnicos e históricos que os objetos expressam, organizados por meio de linguagens (escrita, oralidade, números, gráficos, cartografia, fotografia, arte). [9] Para os acadêmicos e profissionais do ensino da História, saber interpretar signos visuais tornou-se mais que uma necessidade, pois nos encontramos em era de imagens. Transformamos o cinema numa das ferramentas mais utilizadas pelos historiadores para efetuar sua pesquisa ou seu trabalho em sala de aula. Mas antes de manipular o filme como apóio didático ou como ilustração de suas aulas e discussões, o historiador deve entender e perceber o documento fílmico dentro de alguns parâmetros teóricos. A imagem é interpretada pela semiologia clássica como um signo que representa ou faz analogias à realidade, isto é, um ícone. Um objeto que reproduz ou imita algo, mesmo que imaginário. [10] A imagem visual é um texto-ocorrência em que a iconicidade tem a natureza de uma conotação veridictória (um juízo) culturalmente determinada: se quiser uma espécie de ‘faz-de-conta’ realista de fundo cultural. [11] Para Ernest Gombrich, todo artista visual (nesse caso o cineasta) tem seu trabalho condicionado por padrões culturais de fundo inconsciente, o que ele chama de schematta, o que acaba por interferir no seu estilo artístico (padrões estéticos e sociais vigentes de forma consciente). [12] Alguns tipos específicos de schematta são os estereótipos, representações de realidades sociais tomadas como verdadeiras, mas que na maioria das vezes são criadas pela imaginação. Marc Ferro um dos teóricos mais importantes no assunto, já chamava atenção para uma percepção de filme tanto como fonte quanto como objeto imagético. Esse historiador foi um pioneiro na incorporação do cinema como fonte histórica para o entendimento das ideologias e mentalidades dos sujeitos da História. Através dos filmes, passou a buscar evidências que pudessem ajudá-lo a perceber e compreender determinados eventos e períodos históricos. Para ele, o filme seria uma importante fonte reveladora, tanto daquilo que o autor busca expressar como do que está contido na narrativa, as idéias sobre determinados personagens, fatos, práticas ou ideologias, como ANAIS do III Encontro Estadual de História: Poder, Cultura e Diversidade – ST 02: História e Imagem. 3 para se perceber o que não se queria mostrar; como os modos de narrar uma história, a maneira utilizada para marcar as passagens do tempo, os planos de câmera e etc. A daí seria possível penetrar, em "zonas ideológicas não-visíveis" da sociedade. Outra área de atuação postulada por Marc Ferro para os historiadores situa-se na produção de filmes históricos. Segundo ele, os historiadores devem procurar fazer uso do cinema como meio de comunicação de suas concepções sobre a História. O trabalho dos historiadores seria importante para acrescentar algo que, segundo ele, o jornalismo geralmente não faz; explicar a origem dos fenômenos que poderia acontecer tanto em colaboração com jornalistas e cineastas como em documentários históricos. Com a avalanche de filmes históricos que vem surgindo atualmente, muitas vezes há o exagero da importância deles para o ensino da História. Carnes assim analisa: A hora do livro, ou melhor, o milênio do livro, observou Gore Vidal, já era. Se a palavra impressa superou a tradição oral, o cinema e a televisão eclipsaram a suprema invenção de Gutenberg. Vidal sugere que cedamos ao inevitável, que descartemos o sistema educacional vigente e que apresentemos o passado aos jovens através do cinema. A idéia não é tão radical assim, nem sequer tão profética. Muitos professores de História, tendo como alunos telespectadores inveterados, vêm dedicando bom tempo de aula a filmes como 1492, Gandhi e Malcolm X. As distribuidoras de vídeo têm nos colégios um mercado importante. E filmes antigos continuamente reprisados na televisão funcionam como uma escola noturna, um grande repositório de consciência histórica em nossos Estados Unidos da Amnésia. Para muita gente, a História hollywoodiana é a única história que existe. [13] De forma geral, um filme traz consigo as marcas de seu tempo e, sendo assim, a maioria dos filmes históricos reproduz a ideologia da classe dominante, bem como uma estética conservadora, ou seja, uma estética que visa agradar essa elite. Ferro nos fala: Nessas condições, não seria suficiente empreender a análise de filmes, de trechos de filmes, de planos de temas, levando em conta, segundo a necessidade, o saber e a abordagem das diferentes ciências humanas. É preciso aplicar esses métodos a cada um dos substratos do filme (imagens sonorizadas não-sonorizadas), às relações entre os componentes desses substratos; analisar no filme tanto a narrativa quanto o cenário, a escritura, as relações do filme com aquilo que não é filme: o autor, a produção, o público, a crítica, o regime de Governo. Só assim se pode chegar à compreensão não apenas da obra, mas também da realidade que ela representa. [14] Numa concepção mais filosófica, a professora de Filosofia da Universidade de São Paulo USP, Marilena Chaui, ao fazer uma relação de dois meios áudios-visuais, televisão e cinema, chegou a seguinte opinião: Como a televisão, o cinema é uma indústria. Como ela, depende de investimentos, mercados, propaganda. Como ela, preocupa-se com o lucro, a moda, o consumo. No entanto, é independentemente da boa ou má qualidade dos filmes, o cinema difere da televisão em um espaço fundamental. [15] Para Chaui o cinema seria; ANAIS do III Encontro Estadual de História: Poder, Cultura e Diversidade – ST 02: História e Imagem. 4 (...) a forma contemporânea da arte: a da imagem sonora em movimento. Nele, a câmera capta uma sociedade complexa, múltipla e diferenciada, combinando de maneira totalmente nova, música, dança, literatura, escultura, pintura, arquitetura, história e, pelos efeitos especiais, criando realidades novas, insólitas, numa imaginação plástica infinita que só tem correspondente nos sonhos. [16] O cinema se torna fundamental como ferramenta a ser utilizada pelo professor de história em sala de aula. Porém, cabe ao historiador professor a orientação de como o seu aluno deve assistir a um filme, ou obra de cunho cinematográfico, elevando o aluno da condição antes exclusiva de receptor para uma dimensão que lhe proporcione uma visão diferenciada, um olhar mais consciente, crítico e até auto-crítico. As inter-relações existentes entre cinema e história são várias. A história do cinema é marcada pela exaltação e até glorificação de certos regimes e personagens, se tornando assim, um transmissor de mensagens unilaterais, um doutrinador. Aqui se torna fundamental o trabalho do professor, a busca de atingir um nível de aprendizagem mais subjetivo, no tocante à produção de um conhecimento mais crítico e consciente. Parafraseando Marilena Chaui[17], nessa busca da tentativa de desmistificar o conceito de verdade, ideologia, paz, democracia, (no caso do longa-metragem Cruzada, conceitos ocidentais), trago a tona a relação com o filme analisado aqui; sua mensagem conceitual e doutrinária, indagando até que ponto a doutrina passada através da mensagem fílmica, em questão, procura atingir a “conscientização” do público alvo em geral. Atualmente, o grande público que tem mais acesso ao conhecimento histórico através das grandes telas do que via leitura de livros e do ensino nas escolas e isso cada vez mais está se tornando uma inquestionável verdade. Em outras palavras, a imagem domina as esferas do cotidiano do indivíduo urbano. O cinema hollywoodiano, por exemplo, segundo Cristiane Nova[18], atinge um público gigantesco, tendo uma importante característica como dominante; a primazia da emoção em detrimento do aspecto racional, a espetacularização da História como um dos traços muito encontrados na maioria dos longas-metragens considerados históricos, e pode ser identificado no longa-metragem de Ridley Scott, Cruzada. Daí a necessidade de estarmos sempre sendo capacitados e preparados a trabalhar com a linguagem cinematográfica diante da responsabilidade do ensino enquanto produção de conhecimento dialético. Dessa forma teremos a diminuição do risco de que o cinema atinja mais aos alunos, seja emocionalmente como racionalmente, evitando que o cinema esteja intimidando ao historiador levando em conta a grande capacidade do cinema em atrair olhares e consequentemente sobressair-se aos professores licenciados ao ensino da historiografia, que não possuem mecanismos nem tão chamativos aos olhos, ouvidos “a sensibilidade” do público receptor, e no caso do ensino, a relação professor aluno é baseada na troca de informações. ANAIS do III Encontro Estadual de História: Poder, Cultura e Diversidade – ST 02: História e Imagem. 5 Faz-se necessário perceber a relação entre o conhecimento e ensino da história e o uso do cinema e das representatividades da linguagem cinematográfica, pois, seria a partir de um considerável entendimento nessas inter-relações, que se alcançaria, numa relação dialética, uma síntese de conhecimentos. A tão sonhada interdisciplinaridade poderia através dessa “reflexão”, estar mais próxima do mundo concreto e não apenas no mundo das idéias, como algo intangível. Vale salientar também o quão imprescindível se torna o entendimento sobre a legitimidade do cinema enquanto documento histórico para a prática tanto da escrita quanto do ensino da história; entendendo que as fontes imagéticas do cinema também podem acabar colaborando para desenvolver o imaginário popular sobre História. Portanto, identificar mecanismos para essa legitimação se torna crucial, citando Marc Ferro; que já mencionado anteriormente, atenta para uma percepção do filme tanto como fonte quanto como objeto imagético, se tornando necessária uma percepção em relação ao filme enquanto testemunho/documento, integrando-o ao contexto social em que a obra, no caso de cunho cinematográfico, surge: autor, público, produção, regime político, etc. Porém, um filme não é feito apenas do objeto imagético, mas também de uma parte escrita que são as legendas e de sons ou efeitos sonoros, forma-se então um conjunto de representações áudio visuais e textuais (no sentido semiótico). Percebo então que se torna necessário analisar e decodificar esses conjuntos de mensagens. Como objetivos gerais almejo intensificar e colaborar com a discussão entre Cinema e ensino da História, principalmente, quanto à utilização do material didático áudio-visual e suas possíveis contribuições para o processo de ensino-aprendizagem. Analisando o produto cinematográfico “Cruzada” e a tentativa de desconstrução de conceitos ocidentais como; paz, tolerância entre culturas e religiões; Ocidente e Oriente, democracia e cidadania. E por ultimo, buscar desmistificar o conceito de verdade histórica impregnado em filmes do tipo e suas relações com a linguagem cinematográfica do longa-metragem aqui analisado. [1] Graduando do VII semestre do curso de licenciatura plena em História, pela Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC. [2] LANGLOIS, C. V. e C. Seignobos, Introdução aos Estudos Históricos, trad. De L. de Almeida Morais, São Paulo, Editora Renascença, 1946. [3] LE GOFF, Jacques. A história nova. 4. ed São Paulo: Martins Fontes, 2001. 318 p. [4] Ch. Samaran, citado por Jacques Le Goff "Documento/Monumento", in Enciclopédia Einaudi, Porto, Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1984, vol. l: Memória e História, p.98. [5] LE GOFF, Jacques. Historia e memória. 4ª ed. São Paulo: UNICAMP, 1996. p.545 [6] FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitaria, 1997. p.13 [7] CARDOSO, Ciro Flamarion. Uma introdução à História. São Paulo. Brasiliense, 1992. p. 95. ANAIS do III Encontro Estadual de História: Poder, Cultura e Diversidade – ST 02: História e Imagem. 6 [8] Michel Vovelle,"Iconografia e história das mentalidades", in Ideologias e mentalidades, São Paulo, Brasiliense, 1987. [9] Parâmetros Curriculares Nacionais: história e geografia. Secretaria de Educação Fundamental. Rio de Janeiro: DP&A, 2000, p. 79-81. [10] LANGER, Johnni. Metodologia para análise de estereótipos em filmes históricos. Revista História Hoje, UEPG, vol. 2, n° 5, 2004. www.anpuh.uepg.br/historia-hoje/vol2n5/vol2n5.htm [11] CARDOSO, Ciro Flamarion & MAUAD, Ana Maria. História e Imagem: os exemplos da fotografia e do cinema. In: CARDOSO, Ciro Flamarion & Vainfas, Ronaldo. Domínios da História: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997, p. 404. [12] GOBRICH, Ernest. Arte e Ilusão: um estudo da representação pictórica. São Paulo: Cia das Letras. [13] CARNES, Mark. (Org.). Passado imperfeito: a história no cinema. Rio de Janeiro: Record, 1997. [14] FERRO, 1992, P.87 [15] CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. Unidade 8; O mundo da prática, Cap. 3; O universo das artes. Ática, São Paulo. 2001. p. 333 [16] CHAUI, op. cit. [17] CHAUI, Marilena. Um convite à Filosofia. Unidade 3; Verdade. Ática, São Paulo. 2001. pp. 90 – 108. [18] NOVA, Cristiane. O cinema e o conhecimento da História. Olho da História, UFBA, n. 3. www.olhodahistoria.ufba.br. ANAIS do III Encontro Estadual de História: Poder, Cultura e Diversidade – ST 02: História e Imagem. 7
Download