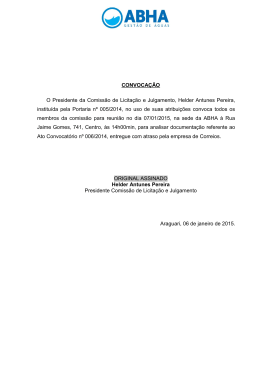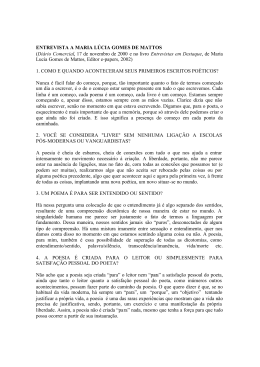LOUVOR E SIMPLIFICAÇÃO DA POESIA PORTUGUESA RECENTE A FACA NÃO CORTA O FOGO1 Graça Videira Lopes (FCSH-UNL) No seu uso mais corrente, a tradicional afirmação de que Portugal é um país de poetas não augura nada de bom. Na verdade, é este um lugar-comum que, entendendo a poesia como devaneio inconsequente, serve de munição irónica aos discursos “realistas” sobre o estado da nação, em qualquer dos inumeráveis exercícios de auto-flagelação que constituem, com o futebol, o desporto nacional por excelência. Mas, no particular, às vezes há surpresas: o sucesso de vendas que constituiu a recente edição de A faca não corta o fogo – súmula e inédita, o último livro de Herberto Helder (com data de Setembro de 2008), esgotada em poucos dias, será talvez uma dessas surpresas. Surpresa, em primeiro lugar, porque tal coisa raramente acontece com um livro de poesia2; e em segundo lugar porque Herberto Helder não é, nem de longe nem de perto, um poeta fácil. Sejamos ou não um país de poetas – agora no sentido do apreço por uma arte que em outras paragens parece cada vez mais marginal – o certo é que este acolhimento público ao livro de Herberto Helder é, não só culturalmente reconfortante, como inteiramente justo: A faca não corta o fogo é, na verdade, e passe a expressão, um Herberto Helder vintage, ou seja, uma notável “súmula e inédita” de um dos nomes maiores da poesia portuguesa contemporânea. O facto de continuar activo, no melhor sentido da palavra, isto é, de a sua voz, sendo perfeitamente reconhecível, continuar a surpreender-nos, será talvez a melhor prova de que a arrumação, hoje muito comum, por gerações ou mesmo por décadas (anos 80, anos 90) é, nestas matérias de renovação literária, muito falível e enganadora. E assim, se a idade não é um posto, o mais avisado será mesmo entendermos que são múltiplos os caminhos que segue a poesia portuguesa 1 Publicado em Por s’entender bem a letra. Homenagem a Stephen Reckert, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisboa, 2011, pp. 209-218. 2 Mesmo que, como se indica nas páginas finais, a tiragem tenha sido de 3000 exemplares (muito longe, pois, dos milhares que tira um romance best-seller – e não falo apenas dos descartáveis), são números que ultrapassam largamente os hábitos editoriais em poesia, onde edições de 300 ou 500 exemplares não são raras. neste início do século XXI, todas as “gerações” confundidas. No que se segue farei, pois, um exercício de leitura, necessariamente breve e simplificado, de um desses caminhos da poesia mais recente, exactamente o que A faca não corta o fogo nos convida a percorrer. À primeira vista, e antes do mais, dir-se-ia que este novo livro de Herberto Helder só em parte é novo. Na verdade, ele reúne 1) um conjunto de textos já publicados em livros anteriores – a “súmula”; 2) uma parte final inédita, exactamente A faca não corta o fogo. Se esta estrutura é aqui talvez mais elíptica (não há índice ou qualquer outra explicação prévia, a origem dos textos sendo indicada apenas num breve parêntesis final, após cada secção), deve dizer-se que o próprio processo não é novo: desde, pelo menos, o Ofício Cantante, de 1967, primeira antologia pessoal, passando pelas duas edições (diferentes) da Poesia Toda (1973 e 1981) e terminando na ainda mais recente nova edição do Ofício Cantante (2009), que a edição do seu trabalho é labiríntica, com sucessivos cortes, reagrupamentos e acrescentos da matéria poética anterior. O leitor desprevenido poderá ficar perplexo ou mesmo um pouco perdido. Na verdade, Herberto Helder já se explicou, numa outra “antologia” de 2004, cujo título, de tão claro, dispensa comentários: Ou o Poema contínuo. Levando, pois, à letra (e à prática da letra) a conhecida afirmação de que um poeta escreve sempre o mesmo poema (“a vida inteira para fundar um poema,/ a pulso,/ um só” – como se repete na p.203 de A faca não corta o fogo), Herberto continuamente faz do antigo novo – ou seja, numa técnica muito próxima da usada na pintura contemporânea, faz colagens, no melhor sentido do termo. E, como na pintura, o resultado, longe de ser o mesmo é, de facto, sempre outro. Literariamente falando, é um gesto radical – mas radical sobretudo porque este é também um gesto que, de certa forma, contraria subtil mas decididamente a voz encantatória que no poema se apresenta com uma “aura” muito próxima do discurso do sagrado. Não o é, como estas sucessivas manipulações do já dito ou escrito obliquamente o confirmam. Ou antes, se algo do registo do sagrado permanece neste discurso, é apenas na forma desconstruída e fragmentária da modernidade (a que sabe, por exemplo, “que Deus funciona na sua glória electrónica”, p.159). Em primeiro lugar. Em segundo lugar, as marcas dessa modernidade inscrevem-se ainda numa poesia que é ao mesmo tempo uma poética, ou seja, num discurso perfeitamente consciente de si próprio, que simultaneamente vê o mundo e o acto de o escrever. E que, por isto mesmo, continuamente se comenta, antecipando as reflexões que o leitor poderia fazer. O melhor será mesmo, portanto, deixarmos que A faca não corta o fogo se defina: como um “canto jubilatório” (p.113), no qual o poeta faz “com as mãos estilísticas um invento fora e dentro dos estados naturais” (p.177), cuja “única técnica é o truque repetido de escrever entre o agraz e o lírico” (p.194). Donde resulta “a fria alegria intrínseca de uma língua” (p.176) ou “isso que às vezes me confere o sagrado” (p.185), mas um sagrado cuja raiz não é transcendente mas está em “quem sem magnificência nenhuma (…) me sopra na boca/ o vulgo, o pouco o inesperado”. Com efeito. N’A faca não corta o fogo, e detendo-nos apenas neste último aspecto, essa matriz inventiva que é o uso comum e popular da língua, exemplificada no próprio título (retirado de um provérbio grego, como nos é dito), ou no uso disperso de expressões populares e do calão, vai mesmo até ao efectivamente inesperado território do português do Brasil, nos fragmentos que, numa espécie de diálogo lírico (masculino e feminino), põem em cena a voz erótica de uma “menininha”, cujo “jeito” o poema transcreve em formas e modos linguísticos característicos e perfeitamente reconhecíveis pelo falante português comum. E não será essa, aliás, a menor das surpresas que nos reserva a “inédita” do livro. Repare-se, no entanto, que se a matriz é popular, ela é tudo menos primária – ou seja, no caso, o poeta não imita ou mima aqui o “brasileiro”, trabalha profusamente a língua a partir dessa matriz. Porque convém não esquecer que este é sempre, com efeito, e de forma marcada, um discurso culto: bastaria, por exemplo, a citação do conhecido refrão de D. Dinis, “ai deus e u é?”, introduzido a meio de uma destas sequências (p.143), e sinalizando, para quem saiba ler, a consciência de se estar usando uma voz feminina lírica (de se estar retomando uma tradição poética cuja raiz remonta às cantigas de amigo dos poetas medievais) para nos comprovar isso mesmo. De resto, citações oblíquas como esta aparecem ciclicamente ao longo das várias sequências do poema. Algumas outras também medievais, como o “edoi lelia doura” (p.135), refrão de uma cantiga de amigo de Pedro Eanes Solaz (Eu, velida, nom dormia), e que Herberto Helder já usou como título de uma antologia de poemas alheios, ou como o verso inicial de uma das mais notáveis cantigas provençais, da autoria de Raimbaut d’Aurenga, “Ar resplan la flors enversa” (“e então resplande a flor inversa”, na versão portuguesa do verso, que também integra essa sequência, p.149). Em ambos os casos, trata-se de enigmáticos versos medievais, voluntariamente enigmáticos já na época, diga-se, o primeiro sendo muito provavelmente a transcrição de um verso árabe (talvez “e a noite roda”, em tradução), o segundo sendo uma magnífica alusão à neve, mas numa cantiga que é o exemplo perfeito do trobar clus, a modalidade provençal do canto assumidamente obscuro e hermético (que se opõe ao canto directo, o trobar plan) e de que Raimbaut d’Aurenga é um dos iniciadores. Como já acontecia na cantiga de Pedro Eanes Solaz, cujo refrão, em termos poéticos, funciona perfeitamente, independentemente de sabermos ou não a sua “tradução”, ou mesmo na cantiga de Raimbaut d’Aurenga, magnífico “brinquedo” linguístico por si mesmo, também n’A faca não corta o fogo o poema não obriga a que o leitor saiba tudo isto (dizendo até, numa outra sequência posterior, “ó stor não me foda com essa de história literária”, p.173”) – mas, se o souber, é um facto que a leitura ganha uma outra dimensão, a que vem de se perceber que, para além da sua dimensão encantatória, o poema, este poema, é também uma “luz inteligente sobre o mundo” (p.175). De facto, e independentemente do seu valor poético intrínseco, que vêm fazer aqui estes mui específicos poemas medievais senão sinalizar, também explicitamente, uma tradição, a do trobar clus, obscuro, do grande canto provençal, na qual este canto contemporâneo se revê? Se não é uma poesia fácil a de Herberto Helder, como dizíamos, o poeta sabe isso mesmo (“sou obscuro, adivinha-me”, como se diz na p.184) e reivindica obliquamente as suas raízes: uma parte delas, através de Raimbaut d’Aurenga e dos trovadores galego-portugueses que o retomam, remonta, pois, a uma linhagem antiga, onde a poesia, trabalhando conscientemente na e com a língua, se quer também já um invento fora e dentro dos estados naturais. De resto, e retomando a questão das múltiplas citações que Herberto Helder dissemina ao longo do seu poema, não são apenas os poetas medievais os convocados. Camões, pelo menos cinco vezes (o Camões lírico das canções e de “Sôbolos rios”, pgs.143, 148, 164, 177 e 191) ou Antero de Quental (“Na mão de Deus, na sua mão direita”, p.183), só para citar os mais descodificáveis, fornecem igualmente alguma das “arcaicas/ matérias, melancolias, memórias, magnificências” (p.181) que o poema recupera e integra (Camões) ou discute (como é o caso de Antero) (muito curiosamente ou talvez não, Pessoa não parece ser convocado nunca). Ou o Poema contínuo, pois, mas agora numa outra dimensão: a de que, se o novo se faz do antigo, deveremos entender esse processo não apenas em termos pessoais (pela manipulação da sua obra anterior), mas igualmente em termos colectivos. O que nos diz Herberto Helder através destas citações é que, de facto, a criação poética tem tanto de talento individual como de recriação a partir dos grandes textos anteriores (“unha de rapina”, escreve-se na p.149, imediatamente antes da referência à “flor inversa”), ou seja, que nenhum poeta cria a partir do nada, antes se insere na longa cadeia dos que o precederam (“avança, retrocede, apaga”, ainda no mesmo fragmento), quer o explicite (como aqui), ou quer o oculte. E assim, em termos humanamente colectivos, o poeta é apenas um elo dessa cadeia infinita, a do Poema (com maiúscula) que continuamente se recria e renova. Renovando e recriando, ao mesmo tempo, a língua que é a sua. Como já antes se aludiu, n’A faca não corta o fogo uma parte significativa das sequências têm “a acerba, funda língua portuguesa,/ língua-mãe, puta de língua” como matéria (aqui, na p.170, numa sequência que vai, pelo menos, até à p.186). Mesmo que o poeta pergunte, logo em seguida “Que fazer dela?”, o que ele faz, na verdade, é um longo e apaixonado hino a essa “língua concêntrica que me criou até ao júbilo e eu criei contra o poder do mundo” (p.179), e que é “o mais verbal e primeiro de mim mesmo” (p.182), ou seja, um hino plural à “acerba, funda língua portuguesa”, como se repete na p.175. “Que é que se apura da língua múltipla:/ paixão verbal do mundo, ritmo, sentido?”, pergunta (p.170). É, pois, esta dimensão múltipla do Português que Herberto Helder percorre e põe inovadoramente em obra, de forma mais ou menos explícita, na “inédita” do livro, através d’“o fôlego rouco [que] irrompe nas pronúncias bárbaras/ dos nós da língua”. Encontramos esses “nós da língua” (literalmente e em todos os sentidos) na voz da “menininha puta”, já se viu, como ainda na voz (que nos chega via um anúncio de jornal) de um travesti brasileiro, que ocupa outra das sequências: “travesti, brasileiro, dote escandaloso, leio, venha ser minha fêmea” (p.178). É uma sequência que trabalha, pois, a partir da leitura do anúncio, liricamente o comentando em várias direcções, mas a partir do que parece ser a sua matriz principal: “eu fodo, se me dão licença,/ numa língua que vem com sua fúria combustível/ dos fundos da/ língua portuguesa, só fodo nela”. Esta exigência “monogâmica” do anúncio (só em Português) recupera-a Herberto Helder para si, tomando-a, ao mesmo tempo, como ponto de partida para um dos momentos maliciosamente mais divertidos do livro. E que termina, aliás, agora alargando o anúncio a outros destinatários (nós, os leitores): “fodam comigo no mistério das línguas/ obrigado”. O “mistério das línguas” – “e sabese tão pouco do que se vê e escuta muito” – é exactamente, para Herberto Helder, a matéria primordial da poesia, que desse mistério faz canto, sem que o processo seja exactamente perceptível: “ou outra coisa assim que/ se não sabe nunca,/ e fica escrita”. Neste sentido, compreende-se que a língua seja “autora” e o poeta “servente”. Note-se, em anexo, que não é obviamente por acaso que os “nós” brasileiros da língua nos apareçam no poema nas figuras e nas vozes líricas da prostituta e do travesti – porque, se o discurso é voluntáriamente obscuro, na sua gramática e na sua sintaxe, ele é também decididamente contemporâneo e atento ao mundo e aos seus sinais. Não será, pois, também por acaso que esta sequência lata dos “nós” da língua, de que temos vindo a falar, termina com uma “resposta a uma carta” (p.182) que, muito embora Herberto Helder não o explicite, parece ser endereçada, em primeiro lugar e nesta forma imediata de resposta, à “Carta” de Chico Buarque de Holanda (a conhecida canção “Tanto mar”, escrita pouco depois do 25 de Abril), mas que, na verdade, sobretudo glosa ou toma como matéria a também conhecida e notável canção de Caetano Veloso “Língua” (“Gosto de sentir a minha língua roçar/ a língua de Luís de Camões”), sequência esta que começa com uma citação directa: “Gloria in excelsis, a minha língua na tua língua”. Trata-se, na verdade, através da referência oblíqua a estes dois nomes, de uma homenagem ao colectivo dos poetas da música brasileira. Porque se, como nos diz Herberto Helder, “poesia, faz tempo que não conheço nenhuma”, é nesses cantores que, para ele, a língua portuguesa é “mais sucessiva,/ mais falada em música,/ com mais atenção inspirada, digo/ (…) com mais respiração”. Este louvor aos cantores populares brasileiros é ainda o louvor da língua múltipla, agora especificamente retomando Caetano: “a minha língua na tua língua em todos os sentidos sagrados e profanos”. Ou seja, poesia em Português, pois, mas com “saliva, muita, e temperatura animal”. Porque, e regressando à caracterização da modernidade de A faca não corta o fogo, uma terceira vertente central que organiza este discurso poético é exactamente essa “temperatura animal”, isto é, o erotismo que o percorre, em todos os lugares, em todas as formas e em todas as declinações. É um erotismo que vem expressa e continuamente da exaltação do corpo, do sexo e do amor (cabelos, ancas, coxas, vulva, “pénis intenso,/ ânus sombrio”), um fogo de que o canto se faz eco: “fiat cantus! e façase o canto esdrúxulo que regula a terra/ o canto comum-de-dois”. “Macho e fêmea”, ou mesmo macho e fêmea indistintamente, o poema canta, pois, o bailado dos corpos, a “carne soberba”, a “maravilha” da “casa ardendo cheia de uma estrêla incalculável”. Mas erotismo que provém também, de forma mais implícita, da materialidade múltipla deste canto, da atenção que dá às coisas mínimas do mundo, muitas vezes em simples sequência enumerativa (“colher, roupa, caneta,/ roupa intensa” ou “frutas, púcaros, ondas, folhas, dedos”), e que a exclamação “Glória aos objectos!” poderá talvez condensar. Em aparições ou “alumiações” cíclicas (e que, nalguns casos, se repetem ao longo do poema à maneira de refrão), lemos, pois, do “resplendor” das frutas (laranja, pêra); da panela onde, com “legumes, sal, azeite, especiarias, ervas”, se faz “o milagre quotidiano da transmutação dos corpos”, que é a “ignota, e a obra de comê-la,/ sopa/ superlativa”; das roupas, seu vestir e desvestir (camisas, vestidos, seda, linho); ou mesmo das banheiras e dos duches (“champô e gel, e em cheio, baptismal, no cabelo/ o chuveiro de Deus”). No seu modo discursivo torrencial, excessivo (“um abuso de luz”), caótico (“porque o mundo é um caos sumptuoso”, p.164), A faca não corta o fogo põe, pois, em obra uma poesia onde, “ainda que doa o mundo,/ a alegria”, a maravilha, a paixão, a exultação – o fogo, são os fundamentos do canto. E, neste sentido, poderemos dizer que este “canto jubilatório” de Herberto Helder se afasta, de forma marcada, de alguns outros caminhos da poesia portuguesa do século XX, os que à melancolia (e, mais além, ao saudosismo) vão buscar a sua matriz. Mas isto também Herberto Helder o sabe. E talvez exactamente por isso, numa sequência que poderíamos talvez aproximar do registo satírico das cantigas de escárnio e maldizer medievais, inclui no seu poema uma muito concreta invectiva endereçada a um “sr. dr.” (p.172), que toma como mote uma autocitação de Photomaton & Vox (transcrita em epígrafe da sequência, mas sem indicação da origem), onde se assiste a uma tomada de posição do “autor”, nos idos de 1971, contra uma poesia que consistiria em “escrever poemas cheios de honestidades várias e pequenas digitações gramaticais, com piscadelas várias ao ‘real quotidiano’”, a que o “autor” responde simplesmente “desculpe, sr. dr., mas:/ merda!”. Muito visivelmente Herberto Helder estava já então e continua a estar agora num diálogo concreto com alguns dos seus (e dos nossos) contemporâneos, eventualmente até num diálogo directo, como as repetidas referências que são feitas ao “reino” talvez indiquem. Mas não é isso o que mais interessa, creio. Ainda que verosimilmente usado em registo de duplo sentido, este “reino” é sobretudo uma explícita referência às palavras de Cristo “o meu reino não é deste mundo” e à parábola bíblica, citada mais adiante (p.177), “que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha”, aqui adaptada na sequência “do que uma linha escrita,/ o reino por essa linha lírica em que aprendi a morrer”. O “reino” onde agora, trinta anos passados, há “não um dr. mas mil drs. de um só reino” é, pois, muito visivelmente, o mundo mundanal que é também o da literatura contemporânea, dos críticos, das editoras e dos jornais, da escola e das universidades, dos estudos, dos congressos e, muito resumidamente, o de uma certa e generalizada futilidade. “Não sou desse reino”, diz-nos, pois, o poeta, ou, mais especificamente: “vou-me embora/ quer dizer que falo para outras pessoas, falo em nome de outra ferida, outra/ dor, outra interpretação do mundo/ outro amor do mundo,/ outro tremor (…) outro mundo”. Biograficamente, sabemos ao que Herberto Helder alude aqui: à sua continuada recusa de prémios, entrevistas e outros hábitos “naturais” do mundo literário e cultural que é o nosso. Como diz esta sequência de A faca não corta o fogo, não tanto à maneira de justificação, mas, muito claramente, de combate, o seu mundo não é este. Na verdade, e ainda que por vezes polémica, parece-me esta uma escolha perfeitamente legítima e coerente até com o obscuro e hermético canto que é o seu. Que o autor se queira assim “obscuro” e que dele não tenhamos sequer uma fotografia actualizada não me parece demasiado grave (até porque, como se vê, esta obscuridade biográfica não impede que cada novo livro seu seja um acontecimento). Mas literariamente, e isso é que me parece importante sublinhar, esta opção por um voluntário isolamento em relação ao “reino dos mil drs.” assinala também um outro caminho (“outro louvor, outra interpretação do mundo”), que muito evidentemente esta poesia, na sua singularidade, eticamente propõe: o da dedicação e fidelidade exclusivas a uma língua própria e comum, onde seja possível escrever “a linha que me custa o reino e não passa pela agulha”. Uma linha na qual o poeta seja capaz de dizer a maravilha do mundo, mesmo que morra (na matriz camoniana, que se retoma na p.177: “e tu, Canção, se alguém te perguntasse como não morro,/ responde-lhe que porque/ morro”). As últimas páginas de A faca não corta o fogo terminam com uma reflexão sobre a morte. A penúltima sequência (a última, antes de um curto verso final, é uma curta homenagem “na morte de Mário Cesariny”, a quem pedi emprestado o título deste texto), essa penúltima sequência inicia-se com os seguintes versos: “li algures que os gregos antigos não escreviam necrológios,/ quando alguém morria perguntavam apenas:/ tinha paixão?” . E a pergunta é agora, quando “homens e mulheres perdem a aura/ na usura,/ na política,/ no comércio,/ na indústria”, se será ainda possível morrerse “gregamente”. É uma pergunta genérica e a poesia que acabámos de ler n’ A faca não corta o fogo serve exactamente para ela ser publicamente feita. Mas, no que diz respeito ao seu autor, a resposta à pergunta grega não é difícil: Herberto Helder manifestamente tem. Até porque, recusando “a pimenta-do-reino, o gengibre, o cravo-da-índia”, ou “os cegos e os temperados”, inovando e renovando, sua é a “paixão grega” pelo mundo, pelas coisas pequenas e grandes do mundo, pela língua contemporânea em que são ditas. E também pelas escolhas que, não sendo deste reino, o iluminam com a “luz antiga e moderna” que é sempre a da poesia, no seu melhor.
Download