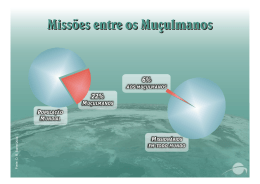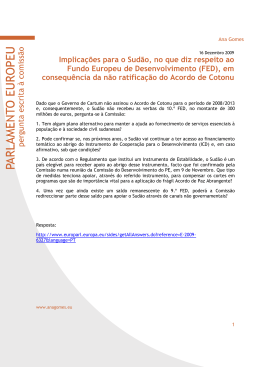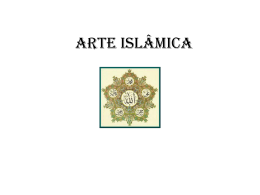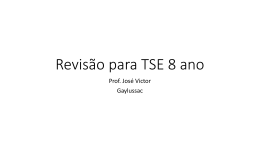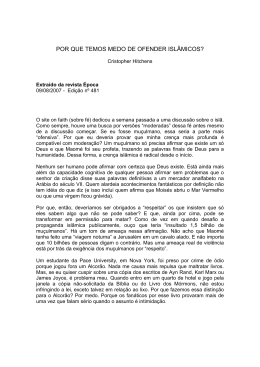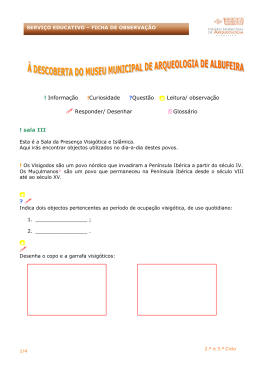No coração da selva ouvi um clamor: a história da revolução islâmica no Sudão (1881-1898) Patricia Teixeira Santos Os estudos na linha da História Política permitem identificar as complexas relações que existem entre a religião e o fenômeno político. Por esta perspectiva, percebe-se que, com relação ao Islam, o sistema religioso tornou-se uma dimensão da política, na medida em que o espaço privilegiado para a vivência da fé e para a concretização das promessas de Allah aos seus fiéis é o Estado Islâmico juridicamente constituído e reconhecido enquanto tal. Além disso, a Shariah (a jurisprudência) nasceu a partir dos textos sagrados e regulamenta as relações políticas, sociais e religiosas do Estado com a Umma (a comunidade muçulmana). No Islam, o poder político e a estrutura social são, segundo Campanini, benefícios de Deus, graças concedidas para a felicidade de todos os homens. Assim, o propósito dos muçulmanos não é tanto o de debater sobre a essência de Deus, mas, sobretudo, o de interpretar a vontade divina e de conhecer e observar as leis que são religiosas e políticas ao mesmo tempo. Os governantes devem ser capazes de concentrarem em si as atribuições de chefe de Estado e de Iman (aquele que conduz os fiéis nas orações). Por isso, o melhor sistema de poder para o Islam, de acordo com o Corão e a Sunna, é o califado, que foi determinado após a morte do Profeta Muhammad, e que constitui o modelo eterno de uma forma perfeita de Estado que Deus desejou que atuasse no tempo histórico. A deturpação do califado, na perspectiva dos pensadores muçulmanos do século XIX, como Rashîd Ghannîsh, da Tunísia, surgiu do desejo de se adotar a modernidade ocidental, a ponto dos Estados de maioria muçulmana se apropriarem do princípio da separação dos poderes temporal e espiritual, o que contribuiu para o divórcio entre religião e política e para o enfraquecimento do poder do governante, distanciando-o da comunidade de fé e aproximando-o dos Kafir (os ignorantes dos princípios islâmicos). Tal fato teve como consequência o abandono da observância da Shariah, o que fez com que diversos Estados deixassem de ser reconhecidos como Islâmicos, provocando a restrição do espaço para a vivência da fé, pautado e orientado pelo Corão e pela Sunna. Para se reconquistar o bem perdido tornou-se necessário percorrer o salaf (o caminho dos antigos), porque foi no passado, ou melhor, no auge do sistema do califado, durante a Idade Média, que os muçulmanos souberam, na perspectiva das correntes islâmicas dos século XIX e XX, praticar corretamente os ensinamentos de Allah. Este movimento de relembrar as virtudes dos antepassados de fé transformou o Islam no século XIX em um princípio mobilizador da defesa da identidade dos povos não europeus islamizados e também uma alternativa política e social antimperialista que atraiu populações não muçulmanas na África e na Ásia, como foi comprovado no surgimento de várias revoluções islâmicas onde o percentual de participação de aliados não convertidos foi bastante significativo, como a Mahdia no Sudão (1881-1898), objeto de análise deste artigo. A respeito dos antecedentes da Revolução Mahdista, Prunier destacou que a ocupação do Sudão pelo Egito Otomano é um fenômeno fundamental, porém ainda pouco estudado. Segundo o autor, a expansão egípcia em direção à região ocorreu em meio às tensões causadas pela rivalidade anglofrancesa. Bleuchot, por sua vez, assinalou que escrever a história da conquista do Sudão é uma tarefa extremamente difícil, dada a parcialidade da documentação disponível, constituída unicamente pelas narrativas dos viajantes. Os detalhes fornecidos pelas fontes são obscuros e contraditórios, especialmente quando se referem a estimativas (número de escravos, população, preços) que são muito diferenciadas umas das outras. Para compreender a problemática que Prunier e Bleuchot chamaram de sub-imperialismo egípcio no Sudão, é necessário atentar para a situação do Egito no início do século XIX. Principal território dominado pelos otomanos na África, passou pela ocupação francesa, que desestruturou o poder dos mamelucos na região. Tal intervenção, somada às novidades tecnológicas e militares introduzidas pelos franceses, fizeram com que o Vice-Rei egípcio Muhammad Ali se sentisse forte o suficiente para conseguir a autonomia frente ao Império Otomano. Para os autores, a melhor forma encontrada por Ali para atingir o seu objetivo foi através da conquista do Sudão e da fundação, em 1824, da cidade de Khartoum. A fim de poder continuar a expansão sobre o território sudanês, o Vice-Rei se aproximou das potências européias, especialmente da Inglaterra, sujeitando-se às prerrogativas imperiais da mesma. É em função disso que a ação de Ali foi caracterizada como sub-imperialismo. Prunier ressaltou que o Sudão não era unido. Ao norte estendia-se uma região islamizada, onde o árabe servia de língua franca. Ao sul encontravam-se as populações não muçulmanas que eram vítimas das razzias. Tal fato teria facilitado o êxito de Ali. Com a expansão egípcia, segundo o autor, instalaram-se os consulados da França, da Áustria, da Holanda, do Piemonte-Sardenha e da Inglaterra. Esta última conseguiu transformar o Egito e o Sudão em suas áreas de influência, solapando os interesses das outras potências européias, em 1898. Entre os anos quarenta e sessenta do século XIX, chegaram os missionários que se instatalaram na região sul, onde a maior parte das populações não eram islamizadas. Iniciou-se a modernização do Sudão, com o estabelecimento da navegação a vapor e da construção do porto de Souakin, o que contribuiu para a ampliação das relações comerciais com a Europa. Bleuchot mostrou que as primeiras missões cristãs a entrarem no Sudão foram as católicas austríacas, fazendo parte de uma série de inovações advindas do processo de ocidentalização da região. Prunier e Bleuchot não destacaram a importância das missões católicas na região, bem como o papel desempenhado pelas mesmas de estabelecer contato com os povos do sul do Sudão que eram hostis a qualquer aproximação com elementos ocidentais, e também com o Islam, em função das razzias promovidas pelos traficantes muçulmanos. Além disso, não se utilizaram dos escritos e das documentações produzidas pelos missionários a fim de caracterizar o impacto da expansão imperialista européia nos povos do Sudão. Acredito que a perspectiva de escrever uma história do Sudão, a fim de compreender os problemas contemporâneos do Islam naquele país, levou Prunier e Bleuchot a optarem pelo enfoque dos conflitos das principais correntes islâmicas sudanesas com o expansionismo anglo-egípcio e pelo estudo dos referenciais religiosos e políticos dos muçulmanos sudaneses do século XIX, que claramente rejeitavam a existência de uma religião monoteísta rival, o Catolicismo, representante do Ocidente na região. Daget e Renault, por sua vez, preocuparam-se em analisar as estruturas econômicas e políticas do Sudão no século XIX e o impacto causado pela intervenção inglesa no tráfico de escravos, que era a atividade mais lucrativa da região. Segundo esses autores, o Sudão fornecia ao Egito escravos militares, eunucos e escravas para serem concubinas nos haréns dos mais abastados. Com a expansão turco-egípcia, a estrutura escravista tornou-se bastante complexa, na medida em que o Vice-Rei Muhammad Ali intensificou a exploração do marfim e dinamizou o tráfico de escravos, dando abertura inclusive para a participação de traficantes de origem européia. Em função do aumento da demanda, surgiram as zeribas e os dems, que eram, inicialmente, fortificações onde o marfim apresado era guardado. Com o aumento do tráfico, elas passaram a abrigar grandes quantidades de escravos. As populações vizinhas a essas fortificações foram submetidas pelos traficantes, que cobravam das mesmas impostos e recrutavam dentre elas os sentinelas para vigiarem os cativos e serviçais para trabalharem na residência dos traficantes situada nos dems. Através do estabelecimento dessas fortificações, os traficantes tornaram-se autoridades efetivas no sul do Sudão e puderam contar com o apoio dos funcionários da administração turco-egípcia, até a proibição ao tráfico de escravos proclamada pelo sultão otomano, em função das pressões inglesas. Apesar de terem caracterizado os embates entre os muçulmanos e os ingleses, Daget e Renault não aprofundaram o estudo dos mecanismos de resitência dos traficantes às investidas ocidentais na região. Bleuchot, entretanto, ressaltou que grande parte dos comerciantes de escravos eram muçulmanos e que o Islam na região percebia a intervenção inglesa no tráfico de escravos, como o início da perda da autonomia política e religiosa das elites sudanesas, suscitando inúmeras reações contra os soldados ingleses em algumas províncias. A união islâmica afetou os interesses ingleses muito mais do que a atividade traficante. Ao contrário do que autores como Prunier apontam, Grandini destacou que o Islam no Sudão conseguiu empreender a maior ação anti-colonialista do século XIX, a Revolução Mahdista, graças à capacidade que teve de unir as províncias do norte e do sul em torno do objetivo comum de expulsar o estrangeiro. No entanto, acredito que, somados ao desejo de impor o fim da dominação estrangeira, existiram outros fatores igualmente importantes, que serão abordados mais adiante, a partir da caracterização da historiografia a respeito da Mahdia. Os primeiros ensaios históricos e tratados diplomáticos a respeito da Revolução Mahdista datam de 1891, quando o Estado Islâmico ainda existia no Sudão. O que favoreceu o surgimento dessas obras foi a fuga de um prisioneiro europeu da capital do Estado Mahdista, a cidade de Ondurman, Padre Josef Ohrwalder, de origem austríaca, que era membro do Instituto das Missões pela Nigrízia, fundado pelo Vigário Apostólico da África Central, D. Daniele Comboni em 1871. O relato da fuga do Padre Ohrwalder, produzido a partir do incentivo do general inglês Wingate, que desejava a intervenção militar inglesa no Sudão e a inclusão desta região como protetorado britânico, foi a base da produção de diversos estudos históricos que reforçavam o caráter intransigente da Revolução e que caracterizavam o líder Muhammad Ahmad e os que o apoiavam como selvagens sem lei. Esta produção historiográfica, realizada sobretudo por historiadores ingleses, ganhou novo impulso com a fuga de Rudolph Slatin, que foi governador de uma das províncias do Sudão até o início da Revolução Mahdista, quando converteu-se ao Islam, alegando o medo de morrer nas mãos dos muçulmanos. Os relatos de Ohrwalder, devidamente alterados na versão inglesa que teve como revisor o próprio General Wingate e os depoimentos de Rudolph Slatin contribuíram para a produção e a popularização das obras historiográficas a respeito do caráter da Revolução Islâmica e da idéia de que a Inglaterra tinha o dever de pacificar os revoltosos e de integrar na Commonwealth aquela perdida e selvagem região do globo. Contudo, em 1901, foi publicada na França a obra L ‘État Mahdiste au Soudan de G. Dujarric, que questionou a versões de Slatin e Orhwalder a respeito da situação dos prisioneiros europeus no Estado Mahdista. Segundo Dujarric, o status do prisioneiro no Estado Islâmico era muito diferente daquele dos Estados ocidentais. Os prisioneiros poderiam prestar serviços, contribuindo para o desenvolvimento do comércio e da administração do Estado, tendo com isso algumas regalias como a de poderem manter correspondência com seus familiares, importar artigos da Europa para uso pessoal e ter acesso aos líderes islâmicos. Apesar da riqueza da análise das fontes dos prisioneiros ingleses e franceses e dos manuscritos deixados pelo Mahdi, a obra Dujarric foi condenada ao ostracismo, porque, acabava, em certa medida, por questionar a ação imperial anglo-francesa na África, como um todo. Esta obra foi recuperada somente a partir dos anos sessenta do século XX, quando uma nova geração de historiadores ingleses começou a relativizar os estudos aparentemente acríticos baseados nos textos de Orhwalder e Slatin. Diversas teses sobre o caráter do Islam e o significado da Revolução Mahdista foram produzidas alicerçando-se nas fontes do religioso e do militar austríacos. Estes estudos vieram a sofrer uma grande transformação a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, quando as potências européias, bastante enfraquecidas, começaram a perder as suas possessões coloniais que, por sua vez, estavam lutando pela independência política. Foi nesse contexto que a obra de R. Hill e os ensaios que produziu posteriormente causaram um grande impacto, porque questionaram as fontes básicas da historiografia anglo-francesa a respeito da Revolução Mahdista. Sabe-se que havia diversos prisioneiros europeus de diferentes nacionalidades e funções, inclusive os religiosos católicos, que não tiveram os depoimentos contemplados pela historiografia. A contribuição de Hill foi a de destacar o papel que as obras de Ohrwalder e Slatin tiveram de War Propaganda. Além disso, face aos desafios colocados pela independência dos países africanos e asiáticos, Hill mostrou que era fundamental revisitar a história da Revolução Mahdista e de outros movimentos de contestação colonial, a fim de ser possível compreender as novas nações que se constituíam a partir de outros parâmetros de análise e de um novo posicionamento político, sobretudo em função da Guerra Fria. A abertura dos arquivos da Mahdia que estavam no Egito e no Sudão contribuiu para redimensionar a análise historiográfica sobre a situação dos prisioneiros de guerra no Estado Mahdista. Confirmaram-se as observações de Dujarric quanto as possibilidades que os prisioneiros europeus tinham de desenvolver atividades comerciais e de contribuír para o incremento das relações econômicas do Estado Islâmico com outros potentados africanos. Os europeus convertidos ao Islam gozavam dos mesmos direitos e liberdades que os demais muçulmanos, tendo o direito de se sentarem na mesquista, durante os Sermões de Sexta-Feira, nas fileiras mais próximas do Mahdi, que comandava as orações. Graças às novas fontes, surgiram obras que nos anos setenta e oitenta do século XX, detiveram-se no estudo mais aprofundado do caráter do Estado Islâmico constituído no Sudão. Dentre elas, destaca-se a obra de Bleuchot, que mostrou a capacidade que a Revolução Mahdista teve de integrar diferentes populações não islamizadas na estruturação do Estado e o quanto a escravidão foi importante para o seu desenvolvimento. Além disso, apontou como a propaganda abolicionista ocidental foi ineficaz na tentativa de acabar com o tráfico de escravos. A respeito da figura do Mahdi, as obras historiográficas anglo-francesas produzidas a partir dos relatos de Ohrwalder e Slatin retrataram Muhammad Ahmad como um homem que se autoproclamou Mahdi, aproveitando-se dos conhecimentos que possuía dos Haddis (tradições) do Profeta Muhammad e do Corão. Tratava-se de uma figura presunçosa e ardilosa que unia uma população esfaimada e desesperada com a exploração turco-egípcia. O papel dos ingleses seria o de coibir os abusos das autoridades, projeto que fracassou completamente na medida em que o desespero, o irracionalismo e a fome foram os detonadores do movimento Mahdista, que teria um caráter meramente reivindicatório e configurou-se, para essa historiografia da War Propaganda, como uma revolta. A obra de Dujarric, apesar de questionar a veracidade dos depoimentos de Ohrwalder e Slatin, apontou como fatores para o surgimento do movimento Mahdista a proibição ao tráfico de escravos e, fundamentalmente, a exploração descabida empreendida pelos Vice-Reis do Egito, que pretendiam formar um império assentado na corrupção e na exploração. Apesar das críticas, percebe-se em Dujarric uma visão otimista do Império Britânico. Para este autor, a Inglaterra representava o bastião da moralidade para o mundo. O que deveria ser coibido eram iniciativas de súditos ingleses que solapavam o espírito da filantropia européia em nome de interesses comerciais muitas vezes escusos. Além disso, se a França e, principalmente, a Inglaterra reclamavam para si o ônus de serem as civilizadoras dos povos, jamais poderiam ter cometido atos que as igualassem aos administradores turco-egípcios, como, por exemplo, a extrema violência utilizada na execução dos traficantes de escravos e dos prisioneiros mahdistas. O Mahdi, para Dujarric, era um homem piedoso, que fez com que as populações exploradas do Sudão vislumbrassem uma possibilidade de justiça e de vivência dos valores de uma religião que portava, na avaliação do autor, um forte conteúdo igualitário e que possiblitou a união de povos tão diferentes em torno dos objetivos comuns de se livrarem do egípcios, dos otomanos e dos europeus, que igualmente os maltratavam e os atingiam na fonte mais preciosa de seus recursos, que era o tráfico de escravos. A partir das críticas feitas por Hill, na segunda metade do século XX, historiadores como Zaccaria e também Grandini caracterizaram a figura do Mahdi como precursor do nacionalismo árabe que veio a desenvolver-se no século XX e identificaram o movimento Mahdista como uma grande revolução que propunha uma transformação radical da sociedade, além de ter um caráter marcadamente anticolonial, que abalou as certezas ocidentais construídas na Era do Imperialismo a respeito das limitações do Oriental. Apesar das novas abordagens a respeito do caráter da Revolução, do papel da escravidão e dos seu significado político, percebo que boa parte da historiografia ainda restringe as razões do surgimento da Revolução Mahdista aos abusos de poder e de exploração das autoridades otomanas e das potências européias. Contudo, a partir da análise dos relatos dos missionários do Instituto das Missões para a Nigrízia e das cartas do Vigário Apostólico da África Central, D. Daniele Comboni, é possível perceber que já havia uma movimentação pelo menos dez anos antes da Revolução eclodir, capitaneada pelos seus agentes no sentido de expandir o Islam para toda região sul do Sudão além da produção de biografias de muçulmanos virtuosos para uso das populações a serem convertidas. Tal investimento competia com os missionários católicos e, segundo os religiosos, já era possível perceber a aproximação de potentados locais com os muçulmanos que expandiam a fé islâmica para o interior. Além disso, outro aspecto fundamental que se pode apreender a partir da análise das fontes, e que ainda não foi explorado pela historiografia contemporânea, é a situação dos europeus convertidos para o Islam no Sudão. Sabe-se que tanto o Corão quanto a Sunna proíbem as conversões forçadas. Durante a vigência do Estado Mahdista, o califa Abdulahi garantiu o direito dos religiosos católicos de celebrarem missas e de administrarem os sacramentos para os outros prisioneiros da mesma religião. Os povos aliados dos Mahdistas que não eram nem muçulmanos e nem faziam parte dos povos do Livro tiveram direitos e representação dentro do Estado, o que constituiu uma inovação na jurisprudência islâmica, no que se refere ao tratamento dispensado aos pagãos.Muitos europeus que se converteram ao Islam durante a Mahdia alegaram que assim o fizeram para não morrer e o mais célebre de todos foi o próprio Rudolf Slatin que, devido à conversão, teve acesso direto ao Mahdi e gozou dos mesmos direitos adquiridos pelos Ansar, os companheiros do líder, podendo transitar livremente e manter constante contato com os seus familiares na Áustria. Assim, os relatos dos missionários do Instituto das Missões da Nigrízia, do Vigário Apostólico da África Central, bem como de comerciantes e autoridades diplomáticas não afinadas com a política inglesa na África Central foram obliterados em função da necessidade de se estabelecer o domínio colonial britânico no Egito e no Sudão Perecebe-se a partir do caso do Sudão, que partir da intervenção ocidental, a situação das populações islâmicas na Ásia e na África nunca mais foi a mesma, pois na justa medida em que se intensificavam as investidas das potênciais européias, sobretudo a partir da segunda metade do século XIX, desenvolveram-se e tomaram corpo em diferentes regiões da África diversos movimentos islâmicos de contestação e de transformação social, dentre os quais se destacou o Mahdismo, fenômeno que atingiu diversas áreas do continente, onde surgiram vários Mahdi (restauradores da fé islâmica), que comandaram os jihad ( o grande empenho pela causa de Deus através da luta) contra europeus e também contra potentados africanos que se sujeitaram à intervenção ocidental. A fim de poder compreender a natureza das movimentos islâmicos de contestação e de revolução, pretendo estudá-los a partir da perspectiva da relação entre Cultura e Imperialismo desenvolvida por E. Saïd. Constatando que o contato imperial jamais foi unilateral, mas, acompanhado sempre de algum grau de resistência, o autor caracteriza a cultura como uma noção que, no contexto do Imperialismo, veio associada a projetos de constituição de Estados Nacionais na Europa, tornandose uma fonte de identidade que diferenciava os europeus das populações africanas e asiáticas, justificando os combates e fomentando, por parte dos povos que vieram a ser colonizados, movimentos de retornos à tradição, que possuíam, em muitos dos casos, um caráter fundamentalista. Dentre essas reações, destaca-se a Mahdia no Sudão. Na relação entre Cultura e Imperialismo, a partir da perspectiva de Saïd, as narrativas ficcionais e históricas foram fundamentais para a reafirmação da identidade européia e para as justificativas da expansão imperial. Por isso, além da conquista da terra e da subordinação dos povos africanos e asiáticos, tornou-se imperioso o controle do poder de narrar e de impedir que vozes discordantes pudessem narrar contra as ações das potências ocidentais. Termos como escuridão, trevas e abandono foram vastamente utilizados pela literatura européia para caracterizar a África e os seus habitantes, atraindo o interesse de um grande público que lia os diários de viagens de exploradores, os romances, os artigos de jornais e os relatórios das Sociedades Geográficas. Ao se escrever sobre a África, seus habitantes, sua fauna e sua flora, consolidava-se no espaço da narrativa o que fora conquistado no continente, reforçando-se a dominação ocidental. Inglaterra e França, as duas maiores potências européias no século XIX, disputaram acirradamente por áreas de influência na África. A rivalidade perpassava desde o campo militar até a literatura. Diversos romances, diários e relatos científicos ajudaram a expressar no campo intelectual os confrontos entre os dois países. Além disso, nos aspectos religioso e diplomático, a França se proclamou protetora das missões católicas e a Inglaterra advogou a posição de mantenedora das iniciativas evangelizadoras protestantes. A cultura também constituiu num campo de batalha, visto que as investidas imperiais foram constantemente acompanhadas pela resistência dos povos africanos e asiáticos. O argumento de defesa da liberdade justificava a perseguição aos traficantes que, por seu lado, organizavam o contra-ataque. Isto levou as potências ocidentais retomarem a idéia de cruzada contra os pagãos e infiéis. Nos discursos dos exploradores, funcionários e forças policiais das metrópoles européias, o homem africano era visto como um ser completamente desamparado dos direitos políticos e de qualquer autoridade que pudesse protegê-lo, sendo tratado como selvagem. Além disso, era comum a tendência de reificar o nativo a ponto de se estabelecer práticas, que, em grande parte, contrariavam os valores cristãos ocidentais, como a comercialização e o consumo de carne humana no Congo Belga. Tamanha necessidade de se atribuir características naturais e/ou designações que destituíam os povos não europeus da sua dimensão humana, evidenciam que havia reações que respondiam às agressões ocidentais. acompanhadas pela resistência dos povos africanos e asiáticos. Apesar da violência generalizada na exploração ocidental da África, existiram vozes dos centros metropolitanos das grandes potências européias que se ergueram contra o abuso de poder. No entanto, para essas pessoas que protestaram, como Joseph Conrad, autor de Heart of Darkness, romance onde denunciou as atrocidades cometidas pelos belgas no Congo, a África necessitava da presença ocidental, na medida em que a sua natureza e os seus habitantes estavam imersos no caos e na ignorância. Tal posicionamento não pode ser considerado paradoxal, na medida em que na época o pressuposto científico para o estudo e compreensão da dinâmica dos povos não europeus era o paradigma da raça. Havia diversas formas de se conceber o estudo das raças e abordagens que iam desde o evolucionismo de Tylor até a eugenia. No caso de Conrad e de outros intelectuais europeus e religiosos que não aceitavam as atrocidades coloniais, predominava a perspectiva denominada por Apià de racismo intrínseco, ou seja, os povos eram pensados em termos de características físicas e intelectuais comuns determinadas pelo pertencimento a uma raça. Em função disso, era necessário conhecer bem tais aspectos a fim de se fazer uma intervenção que garantisse o desenvolvimento e o progresso, tomando o cuidado de se perceber os aspectos positivos de cada raça e potencializandoos através do ensino dos valores da civilização ocidental. A fim de se poder comprender as especificidades da Revolução Mahdista, dentro da perspectiva mais ampla da relação entre Cultura e Imperialismo, é necessário que se faça considerações a respeito de um importante conceito que é o de fundamentalismo religioso. O fundamentalismo se consolidou, no século XX, como um conceito explicativo, dentro da Teologia e posteriormente nas Ciências Sociais, para o estudos das reações de diferentes sistemas religiosos ao impacto da modernidade. Além disso, passou a carregar um sentido de fanatismo religioso ou mesmo de violência sacra, sendo visto como a tentativa de um impossível retorno ao passado, às origens de um credo religioso não muito compatível com o mundo contemporâneo, sendo portanto arcaico e intolerante e possível de ser encontrado nas grandes religiões. Diante disso, E. Gellner propôs revisitar o conceito de fundamentalismo, buscando perceber as possibilidades de aplicabilidade do mesmo, a despeito de toda carga pejorativa que herdou ao ser utilizado para explicar comportamentos e ações intransigentes por parte das religiões. Para este autor, o fundamentalismo pode ser entendido por aquilo que rejeita, a saber, o relativismo na interpretação dos textos sagrados e, principalmente, o fim da exigência do cumprimento integral de uma orientação ou da observância de todo um sistema de conduta, que ganha sentido na sua totalidade integradora, permitindo a manutenção da identidade religiosa. O fundamentalismo estaria presente em muitas religiões, segundo Gellner, mas se encontra no apogeu no Islam. Para o autor, as razões disso residem, em primeiro lugar, na rejeição dos muçulmanos ao processo de secularização, o que detonou o surgimento de diversos movimentos que propõem a volta a Idade do Ouro, período que se iniciou com o advento do profeta Muhammad e que perdurou até o califado Abássida. Em segundo lugar, o Islam, para Gellner, é uma religião que pretende completar a revelação divina, sendo o profeta Muhammad o último mensageiro de Deus. Por isso, os seus adeptos consideram as mensagens reveladas anteriormente como distorcidas pelos seus seguidores. Em função disso, a doutrina islâmica observa um monoteísmo severo e, além da noção fundamental de que religião e política são interligadas, a ponto da lei legislar tanto a dimensão temporal quanto espiritual. Por ter sido revelada por Deus, não cabe aos teólogos questionarem se a lei é justa ou injusta, na medida em que a mesma é fundada em um princípio que está para além do humano, ou seja, a própria divindade. Allah segue à frente da legislação e estabelece a jurisprudência, a Shariah. Além disso, subordina o poder executivo ao legislativo e os ulama (os doutores da lei) têm o dever de serem responsáveis pela cobrança do cumprimento da observância da fé da Umma (comunidade muçulmana). Não há, teoricamente, a existência de um clero como no Catolicismo, ou de qualquer intermediário entre o muçulmano e Deus. Neste sentido, aponta Gellner, o Islam é um sistema religioso igualitário, onde os crentes possuem o mesmo valor perante a divindade. Apesar de reforçarem a abordagem que mostra interligação entre a dimensão religiosa e a política no Islam, Pace e Guolo discordam do tratamento do fundamentalismo no singular. Para esses autores, existem vários fundamentalismos, que surgiram de acordo com diversos contextos culturais e religiosos dos movimentos que reelaboraram ou mesmo reiventaram a tradição sacra. Esta perspectiva amplia e redimensiona a visão de Gellner, que não prioriza, a meu ver, a dinâmica histórica e estabelece como meta do fundamentalismo a invocação de um passado onde se encontra a origem do sistema religioso, descartando as constantes reinterpretações da doutrina e a possibilidade do surgimento de novas alternativas para a solução de problemas políticos e sociais não abordados pela tradição ou mesmo pelos textos sagrados. Para Pace e Guolo, os fundamentalismos constituem um tipo de pensamento que se interroga a respeito do vínculo ético que têm as pessoas que vivem em uma mesma sociedade, concebida como a totalidade dos crentes, empenhados enquanto tais em cada campo do agir social. Para os movimentos fundamentalistas se coloca o problema do elemento principal da integridade de uma comunidade, a saber, o pacto de fraternidade religiosa, que é a fonte da identidade coletiva. Os movimentos fundamentalistas interpretam uma necessidade social emergente, que é a de não perder os próprios princípios e a identidade em uma sociedade cada vez mais minada pelo individualismo e atingida pelo permissivismo e pelo relativismo moral. Nos fundamentalismos tende-se a imputar a responsabilidade destes problemas da sociedade a um sujeito preciso, que pode ser o pluralismo democrático, o secularismo, o comunismo, o ocidente capitalista ou o Estado laico. Tudo isto faz parte da categoria inimigo, que desempenha o papel de acabar com a identidade religiosa e política e de desestruturar o pacto de aliança com uma palavra divina ou com uma lei sagrada. Tomando como ponto de partida para análise os parâmetros apresentados por Pace e Guolo, é possível perceber que o fenômeno designado como fundamentalismo islâmico, é na verdade, o produto da ação de movimentos que operaram em fases históricas distintas, que podem ser definidas como Ressurgimento, Reformismo e Radicalismo. O Resurgimento foi a corrente do fundamentalismo que se manifestou entre os século XVIII e XIX nas áreas periféricas dos impérios muçulmanos e que possui algumas linhas ideológicas comuns, como a reafirmação do caráter monoteísta do Islam e a decisão, do ponto de vista político de abandonar os territórios (héjira) nos quais era predominante a presença dos infiéis (as potências ocidentais), dos politeístas e dos pagãos, ou então, de reconquistar a terra através do Jihad (luta pela causa de Deus). Foi nesse segundo aspecto que se inseriu a Revolução Mahdista no Sudão. O Reformismo desenvolveu-se nos séculos XIX e sobretudo XX, como uma reação à decadência do mundo muçulmano, provocada pelo processo colonial e pela consequente ascensão da Europa. Diferentemente do Ressurgimento, que será melhor analisado mais adiante, o Reformismo se manifestou no coração do Império Muçulmano e não nas suas margens. Uma vertente do pensamento reformista foi a corrente otomana que acreditava que o renascimento do Islam deveria vir do alto, pela via política, buscando conciliar a modernidade ocidental com a doutrina muçulmana. Buscou-se traduzir para a linguagem islâmica algumas categorias tipicamente européias. Um exemplo disso foi a prática corânica da Shura (consulta aos crentes), que veio a ser redefinida como a forma moderna que a democracia assumiu no mundo muçulmano. Contudo, no início do século XX, sobretudo após a queda do Império Otomano, o Reformismo imprimiu um notável impulso na reivindicação nacionalista e na luta pela independência. Os líderes eram animados pela vontade de renovação interna que consistiu na busca de soluções próprias que se constituíssem numa alternativa à modernidade pelo viés europeu. Porém, logo se percebeu que a tentativa de modernizar o Islam sem submeter-se aos parâmetros ocidentais era um erro e, em função disso, uma elite laica assumiu o comando do processo de independência em muitos países de maioria muçulmana, relegando o Islam a uma dimensão privada, provocando ressentimentos e o surgimento de movimentos contestatórios contra os novos governantes. O Radicalismo surgiu justamente pelo fato do Islam ter sido removido da função de elemento fundador dos novos Estados Nacionais. A penetração ideológica ocidental juntamente com o processo de secularização foram vistos por muitos muçulmanos como uma ruptura da coesão social, na qual estava embasada a vida da comunidade de fé. Em relação aos movimentos anteriores, o Radicalismo modernizou o conceito de Jihad, que era visto apenas como elemento de defesa dos muçulmanos, e o dotou de uma importante função de ataque. Além disso, o Jihad ganhou o sentido de luta intelectual pela causa de Deus, através da produção de estudos teológicos e de obras que conclamassem os muçulmanos a se posicionarem face ao impacto, muitas vezes desestruturante, dos valores ocidentais. No entanto, neste final de século, o Radicalismo retomou os cânones do momento do Ressurgimento, o que pode ser percebido em diversas associações e movimentos contemporâneos, que fazem o discurso da afirmação da identidade religiosa em absoluta oposição aos valores ocidentais. Em função disso, as elites modernizantes e as correntes intelectuais laicas dos países muçulmanos enfrentam uma grande dificuldade de estabelecerem diálogo com o Ocidente, sem que com isso não sacrifiquem os valores da tradição islâmica. Em contraposição,os heróis muçulmanos do período do Ressurgimento, como o Mahdi do Sudão, por exemplo, estão sendo recuperados e, mesmo cultuados, como uma resposta às ações das elites dos países muçulmanos que tendem a se alinhar à política das atuais potências ocidentais, dentre elas os Estados Unidos. Com relação ao Ressurgimento, momento no qual se insere a Revolução Mahdista no Sudão, a penetração ocidental foi vista como o início da Era da Decadência e, por isso, surgiram movimentos que se constituíram numa resposta à perda da identidade religiosa e da soberania política. O Mahdismo era uma crença consolidada na tradição Sunita e, em certa medida, também na Chiita, na medida em que estes últimos esperavam o retorno do Iman oculto. Segundo os textos sagrados, o Mahdi vencerá após uma fase de guerras, do surgimento de falsos profetas e do desvio da fé islâmica, que provocou a dissolução de muitas instituições muçulmans e facilitou a vitória dos infiéis. A crença na vinda do restaurador da fé, remonta à Idade Média, e o mundo muçulmano conheceu vários Mahdis. No entanto, no século XIX, em função do impacto imperialista ocidental, a esperança e o surgimento de novos Mahdis se multiplicou no mundo colonial. A respeito do relacionamento entre os muçulmanos de diversos segmentos sociais com suas lideranças espirituais, Gellner apresenta uma abordagem importante que auxilia na compreensão das bases do estabelecimento da liderança de Muhammad Ahmad Abdulahi na população sudanesa e da sua rejeição como Mahdi, pelos Doutores da Lei Islâmica (Ulama) do Império Otomano. Segundo Gellner, o Islam no século XIX estava internamente dividido em uma alto Islam de doutos e um baixo Islam popular. A fronteira entre esses dois segmentos era ambígua, mas, de uma maneira geral, os Estados muçulmanos, por mais que fossem centralizadores da autoridade, tinham que acomodar-se à autonomia local das tribos, que se administravam sozinhas. Em função disso, os governantes precisavam contar com mediadores que pudessem ajudar a garantir o máximo de coesão possível da comunidade de fé. Os agentes que desempenhavam a tarefa de unir o alto e o baixo Islam eram os santos (vivos ou mortos). Estes eram indivíduos que exerciam uma importante liderança espiritual, sendo fundadores de confrarias ou conhecidos como seres dotados de poderes mágicos de cura, advinhação, além de se colocarem como modelos de piedade e ascetismo. As possibilidades de revolta ou mesmo de mudanças radicais, como o processo revolucionário, surgiram, na perspectiva de Gellner, em função da quebra dos laços que mantinham esses dois segmentos unidos ou então pelo surgimento de uma liderança no alto Islam intelectualizado, como o caso de Muhammad Ahmad Abdulahi, que se uniu ao segmento popular, conquistando o apoio dos santos e a oposição dos Doutores da Lei, contrariados com a nova aliança. As revoluções islâmicas ocorridas na África Central no sécuo XIX foram iniciadas através do Jihad. Esta categoria, importante para este estudo, é um dos elementos da profissão de fé islâmica, uma obrigação imposta por Deus a todos os crentes. Numa guerra defensiva, é um dever de todo muçulmano adulto saudável. Tal responsabilidade, ou melhor, compromiso de fé, se funda na universalidade da revelação do Profeta Muhammad para toda humanidade e tem o sentido de preservação da integridade da Umma e de combate as agressões dos Kafir. O dever do Jihad não tem limites nem no tempo e nem no espaço. Deve durar até o momento em que o mundo inteiro tiver se convertido à fé islâmica ou se submetido à autoridade do Estado Islâmico. Segundo Lewis, o mundo está dividido na Casa do Islam (Dar - al Islam) e na Casa da Guerra (Dar al Harbi). A primeira engloba a comunidade dos crentes e a segunda comprende o resto do mundo. Entre as duas deveria existir, na perspectiva dos movimentos islâmicos do Ressurgimento, o estado de guerra moralmente necessário e juridicamente e religiosamente obrigatório, de acordo com a Shariah, até o triunfo final e inevitável do Islam sobre os Kafir. No relacionamento dos Estados Islâmicos com o Ocidente caberia sempre a trégua (Selh), porque a paz (Salam) só se assinaria em um conflito entre muçulmanos, que também não poderia ser considerado um Jihad, na medida em que este último só pode ser proclamado contra os povos não islamizados. Somente no século XX, no momento da predominância do Reformismo, é que a palavra Salam passou a ser empregada para assinalar o fim dos conflitos com potências ocidentais. O líder dos muçulmanos no Jihad, segundo o Corão e a Sunna, é o soberano. Contudo, no momento do Ressurgimento, quem vai assumir essa tarefa são os mestres espirituais das confrarias muçulmanas (tariqa) ou os próprios Mahdis. Aspecto importante da definição e do reconhecimento de uma luta armada como Jihad é a clareza na definição do inimigo. Categoria basilar na jurisprudência islâmica para poder regulamentar os conflitos, o inimigo abarca em si o ignorante e infiel, o rebelde e o apóstata. O ignorante não submisso a um Estado Islâmico, por definição, faz parte da categoria mais ampla inimigo. Ele é considerado membro da Casa da Guerra e por isso é designado também como Harbi. Quando o Kafir aceita o domínio muçulmano, recebe proteção do Estado e paga impostos para os governantes. A jurisprudência permite a existência de um tipo singular de Kafir, o Musta’min. Este é o infiel que visita um Estado Islâmico temporariamente por ter sido convidado por um muçulmano para realizar algum tipo de serviço ou benefício e mesmo por ter relações amistosas com os governantes.Para que não seja confundido e penalizado, o Musta’min recebe um salvo conduto que o permite praticar a sua religião nos templos dos Dhimmi (os protegidos- cristãos e judeus integrantes do Estado Islâmico) até a sua partida. O segundo tipo de inimigo é o rebelde e também o bandido. Segundo a jurisprudência, ambos, em linhas gerais, devem ser combatidos da mesma maneira, só que para os bandidos haveria algumas peculiaridades, como, por exemplo, o sangue derramado, o roubo e a violação do direito a propriedade de alguém exigiam, segundo a legislação, a reparação pecuniária ou mesmo a própria vida, no caso do homicídio. Os rebeldes por sua vez deveriam ser tratados com cautela, na medida em que alguma reivindicação poderia ter amparo na Shariah, sobretudo se o rebelado fosse um outro Estado Muçulmano. Os rebeldes que não possuíssem amparo na Shariah, quando vencidos, passariam a pagar tributos, porém os seus bens não seriam tocados, porque para a jurisprudência, a propriedade privada deve ser respeitada. O terceiro tipo de inimigo é o Murtadd (apóstata) que é aquele que foi ou tornou-se muçulmano e depois abandonou ou retornou à sua fé ancestral. O muçulmano que abandona a sua fé é considerado pela jurisprudência um renegado, um tratante e por isso deve ser punido enquanto tal. Os juristas aspontam para a necessidade de se executar o indivíduo que se encontra nessa situação e de fazer o Jihad contra um Estado apóstata. Apesar da pena capital, o indivíduo que abandonou a fé islâmica poderia se arrepender e os delitos cometidos durante a sua apostasia seriam perdoados, podendo reaver os seus bens. Após o Jihad, os movimentos Mahdistas estabeleceram o Estado Islâmico, dentro de uma concepção, segundo Zaidan, que não o restringiria a limites geográficos. Sempre que foi possível, esses Estados apoiaram levantes de confrarias islâmicas de outras regiões e acolheram as lideranças perseguidas pelas tropas européias. Na perspectiva do Ressurgimento, o Estado Islâmico teria como marcos o alcançe da fé e do empenho (Jihad) dos crentes e deveria ser o meio mais importante para o muçulmano ter o prazer de desfrutar dos direitos e das concretizações das promessas divinas. A autoridade delegada ao chefe do Estado deveria ser restringida pelo direito que a Umma teria de ser consultada diretamente, ou através de seus representantes, porque a Shura é um mandamento divino. Uma importante obrigação dos muçulmanos era a de destituir o chefe do Estado quando o mesmo se desviava dos ditames da Shariah, sob pena de estar cometendo uma falha perante Deus e de ter que responder pela mesma no Dia do Juízo Final. O Estado Islâmico tem o dever político e divino de garantir a liberdade para todos aqueles que nele habitam. O Islam emancipou, na perspectiva do Ressurgimento, os seres humanos das superstisções, das incertezas, do pecado, da corrupção, da opressão, da desordem e degeneração do corpo e da alma. Segundo Corão e a Sunna, existem quatro princípios fundamentais da Liberdade, enquanto categoria prevista na Lei. O primeiro é de que a consciência humana só pode ser submisssa a Deus. O segundo é que todo ser humano é responsável pessoalmente pelos seus atos e a ele somente se permite colher os frutos do seu trabalho. O terceiro consiste na certeza de que o homem é suficientemente provido de direção espiritual e capacitado com qualidades racionais que o permitem fazer escolhas importantes e responsáveis. O último é que a liberdade é um direito dado por Deus ao homem, legislado pela Shariah, e que o Estado tem o dever de garantí-la. Ao mesmo tempo que a Shariah se encarregava de resguardar a liberdade, a mesma legislava sobre a escravidão. A compreensão desta última dentro da doutrina islâmica é fundamental para se perceber a importância da mesma para o desenvolvimento e para a integridade do Estado Islâmico formado no Sudão, além do seu embasamento teológico, que levou os muçulmanos a refutarem as prédicas abolicionistas européias. A partir da doutrina islâmica, as confrarias muçulmanas do período do Ressurgimento, estabeleceram três categorias de escravos. A primeira abarcava os membros das populações vencidas que não pertenciam aos Povos do Livro e nem eram convertidos ao Islam, sendo caracterizados como infiéis. A segunda englobava os combatentes de diferentes credos, mesmo cristãos, que fossem capturados em um Jihad. A terceira comprendia os indivíduos capturados em guerras e razzias sazonais. O escravo era ao mesmo tempo coisa e pessoa. Enquanto objeto de propriedade de outrem, era objeto de transações comerciais diversas. O cativo não poderia possuir bens, salvo um pecúlio que não deveria ser tocado pelo Senhor, na medida em que há recomendações no Corão para se respeitar os escravos. Como pessoa, o status de um escravo é o mesmo de um muçulmano livre: a ele era permitido, em princípio, dirigir a oração e poderia também se casar, desde que obtivesse a permissão do seu senhor. O dono de uma mulher escrava tinha o direito de transformá-la em sua concubina, mas esta teria que dar luz a um filho para que o senhor pudesse continuar a manter uma cativa nessas condições. A idéia de concubinato para o estrito prazer sexual era reprovada pela tradição. O filho da concubina nascia livre e pela Lei, a mãe deveria ser libertada com a morte do seu dono. O escravo tinha responsabilidades penais, mas era tratado como um ser de nível inferior, tanto que um muçulmano, segundo Sourdel, não poderia ser condenado por homicídio, recebendo a pena capital como é previsto na Lei, caso matasse uma cativo. Os escravos eram empregados nos latifúndios, no artesanato, como militares e eunucos. Apesar das limitações, diversos cativos militares ganharam poder e notoriedade, como no caso dos mamelucos, e chegaram a constituir sultanatos de escravos. A ambiguidade do escravo como coisa e pessoa sempre suscitou um amplo debate entre os juristas islâmicos. Havia no Corão a recomendação de se alforriar os cativos, mas não se constituía num mandato divino. Desde que os senhores seguissem as regras determinadas pela tradição, a existência da escravidão não contrariava a Shariah. A noção de liberdade apresentada pelas Sociedades Abolicionistas foi encarada pelos muçulmanos do Ressurgimento como uma invenção de ateus, na medida que era contrária aos direitos do crente assegurados pelos textos sagrados.
Baixar