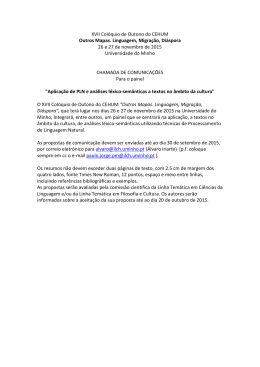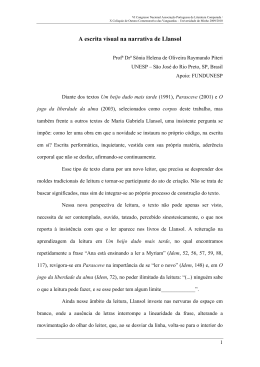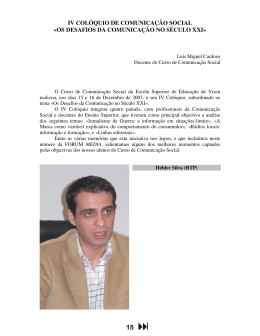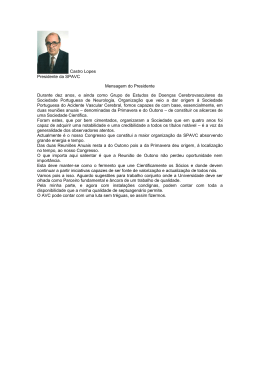VI Congresso Nacional Associação Portuguesa de Literatura Comparada / X Colóquio de Outono Comemorativo das Vanguardas – Universidade do Minho 2009/2010 Os gentlemen visitam o sertão: imaginário colonial em Garrett, Eça e Agualusa Maria Helena Santana (Universidade de Coimbra / CLP) A crítica e a história literárias, marcadas que são por um olhar retrospectivo, incorrem frequentemente em enviesamentos ideológicos. No passado, acreditando na bondade imanente da literatura, tendia-se a projectar nos autores valores éticos considerados universais. O processo é conhecido e quase sempre bem-intencionado: sublinhavam-se os aspectos mais conformes com os códigos vigentes, rasuravam-se os lados incómodos, desculpavam-se os erros de perspectiva. Nas últimas décadas, a critica literária tem-se empenhado na revisão do seu discurso apologético: desconstruindo a aura individual do autor, passou a atentar-se na forma como a literatura contribuiu para criar, difundir ou “naturalizar” mitos e estereótipos culturais. Esta linha de interpretação tem-nos permitido, por exemplo, ganhar consciência da falácia eurocêntrica em que assenta o suposto humanismo ocidental. Não obstante, um excesso autopunitivo surge por vezes como contraponto à anterior atitude reverente: esquecemo-nos de que os valores evoluem; de que os escritores se inserem num tempo histórico que condiciona o conteúdo e a forma do seu olhar. Na leitura que seguidamente vos proponho, tentarei acautelar as tentações afectivas. Limitar-me-ei a confrontar, com a possível distanciação, o imaginário de autores de gerações diferentes acerca do mundo colonial oitocentista – um mundo utópico e longínquo, que nenhum deles de facto conheceu. Almeida Garrett, que nunca saiu da Europa, situou no nordeste brasileiro a acção do seu último romance, 1 VI Congresso Nacional Associação Portuguesa de Literatura Comparada / X Colóquio de Outono Comemorativo das Vanguardas – Universidade do Minho 2009/2010 Helena, infelizmente inacabado; Eça de Queirós viveu em Cuba mas nunca visitou África nem o Brasil; verdade se diga que não se atreveu a romancear estas paragens, mas podia tê-lo feito, bastando-lhe seguir o rasto do cosmopolita Fradique Mendes. Quem nos conduz nessa fantasiosa viagem é José Eduardo Agualusa, autor de Nação Crioula. O escritor angolano inspirou-se na personagem queirosiana para recriar um tempo colonial em que obviamente não viveu. A expressão ‘mundos imaginados’ pode por conseguinte aplicar-se-lhes em sentido literal. Mas todos sabemos que não é determinante ter experiência física de uma realidade para a representar ficcionalmente. É privilégio da literatura a liberdade de inventar. Deve dizer-se que não faltavam fontes de informação aos escritores oitocentistas. A partir do Iluminismo, o interesse pelas culturas e pelos povos “primitivos” dos trópicos começara a vulgarizar-se entre os europeus. No século XIX, um certo turismo romântico levou muitos intelectuais a visitar regiões menos acessíveis ao viajante comum; ao interesse científico aliava-se uma genuína curiosidade pelos tipos humanos, costumes e crenças de povos já conhecidos mas ainda exóticos aos olhos do europeu “civilizado”. Os livros de viagens e os abundantes artigos das revistas divulgavam à gente letrada esse pitoresco e fantasiado mundo indígena, demasiado remoto para se tornar ameaçador. Só mais tarde se desconstruiria o mito do bom selvagem, por influência dos relatos épicos provindos de exploradores e sobretudo das campanhas militares africanas. O continente negro passou então a associar-se a imagens impressionantes de guerreiros ferozes, que as gravuras, as primeiras fotografias e os troféus humanos demonstravam de facto existirem. Mas não esqueçamos que este é também o século da expansão do Novo Mundo, marcado por intensa emigração colonial; o século dos movimentos independentistas, dos navios negreiros e do abolicionismo. Esta outra e controversa 2 VI Congresso Nacional Associação Portuguesa de Literatura Comparada / X Colóquio de Outono Comemorativo das Vanguardas – Universidade do Minho 2009/2010 realidade, bem diferente da que fizera o encanto exótico da viagem romântica, deu origem a uma vaga literária de índole humanitária, empenhada em revelar as injustiças sociais da colonização. O tema da escravatura popularizou-se sobretudo com a publicação, em 1852, de Uncle Tom’s Cabin (A Cabana do Pai Tomás), de Harriett Beecher Stowe. A história pungente de Pai Tomás, mártir resignado da tirania escravista, comoveu gerações de leitores em todo mundo, transformando-se num ícone da luta abolicionista. Mesmo assim a obra não está isenta de preconceitos raciais, censura que vem sendo enfatizada pela crítica pós-colonial: terá contribuído, designadamente, para naturalizar a imagem sentimental do negro cristianizado, virtuoso e feliz na sua submissão, ou o seu contraponto, o escravo alegre e desmiolado que entretém e parodia os europeus. 1 Garrett, em 1853, já menciona na sua narrativa A Cabana do Pai Tomás, que certamente o inspirou na representação de ambientes e personagens; 2 no entanto distancia-se politicamente de Stowe (considerada demasiado esquerdista e radical), optando por centrar o conflito na questão cultural/racial, o que confere a Helena um enfoque ideológico diferente, menos linear. Apesar de inacabado, o texto apresenta uma estrutura sequencial – 24 capítulos completos e revistos pelo autor 3 – que nos permite ter uma noção bastante consistente do contexto romanesco que serve de suporte à intriga. Do que seria o seu possível desenvolvimento só podemos conjecturar, como fez Ofélia Paiva Monteiro, num estudo iluminador que 1 Cf. G. Frederickson (1987), The Black Image in the White Mind. Apud HALL Stuart (ed.) (2003), Representation. Cultural Representations and Signifying Practices, p. 249. 2 A 1º versão portuguesa da obra de Stowe é de 1853. De então para cá tem havido sucessivas reedições e traduções (a base de dados Porbase regista 25 entradas). 3 A edição foi feita a partir do manuscrito autógrafo por Carlos Guimarães, genro do escritor. Trata-se da única versão disponível (e retocada) da obra, cuja edição crítica se encontra em preparação, sob a direcção de Ofélia Paiva Monteiro. 3 VI Congresso Nacional Associação Portuguesa de Literatura Comparada / X Colóquio de Outono Comemorativo das Vanguardas – Universidade do Minho 2009/2010 recentemente lhe dedicou. 4 Mesmo assim o fragmento existente, que só veio a ser publicado em 1871, não deixa dúvidas de que Helena teria sido o nosso grande romance colonial – razão suficiente para ser resgatado do esquecimento. A acção é situada no ano de 1839, no Brasil, já depois da independência, portanto, mas recriando um ambiente colonial idealizado e utópico. Itahé é uma vasta propriedade do interior da Baía, afastada do mundo, onde coexistem, à maneira feudal, diferentes categorias sociais: a casa senhorial é habitada pelos viscondes de Itahé, o português Rodrigo Sousa e a brasileira Maria Teresa, e pela filha do casal, Isabel, uma jovem casadoira de 15 anos; no espaço doméstico circula um número indefinido de serviçais dedicados, representados por uma velha criada minhota e um mordomo africano, Spiridião; pressupõe-se que muitos outros escravos trabalhariam no palácio e na parte agrícola da propriedade. Na velha aldeia adjacente vivem os índios, uma pequena comunidade livre, mas com ligações afectivas à casa-mãe. Deste grupo destacam-se Frei João, capelão do palácio e director do colégio indígena, e sua mãe, Moema, antiga ama de leite da senhora. Vive-se bem em Itahé, onde a Natureza e a Religião, esses grandes mitos românticos, a todos envolvem no seu lastro de bondade intrínseca. A ordem patriarcal não se põe em causa porque é “natural” e garante o equilíbrio das relações entre as classes, as raças, as culturas. E algumas tensões emergentes (porque o ser humano não é perfeito) apaziguam-se no respeito pela civilidade e pela doutrina social dos Evangelhos. Pormenor não despiciendo, há um equilíbrio também “natural” entre o elemento masculino, por tradição associado ao poder e à razão, e o feminino, conotado com a sensibilidade e o afecto. Garrett (ou o narrador por ele) subscreve em geral estes tópicos românticos, o que lhe permite introduzir no discurso ideológico 4 O. P. Monteiro (1999), “Helena: os dados e as incógnitas de um enigma romanesco”. 4 VI Congresso Nacional Associação Portuguesa de Literatura Comparada / X Colóquio de Outono Comemorativo das Vanguardas – Universidade do Minho 2009/2010 uma certa nuance feminista. D. Maria Teresa é não só a herdeira da terra como descendente do povo autóctone; é brasileira de criação e de sangue, o que lhe confere – tal como à filha – “natural” legitimidade entre os índios da região. Estes atribuemlhe uma genealogia ancestral e vêem-na como uma espécie de santa, resgatando-a assim do ódio votado aos colonizadores, ou seja, o sangue índio que lhe corre nas veias e o “instinto selvagem” compensam o facto de ter casado com um português (“um aventureiro do reino velho”) e de ter adoptado uma cultura “invasora”. Já o catolicismo não fora sentido como usurpador naquela comunidade, que se habituara há muito a integrá-lo no seu sistema de crenças e práticas; segundo o texto, o povo índio encarava como “calamidades históricas” quer a descoberta do Brasil quer a expulsão dos Jesuítas (p. 465). Além do mais, a religião recebe uma marca caritativa feminina: a Viscondessa criou um colégio e uma obra assistencial para o seu povo; Frei João tornou-se frade camilo por sua influência, e guarda-lhe um respeito incondicional. Ela por seu turno protege-o maternalmente e não se esquecerá de o recomendar à filha, pouco antes de morrer: Ele custa a sofrer; é como todos os de sua desgraçada raça, mole no bem e no mal. Mas é honrado, fiel, sacerdote exemplar [...] Tem dó dele, Isabel, e atura-o com paciência. As suas desconfianças visionárias, as suas superstições absurdas, nem sempre são para desprezar (p. 439). A indulgência de Maria Teresa não escamoteia os preconceitos rácicos, como se vê. Aliás, diz-nos ainda o narrador que «só por via da sua religião se curvou a amar o Negro» e que nunca conseguiu vencer uma íntima desconfiança pelo marido português (p. 465). Mas a religião também não obnubila a consciência política da enferma, no que diz respeito aos negros que estão na posse da família. A viscondessa 5 VI Congresso Nacional Associação Portuguesa de Literatura Comparada / X Colóquio de Outono Comemorativo das Vanguardas – Universidade do Minho 2009/2010 defende a tese, partilhada pelo marido, de que a escravatura é «uma necessidade absoluta e inevitável», e que deve ser regulada por quem tem capacidade económica, intelectual e moral de proteger os mais fracos. O discurso abolicionista dos “filonegros”, como lhes chama, reduz-se, na sua perspectiva, a uma irresponsabilidade social: Todos os nossos escravos são bons, porque nós temos sido bons com eles. Sei que o teu desejo é libertá-los todos [...]. Tal não faças, minha filha. Não dês alforria senão aos que tiverem juízo e indústria para usar da sua liberdade. As beatas e os hipócritas ingleses têm causado tantos desgraçados com as suas declamações contra o tráfico dos negros, tantos, pelo menos, como os que mercadejam no infame negócio (p. 438). Sintomaticamente, os negros não têm voz própria no romance, ao contrário dos índios, aos quais se atribui alguma densidade psico-sociológica. Quem fala em nome dos negros é Isabel, empenhada que está na sua libertação: o seu progressismo cristão levá-la-á inclusivamente a proclamar, no final do texto, que “o Evangelho é socialista”. Mas Isabel não passa de uma jovem idealista, pelo que o seu discurso tem pouco acolhimento; destina-se, acima de tudo, a exprimir a opinião radical (angloamericana) que o romance irá rebater, em nome de um humanitarismo (católico e português) moderado. Se, no plano dos princípios, Garrett defendia o abolicionismo, nesta obra parece inclinar-se para uma posição ponderada, em sintonia com as personagens avisadas. 5 A morte de Maria Teresa, elo de coesão de toda a comunidade, vem perturbar a vários níveis a anterior harmonia desta grande família tropical. Pai e filha voltam-se 5 Sobre o pensamento político de Garrett a este respeito cf. O. Paiva Monteiro, art. cit., p. 150 e 152. Note-se que a abolição da escravatura só se oficializou em 1869, em Portugal, e em 1888, no Brasil. 6 VI Congresso Nacional Associação Portuguesa de Literatura Comparada / X Colóquio de Outono Comemorativo das Vanguardas – Universidade do Minho 2009/2010 para dentro de si mesmos, devastados pela dor; os subalternos sofrem os efeitos da desagregação familiar; e os índios, órfãos da sua protectora, conspiram na aldeia velha, dando expressão aos conflitos até aí apenas latentes. O ódio racial toma então a forma de um violento protesto anti-colonialista, que o narrador coloca na voz de Moema: O Índio nasceu para ser livre e não para o trabalho, nasceu para a caça e para a guerra. Branco e o Preto que façam o açúcar, que cavem a terra, e que levem o oiro das nossas minas, que nós lho damos, e nos deixem a nossa liberdade e os nossos bosques (p. 467) O confronto não chega porém a eclodir, pelo menos por enquanto: modera o fanatismo de Moema o discurso apologético de Frei João, a lembrar que “Diante do Deus dos Cristãos, não há Índio, nem Português nem Africano, há homens” (468). O debate ideológico permite inferir que a religião universal triunfará como o verdadeiro elemento agregador. A obra ficou truncada, mas tudo indica que o ressentimento deverá ser ultrapassado no decorrer da intriga. Herdeira natural da casa, da bondade e do sangue da mãe, Isabel desenha-se como a futura senhora de negros e índios, assegurando a convivência racial. Entretanto viajará para a Europa, onde a esperam novas e ameaçadoras realidades. Irá conhecer Fernando e Helena, estrangeirados e divididos como ela; e irá conhecer o Velho Mundo, essa civilização virtual que modelou a sua formação. Não sabemos que destino previa o autor para esta viagem de iniciação. Mas há um outro aspecto que merece destaque no romance, que se prende justamente com o binómio Natureza/Cultura. Como seria de esperar numa obra 7 VI Congresso Nacional Associação Portuguesa de Literatura Comparada / X Colóquio de Outono Comemorativo das Vanguardas – Universidade do Minho 2009/2010 romântica, os primeiros capítulos são dedicados à descrição da paisagem natural, o cenário luxuriante e edénico do sertão. Toda esta longa parte introdutória chega ao leitor em focalização interna, através do olhar extasiado de um viajante estrangeiro – um aristocrata europeu, apaixonado pela Botânica. Com ele somos conduzidos de canoa, lentamente, a Itahé, como num filme. O narrador vai-nos revelando aspectos parcelares desta enigmática personagem, mas só saberemos ulteriormente (no capítulo VI) que se trata do conde de Bréssac, um general francês, legitimista e liberal, que combatera romanticamente pela libertação da Grécia e que deixara a França desiludido com a situação política do país. A chegada de Bréssac a Itahé, depois da floresta virgem do sertão, causar-lheia a mais extraordinária surpresa: Um imenso parque inglês, cortado de sinuosas e bem saibradas ruas, com lagos e pontes, quiosques e estátuas, templos e ruínas, com todos os vários e disparatados acidentes e ornamentos que são de rigor em tais casos, e que a arte europeia imitou dos caprichos da chinesa. O francês pasmava do que via: – e a ideia de se ver transportado, por um golpe de varinha de condão, de pleno Brasil para Windsor, para Eagleypark ou para Sionhouse, ia-lhe parecendo menos absurda de momento para momento. Sonho, visão, ilusão dos sentidos!... (p. 415). A aldeia tropical assim camuflada inspirara-se na paisagem alpina, com chalés suíços a fingir de choupanas e com pinheiros nórdicos ao lado de araucárias e coqueiros. Ver-se-á mais tarde, à luz do dia, que, por singular capricho arquitectónico, as supostas casas da aldeia são afinal uma só, pois comunicam entre si formando as várias dependências do palácio; e que toda a área de serviço fica oculta do exterior, 8 VI Congresso Nacional Associação Portuguesa de Literatura Comparada / X Colóquio de Outono Comemorativo das Vanguardas – Universidade do Minho 2009/2010 para se desfrutar das “necessidades materiais da vida” sem ter de lhe “presenciar a prosaica elaboração” (p. 433). O parque ostenta idêntico artifício de trompe l’oeil. Com a ajuda de um jardineiro escocês conseguira-se o prodígio de mondar, domesticando-a, a pujança da flora tropical: um rio fora transformado em lago e as florestas selvagens em tufos. A imaginação da viscondessa - brasileira de coração mas “anglo-gala” de espírito – fizera o resto: aqui um quiosque turco, ali uma torre gótica, além um mirante chinês. Tudo é imitação e magia barroca no parque internacional de Itahé: A Arte e a Natureza – ou seja, a Europa e o Brasil – conjugaram-se para criar a mais bizarra invenção da mestiçagem cultural 6 . Já no interior da casa principal o estrangeiro depara-se com um verdadeiro “palácio encantado”, que mimetiza “o casto esplendor da elegância britânica” (416). A descrição pretende suscitar admiração mas não podemos deixar de ser sensíveis à marca hiperbólica dos pormenores: para além dos livros e objectos europeus, nas mesas há jornais de quase todas as línguas, nas estantes bibelots e raridades da mais variada arte mundial. Transposta para os trópicos, a Civilização resplandece na sua máxima grandiosidade mas em forma condensada, miniatural, volvendo-se assim em paródia de si mesma – como se o palácio sertanejo fosse uma caixa chinesa onde cabe a Europa e dentro desta o globo inteiro. É por isso com certa ironia que vemos o gentleman “já enfastiado, já gasto e cansado das maravilhas do Velho Mundo, rejuvenescer agora para admirar...” – esse mesmo mundo familiar de onde partiu (p. 446). Por outro lado, todo este requinte miscigenado transporta uma sugestão de artificialismo que parece colidir com a tese rousseauniana acerca do carácter antinatural da “civilização” (europeia). Se a sociedade corrompe o homem – tese 6 Sobre esta problemática vale a pena cf. a interpretação de Sérgio Nazar David, “Da natureza agreste no último Garrett” (David, 2007: 28-32). 9 VI Congresso Nacional Associação Portuguesa de Literatura Comparada / X Colóquio de Outono Comemorativo das Vanguardas – Universidade do Minho 2009/2010 subscrita por Garrett – também a cultura e a arte deveriam impregnar-se do mesmo vírus. Todavia o autor e Bréssac evitam encarar a questão sob esse prisma, preferindo qualificar a desordem decorativa de “pitoresca” e “poética”. Talvez assim suceda porque a cultura foi aqui absorvida de forma filtrada, sem os defeitos inerentes à sociedade que a gerou. Aliás, as personagens conseguem permanecer até certo ponto imunes à artificialidade cultural desta surreal casa luso-brasileira, onde o at home britânico se combina com a elegância parisiense. O narrador faz mesmo questão de sublinhar a simplicidade dos donos da casa, totalmente distinta do novo-riquismo burguês; e o general reforça a ideia: “os parvenus que vira em toda a parte não eram assim”. Dir-se-ia que os viscondes reúnem o melhor dos dois continentes – a cultura da Europa e a natureza da América. O leitor é convidado a aderir, mas não deixará de sorrir ao ouvir Isabel discutindo, no interior do sertão, os méritos relativos de Racine, Lamartine, Shakespeare e Walter Scott... Em relação aos subalternos o aspecto paródico é explicitamente referido. A receber o ilustre visitante aprumam-se duas alas de lacaios fardados com todo o requinte dum palácio europeu; são negros, mas têm cabeleiras polvilhadas de branco; 7 mais adiante surgem duas mulatas a acompanhar a doente, “brancas em toda a aparência – vestidas com a mais apurada coqueteria de uma soubrette francesa” (p. 424). O mimetismo atinge o excesso caricatural com a figura ridícula do mordomo africano, Spiridião Cassiano di Mello i Matôss (como se apresenta no seu típico linguajar) trajado em pleno sertão com “a faustosa elegância de um butler do West End”. Esta personagem grotesca, destinada a imprimir uma nota humorística ao romance, não é uma invenção de Garrett: Spiridião encarna o estereótipo do negro 7 O espanto de Bréssac exprime-se em termos ingenuamente raciais: “... pois não eram disformes as feições: – de negros, só tinham ser negros.” (p. 415). 10 VI Congresso Nacional Associação Portuguesa de Literatura Comparada / X Colóquio de Outono Comemorativo das Vanguardas – Universidade do Minho 2009/2010 feliz e infantilizado, admirador servil do seu amo, já presente no romance de Harriet Stowe. Com nuances diferentes, o mordomo negro tornar-se-ia figura recorrente na literatura oitocentista. Reencontramo-lo, por exemplo, em versão europeizada e discreta, n’A Cidade e as Serras, de Eça de Queirós: o Grilo, com a sua eterna complacência, é a sombra de Jacinto, uma espécie de superego cultural, servindo de contraponto aos seus desvarios excêntricos. N’A Correspondência de Fradique Mendes já caberá a um branco (escocês!), exercer esta função socializadora – o impecável Smith, sinédoque de uma distinção britânica ambiguamente admirada e desdenhada. Fradique Mendes, a face cosmopolita do gentleman, é apresentado como um cidadão do mundo – aquele que, ao invés do touriste convencional, se despia do entranhado europeísmo para se transformar em “cidadão das cidades que visitava” (Queirós [1900] : 67) . Tal como Bréssac, desloca-se a regiões exóticas por interesse científico, mas o seu olhar dirige-se à realidade humana. Pertence a uma geração diferente, supostamente humanista, que aprendeu a apreciar a diversidade cultural. Por isso lhe desagrada a modernidade, a globalização dos costumes sob o modelo europeu; de África prefere os cafres e do Brasil os índios, e rir-se-ia com gosto da requintada Itahé que tanto impressionou Bréssac. Diz-nos o seu biógrafo que o incansável viajante sente “carinhosa simpatia por todos os povos [...] fundindo-se com eles no seu modo de pensar e de sentir” (Queirós [1900] : 77). Na verdade não se trata propriamente de humanismo, mas de “necessidade de certeza”, ou seja, de se confrontar com a alteridade para compor o seu livro de ideias (ou o armazém, consoante a perspectiva). Eça de Queirós tinha convicções muito firmes sobre a superioridade da cultura europeia – considerava-a a grande produtora de arte e de ideias do Ocidente, a única 11 VI Congresso Nacional Associação Portuguesa de Literatura Comparada / X Colóquio de Outono Comemorativo das Vanguardas – Universidade do Minho 2009/2010 de facto interessante. 8 Fradique não partilha este entusiasmo, mas o amor a outros povos não lhe retira o etnocentrismo. A curiosidade etnográfica leva-o a civilizações diferentes para enriquecer o espírito e depois regressar ao seu espaço cultural, em Paris. De resto não passa de um céptico, conformado com os males do mundo (que deplora) e com as contradições da natureza humana. Por isso mesmo desenvolveu um certo fatalismo que o ensinou a conviver com as injustiças sociais: tal como as personagens de Helena, mostra-se convicto de que as sociedades sempre encontrarão formas de perpetuar a escravidão. José Eduardo Agualusa captou muito bem o espírito e as limitações da personagem queirosiana 9 . Nação Crioula – A Correspondência Secreta de Fradique Mendes é um pastiche quase perfeito do seu modelo, quer nas ideias quer no estilo. O romance epistolar relata a experiência colonial de Fradique, primeiro em Angola, depois no Brasil, já na fase final da vida. O desembarque em Luanda, em 1868, feito de forma humilhante às costas de um negro, causou-lhe desde logo “o sentimento inquietante de que havia deixado para trás o próprio mundo” (p. 11). E de facto será sempre um estrangeiro nos trópicos, apesar de naturalizado pelo amor africano de Maria Olímpia, a sua grande paixão tardia. O viajante cosmopolita, que se move à vontade em todas as latitudes, não pode deixar de sentir-se incomodado na sociedade colonial luandense, paródia camiliana duma Lisboa afrancesada que em tempos satirizou. Incómodo que se repetirá mais tarde em Pernambuco, outra réplica provinciana e decadente do Velho Mundo, “onde à noite se dançam românticos bailes, enquanto os negros dormem exaustos em 8 Cf. Eça de Queirós, “A doutrina de Monroe e do nativismo”, pp. 1295 e ss. Este texto, de 1896, é um autêntico manifesto em defesa da supremacia intelectual da Europa face à América. 9 Do mesmo tema se ocuparam recentemente Osvaldo Sivestre e Graça Abreu, autores de excelentes leituras, em chave pós-colonial (Silvestre, 2002); (Abreu, 2004). 12 VI Congresso Nacional Associação Portuguesa de Literatura Comparada / X Colóquio de Outono Comemorativo das Vanguardas – Universidade do Minho 2009/2010 casebres de palha” (p. 79). “O que faço eu aqui?”, interroga-se Fradique, em carta a Madame de Jouarre, a quem pede novidades frescas de Paris, em troca das suas saborosas anedotas coloniais. Só a diferença etnográfica seduz o viajante pósromântico, enfastiado da sua vulgarizada “civilização”: ou a palhota do negro, no meio da selva africana, ou o Brasil brasileiro, no interior do sertão. Fradique descobre este lugar primitivo durante a visita a uma fazenda baiana, não longe, portanto, da antiga Itahé, mas agora transformado em idílico paraíso colonial: Ocorreu-me pela primeira vez a ideia de que poderia instalar-me num lugar assim, realmente longe do fragor do mundo, vendo pouco a pouco a terra a desdobrar-se em frutos, acompanhando ao crepúsculo o canto dos negros em volta das fogueiras, caçando e pescando, bebendo da água fresca dos riachos, comendo o feijão preto e a carne seca, a tapioca, as mangas e as bananas do meu pomar. (p. 81). Uma fazenda brasileira seria o espaço perfeito para o descanso merecido de Fradique, depois da romântica libertação da sua companheira. Mas Agualusa destinou outras inquietações à personagem queirosiana. O sofrimento de Maria Olímpia e a viagem num navio negreiro tornaram-no mais consciente da condição dos escravos, bem como das responsabilidades que lhe cabem enquanto homem livre. Reconvertido em fazendeiro, o gentleman vê-se obrigado, malgré lui, a tomar posição no movimento anti-esclavagista: desaparece o “touriste de fato de linho branco em busca de exotismo e emoções fortes” (p. 56) para surgir o intelectual empenhado, ou seja, com “uma nova causa com que entreter o espírito e afastar o ócio” (p. 99). O debate racial e colonial que encontrámos no romance de Garrett toma agora novos e polémicos contornos políticos (a crioulização, vg.), que não irei explorar. 13 VI Congresso Nacional Associação Portuguesa de Literatura Comparada / X Colóquio de Outono Comemorativo das Vanguardas – Universidade do Minho 2009/2010 Apenas saliento a coincidência curiosa de ser mais uma vez uma jovem mulher, letrada, culturalmente dividida, a catalisar a questão. A educação inverosímil de Maria Olímpia Vaz de Caminha faz dela um clone moderno de Isabel: também pelos 15 anos já lera todos os grandes autores franceses, no original; estudava as línguas autóctones com o saber de um filólogo; e ainda discutia Darwin, Proudhon, e Bakunin, com os convidados do seu salão colonial. Em suma: vivendo em África, conhecia a Europa “como se sempre tivesse vivido no centro do mundo” (p. 39). 10 Do ponto de vista ideológico a personagem segue um percurso paralelo mas inverso ao da sua congénere garrettiana: Isabel, já o vimos, era a porta-voz do abolicionismo, no entanto a ingenuidade dá-lhe pouco crédito; tudo indica, aliás, que o seu radicalismo virá a temperar-se da “sensatez” do pai, que encara a escravatura como um mal, mas por enquanto necessário à paz social. Maria Olímpia, protegida pelo casamento com um negreiro excêntrico, desfruta de uma situação de privilégio que a mantém alienada; apenas compreende o valor da liberdade depois de sentir na pele a dureza da escravidão. A sua história ilustra assim uma das principais teses do romance – decerto a menos controversa – segundo a qual a consciência só se desenvolve a partir da experiência; ou, recorrendo a um provérbio africano: “uma pedra debaixo da água não sabe que está a chover” (p. 152). Faz portanto todo o sentido que seja a mulher liberta e não o libertador a empunhar a bandeira da emancipação. Maria Olímpia voltará a Angola, algo melancólica, é certo, mas amadurecida e politizada. Fradique regressa a casa, cumprido o seu papel, deixando-se impregnar do habitual cepticismo. Segundo informa o texto epilogal, citando Eça, os seus derradeiros anos decorrem “cheios de ideias, de delicadas ocupações e de obras amáveis”. Nem outra coisa seria de esperar. 10 A extraordinária biblioteca do marido, Vitorino Vaz de Caminha, constitui também uma curiosa versão da casa de Itahé, bem como da sua globalização cultural. Cf. Agualusa: 149. 14 VI Congresso Nacional Associação Portuguesa de Literatura Comparada / X Colóquio de Outono Comemorativo das Vanguardas – Universidade do Minho 2009/2010 Alguns leitores de Nação Crioula criticaram a adesão do autor à personagem queirosiana. Acusado, entre outras razões, de ser condescendente em relação ao colonialismo português, Agualusa explica-se: Eu queria um olhar como o dele, de um europeu, carregado dos preconceitos próprios da época, mas ao mesmo tempo interessado no outro. O Fradique do Eça já é assim. O meu, evidentemente, é ainda mais aberto, quase um anacronismo. 11 Com efeito, a literatura não tem de transmitir injunções éticas compatíveis com a doxa cultural de outra época: cabe ao leitor o necessário exercício de descentramento. No caso de Garrett, a distância impõe-se por si própria; já o romance de Agualusa exige um esforço acrescido, na medida em que o romance se dirige aos leitores de hoje, mas para ser lido à luz de códigos mistos – os nossos e os do tempo de Eça. Ora Fradique é o que é, um europeu dépaysé, pese embora a consciência política do seu novo autor. Poder-se-ia aceitar um gentleman momentaneamente convertido a valores humanitários; mas um Fradique militante, moderno e democrático seria um filistinismo imperdoável. 11 Agualusa defende-se desta e de outras críticas numa entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, em 14/2/2007: Cf. Brasil (2007). “O livro não é apenas uma crítica ao sistema colonial, ou à escravatura - o que seria tão tolo quanto espancar um cadáver -, o livro pretende ser sobretudo uma crítica irônica à atual sociedade angolana, que em muitos aspectos é herdeira direta da sociedade escravocrata. Em Angola, muitos leitores reconheceram certos personagens e situações. O livro abriu uma polêmica sobre a questão da crioulidade e do seu alcance em Angola. A acusação que me fazem em Angola, isso sim, é a de defender um modelo crioulo para o país, o que também não corresponde à verdade. O que eu defendo é a existência de um segmento crioulo, de língua materna portuguesa, uma minoria muito expressiva de angolanos brancos, mestiços e negros, que têm o direito de exprimir a sua cultura, a par com todas as outras.” (Brasil, 2007). 15 VI Congresso Nacional Associação Portuguesa de Literatura Comparada / X Colóquio de Outono Comemorativo das Vanguardas – Universidade do Minho 2009/2010 Bibliografia ABREU, Graça (2004), “História, texto, devir: reescrevendo impérios”, in Actas do IV Congresso Internacional da APLC, www.eventos.uevora.pt/comparada/VolumeI/ AGUALUSA, José Eduardo (2004), Nação Crioula. A Correspondência Secreta de Fradique Mendes, Lisboa, Dom Quixote , 4ª ed. [1ª ed. 1997]. BRASIL, Ubiratan (2007), “A volta de Nação Crioula, 10 anos depois”, in O Estado de São Paulo, 14/2/2007: www.estado.com.br/editorias/2007/02/14/cad- 1.93.2.20070214.9.1.xml DAVID, Sérgio Nazar (2007), O Século de Silvestre da Silva. Estudos sobre Garrett, A.P. Lopes de Mendonça, Camilo C. Branco e Júlio Dinis, Lisboa, Prefácio. FREDERICKSON, G. (1987), The Black Image in the White Mind, Hanover, NH, Wesleyan University Press. GARRETT, Almeida (1963), Helena, in Obras de A. Garrett, vol. I, Porto, Lello & Irmão [1ª ed. 1871]. HALL, Stuart (ed.) (2003), Representation. Cultural Representations and Signifying Practices, London, The Open University / Sage Publications. 16 VI Congresso Nacional Associação Portuguesa de Literatura Comparada / X Colóquio de Outono Comemorativo das Vanguardas – Universidade do Minho 2009/2010 MONTEIRO, Ofélia Paiva (1999), “Helena: os dados e as incógnitas de um enigma romanesco”, in Leituras. Revista da Biblioteca Nacional, 4, pp. 147-174. QUEIRÓS, Eça de (s.d.), A Correspondência de Fradique Mendes, Lisboa, Livros do Brasil [1ª ed. 1900]. _ _ (s.d.) “A doutrina de Monroe e do nativismo”, in Cartas Familiares e Bilhetes de Paris, Obras de Eça de Queiroz, vol. II, Porto Lello & Irmão [texto de 1896]. SILVESTRE, Osvaldo (2002), “Um turista nos trópicos: o devir-pós-colonial de Fradique Mendes”, in Congresso de Estudos Queirosianos. IV Encontro Internacional de Queirosianos, Coimbra, Almedina / ILLP- Faculdade de Letras da Univ. de Coimbra, vol I, pp. 221-239. STOWE, Harriet Beecher (s.d.), A Cabana do Pai Tomás, trad. de Ricardo Alberty, Lisboa, Verbo [1ª ed. 1851]. 17
Download